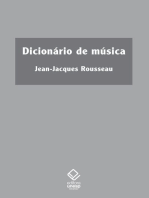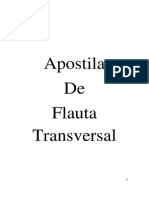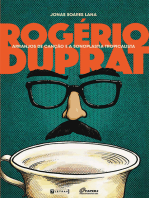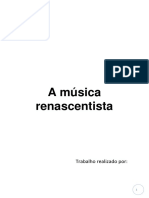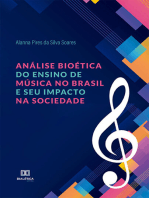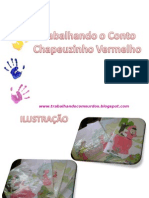Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
História Da Música 1
História Da Música 1
Enviado por
Doka AlvesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
História Da Música 1
História Da Música 1
Enviado por
Doka AlvesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
Histria Da Msica Erudita Ocidental
Uma Abordagem dos Principais Gneros, Estilos e Formas do Perodo da Prtica Comum ( Barroco ao Romantismo)
Histria da Msica Erudita Ocidental - Um Olhar A Histria da Msica o estudo da dinmica musical - suas transformaes e mudanas ao longo do tempo. Este termo est popularmente associado Histria da Msica Erudita Ocidental, partindo da msica da Grcia Antiga e desenvolvendo-se atravs de movimentos artsticos associados s grandes eras artsticas de tradio europia (como a Era Medieval, Renascimento, Barroco, Classicismo, Romantismo). Vale ressaltar o equvoco ao concluir ser apenas a produo Ocidental digna e merecedora de estudo e observao. H tantas outras histrias da msica de outras culturas com suas vertentes , desdobramentos e subdivises, como no caso das Civilizaes Egpcia, Chinesa, Mesopotmica e Hebraica que possuem uma msica distinta e contrastante quanto a funo, padres e conceitos, bem como sistemas complexos e desenvolvidos enraizados na cultura desses povos a exemplo das 72 escalas indianas . Mas, foi dentro do mbito da msica tida como Erudita Ocidental ( assim como em outros campos da arte) que um sistema particular foi crescendo, desenvolvendo e estabelecendo padres estilstico, tescendo e enraizando as principais tradies e normas da msica mundial. O fruto dessa padronizao foi um sistema coletivo de cdigos ,nem sempre acessvel a todos, que garante aos que o dominam um compartilhamento de material sonoro. com a notao em partituras que os compositores prescrevem aos interprtes a
altura, a velocidade, a mtrica, o ritmo e a exata maneira de se executar uma pea musical, tornando uma obra imortal e no limitada a tempo e espao.
O Perodo da Prtica Comum Rotula-se como Perodo da Prtica Comum a poca onde a maior parte das idias que pautam a Msica Erudita Ocidental foram codificadas e padronizadas. Iniciando com o Perodo Barroco, que vai aproximadamente de 1600 at a metade do sculo XVIII; seguindo-se do Classicismo , que terminou aproximadamente em 1820, com o advento do Perodo Romntico, que percorreu todo o sculo XIX e terminou por volta de 1910. Piston define como o Perodo da Prtica Comum o perodo da afirmao do Tonalismo / Sistema Harmnico (Barroco) at a sua desestruturao no incio do sculo XX ( final do Romantismo) com o atonalismo, pantonalidade, dodecafonismo e serialismo. nesse perodo que a msica ocidental vem atender os anseios de sculos: o antagonismo entre tenso/dissonncia e repouso/ consonncia. Desde a Antiguidade at a Msica Ficta da Renascena buscava-se a idia de msica tonal. Uma vez que a msica se d intimamente associada idia de movimento, um fio condutor de aprimoramento terico musical (harmonia) guiava a resolver as expectativas geradas entre a relao de tenso e repouso nas vozes, impulsionando a necessidade da resoluo de uma dissonncia que fora gerada para ornamentar a msica - conhecemos esse movimento como fluxo harmnico ( movimento tenso-repouso). A teorizao desse fenmeno em msica (harmonia) juntamente com outros elementos formadores da linguagem musical (tessitura, timbragem, ritmo, estrutura) nos ajudaro a apreciar e identificar os principais gneros, estilos e formas musicais do perodo abordado.
Elementos para uma Melhor Abordagem Reconhecendo ser o fenmeno perceptivo um processo individual e particular, cada ouvinte usar de recursos pessoais ao ser confrontado por uma obra musical. Experincias especficas com determinado repertrio viro memria, sensaes geradas por orquestraes e instrumentalizao sero sentidas, haver identificao ou repulso as linhas meldicas e blocos harmnicos da pea ouvida. So somados a esses valores que carregamos em nossa bagagem auditiva outros valores externos - de carter funcional e acumulativo - que a msica agregou a si durante diversos perodos da sua histria. Esses valores agregados durante sculos de msica so essenciais ao seu entendimento e classificao. O desenvolvimento de uma sofisticada linguagem musical possibilita a simbolizao do fenmeno sonoro e uma reduzida distncia entre o autor (a obra), o intrprete e o ouvinte, instrumentalizando uma rede de comunicao cada vez mais precisa. Ou seja, ao se criar um determinado vocabulrio musical que representa determinada idia (a exemplo das marcaes de dinmica que vm para reforar o sentido harmnico da frase) se estabelece uma viso universal de determinada obra. Esse vocabulrio de elementos tericos determina os Valores Intrnsecos de um Gnero, Estilo ou Forma Musical. Uma Forma Sonata s denomina-se como tal devido ao valor essencial agregado a ela: o fato de haver uma exposio, um desenvolvimento e uma reexposio de temas. Est dentro, faz parte, vital a caracterizao da Forma-Sonata essa idia. H Valores Extrnsecos - no essenciais - a determinado Gnero, Estilo ou Forma, que contribuem na formao dos mesmos. Por a Msica ser uma forma de sabedoria antiga, se confundindo com a histria da prpria humanidade, ela carrega si o retrato de uma determinada poca. Uma pea musical obedece consciente ou inconscientemente a ordem social, poltica, filosfica, moral, religiosa e esttica de um tempo. No caso da Forma Sonata, fruto da epistemologia (racionalismo, universalismo), organizao social ( elitizada a sales da corte ) e viso esttica (pureza formal, o equilbrio, o rigor) do perodo Clssico.
O Valores extrnsecos refletem na formao dos instrnsecos mas no so essenciais na manuteno do mesmo. A Forma-Sonata foi reflexo do esprito de uma poca configurando-se e estruturando-se de uma forma que carrega em si caracteristicas essenciais indenpendentes a perodos histricos . Um compositor atual pode muito bem compor o 1 movimento da sua Sonata utilizando-se da genuna Forma Sonata sem precisar estar na Europa do Sculo XVIII. Estando instrumentalizados desses elementos subjetivos ( percepo e bagagem pessoal) e objetivos ( valores intrnsecos e extrnsecos ) abordaremos de forma contemplativa ( buscando apreciao) e investigativa ( buscando classificao) alguns Gneros, Estilos e Formas Musicais caractersticos do Perodo da Prtica Comum que abrange o Barroco ao Romantismo.
Questes quanto ao Gnero, Estilo e Forma O repertrio selecionado no visa atribuir s obras e compositores abordados o estandarte de uma poca ou gnero, mas figurar atravs dos mesmos o maior nmero de elementos que evidenciem e contribuam a apreciao e identificao clara de um Gnero, Estilo ou Forma Musical. Um preldio de Bach composto no perodo Barroco pode ser executado ao estilo romntico (com uso de pedal/ expresso), pois em msica muitas questes no so to fechadas j que existe uma participao humana no fenmeno musical gerando uma dinmica de mudanas e readequaes. Andr Hoder trata a classificao de um Gnero como um conjunto de obras com determinados elementos em comum e bastantes afinidades de carter, tais como: instrumentao, forma, estrutura, tcnica de composio, funcionalidade. J o Estilo, segundo Graa Lopes e Toms Borba, so as caractersticas impressas pelo artista em sua obra tanto na composio como na execuo da mesma. Havendo o estilo de uma poca ( barroco , clssico) ou de uma determinada regio (italiano, francs), o estilo pessoal ( bethoviano,
wagneriano), o estilo para determinadas funes (msica religiosa , msica festiva) e o estilo quanto a forma ( fugado, imitativo). A Forma por sua vez a macroestrutura de uma pea( ARDLEY, 1997,pg. 174) O elemento de organizao em uma pea de msica (HORTA,1985, pg.131). A coerncia e lgica entre diversos elementos dentro de uma obra a fim de torn-la compreensvel caracterizam a Forma. acorde consonante, [] a definio de um tom, a reteno de uma cadncia ou ritmo, [] a repetio de motivos rtmicos e meldicos e a formao e repetio de temas imaginativos e fecundos; contraste e conflito aparecem nas mudanas de harmonia, dissonncias, modulao, alterao de ritmo e motivos, e na justaposio de temas de carcter oposto. RIEMANN (1983) A idia de Gnero, Estilo e Forma podem igualmente aparecer associadas, pois evidente que determinadas formas pertenam a um determinado gnero e cada gnero possui seu estilo prprio. A Sonata Msica de Cmara, a Missa Msica Sacra. Portanto, podemos visualizar a interseo e relao entre forma, estilo e gnero, como conjuntos que possuem elementos comuns e tambm exclusivos promovendo a organizao, impresso e concepo da Msica Erudita Ocidental.
O Estilo Fuga O termo fuga vem do latim fugare (perseguir) e fugere (fugir) e tem sido usado desde a Idade Mdia. Inicialmente se referia a qualquer espcie de contraponto imitativo, incluindo os cnones, que hoje so diferenciados das fugas. O compositor renascentista Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), escreveu missas usando contraponto modal e imitao , bem como a escrita fugal que era tida como a base dos seus motetos. Hoje tambm diferenciamos a fuga dos motetos . Nos motetos cada frase do texto tem um sujeito diferente
que introduzido e trabalhado separadamente enquanto continuo trabalho do mesmo sujeito ao longo da pea.
na fuga a um
Definimos a fuga como um estilo de composio contrapontistapolifnica - imitativa de um tema principal, que teve sua estruturao tcnica, como entendida hoje, no perodo barroco. Uma fuga comea com a exposio do sujeito por uma das vozes na tnica ( tonalidade da pea). Aps o sujeito ser exposto, uma 2 voz, responde com o mesmo tema mas tocado na dominante ( grau V) enquanto a 1 voz d um contra- tema/ contra- sujeito. Uma 3 voz inicia o tema enquanto a 2 o contratema e a 1 apresenta um novo material. Seguindo-se at a apresentao do tema/sujeito por todas as vozes. Uma fuga raramente pra depois de sua exposio inicial, ela continua por um ou mais episdios de desenvolvimento. O material dos episdios usualmente se baseia em algum elemento do sujeito , por exemplo : um motivo meldico pode ser tomado e repetido sequencialmente. Podem existir entradas do sujeito com variaes : tonalidades diferentes da tnica ou dominante ou em modo diferente . Os episdios tambm podem variar o sujeito fazendo uma inverso (virando-o de cabea para baixo), retroagindo (de trs para frente), diminuio (com valores mais curtos para as notas) ou aumentao (com valores mais longos). Algumas vezes as vozes aparecem em stretto com uma voz entrando com o sujeito antes que a ltima voz termine a sua entrada. Vrios recursos podem ser utilizados para criar a concluso de uma fuga. Um fuga pode terminar com uma recapitulao, na qual as entradas do sujeito so repetidas da mesma maneira em que foram introduzidas no incio. Entradas em stretto so encontradas, frequentemente, prximas ao final, no ponto em que a fuga atinge o clmax da tenso. A seo final, normalmente inclui um ponto pedal ou na dominante ou na tnica. No prprio final da fuga pode haver uma seo de coda que segue uma cadncia no acorde de tnica. A organizao de uma fuga envolve no somente a arrumao de seu tema e episdios mas principalmente sua estrutura harmnica. A exposio e a coda tendem a enfatizar a tnica, enquanto que os episdios tonalidades mais distantes. exploram
Forma Sute Forma Musical instrumental desenvolvida na Alemanha e na Frana do sculo XVII e XVIII, onde um conjunto de danas tocado sem interrupes. Os compositores renascentistas usavam essa forma de emparelhar danas, tais como a pavana e a galharda. Sendo ampliada pela incluso de novas peas no perodo barroco a sute assume um carter "molde", constitudo por: uma allemande, uma courante ,uma sarabanda e uma giga.
o
o o o
Allemande: originalmente uma dana alem em compasso binrio moderado, passa por modificaes pelos autores franceses e se transforma numa dana em quaternrio com o primeiro tempo curto e fraco; Courante: a italiana era em 3/4 ou 3/8 rpido, enquanto a francesa era em 3/2 moderado; Sarabanda: dana espanhola com andamento mais lento ternrio , quase sempre acentuando o segundo tempo; Giga: dana alegre , em tempos compostos 6/8 ,12/8.
Podendo tambm aps a giga ser instroduzida outras danas, o minueto, a bourre, a gavota ou o passe-pied. Era comum o uso de preldios ou aberturas. Todas as peas da sute estavam na mesma tonalidade e na forma binria :tendo uma seo A, que termina com uma cadncia imperfeita, e uma seo B, que resolve a seo A numa cadncia perfeita.
A Forma - Sonata A forma sonata uma forma musical empregada amplamente desde os princpios do Classicismo, Emprega-se habitualmente no primeiro movimento de uma pea de vrios movimentos, ainda que s vezes emprega-se nos seguintes movimentos tambm. Ela baseia-se num discurso musical onde sons expem duas idias - Tema A e B - que so apresentadas , desenvolvidas e reapresentadas como num debate lgico onde opnies so apresentadas postas em confronto e prevalecem entre si..
At o perdo barroco o discurso musical era longo e no flido, a busca pela clareza e equilbrio fez da forma sonata um caminho para um discurso curto e definido, onde idias meldicas esto fixadas a uma conduo harmnica bem elaborada. Sendo composta por dois temas, sendo em geral um complementar do outro, numa primeira etapa chamada exposio, os temas so apresentados , qual segue-se um desenvolvimento, em que os temas so apresentados mas de formas diferentes - configuraes e tonalidades variadas. Terminado o desenvolvimento, segue-se a recapitulao (ou reexposio), que apresenta novamente os temas da exposio. No entanto, desta vez os temas so apresentados com um carter diferente - no soam exatamente igual como no incio. Pode-se resumir a estrutura da Forma-Sonata da seguinte maneira:
Exposio: Tema A, na tnica, tema B, na dominante. Desenvolvimento: Temas A' e B', executados em tons distintos. Recapitulao: Temas A e B na tnica. Em muitos casos, a exposio precedida por uma breve introduo,
mais lenta e mais fraca melodicamente que os temas principais. A recapitulao pode ser sucedida por uma coda, um trecho musical de carter rpido e conclusivo, com o propsito de dar as "consideraes finais" da msica e reafirmar a tonalidade da pea.
Os Gneros Instrumentais Sonata, Sinfonia e Concerto So esses os gneros instrumentais mais populares da msica erudita que ao longo da histria aglutinaram elementos que configurariam sua identidade sonora, tendo em comum a herana da abertura italiana : pea instrumental empregada antes do incio das peras no perodo barroco, cuja caracterstica fundamental era a presena de trs partes: rpida lenta rpida.
Sonata Na origem do termo, sonata, de sonare (latim),uma msica para "soar instrumentalmente, contrapondo-se a cantata que era vocal. De incio ( Barroco) eram escritas para duetos de cordas acompanhados do baixo contnuo, no cravo ou viola de gamba, chegando a uma instrumentao para quintetos de cordas ou demais instrumentos no perodo clssico. As sonatas de Domenico Scarlatti foram feitas para cravo solo e compostas no esquema A-B. Com o passar do tempo, sonata passou a designar a forma musical definida como modelo de msica no classicismo. Na sonata clssica (Haydn, Mozart, Beethoven ) o primeiro movimento desenvolvido dentro da forma sonata, depois desse que tem a forma predefinida vem o movimento livre em andamento lento (Andante, Adagio, Largo ) e a pea termina com um Allegro (ou Scherzzo, como em Beethoven) com forma de Rondo ou Minueto.. A sonata no Classicismo s vezes tinha um quarto movimento:
1. primeiro movimento rpido, cuja forma se baseava na forma-sonata. 2. movimento lento, geralmente em forma de variaes; 3. movimento danante (minueto, por exemplo, remanescente da sute); 4. movimento final, de carter enrgico e conclusivo (scherzo, por
exemplo). Sinfonia Bem prximo ao fim da Renascena e no incio do Barroco, a palavra sinfonia era um termo alternativo para a canzona, fantasia ou o ricercar- estilos instrumentais da renascena arreigados a uma tradio polifnica. Mais tarde, no perodo barroco, a nomeclatura era usada para identificar um tipo de sonata, especialmente a sonata trio ou uma sonata para um conjunto grande de instrumentos. A maioria das peras e oratrios da poca Barroca iniciam com uma sinfonia . O prprio Handel identificou como tal o movimento inicial do Messias. A idia da Sinfonia como uma composio orquestral em trs movimentos foi aperfeioada e enriquecida por Haydn e Mozart. Eles estabeleceram o quarto movimento e demarcaram bem os movimentos com seus contrastes de andamento e carter.
10 1. primeiro movimento rpido, cuja forma se baseava na forma-sonata; 2. movimento vagaroso ao estilo cano, de forma ternria ou com
variaes ou novamente usando a forma-sonata;
3. movimento rpido com minueto ou sherzo; 4. movimento final, muito rpido de carter alegre e uso de rond.,
forma-sonata ou variao. No Romantismo, a sinfonia passou a adotar uma estrutura mais flexvel, algumas vezes em mais de quatro movimentos, outras vezes em apenas um ou dois. Seguiu o esprito expressivo da poca com seu sentimento descritivo e pictrico em forma de Poema Sinfnico e Sinfonia de Programa, que invocam imagens na mente do ouvinte. Um tema recorrente denominado por Ide Fixe ciclicamente apresentada em determinados momentos da obra, fazendo aluso a uma idia, sentimento ou fato central da mesma. Concerto Vindo do aprimoramento do consort ingls renascentista - grupo de instrumentos da mesma famlia (whole consort) ou de famlias diferentes (broken consort) tocando em conjunto o Concerto tem no perodo barroco a sua idia de disputa e oposio de contrastes fortalecidos graas ao esprito da poca .No Concerto Grosso dois grupos instrumentais se opem ou um grupo maior contra um menor. Nos Concertos de Brandeburgo de Bach vemos essa oposio entre um pequeno grupo de solistas(concertino) e o restante da massa instrumental. Do concertino nasce o Concerto Solo, um solista lanado contra a orquestra sendo desafiado virtuosisticamente com passagens de difilcudade elevada e grande expressividade. O Concerto Clssico modificado tendo apenas trs movimentos excluindo a dana- sendo que no primeiro movimento a forma-sonata sofre mudanas, a exposio passa a ser dupla uma para a orquestra -na tonalidade da obra- e outra para o solista no tom co-relativo. O tema nem sempre apresentado totalmente na primeira exposio a fim de despertar o interesse pela obra. A figura do solista vai ganhando destaque devido ao recurso da
11
cadncia passagem que exige grande habilidade baseada em temas recorrentes ou improvisos. No Romantismo, os Concertos passaram a ter como propsito explorar o o brilhantismo, ou seja, a potencialidade dos solistas. A partir de ento surgiram modificaes no esquema clssico, como por exemplo: Menor nmero de movimentos, tema exposto pelo solista e depois compartilhado com a orquestra, a cadncia passou a ser escrita pelo compositor, transformaes temticas e introduo do quarto movimento.
BIBLIOGRAFIA
ARDLEY, Neil . O Livro da Msica. Dinalivro: Lisboa, 1997; BENNETT, Roy. Uma Breve Histria da Msica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed 1986; BORBA, Toms e GRAA, Lopes. Dicionrio de Msica. Mrio Figueirinhas Editor: Porto, 1996; CAND, Roland de. Histria Universal da Msica. 2 Ed. So Paulo: Martins Fontes ,2001; GROUT, Donald J. e PALISCA, Claude V. Histria da Msica Ocidental. Ed Gradiva; HODER, Andr. As Formas da Msica. Convite Msica. Edies 70: Lisboa, 2002; HORTA, Luz Paulo. Dicionrio de Msica. Zahar Editores: Brasil, 1985; PISTON, Walter. Harmony. Nova Iorque: W.W. Norton and Company, 1987. RIEMANN, H. . Vereinfachte Harmonielehre oder die Lehre von der tonalen Funktionene der Akkorde. London, 1893; STEHMAN, Jacques. Histria da Msica Europia das origens aos nossos dias.Livraria Bertrand 2 edio.
Você também pode gostar
- Exercício Assertividade-1Documento3 páginasExercício Assertividade-1Dália Maria100% (2)
- Intrudoção A Linguagem MusicalDocumento19 páginasIntrudoção A Linguagem MusicalLúcia LealAinda não há avaliações
- Estudo MusicalDocumento49 páginasEstudo MusicalJose Lopes de Carvalho100% (1)
- Koellreutter educador: O humano como objetivo da educação musicalNo EverandKoellreutter educador: O humano como objetivo da educação musicalNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Música ClássicaDocumento11 páginasMúsica ClássicaCarlos SpeedhertzAinda não há avaliações
- Plano de Aula Flauta 1º Semestre, Seq IIIDocumento2 páginasPlano de Aula Flauta 1º Semestre, Seq IIIElida Olmedo100% (2)
- Historia Da Musica OcidentalDocumento95 páginasHistoria Da Musica OcidentalMissReagan100% (1)
- J.S. Bach - TonalidadeDocumento8 páginasJ.S. Bach - TonalidaderafaelsmjfAinda não há avaliações
- Contraponto MusicalDocumento7 páginasContraponto MusicalTony Rodrigues100% (1)
- ARTIGO - Origem - História Da Música (Completo)Documento18 páginasARTIGO - Origem - História Da Música (Completo)hjgu2136100% (21)
- CAVINI, M. História Da Música Ocidental - Barroco PDFDocumento36 páginasCAVINI, M. História Da Música Ocidental - Barroco PDFRanderson Alex Gama Luz100% (1)
- "Bebês Também Entendem de Música" de Beatriz S. Ilari - RESENHADocumento3 páginas"Bebês Também Entendem de Música" de Beatriz S. Ilari - RESENHACarlos Roberto Prestes Lopes100% (1)
- Apostila de Flauta TransversalDocumento16 páginasApostila de Flauta TransversalPaulo Henrique67% (3)
- Canto GregorianoDocumento26 páginasCanto Gregorianoapi-3699750100% (12)
- A RITMICA de Jaques-DalcrozeDocumento8 páginasA RITMICA de Jaques-DalcrozeLeonardo Dáglio100% (2)
- Teoria Piano - Aula 1Documento7 páginasTeoria Piano - Aula 1Francine Dos Santos AlexandreAinda não há avaliações
- História Da MusicaDocumento95 páginasHistória Da MusicaAlbert Oliveira100% (1)
- APOSTILA 0621 - Fundamentos Da Musica Na Educação - Aspectos Gerais Do Ensino e Aprendizado Da Música PDFDocumento63 páginasAPOSTILA 0621 - Fundamentos Da Musica Na Educação - Aspectos Gerais Do Ensino e Aprendizado Da Música PDFelborellacettiAinda não há avaliações
- Análise Minueto BachDocumento2 páginasAnálise Minueto BachCarlos Medeiros100% (1)
- Canto Coral - TEXTODocumento6 páginasCanto Coral - TEXTOPatricia TeixeiraAinda não há avaliações
- Rogério Duprat: Arranjos de canção e a sonoplastia tropicalistaNo EverandRogério Duprat: Arranjos de canção e a sonoplastia tropicalistaAinda não há avaliações
- Tipos de Solfejo - AbemDocumento17 páginasTipos de Solfejo - AbemAnaCéliaOliveiraAinda não há avaliações
- Jogos MusicaisDocumento9 páginasJogos MusicaisscriberoneAinda não há avaliações
- História Da MúsicaDocumento32 páginasHistória Da MúsicaLuizDaGuita100% (1)
- Orff Schulwerk - ApostilaDocumento29 páginasOrff Schulwerk - ApostilaLima Júnior83% (6)
- Música RenascentistaDocumento17 páginasMúsica RenascentistaMaria Maricato100% (1)
- Análise MusicalDocumento40 páginasAnálise MusicalPaulaFariasAinda não há avaliações
- Análise Bioética do Ensino de Música no Brasil e seu Impacto na SociedadeNo EverandAnálise Bioética do Ensino de Música no Brasil e seu Impacto na SociedadeAinda não há avaliações
- Música Na Grécia AntigaDocumento12 páginasMúsica Na Grécia AntigaAbraão100% (1)
- Harmonia Vocal Aula 01 PDFDocumento3 páginasHarmonia Vocal Aula 01 PDFCarlosDelboni100% (2)
- RESENHA História Universal Da Música Volume 1 - Roland CandéDocumento13 páginasRESENHA História Universal Da Música Volume 1 - Roland CandéKátia GallyAinda não há avaliações
- Ensinando Musica Musicalmente (Resumo Do Capitulo 1)Documento2 páginasEnsinando Musica Musicalmente (Resumo Do Capitulo 1)Raquel Alves100% (1)
- Os Percursos Da Etnomusicologia Feminista Nas Últimas Quatro Décadas: Uma Visão de Dentro Por Ellen KoskoffDocumento4 páginasOs Percursos Da Etnomusicologia Feminista Nas Últimas Quatro Décadas: Uma Visão de Dentro Por Ellen KoskoffRodrigo CantosAinda não há avaliações
- Analise Musical - FugaDocumento5 páginasAnalise Musical - FugaZiza PadilhaAinda não há avaliações
- Introdução A História Do Baixo ContínuoDocumento10 páginasIntrodução A História Do Baixo ContínuoNatan Carvalho Dos SantosAinda não há avaliações
- Conceitos de Instrumentação e Orquestração - Rodrigo Castro Leite CordeiroDocumento3 páginasConceitos de Instrumentação e Orquestração - Rodrigo Castro Leite CordeiroRodrigo CordeiroAinda não há avaliações
- A Educação Musical Através Do Canto CoralDocumento6 páginasA Educação Musical Através Do Canto CoralYeseli QueenAinda não há avaliações
- Edgar WillemsDocumento25 páginasEdgar WillemsCarine Araújo100% (3)
- Dalcroze, Orff, Kodály, Suzuki Semelhanças, Diferenças, EspecificidadesDocumento11 páginasDalcroze, Orff, Kodály, Suzuki Semelhanças, Diferenças, EspecificidadesJasson AndréAinda não há avaliações
- Schoenberg-Estilo e IdeiaDocumento9 páginasSchoenberg-Estilo e IdeiaEduardo Fabricio Łuciuk Frigatti100% (3)
- ENSINO INSTRUMENTAL ENQUANTO ENSINO DE MÚSICA - Keith SwanwiDocumento7 páginasENSINO INSTRUMENTAL ENQUANTO ENSINO DE MÚSICA - Keith SwanwiDavi GomesAinda não há avaliações
- MEJA0905Documento20 páginasMEJA0905Rosberg PatrocinioAinda não há avaliações
- Plano de Ensino de Fundamentos Da Educação MusicalDocumento3 páginasPlano de Ensino de Fundamentos Da Educação MusicalRanderson Alex Gama LuzAinda não há avaliações
- "De Tempos em Tempos": A Rítmica de Gramani Nos Cursos de Graduação em Música Da UDESC - 2017Documento106 páginas"De Tempos em Tempos": A Rítmica de Gramani Nos Cursos de Graduação em Música Da UDESC - 2017Jhonatas CarmoAinda não há avaliações
- História Da OperaDocumento7 páginasHistória Da OperaAle BrittoAinda não há avaliações
- Análise - Sinfonia #40 in G Minor, K.550 Wolfgang Amadeus Mozart.Documento6 páginasAnálise - Sinfonia #40 in G Minor, K.550 Wolfgang Amadeus Mozart.Débora IldêncioAinda não há avaliações
- Plano de Aula FlautaDocumento4 páginasPlano de Aula FlautaCris SalesAinda não há avaliações
- Edwin GordonDocumento11 páginasEdwin GordonRafael Rodrigues da Silva100% (1)
- #Morfologia MusicalDocumento19 páginas#Morfologia MusicalRoyke JR100% (2)
- Partsongs e Cantatas No Séc XIXDocumento4 páginasPartsongs e Cantatas No Séc XIXSóstenes PereiraAinda não há avaliações
- O Movimento Do Canto Orfeonico No BrasilDocumento3 páginasO Movimento Do Canto Orfeonico No BrasilPéricles NarbalAinda não há avaliações
- A Deculturação Da Música Indigena BrasileiraDocumento18 páginasA Deculturação Da Música Indigena BrasileiraValéria MotaAinda não há avaliações
- Educação Musical A Serviço Da ÉticaDocumento9 páginasEducação Musical A Serviço Da ÉticaGuilherme ChagasAinda não há avaliações
- TessituraDocumento1 páginaTessituramusicalinoAinda não há avaliações
- A Música É Um Jogo de CriançaDocumento1 páginaA Música É Um Jogo de CriançaVirna KellyAinda não há avaliações
- Calendário Futebol Brasileiro em 2024Documento1 páginaCalendário Futebol Brasileiro em 2024pr.mariobaio3138Ainda não há avaliações
- Aula U2 S2Documento24 páginasAula U2 S2Adriano Alencar FreitasAinda não há avaliações
- MOV BT Importacao LayoutAnfaveaDocumento7 páginasMOV BT Importacao LayoutAnfaveaLuciano Gonsales BertoiAinda não há avaliações
- ECU (Motronic M 1.7-1.7.2)Documento1 páginaECU (Motronic M 1.7-1.7.2)HefRacing-proAinda não há avaliações
- Claudio PeterDocumento170 páginasClaudio PetermarconycarvalhoAinda não há avaliações
- Folclore - Tipos de TextosDocumento1 páginaFolclore - Tipos de TextosPaulo Anchieta F da CunhaAinda não há avaliações
- Cronica PechadaDocumento1 páginaCronica PechadaMonique Costa100% (1)
- Teorema de PitágonasDocumento12 páginasTeorema de PitágonasGuilherme LuizAinda não há avaliações
- RoteiroDocumento6 páginasRoteirolorenarodrigues.mcaAinda não há avaliações
- Se Eu Fosse Um Animal de Estimação PDFDocumento7 páginasSe Eu Fosse Um Animal de Estimação PDFSandra FerreiraAinda não há avaliações
- Desenho, Diferença A Outras Linguagens ArtísticasDocumento2 páginasDesenho, Diferença A Outras Linguagens ArtísticasBreno Gomes PeixotoAinda não há avaliações
- Rock Dos Anos 1980, Prefixo 48Documento183 páginasRock Dos Anos 1980, Prefixo 48diorgenes diAinda não há avaliações
- TCC ViniciusQuaglio BCC UEL 2013 PDFDocumento50 páginasTCC ViniciusQuaglio BCC UEL 2013 PDFJuliana XavierAinda não há avaliações
- Copia Do Anexo I Descrição DecomputadorIDocumento3 páginasCopia Do Anexo I Descrição DecomputadorIGutembergue SilvaAinda não há avaliações
- Apresentando o Trabalho Do Artista Romero BrittoDocumento13 páginasApresentando o Trabalho Do Artista Romero Brittoaline marleneAinda não há avaliações
- Hidrocarburos - 4.ºeso: ALCANOS Y CICLOALCANOS - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . .Documento7 páginasHidrocarburos - 4.ºeso: ALCANOS Y CICLOALCANOS - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . .pablo martin perezAinda não há avaliações
- Atividades para o Blog Chapeuzinho VermelhoDocumento14 páginasAtividades para o Blog Chapeuzinho VermelhoMarinélia Soares100% (1)
- Os Gigantes Sempre VoltamDocumento2 páginasOs Gigantes Sempre VoltamEzequiel Rodrigues da SilvaAinda não há avaliações
- Manual FT VF Uc2 210618 Versao 1.5 NovaDocumento12 páginasManual FT VF Uc2 210618 Versao 1.5 Novaphantonc4Ainda não há avaliações
- Livro de Receitas Low CarbDocumento15 páginasLivro de Receitas Low Carbphbass45Ainda não há avaliações
- Aclamacao Dom Pedro Imperador BrasilDocumento1 páginaAclamacao Dom Pedro Imperador Brasilbeing11Ainda não há avaliações
- GibiDocumento76 páginasGibirizoma_netAinda não há avaliações
- Ficha de Sucessoes 2021Documento3 páginasFicha de Sucessoes 2021Daniel Savanguane100% (1)
- Vicente de Paulo 846746589Documento1 páginaVicente de Paulo 846746589Vicente de PauloAinda não há avaliações
- Manual Do Fabricante - Montagem de CatalogoDocumento50 páginasManual Do Fabricante - Montagem de CatalogoAntonioli JuniorAinda não há avaliações
- Termo de Abertura Do Projeto Ebook YURIDocumento2 páginasTermo de Abertura Do Projeto Ebook YURIYuri BarrosAinda não há avaliações
- Manual RMA Meganetbook 11+Documento19 páginasManual RMA Meganetbook 11+Scientists ScienAinda não há avaliações