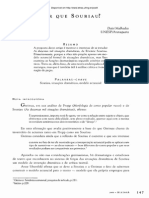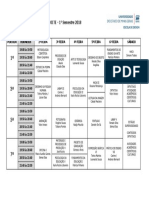Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ageografi
Enviado por
ju19760 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações0 páginaadoatrito-2
Título original
ageografi
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoadoatrito-2
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações0 páginaAgeografi
Enviado por
ju1976adoatrito-2
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 0
UNIVERSIDADE DE SO PAULO USP
Faculdade de Filosofia Letras e Cincias Humanas
Departamento de Geografia
Programa de Ps-Graduao em Geografia Humana
A Geografia do Atrito
Dialtica espacial e violncia em Campinas-SP
Lucas de Melo Melgao
So Paulo
2005
A Geografia do Atrito
Dialtica espacial e violncia em Campinas-SP
Dissertao apresentada ao Departamento de
Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e
Cincias Humanas da Universidade de So Paulo,
para obteno do ttulo de Mestre na rea de
Geografia Humana.
Lucas de Melo Melgao
Orientadora: Prof. Dr. Maria Adlia Aparecida de Souza
So Paulo
2005
ii
Autor: Lucas de Melo Melgao
Ttulo: A Geografia do Atrito: dialtica espacial e violncia em Campinas-SP
Dissertao apresentada ao Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia,
Letras e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo, para obteno do ttulo de
Mestre na rea de Geografia Humana.
EXAMINADORES:
Prof. Dr. Maria Adlia Aparecida de Souza (Presidente).
Instituio: Universidade de So Paulo Assinatura: _______________
Prof. Dr. Ana Clara Torres Ribeiro.
Instituio: Universidade Federal do Rio de J aneiro Assinatura: _______________
Prof. Dr. Eduardo Yazigi
Instituio: Universidade de So Paulo Assinatura: _______________
Aprovada em 19 de janeiro de 2006.
iii
Aos meus pais, Marcos e
Irene.
iv
Agradecimentos
Cada pgina desta dissertao representa parte de um processo de elaborao
que contou com a ajuda direta e indireta de uma srie de pessoas e instituies. Tentarei
explicitar aqui a maior parte delas, mas j admitindo a impossibilidade de, nessas
poucas linhas, elencar a sua totalidade. Desta forma, os agradecimentos vo:
Aos meus colegas da ps-graduao em Geografia Humana da USP: Mariana
Albuquerque, Rafael Pinto, Mrio Ramalho, Pablo Ibanez, Helosa Lopes, Virgnia
Holanda, J lia Andrade, Maria do Fetal, Carin Gomes, Doraci Zanfolin e Eliza
Almeida, sendo que sem as suas contribuies este trabalho certamente no teria a
mesma qualidade;
Aos participantes dos seminrios de orientao promovidos pela Prof
a
. Maria
Adlia: Nelson Marques, Arnaldo Valentim, J os Braga, Fbio Tozi, Victor Begeres,
Hugo Silimbam, Anita Kurka, Izalene Tiene, ex-prefeita de Campinas e Edmilson
Rodrigues, ex-prefeito de Belm;
s secretrias da Ps-Graduao do Departamento de Geografia da USP pelo
atendimento sempre solcito;
A Aninha e aos demais amigos do Laboplan pela simptica acolhida;
Aos professores Eduardo Yazigi e Samira Kahil, pelas leituras atentas do
memorial de qualificao e pelas importantes sugestes que fizeram;
Aos professores Ricardo Castillo e Mrcio Cataia pelas contribuies que deram,
quando este projeto ainda era um trabalho de concluso da graduao;
Ao professor Carlos Roberto de Souza Filho por ter me inserido no instigante
mundo do Geoprocessamento;
Dos meus colegas professores da PUC-Campinas e dos meus alunos, a todos
aqueles que em algum momento fizeram parte deste trabalho;
A J ames Zomighani amigo e parceiro das discusses sobre territrio e violncia;
Polcia Civil de Campinas, ao Sindivigilncia, Secretaria de Sade,
Secretaria do Planejamento, ao Disque-Denncia de Campinas e Rede Anhangera de
Comunicao pelos diversos dados fornecidos;
Aos meus pais e meus irmos por sempre acreditarem nos meus sonhos;
Aos meus amigos pelos momentos compartilhados;
A Nathalia, pelo apoio e pacincia com que me acompanhou nesta empreitada.
v
Gostaria de mencionar ainda a Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de
So Paulo FAPESP pela bolsa concedida durante o primeiro ano deste mestrado.
Por fim, gostaria de agradecer ao acaso das circunstncias o privilgio de ter
encontrado a Professora Maria Adlia de Souza durante o percurso de minha formao
intelectual.
vi
Nenhuma explicao no-potica da realidade pode ser completa.
(J ohn D. Barrow)
vii
Resumo
A presente dissertao tem como objetivo central promover uma discusso a respeito do
dilogo entre a Geografia e o estudo da Violncia. Porm, diferentemente da maioria
das pesquisas feitas na rea de violncia urbana, as quais tm no mtodo analtico o seu
principal referencial terico, procura-se, aqui, trazer uma reflexo dialtica questo.
No atual perodo tcnico-cientfico e informacional, torna-se impossvel entender esta
prtica espacial denominada violncia se a considerarmos apenas como um recorte
analtico da realidade. por este motivo que no pretendemos fazer uma geografia da
violncia ou, muito menos, uma geografia do crime, e sim uma geografia dos usos
do territrio e das suas relaes com a temtica do crime e da violncia. Faz-se
necessrio, ento, um mtodo que entenda o espao geogrfico enquanto um todo em
movimento, um sistema indissocivel de objetos e aes (SANTOS, 1997c, 1998,
1999a). Nessa busca por uma compreenso das relaes entre territrio e violncia, o
Geoprocessamento se mostrou uma ferramenta de fundamental importncia, tanto por
suas potencialidades, quanto por suas limitaes enquanto instrumento de representao
do espao geogrfico. Aliando a tcnica do Geoprocessamento profundidade do
mtodo dialtico foi possvel se perceber o potencial da Geografia enquanto modo de
compreenso da violncia e, mais amplamente, enquanto instrumento de planejamento
territorial. Nesta reflexo, alguns conceitos e autores aparecem com contribuies
fundamentais, dentre eles o de territrio usado (SANTOS et al. 2000a), solidariedades
geogrficas (SANTOS, 1994, 1998), cotidiano (CERTEAU, 1994), alm das
concepes de poder e violncia trazidas por Hannah Arendt (1994). Conclui-se que a
violncia urbana uma questo de carter muito mais poltico que propriamente
tcnico, e que a violncia em Campinas-SP fruto dos usos corporativos do territrio e
das escolhas histricas feitas por esta cidade e pela formao scio-espacial na qual est
inserida. Pde-se ainda vislumbrar o quanto a Geografia pode se aproximar de uma
cincia da ao.
Palavras-chave
Uso do territrio, violncia, segurana pblica, planejamento territorial, dialtica
espacial.
viii
Abstract
The prime objective of this dissertation is to promote a discussion regarding the
dialogue between Geography and the study of Violence. However, differently from the
majority of the researches about urban violence, which has in the analytical method its
main theoretical referential, we tried here to bring a dialectic reflection to the question.
In the current techno-scientific and informational period, it is impossible to understand
this spatial practice called violence if we only consider it as an analytical clipping of the
reality. This is the reason why we dont intend to make a "geography of violence",
neither a "geography of the crime", but a geography of the uses of the territory and its
relations with the thematic of crime and violence. Thus, it is necessary to use a method
that understands the geographic space as a whole in movement, an inseparable system
of objects and actions (SANTOS, 1997c, 1998, 1999a). In this effort of understanding
the relations between territory and violence, the Geomatics has become a tool of
primordial importance, due to its potentialities, as well for its limitations while an
instrument of representation of the geographic space. The junction of the technique of
the Geomatics to the complexity of the dialectical method shows how Geography has
become an important area on the studies of violence and, more widely, while instrument
of territorial planning. In this reflection, some concepts and authors has brought
essential contributions. Among than we can mention: used territory (SANTOS et al.
2000a), geographic solidarities (SANTOS, 1994, 1998), everyday life (CERTEAU,
1994), beyond the conceptions of power and violence proposed by Hannah Arendt
(1994). We conclude that the urban violence is a question much more political than
properly technical, and that the violence in Campinas-SP, Brazil is due to the
corporative uses of the territory and to the historical choices made by this city and the
social-spatial formation in which it is inserted. Finally, it could be noted how much
Geography can become close to a science of the action.
Key-words
Uses of territory, violence, public defense, territorial planning, spatial dialectics.
ix
Rsum
Traduit par Adalberto Medeiros
La prsent dissertation a lobjectif principal de soutenir une discussion propos du
dialogue entre la Gographie et ltude de la Violence. Cependant, en contraste la
plupart des recherches dans le cadre de la violence urbaine, qui ont dans la mthode
analytique leur principal rfrentiel thorique, ce que lon cherche ici ce sera dapporter
une reflexion dialctique ce sujet. Dans la priode actuelle techno-scientifique et
informative, il devient impossible de comprendre cette pratique spatiale, que lon
nomme violence, si on ne la considre que comme une partie analytique de la ralit.
Cest la raison pour laquelle on ne prtend pas faire ni une "gographie de la violence",
ni encore moins une "gographie du crime", mais une gographie des emplois du
territoire et de ses relations avec la thmatique du crime et de la violence. Il faut ainsi
une mthode qui comprenne lespace gographique comme un tout en mouvement,
comme un systme indissociable dobjets et dactions (SANTOS, 1997c, 1998, 1999a).
Bans le but de comprendre les relations entre le territoire et la violence, le Gomatique
est devenu un outil dimportance fondamentale, grce ses potentialits et ainsi ses
limitations autant quinstrument de reprsentation de lespace gographique. J oignant la
technique du Gomatique la profondit de la mthode dialectique, on peut constater la
capacit de la Gographie comme une faon de comprendre la violence et, plus
largement, en tant quinstrument de planification territoriale. Dans cette rflexion,
quelques concepts et quelques auteurs apportent des contributions essentielles, comme
celles du territoire employ (SANTOS et al. 2000a), des solidarits gographiques
(SANTOS, 1994, 1998), et du quotidien (CERTEAU, 1994), en outre les conceptions de
pouvoir et de violence prsentes par Hannah Arendt (1994). En conclusion, la
violence urbaine est une question de caractre beaucoup plus politique que vraiment
technique et que la mme Campinas-SP, Brsil le fruit des emploi corporatifs du
territoire et des choix historique faits par cette ville et par sa formation socio- spatiale
dans laquelle elle est insre. En plus, on pourra constater quel point la Gographie
peut sapprocher dune science daction.
Mots- Clefs
Emploi du territoire, violence, scurit publique, amnagement territoriale, dialectique
spatiale.
x
SUMRIO
APRESENTAO: POR UMA CINCIA DO ATRITO....................................................1
INTRODUO.........................................................................................................................3
CAPTULO 1: A GEOGRAFIA E O ESTUDO DA VIOLNCIA......................................9
O CONCEITO DE VIOLNCIA................................................................................................................................10
OUTRAS VIOLNCIAS, OU, AS VERDADEIRAS VIOLNCIAS...................................................................................16
O CONCEITO DE CRIME........................................................................................................................................17
LEGALIDADE E ILEGALIDADE..............................................................................................................................19
O USO..................................................................................................................................................................21
AS SOLIDARIEDADES GEOGRFICAS E A VIOLNCIA............................................................................................22
CAPTULO 2: O TERRITRIO USADO E A DIALTICA ESPACIAL......................27
DA DIALTICA DIALTICA ESPACIAL................................................................................................................28
O TERRITRIO USADO.........................................................................................................................................30
A ALIENAO DO TERRITRIO............................................................................................................................31
UMA FRONTEIRA, DOIS TERRITRIOS..................................................................................................................33
CAPTULO 3: LUGAR, COTIDIANO E VIOLNCIA....................................................36
O LUGAR.............................................................................................................................................................37
O COTIDIANO......................................................................................................................................................37
O BAIRRO............................................................................................................................................................40
NA CONTRAMO DAS CONVENINCIAS................................................................................................................41
O PAPEL DA POLCIA............................................................................................................................................42
O MEDO...............................................................................................................................................................44
xi
CAPTULO 4: UMA FORMAO SCIO-ESPACIAL CORPORATIVA E
FRAGMENTADA...................................................................................................................47
A FORMAO SCIO-ESPACIAL...........................................................................................................................48
A HISTRIA COMO RECURSO DE MTODO............................................................................................................49
A FORMAO DO TERRITRIO CAMPINEIRO: UMA HISTRIA VOLTADA FLUIDEZ.............................................51
OS FLUXOS DA CAMPINAS DE HOJ E......................................................................................................................57
CAMPINAS: CONE DA DIALTICA ESPACIAL........................................................................................................59
CAPTULO 5: CONSTATAR NO COMPREENDER: LIMITAES DO
MTODO ANALTICO........................................................................................................61
O GEOPROCESSAMENTO COMO INSTRUMENTAL ANALTICO................................................................................62
REALIDADE VERSUS REPRESENTAO DA REALIDADE........................................................................................64
O GEOGRFICO E O GEOMTRICO........................................................................................................................66
LIMITES TERICOS DO GEOPROCESSAMENTO......................................................................................................67
POR QUE DUVIDAR DOS MAPAS...........................................................................................................................69
POR QUE DUVIDAR DAS ESTATSTICAS POLICIAIS................................................................................................70
O GEOPROCESSAMENTO E SEUS USOS.................................................................................................................73
CAPTULO 6: DO PLANEJAMENTO SETORIAL AO TERRITORIAL: PARA
ALM DA SEGURANA PBLICA...................................................................................75
DA GEOGRAFIA AO PLANEJ AMENTO...................................................................................................................76
O COMPLEXO CONCEITO DE REGIO....................................................................................................................78
REGIONALIZAO E DIFERENCIAO REGIONAL................................................................................................81
CAMPINAS: TERRITRIO RECORTADO..................................................................................................................82
PEDAGOGIA DO LUGAR: PARA ALM DA SEGURANA PBLICA...........................................................................84
CONSIDERAES FINAIS.................................................................................................87
CADERNO DE MAPAS.........................................................................................................92
BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................109
APNDICE............................................................................................................................117
ANEXOS................................................................................................................................122
xii
LISTA DE MAPAS
MAPA 1. CAMPINAS. REFERNCIA BAIRROS. 2005....................................................................................93
MAPA 2. CAMPINAS. UNIDADES BSICAS DE SADE -UBS.........................................................................93
MAPA 3. CAMPINAS E MUNICPIOS LIMTROFES. CRESCIMENTO URBANO ENTRE 1973 E 2005....................94
MAPA 4. CAMPINAS. CRESCIMENTO DA POPULAO. 1996-2000...............................................................94
MAPA 5. CAMPINAS. TAXA DE NATALIDADE. 2000......................................................................................95
MAPA 6. CAMPINAS. DENSIDADE POPULACIONAL. 2000.............................................................................95
MAPA 7. CAMPINAS. FAVELAS. 2003............................................................................................................96
MAPA 8. CAMPINAS. OCUPAES. 2003.......................................................................................................96
MAPA 9. CAMPINAS. AGLOMERAES SUBNORMAIS. 2000.........................................................................97
MAPA 10. CAMPINAS. POPULAO ALFABETIZADA. 2000...........................................................................97
MAPA 11. CAMPINAS. RESPONSVEIS PELO DOMICLIO, COM MAIS DE 5 ANOS DE ESTUDOS. 2000..............98
MAPA 12. CAMPINAS. RESPONSVEIS PELO DOMICLIO, COM MENOS DE 5 ANOS DE ESTUDOS. 2000..........98
MAPA 13. CAMPINAS. DOMICLIOS SEM BANHEIRO. 2000............................................................................99
MAPA 14. CAMPINAS. VALOR DO RENDIMENTO MDIO MENSAL DOS RESPONSVEIS PELOS DOMICLIOS
PARTICULARES PERMANENTES. 2000..........................................................................................................99
MAPA 15. CAMPINAS. HOMICDIOS POR UBS. 2002...................................................................................100
MAPA 16. CAMPINAS. DENSIDADE DE HOMICDIOS. 2002..........................................................................100
MAPA 17. CAMPINAS. RESIDNCIA DAS VTIMAS DE HOMICDIOS. 2002...................................................101
MAPA 18. CAMPINAS. HOMICDIOS: MESMOS DADOS, MAPAS DIFERENTES. 2002......................................101
MAPA 19. CAMPINAS E MUNICPIOS LIMTROFES. HOMICDIOS E PIB PER CAPITA. 2002-2003.................102
MAPA 20. CAMPINAS. SEQESTROS-RELMPAGO. 2002............................................................................102
MAPA 21. CAMPINAS. SUICDIOS. 2002......................................................................................................103
MAPA 22. CAMPINAS. RESIDNCIA DAS VTIMAS DE SUICDIOS. 2002.......................................................103
MAPA 23. CAMPINAS. MORTES NO TRNSITO. 2002..................................................................................104
MAPA 24. CAMPINAS. RESIDNCIA DAS VTIMAS MORTAS EM ACIDENTES DE TRNSITO. 2002...............104
MAPA 25. CAMPINAS. DISTRITOS POLICIAIS E RESPECTIVAS SEDES. 2004................................................105
MAPA 26. CAMPINAS. LOCALIZAO DA SEDE DO 13 DISTRITO. 2005.....................................................105
MAPA 27. CAMPINAS. SEDES DOS DISTRITOS POLICIAIS SOBREPOSTAS AO MAPA DE RENDIMENTOS DOS
RESPONSVEIS PELO DOMICLIO. 2000......................................................................................................106
MAPA 28. CAMPINAS. CRIMES CONTRA A PESSOA E CRIMES CONTRA O PATRIMNIO. 2003.....................106
MAPA 29. CAMPINAS. HOMICDIOS POR DISTRITO POLICIAL. 2002............................................................107
MAPA 30. CAMPINAS. HOMICDIOS POR DISTRITO POLICIAL. 2003............................................................107
MAPA 31. CAMPINAS. TERRITRIO RECORTADO: REGIONALIZAES DA ADMINISTRAO PBLICA.
2004...........................................................................................................................................................108
xiii
LISTA DE TABELAS E FIGURAS
TABELA 1. CAMPINAS. HOMICDIOS E SEQESTROS. 1999-2001....................................................................4
TABELA 2. CAMPINAS E REGIO METROPOLITANA. EVOLUO DOS SALDOS MIGRATRIOS E PARTICIPAO
RELATIVA NO CRESCIMENTO ABSOLUTO (%). 1970-1996.............................................................................56
TABELA 3. CAMPINAS. CRESCIMENTO DO PIB E PIB PER CAPITA. 1999-2000...............................................60
FIGURA 1. AS TRS ESFERAS DO MTODO DE PESQUISA..................................................................................6
FIGURA 1. MOSTRAR OU ESCONDER A VERDADE?..........................................................................................70
1
Apresentao: Por uma cincia do atrito
Lembro-me quando, ainda adolescente, em uma aula de fsica no colegial, foi-me
apresentado o fantstico estudo dos movimentos dos corpos. A lousa era o palco maior das
representaes. L, um trao simulava uma rampa, um retngulo a caixa em movimento e
tudo mais que a imaginao do professor permitisse era de alguma maneira reproduzido no
quadro negro. Entretanto, no cabia nunca nos seus desenhos um ente estranho chamado
atrito. Ele dizia: Neste exerccio iremos ignorar o atrito. E tudo parecia mais simples
quando o inconveniente atrito no estava por perto. Mas aquelas explicaes nunca me
satisfaziam por completo, sabendo que havia alguma forma de atrito em praticamente todos os
movimentos. Havia ento duas realidades: a da lousa e a da vida l fora.
Em uma outra recordao, j mais recente, lembro-me, enquanto graduando do curso
de Geografia, das explicaes de um professor a respeito da tal questo ambiental. Ele nos
apresentava o caso de um parque da cidade de Campinas. Incomodava-lhe a constante
depredao feita pelos moradores vizinhos e a grande quantidade de lixo espalhada pelos
visitantes do parque. Lixo este que ele sempre fazia questo de coletar, buscando dar o
exemplo aos seus alunos. Inquieto com aquilo, eu me perguntava se no havia algo mais que
nos ajudasse a entender aquela situao. Em um trabalho de campo, um dos responsveis pelo
parque me dizia, em voz baixa, com medo de que algum o ouvisse, que a situao do parque
j tinha sido bem melhor, que a sua criao teve como objetivo maior a valorizao
imobiliria do seu entorno, coincidentemente terras de um poltico influente da regio. Com a
sada de tal poltico e a passagem do parque para a administrao municipal, comandada por
um membro de um outro partido, a situao daquela rea passou a se complicar. Indignado,
fui rapidamente apresentar ao professor as importantes informaes que havia conseguido e,
para minha surpresa, obtive a resposta de que o papel do educador ambiental no contemplava
aquelas questes poltico-partidrias. Aquilo tudo era um outro problema.
J no mestrado, discutindo com um colega do grupo de pesquisa e ex-membro de uma
administrao pblica de Campinas, ele me dizia: H um abismo muito grande entre as
reflexes tericas que fazemos enquanto cientistas e a real implantao dessas propostas no
mbito da administrao pblica. Na prtica da gesto, surgem uma srie de fatores polticos e
jogos de interesses que muitas vezes impossibilitam a aplicao de aes cientificamente
fundamentadas.
2
Esses trs flashs me fizeram refletir sobre os rumos que tomaria minha dissertao de
mestrado. Independente do tema a ser estudado, uma questo era certa: as discusses aqui
representadas teriam sempre como objetivo a busca do entendimento da realidade em sua
complexidade. Ao invs de eliminar o atrito, a idia seria inverter o jogo, elevando-o ao posto
de objeto central da anlise.
Na busca de aproximao da realidade intangvel me deparei com as possibilidades
dadas pela abordagem dialtica. ela que vem nos permitindo fazer esse elogio ao complexo,
fundamental na compreenso do fenmeno da violncia.
Essa preocupao em compreender a violncia atravs do mtodo geogrfico teve
incio j na minha graduao, na forma de um projeto de iniciao cientfica e,
posteriormente, como trabalho de concluso de curso. Naqueles momentos iniciais, quando
ainda no tinha muita clareza sobre o rigor do mtodo, eu imaginava que este seria um
trabalho que trataria do estudo da violncia em Campinas. Com o tempo, pude perceber que,
para atingir os objetivos a que estava me propondo, eu no deveria nem estudar a violncia,
pura e simplesmente, nem somente estudar Campinas, descrevendo-a com tabelas e mapas.
Na verdade, deveria se tratar de um trabalho em que o espao geogrfico estivesse no centro
da anlise. Um trabalho, portanto, sobre os usos do territrio e a dialtica espacial. Essa
postura justifica ento a escolha do tema da violncia, visto que esta decorrncia dos usos
corporativos do territrio, e a escolha de Campinas enquanto recorte emprico, dada a posio
de tal municpio como cone da dialtica espacial no Brasil. No se trata, portanto, de um
estudo de caso na sua acepo clssica.
Com este trabalho propomos, ento, que a Geografia seja, sob dois aspectos, a cincia
do atrito: um por ser uma cincia do complexo e outro, por conseqncia do primeiro, ser uma
cincia do embate, aproximando-se muito da poltica.
A Geografia possui muito a dizer sobre a questo da violncia!
3
Introduo
Violncia um conceito extremamente amplo, pois pode abranger situaes diversas,
desde uma atitude de superioridade entre um professor e um aluno, por exemplo, s suas
manifestaes mais extremas, como os homicdios.
1
A violncia no perodo atual est cada vez mais distante de atos isolados de pessoas
mentalmente doentes e transtornadas e cada vez mais contextualizada como decorrente de
uma sociedade capitalista desigual.
2
A violncia no Brasil possui vrias origens, mas a
principal delas , certamente, a situao de desigualdade social a que estamos e estivemos
submetidos. Entendemos, assim, que o ponto de partida da anlise deva ser a dialtica
espacial, pois, a partir dela, ser possvel compreender as desigualdades territoriais e os
motivos que fazem da violncia uma prtica scio-espacial.
Essa prtica vem, cada vez mais, se tornando assunto corrente nos jornais de todo o
Brasil. Em Campinas, isso est acontecendo com mais intensidade, visto o destaque que tal
cidade vem recebendo como sendo uma das mais violentas do pas. O estudo promovido pelo
estatstico J os Peres Netto, da Organizao No-Governamental (ONG) Instituto Fernand
Braudel de Economia Mundial (Correio Popular, 27/07/02), mostra essa situao. Nesse
estudo, que no considera a capital, Campinas ocupa o segundo lugar, logo aps Praia
Grande, como municpio mais violento do Estado de So Paulo.
Campinas teve ainda uma outra demonstrao do grau de violncia atingido pelo
municpio. No dia 10 de setembro, o ento prefeito Antnio da Costa Santos foi a 414 vtima
de homicdio na cidade desde o incio de 2001. At o dia 02 dezembro de 2001, o nmero de
vtimas j havia passado para 548 (Correio Popular, 02/12/01). Isto significa que, de 10 de
setembro a 02 de dezembro, 134 pessoas foram assassinadas, ou seja, diariamente se mata
pelo menos uma pessoa em Campinas.
Alm disso, a violncia urbana na cidade j havia sido evidenciada pela Comisso
Parlamentar instituda pelo Congresso Nacional para apurar o Narcotrfico e o Crime
1
E se torna um tanto difcil abordar o tema da violncia, pois que a sua realidade percorre desde as violncias
vermelhas (sangrentas) at as violncias brancas (como o empregado de linha-de-montagem que, nas grandes
indstrias, na verdade o prisioneiro de um campo de concentrao habilmente disfarado). (MORAIS, 1981,
p. 16).
2
Sutherland (1965), um dos mais famosos autores da Escola de Chicago (COULON, 1995), defende que a
principal origem da delinqncia no est em questes de ordem psicolgica ou patolgica, apesar de reconhecer
um componente individual na criminalidade. Para ele, a influncia da organizao social e da herana cultural
sobre os indivduos so os fatores realmente determinantes.
4
Organizado, a qual revelou ao pas a magnitude destas atividades que permeiam o tecido
social da cidade: empresrios e diferentes agentes sociais so citados e denunciados em
processos e eventos vinculados ao crime organizado. O quadro abaixo nos traz exemplos da
magnitude da violncia em Campinas e indica um crescimento das atividades criminosas nos
ltimos anos:
Ano Homicdios Seqestros
1999 494 4
2000 536 20
As ocorrncias que
mais crescem em
Campinas
2001 609 39
Fonte: Secretaria de Segurana Pblica de So Paulo
E, para entender essa situao de Campinas, necessrio entender minimamente o seu
processo de formao territorial.
Campinas uma cidade historicamente voltada aos fluxos, pois nasce de um pouso de
bandeirantes na rota para Gois e hoje se destaca por ser um lugar em posio privilegiada nas
redes de comunicao e circulao, utilizadas inclusive pelo narcotrfico. A partir da dcada
de 70 se d a instalao de empresas, instituies e servios altamente especializados. Em um
curtssimo espao de tempo, a cidade recebe atividades cujo desenvolvimento est mais
voltado natureza do funcionamento do mundo do que s particularidades do processo de
urbanizao brasileiro.
Ao mesmo tempo em que recebe esses servios de ponta, com a vinda de cientistas e
trabalhadores altamente especializados, Campinas passa a abrigar uma populao pobre que
chega e no participa dessa lgica. nessa dcada que se intensifica o processo de
periferizao do municpio, tendo como cone a instituio dos DICs Distritos Industriais de
Campinas.
Essa populao no absorvida pelo Circuito Superior da Economia (SANTOS, 1979a)
acaba por se aglomerar nas favelas. Pode-se, assim, inferir que h um evidente confronto no
mundo do trabalho entre riqueza e pobreza, entre os que trabalham formalmente e a maioria
da populao, que se vincula ao trabalho informal (no includo nas estatsticas).
A ausncia, ou melhor, a conivncia do Estado permite a instalao do crime
organizado, o qual gera em Campinas novas territorialidades, principalmente nos espaos
opacos (SANTOS, 1998, SANTOS e SILVEIRA, 2001). Essas novas territorialidades se
Tabela 1. Homicdios e Seqestros em Campinas.
5
tornam ntidas ao se analisar alguns exemplos empricos, como o da Vila Brandina
3
, bairro
conhecido por ser reduto do trfico de drogas na cidade. L as normas de trnsito so outras,
pois os trabalhadores, ao voltarem motorizados para a casa noite, precisam, antes de entrar
no bairro, desligar os faris e aguardar alguns minutos como uma forma de pedido de passe
livre e de dizer que no representam risco ao negcio ilcito que movimenta o local (Correio
Popular, 04/07/02).
Outro caso recente o da retirada das catracas de quatro linhas de nibus que circulam
pela periferia da cidade. As empresas responsveis preferiram o prejuzo aos constantes
assaltos aos cobradores. H nesse exemplo uma manifestao da complexidade envolvida no
estudo da violncia. Quem seriam as verdadeiras vtimas nesse caso, as empresas de nibus
ou uma populao pobre que se revolta por no ter acesso a um transporte pblico barato e
eficiente?
O que se percebe que, muitas vezes, as reflexes sobre situaes como estas so
apressadas e rasas, sendo ignorada a brutal complexidade da questo. Alm disso, na maioria
das vezes encontramos advogados, psiclogos, socilogos sendo chamados a falar, mas
poucos so os gegrafos que se atreveram a tratar do assunto. E a Geografia pode contribuir
de maneira intensa com a questo devido ao seu diferencial terico-metodolgico, vendo o
espao-geogrfico como um fator chave para o entendimento do perodo histrico atual. Por
este motivo, partimos do conceito de espao geogrfico como sendo um conjunto
indissocivel de objetos e aes (SANTOS, 1997c, 1998, 1999a) para entender a violncia
como uma prtica scio-espacial.
Estudar a violncia a partir da Geografia vem sendo um grande desafio, mas que est
se mostrando extremamente recompensador. A preocupao de no se perder o foco do
verdadeiro objeto da Geografia, o espao, vem nos forando a ter cada vez mais clareza das
especificidades da anlise e do mtodo geogrfico. essa mesma clareza que nos possibilita
enxergar o verdadeiro alcance do Geoprocessamento e as suas limitaes.
Depois de muitas investidas na busca de se destrinchar o conceito de violncia,
percebemos hoje que na verdade no deve ser esse o verdadeiro foco da discusso, visto que a
violncia se coloca, cada vez mais, como uma conseqncia do que como uma causa em si
mesma. Vemos, ento, que o foco do estudo devem ser os usos diversos do territrio e as
3
Ver mapa de referncia no Caderno de Mapas pgina 93.
6
desigualdades provenientes dos mesmos. Para a Geografia, a violncia no se explica por si
s. Vista como uma prtica scio-espacial, ela se torna histrica e territorial, parte de uma
totalidade em movimento: o espao geogrfico.
Com o objetivo de se tentar chegar o mais prximo possvel dessa totalidade dinmica,
optou-se por adotar uma postura metodolgica que pode ser representada por trs grandes
esferas (figura 1) que tangenciam o objeto de pesquisa: uma terica, uma instrumental ou
tcnica e outra emprica. Na esfera terica temos a discusso sobre os pressupostos da
reflexo dialtica no mbito da Geografia. Na instrumental, temos como principal elemento o
Geoprocessamento, com suas potencialidades e limitaes quanto representao do espao
geogrfico. J na esfera da empiria, temos o municpio de Campinas, com sua complexidade e
suas violncias. Essas esferas, porm, no so hierarquizadas, mas sim vistas como
complementares e conexas, sendo que a teoria muda a maneira como vemos a empiria e esta
nos faz repensar muitas vezes a prpria teoria, sempre intermediadas pela esfera dos
instrumentos tcnicos.
Figura 1. As trs esferas do mtodo de pesquisa.
Milton Santos (1998, p. 166) destaca que um mtodo um conjunto de proposies
coerentes entre si que um autor ou um conjunto de autores apresenta para o estudo de uma
realidade, ou de um aspecto da realidade. E ele acrescenta (p. 171):
A construo terica a busca de um sistema de instrumentos de anlise que provm de uma viso da
realidade e que permite, de um lado, intervir sobre a realidade como pensador e, de outro, reconstruir
permanentemente aquilo que se chamar ou no de teoria.
O mtodo , portanto, entendido aqui mais como uma postura filosfica do que
simplesmente como um conjunto de procedimentos ou princpios de organizao da pesquisa
cientfica.
7
Esse mtodo proposto nos levou organizao desta dissertao em seis captulos. O
primeiro deles, A Geografia e o estudo da violncia, traz uma reflexo a respeito do
complexo conceito de violncia, o qual retomado historicamente e contraposto ao de crime.
A partir da contribuio de Hannah Arendt, com os conceitos de poder e violncia, e da
contribuio de Milton Santos, com o conceito de solidariedades geogrficas, fazemos uma
reflexo sobre novas possibilidades de abordagem da violncia a partir da Geografia.
Mas no segundo captulo, O territrio usado e a dialtica espacial, que
apresentamos mais detalhadamente os princpios do mtodo que regem esta tentativa de
estudar a violncia a partir do territrio. Aqui so trabalhados conceitos basilares como o de
espao geogrfico, territrio usado e alienao territorial.
O captulo seguinte, Lugar, cotidiano e violncia, traz conceitos que auxiliam no s
no entendimento da violncia, mas tambm no entendimento da complexidade dos usos do
territrio. O entendimento do lugar e do cotidiano imprescindvel quando se pretende
compreender as resistncias oferecidas por aqueles homens que mais sofrem com a violncia.
No quarto captulo, Uma formao scio-espacial corporativa e fragmentada,
tratamos de uma das facetas da abordagem dialtica: aquela que indica a adoo da histria
como recurso de mtodo. Como impossvel entender o presente partindo dele mesmo,
fazemos uma reconstituio dos processos envolvidos na formao do territrio campineiro e
as implicaes destes no atual estgio de violncia em que vive a cidade.
No quinto captulo, Constatar no compreender: limitaes do mtodo analtico,
apresentamos as limitaes das anlises puramente analticas dentro da Geografia, sendo que
tomado como exemplo o uso do Geoprocessamento como instrumental de trabalho
geogrfico. Discorremos aqui sobre as limitaes das estatsticas e dos mapas enquanto
instrumentos de compreenso da realidade e sobre as ressalvas com que devem ser utilizados
como instrumentos de planejamento territorial.
No sexto e ltimo captulo, Do planejamento setorial ao territorial: para alm da
segurana pblica, apresentamos um esforo em tentar traduzir a reflexo terica dos cinco
primeiros captulos em aes efetivas na construo de um mundo mais solidrio. Somando o
entendimento dos usos diferenciais do territrio e da dialtica espacial ao conceito de
violncia como prtica scio-espacial, reviso epistemolgica de conceitos chaves da
Geografia, como o de lugar, regio e territrio, e s possibilidades tcnicas do
8
Geoprocessamento, podemos perceber o quanto a Geografia uma cincia estratgica no
processo de planejamento territorial.
Os mapas foram propositalmente reunidos ao final da dissertao sob o ttulo de
Caderno de Mapas e organizados de tal forma que pudessem fornecer um caminho lgico de
entendimento da dinmica espacial em Campinas. As referncias aos mesmos esto dispersas
por todo o texto. O Caderno , portanto, um esboo do que seria um Atlas da Violncia em
Campinas.
Nas Consideraes Finais, apresentamos um esforo de sntese sobre esta complexa
relao entre territrio e violncia.
9
CAPTULO 1
A Geografia e o estudo da violncia
claro que, como o homem o animal que conseguiu meter-se
dentro de si, quando o homem se pe fora de si que aspira a
descer e recai na animalidade. Tal a cena, sempre idntica, das
pocas em que se diviniza a pura ao. O espao se povoa de
crimes. Perde valor, perde preo a vida dos homens, e se praticam
todas as formas da violncia e da espoliao.
(Ortega y Gasset, O Homem e a Gente)
10
O conceito de violncia
Durante boa parte de nossa reflexo, debruamo-nos sobre uma definio a respeito do
conceito de violncia. Essa foi uma atividade penosa, mas que trouxe alguns bons resultados.
A questo maior, porm, no a busca de um conceito de violncia em si, mas a busca por
um conceito que seja interessante reflexo geogrfica sobre o assunto.
Dentro desta discusso, as obras O estado da paz e a evoluo da violncia (CIIP,
2002) e, especialmente, Sobre a violncia, da filsofa Hannah Arendt (1994), foram muito
reveladoras. A primeira sugere uma tipologia em classes de violncia, de acordo com seu
maior ou menor grau de visibilidade. Seriam elas: as violncias visveis (dos tipos coletivo e
institucional), as invisveis (dos tipos estrutural e cultural) e a violncia social como uma
situao intermediria, uma violncia parcialmente visvel.
Para CIIP (2002, p. 33-35), a violncia coletiva seria o tipo que se produz quando a
sociedade coletivamente, ou por meio de grupos significativamente importantes, participa
ativa e declaradamente da violncia direta. O caso tpico extremo seria a guerra.
Violncia institucional ou estatal seria aquela exercida pelas instituies legitimadas
para o uso da fora quando, na prtica de suas prerrogativas, impedem a realizao das
potencialidades individuais. Ela se diferenciaria da violncia estrutural pelo seu menor grau
de abstrao e, nesse sentido, pela possibilidade de ser atribuda a alguma instituio em
particular.
A violncia estrutural se manifestaria como um poder desigual sobre a distribuio e
utilizao dos recursos. Num sentido mais amplo, a frmula geral que estaria por trs da
violncia estrutural seria a desigualdade.
A violncia cultural seria o tipo de violncia exercido por um sujeito reconhecido
(individual ou coletivo), caracterizado pela utilizao da diferena para inferiorizar, e da
assimilao para desconhecer a identidade do outro. Ela aconteceria por meio dos
mecanismos de discriminao, inclusive o preconceito contra indivduos ou grupos. Nela
estariam inseridas as violncias originadas nas diferenas de gnero e na discriminao a
grupos tnicos.
Por fim, os autores identificam um ltimo tipo de violncia, a individual. Sua
caracterstica fundamental seria o fato de ter origem social e de se manifestar de um modo
interpessoal. Incluir-se-iam aqui os chamados fenmenos de segurana civil, tais como as
violncias anmicas, domsticas e contra as crianas, que implicam a violncia direta. Seu
11
carter parcialmente visvel decorreria de que, apesar de pr em evidncia um tipo de
violncia direta e pessoal, somente muito recentemente foi considerada parte integrante dos
estudos sobre a paz. Nela estariam includos tanto os fenmenos de violncia no-organizada,
atualmente mais visveis, como os associados violncia comum, e outros menos visveis,
como a violncia organizada. Um exemplo disso seriam as ocorrncias relacionadas com o
narcotrfico.
J Arendt (1994) traz o conceito de violncia atravs de uma distino entre este e o
conceito de poder. Contrariamente ao que muitos imaginam, inclusive tericos da questo,
poder e violncia podem ser vistos como conceitos opostos, inversamente proporcionais, ou
seja, onde h mais violncia h menos poder e vice-versa. Essa tese defendida pela autora
em sua obralanada no contexto da rebelio estudantil de 1968. Para ela, a forma extrema do
poder o Todos contra Um e a forma extrema da violncia o Um contra Todos. Dessa
forma a tirania, como j nos ensinava Montesquieu, a forma mais violenta e menos
poderosa de governo, e justamente por no conseguir apoio do povo que ela precisa ser
violenta. Assim, uma das distines entre poder e violncia a de que o poder sempre
depende dos nmeros, enquanto a violncia, at certo ponto, pode operar sem eles, porque se
assenta em implementos (ARENDT, 1994, p. 35).
Para a autora, o poder de fato a essncia de todo governo, mas no a violncia. A
violncia por natureza instrumental; como todos os meios, ela sempre depende da orientao
e da justificao pelo fim que almeja. E ela acrescenta que aquilo que necessita de
justificao por outra coisa no pode ser a essncia de nada (ibidem, p. 40).
Desse modo o poder, e no a violncia, um fim em si mesmo. A violncia sempre
pode destruir o poder; do cano de uma arma emerge o comando mais efetivo, resultando na
mais perfeita e instantnea obedincia. O que nunca emergir da o poder. E substituir o
poder pela violncia pode trazer a vitria, mas o preo muito alto, pois ele pago no
apenas pelo vencido como tambm pelo vencedor, em termos de seu prprio poder. E ela
completa que com a perda do poder torna-se uma tentao substitu-lo pela violncia
(ibidem, p. 42-43).
Para sistematizar essa tese, a autora faz a distino entre vrios termos, como poder,
vigor, fora, autoridade e violncia, no s por uma questo semntica, mas, sobretudo, por
uma questo de mtodo.
12
Para Hannah Arendt, o poder corresponde habilidade humana no apenas para agir,
mas para agir em concerto, em grupo. Dessa forma, o poder nunca propriedade de um
indivduo, mas de um grupo, e s permanece em existncia na medida em que esse grupo se
conserva unido.
4
Ela tambm nos corrige dizendo que, quando falamos de um homem poderoso,
estamos usando a palavra poder de forma metafrica, porquanto aquilo a que nos referimos
sem a metfora o vigor. Este sempre designa algo no singular, e a capacidade de um
indivduo de sobrepujar o outro. Mas mesmo o vigor de um indivduo mais forte sempre pode
ser derrotado pelo poder de um grupo.
Segundo a autora, a fora no deve ser usada como sinnimo de violncia, mas
limitar-se s foras da natureza ou fora das circunstncias, isto , deveria indicar a energia
liberada por movimentos fsicos ou sociais.
J a autoridade, termo do qual se abusa com freqncia, o reconhecimento no
questionado por aqueles a quem se pede que obedeam, o que torna desnecessrio o uso da
coero ou da persuaso. Ela pode existir entre uma criana e seus pais ou em cargos ou
postos hierrquicos, como na Igreja. O maior inimigo da autoridade o desprezo. O conceito
de autoridade interessante para destacar que a polcia no conseguir mais respeito da
populao sendo mais violenta, como podem pensar muitos dos entusiastas do
endurecimento policial.
Por fim, a violncia distingue-se por seu carter instrumental. Ela se aproxima do
vigor porque tem o propsito de multiplicar o vigor natural. (ARENDT, 1994, p. 36-37).
5
Mesmo com essas contribuies, ainda vemos o conceito de violncia com uma srie
de dvidas. Na verdade, questionamos inclusive se ele seria realmente um conceito ou uma
noo
6
, tendo em vista o seu carter fluido, referindo-se a um nmero grande de prticas
4
O indivduo isolado, normalmente, no pode fazer histria: suas foras so muito limitadas. Por isso, o
problema da organizao capaz de lev-lo a multiplicar suas energias e ganhar eficcia um problema crucial
para todo revolucionrio. (KONDER, 1981, p. 76).
5
Hannah Arendt traz na obra A Condio Humana o incio da discusso que viria a fazer no livro Sobre a
Violncia, conforme segue: Somente a pura violncia muda, e por este motivo a violncia, por si s, jamais
pode ter grandeza. (...) O ser poltico, o viver numa polis, significava que tudo era decidido mediante palavras e
persuaso, e no atravs de fora ou violncia. (ARENDT, 1987, p. 35).
6
O conceito refere-se tentativa de se conceber racionalmente alguma coisa ou manifestao da realidade. um
conjunto de reflexes encadeadas e que refletem certa maturao em torno do desafio de reduzir a complexidade
da realidade a uma definio cientfica de algo. J a noo se refere a uma primeira idia sobre alguma coisa.
Nela, os limites entre a razo e a emoo so menos ntidos. Alm disso, a noo mistura concepes cientficas
com aquelas banais, do senso comum, sobre alguma manifestao da realidade. A diferenciao entre o conceito
13
diferentes de origens distintas e quantidade de carga moral e ideolgica presente no termo.
Percebemos a preocupao de autores como Ortega y Gasset, Boaventura de Sousa Santos e
Lnin, no que diz respeito aos conceitos fluidos, de difcil definio. Ortega Y Gasset revela
essa preocupao ao tratar do conceito de sociologia e argumenta que a falta de clareza sobre
o conceito resulta numa sociologia menor, menos eficaz. Para ele:
A insuficincia da doutrina sociolgica que hoje est disposio de quem procure (...) orientar-se
sobre o que a poltica, o Estado, o direito, a coletividade e sua relao com o indivduo, a revoluo, a
guerra, a justia, etc., (...) estriba-se em que os prprios socilogos ainda no analisaram
suficientemente a srio (...) os fenmenos sociais elementares. Vem da que todo esse repertrio de
conceitos seja impreciso e contraditrio (1973, p. 43).
Mais adiante ele diz: Partamos, pois (...) procura de idias claras. Isto : de
verdades (ibidem, p. 55). Mas ns nos perguntamos: existiriam verdades absolutas? Um
conceito, por mais claro, objetivo e til que seja, constitui uma verdade provisria, uma
verdade limitada. Milton Santos j nos ensinava que a histria um cemitrio de conceitos. E
que sendo histrico, todo conceito se esgota no tempo (SANTOS, 1997a, p. 10).
Boaventura diz que medida que nos aproximamos do fim do sculo XX as nossas
concepes sobre a natureza do capitalismo, do Estado, do poder e do direito tornam-se cada
vez mais confusas e contraditrias (1997, p. 115). Quando o conceito impreciso, h a
abertura para a sua deturpao como acontece no caso do conceito de fome, o qual, por
motivos polticos, muitas vezes aparece mascarado como desnutrio ou subnutrio. Mas
Lnin (1980, p. 263, vol. 2), citando Engels, j nos alertava: Esta gente julga que pode mudar
uma coisa se lhe mudar o nome, referindo-se este confuso proposital que os anarquistas
faziam entre autoridade e encargo.
importante, portanto, no deixar de lado o mtodo hermenutico, sendo que este
interessante quando o que est em jogo a histria das definies de um conceito. Esse um
passo importante para que conceitos no sejam substitudos por metforas. Milton Santos
(1998, p. 40) destaca que:
mingua de explicaes simples, a imaginao s vezes se encolhe. Da a atrao pelas metforas. Mas
a emergncia destas no deve decretar a morte dos conceitos, mas, pelo contrrio, exige realar a tarefa
de separar metfora e conceito, no entendimento do acontecer atual.
7
e a noo reside na idia de que o primeiro exprime um pensamento mais elaborado, mas nem por isso mais
correto, enquanto a segunda traz a idia de um pensamento ainda em construo sobre algo. A distino entre
esses dois termos semelhante quela que Ortega y Gasset (1999, p. 63, traduo nossa) faz entre o conceito e a
sensao. Para ele: Somente a viso mediante o conceito uma viso completa; a sensao nos d unicamente a
matria difusa e mutvel de cada objeto; nos d a impresso das coisas, no as coisas.
7
Este tempo de paradoxos altera a percepo da Histria e desorienta os espritos, abrindo terreno para o reino
da metfora de que hoje se valem os discursos recentes sobre o Tempo e o Espao. (SANTOS, 1998, p. 30).
14
Por outro lado, conforme aponta Konder (1981, p. 51), os conceitos no podem ser
extremamente rgidos, tratando a realidade como uma totalidade fechada. Eles precisam ser
fluidos para conseguirem dar conta de uma realidade dinmica. Dessa forma, est posto o
desafio: conseguir elaborar conceitos que sejam ao mesmo tempo fluidos, sem ser vagos.
Mais uma vez o mtodo dialtico se mostra imprescindvel.
Buscando as origens do conceito de violncia encontramos Aristteles, o qual a define
como qualquer ao contrria ordem ou disposio da natureza. Nesse sentido, ele
distingue o movimento segundo a natureza e o movimento por violncia: o primeiro leva os
elementos ao seu lugar natural; o segundo os afasta. (Abbagnano, 2000).
8
No atual perodo em
que vivemos, em que o natural de alguma maneira artificializado, essa definio deve ser
vista com cautela, visto que, nessa perspectiva, no haveria prtica hoje que no fosse de
alguma maneira violenta.
Sorel (1993) distingue os conceitos de violncia e fora, sendo o primeiro termo
referente ao processo de transformao da sociedade, e o segundo voltado a manter a ordem
existente, sendo prprio da sociedade e do estado burgus. Tal distino bastante prxima
das noes de Utopia e Ideologia levantadas por Mannheim (1982), sendo que, enquanto a
primeira se refere a algo revolucionrio, a segunda traz idias mais reacionrias. A violncia,
portanto, pode ter um carter inclusive positivo e transformador, conforme tambm aponta
Lnin (1980, p. 235) ao defender o uso da violncia para a derrubada da economia da
explorao. Aqui, o conceito de fora torna mais clara a frase desse autor quando ele diz que:
O Estado a organizao especial da fora, a organizao da violncia para a represso de
uma classe qualquer (p. 238). Se nos basearmos em Sorel, o Estado exerceria ento a fora, e
no a violncia.
Marx (1996, p. 370) tambm enxerga o carter revolucionrio da violncia ao dizer
que a violncia parteira de toda velha sociedade que est prenhe de uma nova. Ela mesma
uma potncia econmica.
Alm dessas concepes de violncia, podemos destacar ainda Michaud (1978, p. 20),
o qual defende que:
H violncia quando, numa situao de interao, um ou vrios atores agem de maneira direta ou
indireta, macia ou esparsa, causando danos a uma ou vrias pessoas em graus variveis, seja em sua
8
Odlia (1983, p. 14) aponta algo nessa linha ao dizer que no se pode deixar de reconhecer que uma das
condies bsicas de sobrevivncia do homem, num mundo natural hostil, foi exatamente sua capacidade de
produzir violncia numa escala desconhecida pelo outros animais.
15
integridade fsica, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em suas participaes simblicas e
culturais.
H tambm a definio de Morais (1981, p. 25), que diz que:
Violncia est em tudo que capaz de imprimir sofrimento ou destruio ao corpo do homem, bem o
que pode degradar ou causar transtornos sua integridade psquica. Resumindo-se: violentar o homem
arranc-lo da sua dignidade fsica e mental.
Mas um outro autor, Galtung (apud CIIP, 2002, p. 24), que nos d talvez uma das
melhores pistas para a conceituao da violncia, por ele definida em termos da diferena
entre realizao e potencialidade: A violncia est presente quando os seres humanos so
persuadidos de tal modo que suas realizaes efetivas, somticas e mentais, ficam abaixo de
suas realizaes potenciais. Morais (1981, p. 24) e Odlia (1983, p. 86) referem-se a algo
semelhante, sendo que, para o primeiro, a violncia no , portanto, algo definido pelo certo
e o errado, mas apenas uma coisa ou situao que nos torna necessariamente ameaados em
nossa integridade pessoal ou que nos expropria de ns mesmos e, para o segundo, toda a
vez que o sentimento que experimento o de privao, o de que determinadas coisas me esto
sendo negadas, sem razes slidas e fundamentadas, posso estar seguro de que uma violncia
est sendo cometida.
Ainda na discusso sobre definies, o prprio conceito de violncia urbana precisa
ser repensado. Definir o urbano no uma tarefa fcil, e, por conseqncia, no fcil definir
este tipo de violncia prprio das cidades. No perodo atual, o urbano e o no-urbano
frequentemente se misturam, tornando cada vez mais tnue a fronteira que os separa.
Portanto, o termo violncia urbana no se refere, necessariamente, a algo mais especfico que
o termo violncia.
De qualquer forma, imprescindvel que a relao entre a violncia e o urbano seja
vista como um hbrido, e no como um reflexo, conforme quer Francisco Filho (2003, p. 48).
Para este autor, o espao visto como um palco das aes humanas, conforme pode-se
perceber quando ele diz que: Falar em violncia, e estabelecer sua geografia, entender
como o crime adquire uma organizao, uma estruturao prpria que faz o seu reflexo no
espao urbano se sentir presente. A cidade o reflexo da sociedade. Entendemos, porm, que
a cidade, na verdade, no apenas um reflexo da sociedade, ela a prpria sociedade.
16
Outras violncias, ou, as verdadeiras violncias
Vale lembrar ainda que considerar apenas algumas aes, tais como homicdios,
roubos, furtos e estupros, como atos violentos pode ser uma perspectiva reacionria e no
dialtica, se no so consideradas inmeras outras formas de violncia menos explcitas e, at
por isso, mais perversas. Lapierre (apud MORAIS, 1981, p. 3) destaca essa perversidade ao
dizer que a brutalidade a violncia dos fracos, e que a violncia dos poderosos calma, fria,
segura de si mesma; suas tcnicas de opresso so discretas, refinadas e, enfim, terrivelmente
eficazes. Muitas vezes um roubo apenas uma manifestao de resistncia dos mais pobres,
os quais esto sujeitos a outras formas de violncia muito mais graves.
9
Por que no falar, ento, da mais-valia como forma de violncia, conforme aponta
Marx (1986), ou da perversidade da globalizao conforme sugere Santos (1998, 2000) e da
violncia das privatizaes, decorrentes desse processo? E a guerra fiscal, ou guerra dos
lugares, no seria tambm uma violncia? Alm disso, temos a violncia do Estado, sobre a
qual Lnin (1980) j nos alertava. No podemos nos esquecer da violncia do urbanismo,
marcado pela especulao imobiliria e pela segregao. Ou ainda, por que no falar da
violncia do dinheiro e da informao (SANTOS, 2000)?
Num perodo marcado pelo apelo competitividade, a violncia se torna
multifacetada, difusa e cotidiana:
Nos tempos presentes, a competitividade toma como discurso o lugar que, no incio do sculo, ocupava
o Progresso e, no aps-guerra, o Desenvolvimento. (...) A noo de progresso (...) comportava tambm
a idia de progresso moral. (...) Mas a busca da competitividade, tal como apresentada por seus
defensores governantes, homens de negcio, funcionrios internacionais parece bastar-se a si
mesma, no necessita de qualquer justificativa tica, como, alis, qualquer outra forma de violncia. A
competitividade um outro nome para a guerra, desta vez uma guerra planetria, conduzida na prtica,
pelas multinacionais, as chancelarias, a burocracia internacional, e como apoio, s vezes ostensivo, de
intelectuais de dentro e de fora da Universidade. (SANTOS, 1998, p. 35).
9
No temos o direito de esperar um comportamento brando por parte das pessoas em um espao que (...) as
aliena dos seus semelhantes e as expropria de si mesmas. (MORAIS, 1981, p. 45).
Muitas vezes no Brasil, quando o servio pblico no funciona, a reclamao comumente eclode irada,
manifesta em formas que, numa leitura rasa, seriam violentas e pouco civilizadas. So na verdade respostas
violncia do dinheiro e da informao sobre a vida das pessoas. Eis o caso, por exemplo, das depredaes
quando do atraso de trens pblicos, a danificao de orelhes e o roubo de cabos telefnicos. A insatisfao e
as reclamaes esto presentes no cotidiano dos indivduos, mesmo que no sejam encaminhadas a algum rgo
de defesa do consumidor. (TOZI, 2005, p. 99).
17
O conceito de crime
Uma distino de fundamental importncia para este estudo aquela entre violncia e
crime. Crime qualquer infrao lei.
10
, portanto, um julgamento de uma ao com base
em argumentos legais. Considerar a violncia como sinnima de crime reduzir a discusso
apenas queles atos que a lei prev. A violncia uma noo mais ampla e mais sutil. Alm
disso, a confuso no se justifica
11
tambm pelo fato de que nem todos os crimes so
necessariamente violentos.
Dornelles (1988, p. 17) percebe a dificuldade de se definir crime ao dizer que:
O que crime, portanto, continua a ser uma questo de difcil resposta. No existe um conceito
uniforme sobre o crime. O crime pode ser entendido de diversas formas. E cada maneira de explicar o
crime vai ser fundamentada a partir de diferentes concepes sobre a vida e o mundo. O crime pode ser
visto como uma transgresso lei, como uma manifestao de anormalidade do criminoso, ou como o
produto de um funcionamento inadequado de algumas partes da sociedade (grupos sociais, classes,
favelas, etc.). Pode ser visto ainda como um ato de resistncia, ou como o resultado de uma correlao
de foras em dada sociedade, que passa a definir o que crime e a selecionar a clientela do sistema
penal de acordo com os interesses dos grupos detentores do poder e dos seus interesses econmicos.
Boris Fausto (2001, p. 19) diferencia ainda criminalidade de crime. Para ele:
criminalidade se refere ao fenmeno social na sua dimenso mais ampla, permitindo o
estabelecimento de padres atravs da constatao de regularidades e cortes, crime diz
respeito ao fenmeno na sua singularidade.
O Cdigo Penal Brasileiro classifica os crimes em seis grandes grupos, sendo eles:
crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimnio, crimes contra a propriedade material,
crimes contra a organizao do trabalho, crimes contra o sentimento religioso e contra o
respeito aos mortos e crimes contra os costumes. Os dois primeiros grupos so aqueles mais
responsveis pela sensao de medo a que a sociedade est submetida. O primeiro agrupa os
crimes em que a ateno do criminoso est voltada diretamente contra a vtima, como
homicdios, leses, estupros. No segundo, o alvo do crime algo material, mesmo que a
10
Para Thomaz Hobbes (apud FELIX 2002, p. 8) um crime um pecado que comete aquele que, por atos ou
palavras, faz o que a lei probe ou se abstm de fazer algo que ela ordena.
11
Ferraz (1994, p. 17) no se preocupa com as distines entre os conceitos ao dizer que pelo termo genrico de
violncia designamos aqui todos os atos lesivos aos interesses individuais e sociais, que sejam eles
reconhecidos pelo direito, ou no. Tais atos so conhecidos por uma variedade de designaes como: agresso,
crime, guerra, estupro, destruio da propriedade pblica e privada, de plantas etc.. Tal confuso pode ser um
grande risco a uma anlise que se pretenda profunda e transformadora.
18
pessoa indiretamente seja violentada, como no caso de um seqestro-relmpago. Entre os
crimes contra o patrimnio esto includos os roubos e os furtos, entre outros atos.
12
Obviamente, como qualquer tipologia, essa diviso proposta pelo cdigo penal
brasileiro tambm est sujeita a incorrees. Caldeira (2000, p. 113) chama-nos a ateno
para o fato de que o cdigo penal considera o estupro como crime contra os costumes e no
contra as pessoas. Isso indica o quanto as normas contm ranos dos preconceitos presentes
na sociedade que as cria.
Quanto s origens do crime e da violncia no h muito consenso entre os cientistas
sociais. Yazigi (2000, p. 247) diz que:
As origens da violncia ainda no tm unanimidade absoluta de explicao. Mesmo porque h
violncias e violncias, nem todas com a mesma causa o que sem dvida sugere polticas
diferenciadas na sua preveno. Segundo muitos analistas, as causas estariam no desemprego, na
desestruturao familiar, na pobreza, nas drogas (sem excluir o forte papel do lcool) e na impunidade.
Na mesma linha, Aidar (2002, p. 139), em seu estudo sobre Campinas, defende que:
O acentuado aumento dos ndices de violncia urbana, observado no municpio e em seus diferentes
espaos urbanos, deve ser tratado como um fenmeno complexo, onde a conjugao dos diversos
fatores no pode ser explicada de maneira simplista e linear por alguns indicadores socioeconmicos e
demogrficos.
Concordamos plenamente com Foucault (1987, p. 240) quando ele diz que:
No h ento natureza criminosa, mas jogos de fora que, segundo a classe a que pertencem os
indivduos, os conduziro ao poder ou priso: pobres, os magistrados de hoje sem dvida povoariam
os campos de trabalhos forados; os forados, se fossem bem nascidos, tomariam assento nos tribunais
e a distribuiriam justia.
Dornelles (1988, p. 15) compartilha desta reflexo quando defende que:
O crime (...) no aparece como uma conduta inerente natureza anormal de alguns indivduos. Ao
contrrio, uma realidade varivel, no tempo e no espao, relativo e marcado por aspectos scio-
culturais.
Por esses motivos, consideramos vlida a ressalva de Boris Fausto (2001, p. 119)
quando ele prefere o termo tema, e no motivo do crime. Segundo o autor, motivo denota
uma linearidade causal que no d conta do complexo de desejos, impulsos, racionalizaes
capazes de gerar uma conduta agressiva.
Esses argumentos trazem importantes referncias para outra discusso fundamental
que trata dos limites entre legalidade e ilegalidade.
12
O mapa 28, pgina 106, mostra a configurao dos crimes contra a pessoa e contra o patrimnio em
Campinas.
19
Legalidade e ilegalidade
A discusso do conceito de crime precisa ser necessariamente acompanhada do debate
sobre o que o legal e o que o legtimo. Quando falamos em crime estamos falando daquilo
que inflige lei, ou seja, o ilegal. As leis, porm, so construes sociais criadas por grupos,
na maioria das vezes hegemnicos. Por isso, nem sempre o que legal legtimo e nem
sempre o que ilegal ilegtimo. Porm, necessria a ressalva de que a concepo de
legitimidade tambm social e dependente do lugar, da classe, do grupo e dos interesses
daqueles que avaliam a situao em questo.
Dornelles (1988, p. 18) nos lembra que:
Expectativas sociais que se tornaram normas sociais podem, ou no, se transformar em lei, em normas
impostas pelo poder. Dessa maneira, a determinao de uma conduta como desviante no a torna
necessariamente transgressora de norma jurdica ou criminosa. Como pode tambm ocorrer o inverso:
uma conduta que definida legalmente como criminosa e que socialmente passa a ser tolerada e aceita
como normal.
Essa discusso nos remete a outra, tambm necessria, que diz respeito complexa
fronteira entre legalidade e ilegalidade (RIBEIRO, 2005) e a como esse limite flexvel
quando o que est em discusso so os atos cometidos por agentes hegemnicos.
13
Como nos
alerta Foucault (1987, p. 230), a lei e a justia no hesitam em proclamar sua necessria
dessimetria de classe.
Felix (2002, p. 8) faz algo prximo ao lembrar que existem leis criadas para atender ao
interesse de classes especficas. A legalidade, portanto, no pode ser o ponto de partida para
as discusses sobre a justia urbana.
Essa mesma autora aponta ainda trs outros pontos importantes para esta reflexo: o
primeiro que crimes como o homicdio, por exemplo, so aceitos em algumas sociedades
sob a forma de pena de morte ou eutansia. Portanto, h aes que so consideradas como
crimes em algumas sociedades e que no so consideradas em outras. O segundo que h
conflitos entre concepes individuais de vida e as coletivas impostas, remetendo-nos um ao
embate freudiano entre id, ego e superego, esse ltimo se referindo conscincia coletiva,
moral (FIORI, 1981). Por fim, segundo ela, no h crime natural, ou seja, delitos reprovados
13
Como a histria da polcia e as polticas recentes de segurana pblica claramente indicam, os limites entre
legal e ilegal so instveis e mal definidos e mudam continuamente a fim de legalizar abusos anteriores e
legitimar outros novos. (CALDEIRA, 2000, p. 142).
20
em todas as sociedades e todos os tempos.
14
A noo de crime uma criao social e, como
qualquer fato social (ORTEGA Y GASSET, 1973), referente a um perodo e a um territrio
especfico.
Milton Santos (2002a, p. 81) traz uma reflexo que contribui para esta discusso ao
dizer que cada homem vale pelo lugar em que est. Trazendo esta idia para a questo da
violncia percebemos o quanto a imprensa d destaque, por exemplo, a homicdios
envolvendo pessoas de bairros ricos, enquanto as inmeras mortes dos bairros mais pobres
acabam se tornando uma banalidade diria.
Kosik (1974, p. 215) tambm ressalta o carter relativo do crime ao dizer que: A
verdade da histria, a sua concreticidade e plasticidade, pluridimensionalidade e realidade
consistem em que uma mesma ao pode ser ao mesmo tempo assassinato e ato de
herosmo.
15
Portanto, a justia no cega. Ou melhor, ela se faz de cega, visto que enxerga
bem a qual classe dever servir.
Para Foucault (1987, p. 249):
Nesta sociedade panptica, cuja defesa onipresente o encarceramento, o delinqente no est fora da
lei; mas desde o incio, dentro dela, na prpria essncia da lei ou pelo menos bem no meio desses
mecanismos que fazem passar insensivelmente da disciplina lei, do desvio infrao.
Para Zanotelli (2002, p. 52) a definio de crime sempre conjuntural e est
submetida a uma estrutura social que usa da lei para punir aqueles que no se encontram
dentro das normas.
Machado (1996, p. 33) ressalta como tambm no trfico internacional de drogas
legalidade e ilegalidade andam juntas e profundamente imbricadas:
Esse conjunto de fatores aponta para a complexidade da rede de trfico de drogas ilcitas e indica que o
poder da indstria da droga pode ser atribudo aos vnculos existentes entre esse grande negcio e
prticas espaciais, econmicas e polticas legtimas.
14
O crime no um fenmeno igual em todas as sociedades e em todos os momentos histricos
(DORNELLES, 1988, p. 41).
Marcelo Souza (1996, p. 424) destaca algo semelhante ao dizer que no se tem notcia, na histria da
humanidade, de sociedades onde o uso de substncias psicoativas (...) fosse inteiramente desconhecido. (...)
Historicamente a valorizao negativa ou positiva dessas substncias determinada por variaes culturais e de
mentalidade, sem esquecer do papel dos interesses econmicos e polticos.
Lnin (1980, p. 183) tambm nos lembra que o assassinato de um escravo por muito tempo no foi considerado
crime.
15
Do ponto de vista da tcnica e da execuo, o ato de matar um homem um servio simples. O punhal, a
espada, o machado, a metralhadora, as pistolas, as bombas, so instrumentos de eficcia comprovada. Mas o
servio simples se complica assim que passamos da execuo para a avaliao, da tcnica para a
sociedade. Quem mata por motivos pessoais, com suas prprias mos e como particular, um assassino. Quem
mata por ordem superior e no interesse da sociedade no um assassino. (KOSIK, 1976, p. 214).
21
Por fim, Guimares (2003, p. 27), em seu estudo sobre educao e violncia, destaca
que nas escolas as tcnicas disciplinares fazem com que as pessoas aceitem o poder de punir
e de serem punidas, tornando essa prtica natural e legtima. Essa uma das maneiras pela
qual o ato de punir se torna um uso.
O uso
A discusso que Ortega y Gasset (1973) faz sobre o conceito de uso muito pode
contribuir para a reflexo sobre crime e sobre legitimidade. Esse autor defende que para que a
sociologia trabalhe com conceitos consistentes ela deve partir da idia de fato social. Este,
diferentemente do fato humano, no individual, mas ao contrrio, aparece enquanto
estamos em relao com os outros homens. (...) O social um fato, no da vida humana, mas
algo que surge na convivncia humana (p. 46). Mas nem todas as relaes entre homens
constituem um fato social: uma relao de pai para filho no necessariamente um fato
social mas o cumprimento , pois no algo feito por causa de uma original vontade do
indivduo (p. 47). Ele ainda destaca que os fatos sociais tm origem em todos e em
ningum (p. 47) e que os usos no so dos indivduos mas da sociedade (p. 229).
Quando o fato social se torna um costume, um hbito, ele vira um uso: O que
pensamos ou dizemos porque se diz; o que fazemos porque se faz costuma chamar-se
uso
16
(...) Os usos so formas de comportamento humano que o indivduo adota e cumpre
porque, de um modo ou de outro, em uma ou outra medida no tem mais remdio. (...) Os
usos so irracionais (p. 48). Voltando questo do crime, o abuso seria a contraveno do
uso (p. 225).
No fazemos uma ao que se tornou um uso, apenas porque ela freqente, porque
todos a fazem, mas sim porque se no a fizermos seremos punidos: O uso me aparece como
a ameaa presente em meu esprito de uma eventual violncia. O uso uma ameaa dos
demais e quando eu o fao viro um dos demais (ibidem, p. 231). E essa violncia no parte
de nenhum sujeito determinado. Quando tentamos no fazer o usual se levanta um poder
mais forte que o nosso (p. 231). Essa idia de poder condizente com a da filsofa Hannah
Arendt, quando esta diz que o poder corresponde habilidade humana de agir em grupo. Mas
16
A noo de uso de Ortega y Gasset prxima idia de convenincias de Certeau, Giard e Mayol (1996,
p. 49), as quais seriam regras do uso social, enquanto o social o espao do outro, e o ponto mdio da posio
de pessoa enquanto ser pblico.
22
Ortega Y Gasset chama a ateno de que o uso nem sempre nasce de acordos e nem sempre
nasce da maioria. Uma minoria influente determina usos. (p. 243).
Certeau, Giard e Mayol (1996, p. 55) mostram concepes semelhantes quando dizem
que:
O usurio, ser imediatamente social apanhado em uma rede relacional pblica, que ele no controla
totalmente, intimidado por sinais que lhe intimam a ordem secreta de comportar-se conforme as
exigncias da convenincia. Esta ocupa o lugar da lei, lei enunciada diretamente pelo coletivo social que
o bairro, do qual nenhum dos usurios convidado a submeter-se para possibilitar, simplesmente, a
vida cotidiana. O nvel simblico vem a ser apenas aquele onde nasce a legitimao mais poderosa do
contrato social que , no seu corao, a vida cotidiana: e as diversas maneiras de falar, de se apresentar,
em suma, de manifestar-se no campo social, outra coisa no so seno que o assalto indefinido de um
sujeito pblico para tomar lugar entre os seus.
Dessa maneira, podemos notar o quanto o conceito de crime est ligado ao conceito de
uso. O crime uma infrao a uma norma social, a um uso institucionalizado na forma de lei.
Dessa forma, o crime seria um abuso, ou seja, uma afronta ao uso formalizado.
Odlia (1983, p. 20) diz que uma vez estabelecida, a norma parece ganhar sua prpria
legitimidade e se impe naturalmente, de maneira que fica aberto o caminho para a punio
toda vez que ela transgredida. Portanto, ela vira um uso.
O conceito de uso nos remete discusso sobre os acordos formais e informais que
existem nos lugares. Incentiva-nos, por conseqncia, a um maior entendimento do conceito
de solidariedade.
As solidariedades geogrficas e a violncia
o socilogo Durkheim (1978) quem fundamenta a noo de solidariedade social, a
qual, segundo ele, seria o ponto de partida para a organizao em sociedade. O seu oposto
seria a anomia, a ausncia de normas de convivncia, a desorganizao social. O seu sentido
aqui o de lao ou vnculo recproco de pessoas ou coisas independentes, (...) de
dependncia recproca (SOLIDARIEDADE, 1995). Portanto, no envolve uma conotao
moral, mas diz respeito s relaes de interdependncia mantidas entre os indivduos,
empresas, instituies, ou seja, realizao compulsria de tarefas comuns, mesmo que o
projeto no seja comum. (SANTOS, 1999a, p. 132).
Durkheim (1978) identifica duas formas de solidariedade: a mecnica e a orgnica. A
primeira diz respeito identificao do indivduo com o grupo social ao qual pertence, ou
seja, baseia-se nas semelhanas entre indivduos. devido a ela que um indivduo enfurecido,
na maioria das vezes, no age de forma extremamente violenta, matando aquele que o
desagradou. Existe uma srie de normas formais e informais que o impedem de exercer tal
23
ao. No s porque sabe que ter de responder lei que ele no pratica o ato, mas porque
existem outras maneiras informais de controle social que o coagem a no pratic-lo. Ele sabe
que ser julgado pela sociedade e que esta o discriminar por ter agido de forma contrria aos
usos, ou seja, por ter cometido um abuso. Porm, no apenas o superego ir coagi-lo. Ele
tambm ser julgado pela sua prpria conscincia, seu ego, o que no deixa de ser um atributo
social, uma solidariedade mecnica, visto que muitos dos valores individuais tambm podem
ser vistos como fatos sociais, pois eles nascem de uma organizao e vida em sociedade.
J a solidariedade orgnica fundamenta-se justamente na diferena, pois trata da
complementaridade dada entre indivduos atravs da diviso do trabalho. Um indivduo, hoje,
dificilmente conseguiria sobreviver isolado ou fora da sociedade, visto que a diviso do
trabalho algo histrico, social, fazendo-nos cada vez mais dependentes dela. Ao propor
essas duas solidariedades, Durkheim est obviamente fazendo uma diviso analtica, sendo
que as duas realidades no passam de uma s.
Mas a diviso do trabalho no atual perodo, de unicidade tcnica planetria (SANTOS,
1999a, p. 154), mundializao das relaes e especializao dos lugares, no apenas social,
mas tambm territorial. A diviso territorial do trabalho no exclusividade do perodo atual,
sendo que j existia desde o perodo mercantilista, mas profundamente acentuada no
momento presente. Dessa forma, para haver essa diviso, necessrio um cimento que
organize as relaes, o que justifica falarmos tambm em solidariedades no s sociais, mas,
sobretudo, geogrficas.
Milton Santos (1994; 1998) prope duas formas de solidariedade geogrfica: uma
orgnica e outra organizacional. A solidariedade orgnica relaciona-se com uma ordem local e
baseia-se nas contigidades espaciais, ou seja, nas horizontalidades. Seu surgimento
espontneo, o que a contrape organizacional, a qual tem um carter muito mais deliberado.
A solidariedade organizacional est, por sua vez, atrelada razo global, s verticalidades,
tendo como sustentao um sistema de objetos esparsos dispostos em rede e apresentando
como principal caracterstica a informao.
Castillo, Toledo e Andrade (1997) sugerem ainda uma terceira forma de solidariedade
geogrfica, a institucional. Esta seria dada pelas normas e aes polticas nas escalas do
Municpio, das Unidades Federadas e do Estado-nao. Tal solidariedade explicita a
existncia da guerra fiscal ou, ainda, da guerra dos lugares (SANTOS, 2002b, p. 87), as quais
no deixam de ser formas de violncia estrutural (CIIP, 2002), e que tm implicaes nas
24
condies de vida da populao, podendo ser fontes de desigualdades e, portanto, geradoras
de outras formas de violncia.
Podemos agora articular os conceitos de solidariedade geogrfica com o par
poder/violncia proposto por Arendt. Como vimos, o poder nasce do grupo, enquanto a
violncia um atributo individual, baseando-se em instrumentos. Poder, ento, sinnimo de
capacidade de articulao. O conceito de solidariedade tambm trabalha com essa mesma
noo de articulao. Portanto, por um silogismo simples, solidariedades geogrficas so
sinnimas de poder.
Com esse raciocnio fica mais claro entendermos, por exemplo, qual a fonte de poder
do narcotrfico
17
. Ao que tudo indica, um importante promotor de violncia no Brasil e na
cidade de Campinas.
18
Ele no poderoso por ser violento, mas, ao contrrio, por ser capaz de
se articular, ou seja, de criar solidariedades tanto orgnicas por exemplo, junto a alguns
policiais da regio, aos moradores de uma favela quanto organizacionais junto a grandes
empresrios, polticos, autoridades policiais, banqueiros, interligados em redes pelo mundo.
Na verdade, a maior articulao desse tipo de crime se d no mbito organizacional.
Na escala do lugar, o narcotrfico muitas vezes se mostra menos organizado do que se
imagina, tendo, por isso, que recorrer violncia para fazer valer sua vontade.
19
Ele ,
portanto, mais violento localmente, na escala do varejo e mais poderoso organizacionalmente,
nas atividades de importao e exportao de drogas no atacado e na lavagem de dinheiro.
20
Nessa mesma linha, podemos entender o poder das organizaes criminosas dentro
dos presdios. A cada dia ficamos impressionados com as matrias veiculadas nos jornais,
mostrando a atuao de presos que continuam praticando aes criminosas mesmo estando
17
Machado (1996, p. 18) nos adverte da impreciso do termo narcotrfico, comumente usado para designar o
trfico internacional de drogas. Segundo ela, o uso incorreto, porque o amplo espectro de tipos de droga inclui
narcticos e.g. herona, estimulantes e.g. cocana, depressivos, e.g. lcool etc.
18
Segundo dados fornecidos pelo Disque-Denncia - R.M.C. 890, das 1792 denncias recebidas entre 01/01/04 e
31/07/04, ou seja, 49,7 %, referiam-se a assuntos cujo tema era o trfico de drogas. Veja a tabela completa no
anexo A, pgina 123.
19
Souza (1996, p. 435), ao falar do Rio de J aneiro, traz informaes que podem ser interessantes tambm para o
entendimento da violncia em Campinas. Para ele, duas evidncias empricas do relativamente baixo nvel de
organizao do trfico de drogas carioca no mbito do trfico baseado em favelas so suas extremas
pulverizao e violncia. (...) Fora bruta e a intimidao parecem ser as nicas maneiras de evitar traies.
20
Lavagem de dinheiro ou branqueamento de dinheiro como se denomina o processo mediante o qual o
dinheiro obtido por meios ilegais passa condio de legtimo ou tem suas origens ilegais mascaradas.
(MACHADO, 1996, p. 17).
25
encarcerados.
21
Mas em que se baseia o poder desses homens? Na violncia? Nas poucas
armas que tm? Acreditamos que no. A principal arma dos presidirios o seu poder de
articulao. Muitas vezes, eles se articulam com os prprios agentes carcerrios ou com seus
advogados particulares, os quais ficam responsveis por levar e trazer informaes, armas,
dinheiro. esse mesmo raciocnio que nos leva a crer que os bloqueadores de celulares em
presdios sejam uma grande iluso, visto que bastam alguns acordos para que os celulares
passem a funcionar livremente nesses locais. O celular, sim, a grande arma dos presidirios.
Esse um dos argumentos que nos permitem defender que no existe presdio de segurana
mxima ou, pelo menos, que segurana mxima no um atributo puramente tcnico, mas
tambm poltico.
No caso de Campinas, percebe-se que seu territrio, com o surgimento de plos
tecnolgicos e da especializao tcnica, passa a responder mais ao mundo que ao lugar,
inserindo-se numa solidariedade organizacional baseada em redes materiais e imateriais que
atravessam o municpio. Mas as redes so seletivas, o que cria nos seus interstcios uma
condio de abandono. Essa situao aumenta a abertura para que o crime organizado produza
nos lugares suas prprias solidariedades orgnicas.
Estas solidariedades orgnicas criadas pelo crime organizado so apenas um ponto de
partida para que as organizaes criminosas se fortaleam ao criarem ou ao se inserirem em
solidariedades organizacionais complexas, envolvendo partes diversas do territrio nacional,
alm de outros pases.
22
A parcela organizacional do crime organizado aquela mais articulada, mais poderosa
e menos violenta. J a parcela orgnica, ao contrrio do que pensam muitos especialistas,
menos articulada e, por isso mesmo, mais violenta. Marcelo Souza (1996, p. 455) diz que
preciso frisar que as relaes entre os traficantes da favela e a populao favelada esto muito
21
Em 18 de fevereiro de 2001, presidirios do Primeiro Comando da Capital PCC articularam uma rebelio
simultnea em 29 presdios paulistas, utilizando basicamente aparelhos celulares.
22
A economia das drogas umfenmeno assaz multiescalar, manifestando-se emnveis to distintos quanto o das
redes internacionais do crime organizado, emumextremo, e o de uma favela de alguma cidade brasileira, de outro. ,
outrossim, umfenmeno que envolve inmeras atividades e tipos de atores sociais. (SOUZA, 1996, p. 426).
O cerne dessa questo que o comrcio de drogas ilcitas tem o carter de atividade transnacional, opera em
escala global, mas seus lucros dependem da localizao geogrfica dos lugares de produo e de consumo, da
existncia de fronteiras nacionais e da legislao da cada estado nacional. (MACHADO, 1996, p. 30).
26
longe da harmonia muitas vezes sugerida pela mdia e pela polcia, e at mesmo por certos
analistas.
23
Tentar desarticular essa parte organizacional do crime algo extremamente
complicado e que as autoridades policiais vm se mostrando incapazes de fazer. O que vemos
a polcia direcionando os seus esforos apenas na parcela orgnica e violenta do crime. o
embate da violncia do crime contra a violncia da polcia, o qual, alm de trazer poucos
resultados, apenas serve para promover mais violncia.
Uma soluo mais coerente seria a de tentar diminuir a eficincia das articulaes
organizacionais do crime organizado e, ao mesmo tempo, investir na retomada da cidadania,
no fortalecimento das solidariedades orgnicas cidads, no deixando espao para que o crime
produza suas prprias solidariedades nos lugares.
Tudo isso nos leva a defender que a soluo para a violncia no est na represso
exagerada nem em se trancafiar em condomnios fechados ou investir em carros blindados e,
muito menos, em colocar cmeras de vdeo pelos bairros, moda dos reality shows. A
soluo vai muito mais no sentido de promover aes que gerem mais articulaes, e no
mais violncia. preciso, portanto, retomar as solidariedades orgnicas perdidas nos lugares.
O conceito de solidariedades geogrficas traz uma das vrias possibilidades de se
abordar a discusso da violncia a partir de um vis geogrfico. A reflexo mais profunda,
porm, deve partir do conceito de territrio usado e da discusso sobre a dialtica espacial.
Este ltimo conceito escancara a violncia estrutural proveniente dos usos corporativos do
territrio.
23
A postura paternalista dos traficantes pode alternar-se com uma brutal tirania, onde casas de moradores so
requisitadas por razes estratgicas, os prprios traficantes se apossam de mulheres alheias, o toque de recolher
e diversas proibies so decretadas. (SOUZA, 1996, p. 457).
27
CAPTULO 2
O Territrio Usado e a Dialtica Espacial
Tudo o que procuro acho / eu pude v neste crima
quem tem o Bras de Baxo / e o Bras de Cima
Bras de Baxo, coitado! / um pobre danado
O de Cima tem cartaz / Um do tro bem diferente
Bras de Cima pra frente / Bras de baxo pra trs
(Patativa do Assar)
28
Uma abordagem que pretenda ser mais do que apenas um conjunto de constataes
sobre o fenmeno da violncia e se atreva a tentar atingir algumas compreenses precisa
considerar a importncia da dialtica espacial em suas anlises. Retomando a tipologia
proposta em CIIP (2002), percebemos que a violncia estrutural o grande motor das demais
formas de violncia. por esse motivo que entender as desigualdades espaciais torna-se um
desafio difcil, porm necessrio para se entender a violncia a partir de um vis geogrfico.
Da dialtica dialtica espacial
O conceito de dialtica vem sendo empregado, na histria da filosofia, com
significados diversos, partindo da noo de arte do dilogo na Grcia Antiga, passando pelo
conceito idealista de Hegel como sntese dos opostos, e chegando formulao da dialtica
por Marx (KONDER, 1981). Lwy (1985) destaca trs elementos essenciais ao mtodo
dialtico: o movimento perptuo de transformao permanente das coisas, a totalidade e a
contradio.
O primeiro elemento da dialtica chama nossa ateno para a submisso dos fatos
sociais ao tempo. Tudo historicamente delimitado e historicamente limitado, inclusive as
noes e os conceitos. A prpria idia de violncia e tambm a sua institucionalizao na
forma de crime so espacial e historicamente determinadas. Atos antigamente aceitos hoje so
severamente condenados, e vice-versa. O homicdio, forma extrema de violncia, j foi
permitido em tempos atrs, especialmente quando a vtima era um escravo. Atualmente
condenado, sendo essa condenao ainda hoje geograficamente relativa, visto que, em muitos
territrios, a pena de morte aceita. Traduzindo esse primeiro princpio em mtodo
geogrfico, fica clara a importncia de se fazer uso da periodizao na anlise geogrfica e a
relevncia de conceitos que do conta dos processos espaciais, como o de formao scio-
espacial (SANTOS, 1979b).
O segundo elemento nos diz que no devemos perder de vista em nossas anlises o
princpio da totalidade. A totalidade no entendida aqui como totalidade da realidade, at
porque isso algo inatingvel. A totalidade mais do que a soma das partes que a
constituem. (KONDER, 1981, p. 37). Ou, conforme nos ensina Kosik (1976, p. 35), na
realidade, totalidade no significa todos os fatos. Totalidade significa: realidade como um
todo estruturado, dialtico, no qual ou do qual um fato qualquer (classe de fatos, conjunto de
fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido.
29
A totalidade significa a percepo da realidade social como um todo orgnico,
estruturado, no qual no se pode entender um elemento, um aspecto, uma dimenso, sem
perder a sua relao com o conjunto (LWY, 1985, p. 16). Dessa maneira, a violncia
nunca ser compreendida se no a relacionarmos com o movimento do todo. E o ponto de
partida para o estudo da totalidade dentro da Geografia o conceito de territrio usado
(SANTOS et al. 2000a).
O terceiro elemento diz respeito noo de contradio presente no conceito de
dialtica. Baseamo-nos aqui no na proposta idealista de Hegel, mas na sua releitura, feita por
Marx, entendendo as contradies como atributos de classes, como um embate constante entre
ideologias e utopias. (MANNHEIM, 1982).
24
Mas o embate dos contraditrios, presente no mtodo dialtico, prev tambm certa
coerncia entre eles, conforme nos ensina Peet (1975). Esse autor mostra-nos como a
desigualdade fator intrnseco ao capitalismo e como este depende da existncia de classes
desiguais para existir como tal. H, portanto, uma contradio coerente: ao mesmo tempo em
que contraditrio em relao aos interesses das classes que o compem, o capitalismo
coerente porque depende dessa contradio para existir; , portanto, ao mesmo tempo desigual
e combinado (SANTOS, 1999a, p. 101).
Sabemos, porm, que a sociedade no paira sobre um espao, tido como palco das
aes humanas. A sociedade espao, um hbrido. Por isso podemos falar em dialtica
espacial, visto que as desigualdades se concretizam em paisagens, lugares, regies, territrios
desiguais e combinados. Do arsenal de conceitos prprios da Geografia, talvez o de territrio
usado seja o que melhor d conta dos elementos sugeridos pelo mtodo dialtico.
O territrio usado
O territrio onde vivem, trabalham, sofrem e sonham todos os brasileiros.
(Milton Santos, O Pas Distorcido)
A importncia do mtodo dialtico para a Geografia torna-se mais evidente com a
utilizao do conceito de territrio usado.
25
Este contm, em si, algumas idias fundamentais
para quando o interesse entender a totalidade e propor intervenes que contemplem a maior
parte da populao.
24
A totalidade sem contradies vazia e inerte, as contradies fora da totalidade so formais e arbitrrias.
(KOSIK, 1976, p. 51).
25
O territrio no uma categoria de anlise, a categoria de anlise o territrio usado. (SANTOS, 1999b, p. 15).
30
A primeira delas que o territrio usado d conta da idia de processo, vendo no um
espao estagnado, mas um espao em constante mutao. Ele tanto o resultado do processo
histrico quanto a base material e social das novas aes humanas (SANTOS et al., 2000a, p. 2).
A segunda que o conceito leva em considerao o princpio da totalidade, na medida
em que ele trata de forma indissociada tanto da materialidade (os objetos) quanto das aes.
Para Karel Kosik (1976, p. 20) a realidade social dos homens se cria como a unio dialtica
de sujeito e objeto. Hannah Arendt (1987, p. 17) tambm traz algumas idias aderentes a
essa noo de hibridez entre espao e sociedade quando diz que:
Os homens so seres condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram em contato torna-se
imediatamente uma condio de sua existncia. (...) As coisas que devem sua existncia aos homens
tambm condicionam os seus atores humanos. (...) A objetividade do mundo o seu carter de coisa ou
objeto e a condio humana complementam-se uma outra: por ser uma existncia condicionada, a
existncia humana seria impossvel sem as coisas, e estas seriam um amontoado de artigos incoerentes
no fossem condicionantes da existncia humana.
Por fim, o territrio usado um conceito que contempla a idia de contradio e
coerncia
26
, tendo em vista que envolve todos os agentes, tantos os hegemnicos quanto os
hegemonizados, permitindo-nos lidar com a multiplicidade que vai desde os pobres aos
empresrios, governos, narcotraficantes, etc. Ele conduz idia de espao banal, ou seja, o
espao de todos, todo o espao. (SANTOS, 1999a, retomando o conceito de Franois
Perroux).
27
O conceito d conta, portanto, dos trs elementos da dialtica anteriormente citados,
pois envolve a noo de processo, de contradio coerente e de totalidade, esta ltima,
permitindo um interessante dilogo entre o conceito de territrio usado e o de lugar, ponto de
materializao das aes, inclusive daquelas ditas violentas.
Quando pensamos na questo da violncia, um dos aprendizados que o conceito de
territrio usado nos traz o de que a violncia no pode ser vista como uma totalidade em si,
mas como um recorte, apenas para fins analticos, da realidade. Da no se falar em uma
geografia da violncia e, menos ainda, de uma geografia do crime.
26
O territrio usado constitui-se como um todo complexo onde se tece uma trama de relaes complementares
e conflitantes (SANTOS et al., 2000, p.3).
27
A idia de espao banal, mais do que nunca, deve ser levantada em oposio noo que atualmente ganha
terreno nas disciplinas territoriais: noo de rede. (...) Mas alm das redes, antes das redes, apesar das redes,
depois das redes, com as redes h o espao banal, o espao de todos, todo o espao, porque as redes constituem
apenas uma parte do espao e o espao de alguns. (SANTOS, 2005, p. 139).
31
Um outro conceito esclarecedor no que tange dialtica espacial e que tambm abarca
os trs elementos citados o de alienao do territrio.
A alienao do territrio
A questo da alienao no recente, tendo sido j estudada por Marx (1996) em
relao ao trabalho.
28
Dentro da geografia, ela surge com Max Sorre (1961, p. 274) como
paisagem derivada. Para ele, essas paisagens seriam sobretudo, resultadas da transferncia
de emigrantes europeus. Por isso, ao tratar da relao entre a histria dos pases industriais e
a dos pases subdesenvolvidos, ele formula a idia de uma paisagem cuja origem dada por
uma cultura externa ao lugar, tendo essa abordagem um carter fortemente histrico.
Milton Santos (1971, p. 104) faz uma releitura desse conceito, transformando-o em
espao derivado. Uma primeira diferenciao evidente na mudana do termo paisagem para
espao, pois o autor percebeu que no apenas as formas so derivadas, mas tambm o espao
como instncia, o que inclui as funes, os processos e as estruturas. Diz ele:
A cada necessidade imposta pelo sistema em vigor, a resposta foi encontrada, nos pases
subdesenvolvidos, pela criao de uma nova regio ou a transformao das regies preexistentes. o
que chamamos espao derivado, cujos princpios de organizao devem muito mais a uma vontade
longnqua do que aos impulsos ou organizaes simplesmente locais.
Nesse sentido, no concordamos quando Ferraz (1994, p. 56) diz que nas sociedades
urbanas de hoje, no se pode mais falar em foras externas ao ambiente as causadoras do
desequilbrio social. Pelo contrrio, para o entendimento do atual perodo fundamental que
levemos em conta essa noo de (des)organizao dada por um vetor externo, visto que agora
a derivao no somente histrica, mas tambm constante no tempo presente.
Por sua vez, Hidelbert Isnard (1979, p. 55) lana o conceito de espao alienado,
trazendo uma idia mais forte no s da noo de derivao, mas de verdadeira alienao de
espaos em relao aos vetores externos que sobre eles agem. Para ele:
Espaos alienados so regies que devem ao exterior no s a sua criao e a sua integrao no
mercado mundial mas ainda a sobrevivncia da sua organizao, enfim regies cuja populao indgena
jamais controla e que at os prprios poderes pblicos dificilmente controlam.
28
Leandro Konder (1981, p. 24) nos ensina que com o trabalho que o ser humano se desgruda da natureza. Isso
mostra o carter dialtico do conceito pois, ao mesmo tempo em que o trabalho liberta, tambm faz com que o
homem seja explorado pelo prprio homem.
32
Porm, se considerarmos o espao geogrfico como instncia da sociedade, portanto,
como abstrao, podemos dizer que no ele quem se aliena, mas sim que so os territrios,
as regies e os lugares que o fazem.
Talvez por isso Cataia (2001, p. 221) proponha o conceito no de espaos, mas de
territrios alienados. Ele diz:
De nossa parte, prope-se o conceito de territrios alienados para designar aqueles municpios que
prepararam o seu cho com obras de engenharia e normas, receberam investimentos empresariais e
tornaram-se refns das polticas empresariais. H empresas transnacionais economicamente mais
poderosas que territrios nacionais inteiros. mais comum ainda encontrarmos empresas que dominam
as polticas locais.
Incorporando as reflexes de Marx, Max Sorre, Milton Santos, Hidelbert Isnard e
Mrcio Cataia, alm das consideraes sobre a dialtica j feitas, propomos aqui o conceito de
territrios derivados e alienados. Derivados no sentido de que eles pertencem a uma lgica, a
do capitalismo, e alienados pelo fato de estarem, ao mesmo tempo, contraditoriamente fora
dessa lgica. Como exemplo emprico dessa constatao podemos citar qualquer bairro pobre
de uma grande cidade, onde os moradores esto fora da lgica de polticas pblicas do
governo, no tendo acesso a uma infra-estrutura bsica, mas ao mesmo tempo esto dentro da
lgica capitalista por serem mo-de-obra barata, ou seja, exrcito de reserva. Portanto, no se
deve confundir o conceito de alienao com as contestveis noes de incluso e excluso.
A prpria alienao do territrio no deixa de ser uma forma de violncia, invisvel,
mas cruel. Porm, a alienao do territrio no o mesmo que alienao das pessoas. Os
pobres podem habitar territrios alienados e, mesmo assim, serem profundamente
revolucionrios. Milton Santos (1999a, p. 260) aponta que quem, na cidade, tem mobilidade,
acaba por ver pouco da cidade. Ou seja, so estes os que na verdade se alienam.
O conceito de alienao torna-se importante ao estudar a formao territorial
brasileira, alienada desde a colonizao portuguesa e particularmente interessante ao estudar
Campinas. Este municpio um exemplo de territrio alienado no sentido de que as lgicas
que o regem dizem muito mais respeito aos interesses mundiais do que locais.
29
Milton Santos
(1978, p. 22) diz que:
29
A formao socioeconmica realmente uma totalidade. No obstante, quando sua evoluo governada
diretamente de fora, sem a participao do povo envolvido, a estrutura prevalecente uma armao na qual as
aes se localizam no a da nao, mas sim a estrutura global do sistema capitalista. As formas introduzidas
deste modo servem ao modo de produo dominante em vez de servir formao socioeconmica local e s suas
necessidades especficas. Trata-se de uma totalidade doente, perversa e prejudicial. (SANTOS, 2003, p. 202).
33
De fato, se h crise, trata-se de uma crise global, sendo a crise urbana, apenas um epicentro. As
condies nas quais os pases que comandam a economia mundial exercem sua ao sobre os pases da
periferia, criam uma forma de organizao da economia, da sociedade e do espao, uma transferncia de
civilizao, cujas bases principais no dependem dos pases atingidos.
Em outro momento, o mesmo autor diz tambm que as horizontalidades so o
alicerce de todos os cotidianos. (...) As verticalidades agrupam reas ou pontos, ao servio de
atores hegemnicos no raro distantes. (SANTOS, 1998, p. 54, grifo nosso). E tambm que
hoje, no lugar onde estamos, os objetos no mais nos obedecem, porque so instalados
obedecendo a uma lgica estranha, uma nova fonte de alienao. (p. 112)
Mas, mesmo com todos esses processos produtores de alienao, a dialtica espacial
permite-nos vislumbrar um mtodo revolucionrio medida que ela no entende a realidade
como algo imutvel, mas como algo passvel de transformao. Na dialtica, o absoluto uma
criao histrica.
Utilizar o mtodo dialtico permite, ento, que a violncia seja vista no de uma forma
dualista, uma discusso entre o bem e o mal ou entre incluso e excluso, ou ainda, como uma
associao simplista entre pobreza e violncia, mas sim como fruto de usos contraditrios e
coerentes do territrio, da contraposio entre horizontalidades e verticalidades (SANTOS,
1998, 1999a), entre espaos opacos e espaos luminosos.
30
Uma fronteira, dois territrios.
Vivemos no atual perodo tcnico-cientfico e informacional (SANTOS, 1999a), um
acirramento da dialtica espacial, quando, mais do que nunca, a realidade nos aparece, sob
diversos aspectos, de forma paradoxal. A existncia dessas desigualdades espaciais tem um
fator histrico na sua explicao, dada pela formao scio-espacial, mas tambm um atributo
do presente, visto que os eventos (SANTOS, 1999b), ou seja, as modernizaes, as
verticalidades, a flecha do tempo nos dizeres de Sartre (1966) no atingem o territrio em sua
totalidade, mas de forma seletiva, elegendo pontos preferenciais.
No atual perodo tcnico-cientfico e informacional, esses eventos grande parte das
vezes so traduzidos na configurao territorial sob a forma de redes. Mas, como essas redes
30
Chamaremos de espaos luminosos aqueles que mais acumulam densidades tcnicas e informacionais,
ficando assim mais aptos a atrair atividades com maior contedo em capital, tecnologia e organizao. Por
oposio os espaos onde tais caractersticas esto ausentes seriam os espaos opacos. (SANTOS e SILVEIRA,
2001, p. 264).
34
so tambm seletivas, elas deixam interstcios, ou seja, pontos obscuros aos quais as polticas
pblicas, as infra-estruturas necessrias para a cidadania no chegam.
Essa dialtica dada ento pelo embate entre um territrio de espaos luminosos e um
outro, de espaos opacos.
O primeiro o da fluidez, da densidade de objetos tcnicos, dos
agentes que mandam; o segundo, o oposto, o da viscosidade, da rarefao, dos agentes que
obedecem. Segundo Milton Santos (1998, p. 79):
cidade informada e s vias de transporte e comunicao, aos espaos inteligentes que sustentam as
atividades exigentes de infra-estrutura e sequiosas de rpida mobilizao, ope-se a maior parte da
aglomerao onde os tempos so lentos, adaptados s infra-estruturas incompletas ou herdadas do
passado, os espaos opacos que, tambm, aparecem como zonas de resistncia.
H, portanto, um embate dialtico entre horizontalidades e verticalidades:
As verticalidades so vetores de uma racionalidade superior e de seu discurso pragmtico, criando um
cotidiano obediente. As horizontalidades so tanto o lugar da finalidade imposta de fora, de longe e de
cima, quanto o da contrafinalidade, localmente gerada, o teatro de um cotidiano conforme, mas no
obrigatoriamente conformista e, simultaneamente, o lugar da cegueira e da descoberta, da complacncia
e da revolta. (SANTOS, 1998 p. 93).
Neste perodo de globalizao perversa (SANTOS, 2000) vemos a cada dia o
territrio sendo preparado, tanto material como juridicamente, para satisfazer a interesses do
mercado. O Estado, por sua vez, vem abdicando cada vez mais do seu carter executor,
voltando-se a um perfil mais regulador. O encargo deixado nas mos das empresas, as quais,
obviamente, no agem segundo o interesse pblico, mas de forma seletiva, buscando o lucro
mximo. Milton Santos (1997b, p. 19) aponta que:
A translao do poder do Estado para as empresas tem conseqncias extraordinrias, j que se espera
dos Estados e dos municpios que faam um mnimo de poltica, voltando-se para o bem estar comum.
Da empresa, no: a empresa vangloria-se de dar um salrio quele que trabalha, mas ela no tem
preocupaes gerais. Suas preocupaes so obrigatoriamente particularistas, o que tem a ver com a
prpria natureza do fenmeno empresarial, sobretudo no mundo da competitividade.
O terceiro setor, por sua vez, tambm tem interesses especficos e poucas condies
para atender a todas as necessidades da nao. Surge, dessa forma, uma grande lacuna que
vem sendo ocupada pelos poderes chamados informais, como acontece com o crime
organizado.
31
A dialtica permite tambm uma interpretao mais refinada do que a simples relao
entre pobreza e violncia. Concordamos com Yazigi (2000, p. 247) quando ele diz que tem-
se notado que quanto maior o capital social, menor o conflito, o que permite explicar a
31
Vale destacar que, na verdade, h muito de formal no crime organizado, visto que ele se baseia em relaes
e atos no s dos traficantes, mas tambm em atividades bancrias (lavagem de dinheiro), nas aes de polticos
e empresrios.
35
violncia no unicamente pela pobreza, isto , numa relao mecanicista. O que h um
conjunto de fatores.
Morais (1981 p. 33) compartilha desta idia ao dizer que:
As autoridades policiais e os jornalistas costumam afirmar que nos bairros pobres da periferia onde a
violncia mais crua e deflagrada. Isto no quer dizer que os pobres so, naturalmente, mais violentos.
Quer isto significar que o grau de impotncia que lhes foi imposto acua-os de tal forma que, em certos
momentos, s os atos de violncia se apresentam para eles como alternativa de liberao e
sobrevivncia.
Para Caldeira (2000, p. 89), a confuso entre pessoas pobres e criminosos pode ter
srias conseqncias, considerando-se que a polcia tambm opera com os mesmos
esteretipos. E ela completa (p. 134):
Na verdade, se a desigualdade um fator explicativo importante, no pelo fato de a pobreza estar
correlacionada diretamente com a criminalidade, mas sim porque ela reproduz a vitimizao e a
criminalizao dos pobres, o desrespeito aos seus direitos e a sua falta de acesso justia.
Com o intuito de destacar as reas mais pobres e carentes de infra-estrutura de
Campinas e de identificar a latente desigualdade espacial do municpio, alguns mapas foram
construdos, os quais podem ser vistos no Caderno de Mapas (p. 92). Os mapas 7 e 8 (p. 96)
localizam as favelas e ocupaes, segundo dados da Secretaria de Habitao de Campinas. O
mapa 9 (p. 97) traz uma informao um pouco diferente, pois trabalha com o conceito de
aglomeraes subnormais do IBGE. Este instituto entende como aglomeraes subnormais
aquelas favelas e ocupaes que renem um mnimo de 51 famlias. Por este motivo, esses
dados diferem dos da Secretaria de Habitao. Segundo esta ltima, em Campinas haveria 157
mil pessoas vivendo sob estas condies, enquanto para o IBGE seriam 128 mil.
Os mapas 10 (p. 97), 11 e 12 (p. 98) mostram o quanto ntida a existncia de dois
territrios quando o tema analisado a Educao. Por fim, os mapas 13 e 14 (p. 99)
colaboram para evidenciar essas disparidades dentro de uma nica fronteira municipal. O
mapa 13 traz a informao dos domiclios que no contam com banheiros, o que pode ser um
bom indicador da qualidade das habitaes destas reas, e o mapa 14 revela a altssima
desigualdade de renda dos habitantes de Campinas.
Mas, para que esta anlise no seja apenas descritiva e se pretenda compreensiva,
preciso levar em considerao outros conceitos que nos ajudem a entender essa situao
apresentada pelos mapas. Nesse sentido, os conceitos de lugar e cotidiano aparecem com uma
indispensvel contribuio. A dialtica espacial nos ensina que no lugar que as
manifestaes de violncia se concretizam, mas tambm nele que elas so combatidas.
preciso ento entender as articulaes cotidianas de contra-violncia que se criam nos lugares.
36
CAPTULO 3
Lugar, Cotidiano e Violncia
E eu me esquecia do acaso da circunstncia, o bom tempo ou a tempestade,
o sol ou o frio, o amanhecer ou o anoitecer, o gosto dos morangos ou o
abandono, a mensagem, ouvida a meias, a manchete dos jornais, a voz ao
telefone, a conversa mais andina, o homem e a mulher annimos, tudo
aquilo que fala, rumoreja, passa, aflora, vem ao nosso encontro.
(Jacques Sojcher, Le Dmarche Potique)
A rua arranca as pessoas do isolamento e da insociabilidade. Teatro
espontneo, terreno de jogos sem regras precisas, e por isto mais
interessantes, lugar de encontros e solicitudes mltiplas materiais,
culturais, espirituais, a rua resta indispensvel.
(Eduardo Yazigi. O Mundo das Caladas)
37
O lugar
O lugar a materializao da idia abstrata de territrio usado (SOUZA, 2005). o
verdadeiro espao da ao, pois nele que os eventos se tornam materialidades. O lugar um
misto de verticalidades e horizontalidades, pois tanto abrange os ns das redes, os pontos das
solidariedades organizacionais, como tambm abriga as solidariedades orgnicas, que so a
sua marca.
32
Enganam-se aqueles que pensam que estudar o lugar uma tarefa mais fcil do que
estudar as regies ou territrios nacionais. Milton Santos (1998, p. 68) nos alerta que a
teorizao do lugar no menos importante que a teorizao do universo, mais ampla e mais
fcil. Estudar o lugar estudar a dimenso mais complexa do espao geogrfico.
Este mesmo autor (1999a, p. 131) define o lugar como um espao do acontecer
solidrio. Este acontecer classificado por ele em trs tipos: homlogo (quando h a
realizao de aes comuns), complementar (quando uma ao complemento da outra) e
hierrquico (quando h aes subordinadas a outras aes). O acontecer homlogo e o
complementar supem uma extenso contnua enquanto o hierrquico pode ser pontual (p.
133). Os dois primeiros so a marca do lugar, visto que este recorte pressupe continuidade,
ou seja, uma horizontalidade, e seus sentidos muito se aproximam do conceito de
solidariedade orgnica, j citado.
O cotidiano
Para entender melhor o significado do acontecer solidrio, o conceito de cotidiano
mostra-se muito til. Vamos entend-lo aqui como a prtica diria das inter-relaes scio-
espaciais, ou seja, das solidariedades. Ele no atributo de um indivduo, mas um fato
social (ORTEGA Y GASSET, 1973). uma instncia da sociedade no sentido de que a
vida cotidiana a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma exceo, qualquer que
seja seu posto na diviso do trabalho individual e fsico. (HELLER, 2000, p. 17). Para Karel
Kosik (1976, p. 70) a cotidianidade o mundo da intimidade, da familiaridade e das aes
banais.
32
Cada lugar, porm, ponto de encontro de lgicas que trabalham em diferentes escalas, reveladoras de nveis
diversos, e s vezes contrastantes, na busca de eficcia e do lucro, no uso das tecnologias do capital e do trabalho.
Assim se redefinem os lugares: como ponto de encontro de interesses longnquos e prximos, mundiais e locais,
manifestados segundo uma gama de classificaes que est se ampliando e mudando. (SANTOS, 1998, p. 18).
38
O cotidiano a quinta dimenso do espao banal (SANTOS, 1999a, p. 257). Ele a
materializao do tempo da globalizao. Milton Santos (1998, p. 82) afirma que h apenas
um relgio mundial, mas no um tempo mundial. Isso se d porque cada lugar tem seu
tempo, sua forma de transformar o relgio mundial em tempo local ou, em outras palavras,
em cotidiano.
33
O cotidiano um conceito dialtico
34
no sentido de que ao mesmo tempo em que traz
uma noo de rotina, de repetio, tambm carrega uma idia de criatividade, de
improvisao. Ele simultaneamente repetitivo e inventivo. Certeau, Giard e Mayol (1996, p.
31) apontam esta noo de repetio quando dizem que:
O cotidiano aquilo que nos dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia aps dia,
nos oprime, pois existe uma opresso do presente. Todo dia, pela manh, aquilo que assumimos, ao
despertar, o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra condio, com esta
fadiga, com este desejo. O cotidiano aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. uma
histria a meio-caminho de ns mesmos, quase em retirada, s vezes velada.
35
Milton Santos (1999a, p. 261) apresenta a outra faceta do cotidiano ao defender que:
Na cidade luminosa, moderna, hoje, a naturalidade do objeto tcnico cria uma mecnica rotineira, um sistema
de gestos sem surpresa. Essa historicizao da metafsica crava no organismo urbano reas constitudas ao sabor da
modernidade e que se justape, superpe e contrape ao resto da cidade onde vivem os pobres, nas zonas urbanas
opacas. Estas so os espaos do aproximativo e da criatividade, opostos s zonas luminosas, espaos da exatido.
Os espaos inorgnicos que so abertos, e os espaos regulares so fechados, racionalizados e racionalizadores.
E Agnes Heller (2000, p. 38) completa que a estrutura da vida cotidiana, embora
constitua indubitavelmente um terreno propcio alienao, no de modo nenhum
necessariamente alienada.
Trabalhar com a idia de cotidiano , portanto, tambm trabalhar com o imprevisvel.
O documentrio Prisioneiro da Grade de Ferro (Auto-Retratos), do diretor Paulo
33
O tempo se d pelos homens. O tempo concreto dos homens a temporalizao prtica, movimento do
Mundo dentro de cada qual e, por isso, interpretao particular do Tempo por cada grupo, cada classe social,
cada indivduo. (...) Os espaos luminosos da metrpole, os espaos da racionalidade, que so, de fato, os
espaos opacos. (...) No entanto, encorajada pela mdia, a cincia social (e nela, a urbanologia) d realce aos
temas de horror, quando na metrpole j acontecem fenmenos de enorme contedo teleolgico, apontando para
um futuro diferente e melhor. Nosso esforo deve ser o de buscar entender os mecanismos dessa nova
solidariedade, fundada nos tempos lentos da metrpole e que desafia a perversidade difundida pelos tempos
rpidos da competitividade. (SANTOS, 1998, p. 83).
34
A cotidianidade o mundo fenomnico em que a realidade se manifesta de um certo modo e ao mesmo
tempo se esconde. (KOSIK, 1976, p. 72).
35
Mas os mesmos autores tambm destacam o carter inventivo do cotidiano quando dizem que: Nossas
categorias de saber ainda so muito rsticas e nossos modelos de anlise por demais elaborados para permitir-
nos imaginar a incrvel abundncia inventiva das prticas cotidianas. lastimvel constat-lo: quanto nos falta
ainda compreender dos inmeros artifcios dos obscuros heris do efmero, andarilhos da cidade, moradores
dos bairros, leitores e sonhadores, pessoas obscuras das cozinhas. Como tudo isto admirvel! (CERTEAU,
GIARD E MAYOL, 1996, p. 342).
39
Sacramento (PRISIONEIRO, 2003), traz um timo exemplo de como a rotina e a repetio
podem ser um convite criatividade. Nesse documentrio, os prprios presos se filmam
dentro do extinto Complexo Penitencirio do Carandiru, em So Paulo. Em um momento do
filme, um dos encarcerados explica sua ttica para fazer tatuagens nos outros presos e
conseguir remunerao com essa atividade
36
:
Essa pea aqui um motor de toca-fitas, ento eu ponho ela num cabo de escova, prendo, arrumo uma
caneta quilomtrica ponho o biquinho do isqueiro aqui, dentro. Isso aqui um araminho de caderno.
Com esse arame eu fixo a agulha. Ponho essa pea aqui que de caneta, carga de caneta tambm. E t
pronta pra funcionar!
Esta cena nos remete passagem de Certeau (1994, p. 178) ao relembrar Chaplin:
Charlie Chaplin multiplica as possibilidades de sua brincadeira: faz outras coisas com a
mesma coisa e ultrapassa os limites que as determinaes do objeto fixavam para o seu uso.
O prisioneiro age da mesma forma que Chaplin ao refuncionalizar formas pensadas para
outros usos.
Com esse exemplo fica mais fcil entender quando Agnes Heller (2000, p. 24) diz que
a vida cotidiana est carregada de alternativas, de escolhas e especialmente quando Certeau
(1994, p. 47) diz que sem cessar, o fraco deve tirar partido de foras que lhe so estranhas.
Certeau traz nessa obra um par de conceitos interessantes no entendimento dessa
relao entre o previsvel e o imprevisvel, que so os conceitos de estratgia e de ttica. A
estratgia uma ao planejada, estudada. J a ttica seria a arte do improviso, a capacidade
de inventar utilizando o que se tem mo.
Para o autor, as tticas manifestam igualmente a que ponto a inteligncia
indissocivel dos combates e os prazeres cotidianos que articula, ao passo que as estratgias
escondem sob clculos objetivos a sua relao com o poder que os sustenta, guardado pelo
lugar prprio ou pela instituio (ibidem, p. 47). E ele completa:
As tticas so procedimentos que valem pela pertinncia que do ao tempo s circunstncias que o
instante preciso de uma interveno transforma em situao favorvel, rapidez e movimentos que
mudam a organizao do espao, s relaes entre momentos sucessivos de um golpe, aos
cruzamentos possveis de duraes e ritmos heterogneos etc. (ibidem, p. 102).
As tticas se aproximariam da idia de solidariedades orgnicas, enquanto as
estratgias possuiriam certa afinidade com as organizacionais. Esse par de conceitos
interessante tanto para se repensar o planejamento territorial, o qual se baseia em estratgias,
36
Ver imagem no Anexo B, pgina 124.
40
quanto para entender a resistncia que ocorre nos lugares.
37
Conforme o prprio Certeau
(ibidem, p. 101), em suma, a ttica a arte do fraco. Ou, como quer Milton Santos (1998, p.
38), a base da ao reativa o espao compartilhado no cotidiano.
A existncia das tticas nos leva a acreditar que, mesmo neste perodo marcado pelas
redes, a proximidade e o contato no perdem importncia.
38
Pelo contrrio, eles se tornam
fundamentais. Essa afirmao fica mais clara quando se contrape a esfera informacional
comunicacional. Para Milton Santos (1999a, p. 261), a razo universal organizacional, a
razo local orgnica. No primeiro caso, prima a informao que, alis, sinnimo de
organizao. No segundo caso, prima a comunicao. Ou ainda: diante das redes tcnicas e
informacionais, pobres e migrantes so passivos, como todas as demais pessoas. na esfera
comunicacional que eles diferentemente das classes ditas superiores, so fortemente ativos.
O informacional uma esfera mediada pelas tecnologias da informao. J o
comunicacional no.
39
Esta esfera marcada pela proximidade e pelas solidariedades
orgnicas e tambm uma das marcas do cotidiano. O cotidiano imediato, localmente
vivido (...) a garantia da comunicao (SANTOS, 1999a, p. 273).
O bairro
J untamente com a distino sobre o que lugar, o estudo da violncia pela Geografia
nos indica a importncia de se entender a noo do que seja o bairro. Primeiramente, vale
dizer que o bairro, assim como o lugar, nem sempre tem uma delimitao espacial definida.
Como o lugar a espacializao do cotidiano, seus limites sero variveis em funo da rea
de abrangncia dos agentes envolvidos. Na maior parte dos municpios brasileiros as
prefeituras acabam adotando na administrao outras regionalizaes ao invs dos bairros.
40
A idia de bairro possui certa aproximao ao conceito de lugar, diferindo no ponto
em que a primeira traz mais a noo de contigidade territorial e de estabilidade enquanto o
segundo refere-se aos aconteceres cotidianos e , por isso, mais mutvel.
37
A ruptura, o excepcional j fazem parte do cotidiano, esto integrados a ele como forma de garantir ao
homem a idia de transformao da vida e de seu espao de vida (BALBIM, 2003, p. 184).
38
A realidade da proximidade ganha contornos particulares num contexto de profunda fragmentao e produo
corporativa do espao, associado imobilidade relativa de seus habitantes. (BALBIM, 2003, p. 178).
39
Nossas relaes com outros homens e com a sociedade so cada vez mais distantes e indiretas. So sempre
mediatizadas por formas e instituies que camuflam o fato de que numa sociedade de homens, o elemento
essencial so as relaes entre eles. (ODLIA, 1983, p. 33).
40
No caso de Campinas utilizada a diviso por UTBs. Ver mapa pgina 108.
41
A maior importncia de se trabalhar com o conceito de bairro deve-se relevncia das
relaes que acontecem em seu interior, na prtica cotidiana. O bairro o local dos encontros
aleatrios, o espao de uma relao com o outro como ser social (CERTEAU, GIARD e
MAYOUL, 1996, p. 43). O bairro seria ento o local onde se manifesta um engajamento
social ou, noutros termos, uma arte de conviver com parceiros (vizinhos, comerciantes) que
esto ligados a voc pelo fato concreto, mas essencial, da proximidade e da repetio (p. 39).
Dificilmente uma pessoa comete um crime no prprio bairro em que mora. Essa
assertiva vale tambm para Campinas, conforme nos indicam os mapas 15 (p. 100) e 17 (p.
101). Enquanto o primeiro mapa mostra os homicdios pelo local em que eles realmente
ocorreram, o segundo traz a informao da residncia das vtimas. A comparao entre os dois
mapas mostra o quanto eles se assemelham.
Uma das razes para o fato das pessoas evitarem cometer crimes em seus prprios
bairros pode estar no conceito de convenincia:
A convenincia grosso modo comparvel ao sistema de caixinha (ou vaquinha): representa, no
nvel dos comportamentos, um compromisso pelo qual cada pessoa, renunciando anarquia das pulses
individuais, contribui com sua cota para a vida coletiva, com o fito de retirar da benefcios simblicos
necessariamente protelados. Por esse preo a pagar (saber comportar-se, ser conveniente), o
usurio se torna parceiro de um contrato social que ele se obriga a respeitar para que seja possvel a vida
cotidiana (CERTEAU, GIARD e MAYOUL, 1996, p. 39). O bairro um universo social que no
aprecia muito a transgresso; esta incompatvel com a suposta transparncia da vida cotidiana (p. 50).
O conceito de convenincia e a idia de bairro levam ao entendimento da importncia
do chamado policiamento comunitrio. Robert Putnam (1995) diz que:
O assim chamado movimento de policiamento comunitrio, que desempenhou um papel importante em
reformas recentes em todo o pas, baseia-se na evidncia emprica de que o controle social informal
muito mais eficaz do que a polcia para reduzir a criminalidade e a violncia. (...) Quando a negociao
poltica e econmica est fundada em redes densas de interao social, reduzem-se os incentivos para o
oportunismo. (...) Elas ampliam o sentido da individualidade, desdobrando o eu em ns.
Gurr (1979, p. 370) refora essa idia ao dizer que:
Estudos sobre criminalidade em sociedades modernas mostram que as instituies da ordem (polcia,
legislao criminal, tribunais e prises) podem reprimir o crime comum apenas se reforarem outras
foras sociais que estejam se movendo na mesma direo.
Na contramo das convenincias
O lugar e o cotidiano so as instncias maiores da co-presena, do encontro, da
espontaneidade e da criatividade que s o acaso capaz de gerar. Porm, o urbanismo recente
vem criando novas formas cujas intencionalidades vo justamente de encontro a essas idias.
So formas que priorizam a segregao, a homogeneidade e a monotonia. Ao invs de um
42
incentivo a um cotidiano heterogneo e revolucionrio, o que vemos um incentivo a prticas
de isolamento atravs das construes de enclaves fortificados (CALDEIRA, 2002).
41
No bastassem essas novas formas, vemos tambm o surgimento rpido de novas
tcnicas de vigilncia
42
, sendo as cmeras o exemplo mais ilustrativo. Tais objetos devem ser
analisados de forma dialtica, pois, juntamente com o suposto benefcio que eles podem
trazer, geram uma srie de novas formas de comportamento que incentivam os preconceitos, a
segregao e as neuroses urbanas. So verdadeiros panpticos
43
(FOUCAULT, 1987).
Porm, medida que essas formas inibem a co-presena, elas acabam inibindo e
restringindo as trocas e os encontros.
44
E esta segregao diminui as possibilidades de
articulao entre os habitantes de um bairro, visto que o isolamento significa a perda do poder
medida que diminui a capacidade de ao em conjunto. Abrem-se ento os caminhos para a
violncia. Teresa Caldeira (1996) constata que justamente as cidades segregadas, cidades de
guetos, so reconhecidamente as cidades mais violentas.
45
O papel da polcia
Vrios autores, desde Lnin (1980) a Boaventura de Souza Santos (1997), nos
mostram como o Estado surge no como um estgio superior da sociedade, conforme queria
Hegel, mas como uma instituio de manuteno do status quo dos agentes hegemnicos. E a
polcia no nada mais do que um rgo do Estado, cujo objetivo manter essa ordem.
Ortega Y Gasset (1973, p. 253) nos diz que para regular o atrito dos desconhecidos na
41
Os enclaves fortificados so espaos privatizados, fechados e monitorados, destinados a residncia, lazer,
trabalho e consumo. Podem ser shopping centers, conjuntos comerciais e empresariais, ou condomnios
residenciais. (CALDEIRA, 2000, p. 11).
O resultado so condomnios residenciais fechados; ruas e vilas residenciais fechadas; bolses residenciais;
centros empresariais; shopping centers; clubes desportivos e sociais, pblicos ou privados, de acesso limitado e
altamente controlado. (YAZIGI, 2000, p. 246).
42
Se verdade que por toda a parte se estende e precisa a rede da vigilncia, mais urgente ainda descobrir
como que a sociedade inteira no se reduz a ela: que procedimentos populares (tambm minsculos e
cotidianos) jogam com os mecanismos da disciplina e no se conformam com ela a no ser para alter-los;
enfim, que maneira de fazer forma a contrapartida, do lado dos consumidores (ou dominados?), dos processos
mudos que organizam a ordenao scio poltica. (CERTEAU, 1994, p. 41).
43
Segundo Michel Foucault (1987, p. 166) o efeito mais importante do panptico induzir no detento um
estado consciente e permanente de visibilidade que assegura um funcionamento automtico do poder.
44
Quanto menos copresena existir, mais excluso caracterizar a sociedade e o lugar em questo. (BALBIM,
2000, p. 224).
45
Na cidade de muros no h tolerncia para o outro ou pelo diferente. (CALDEIRA, 2000, P. 313).
43
cidade, e sobretudo na grande cidade, houve mister que se criasse na sociedade um uso mais
peremptrio, energtico e preciso: este uso , lisa e plenamente, a polcia, os agentes de
segurana, os guardas.
Dalmo Dallari (1977, p. 38), por sua vez, ao refazer a histria da polcia militar em
So Paulo nos mostra como ela, desde sua origem, tem como papel central o de servir s
oligarquias, passando para segundo plano o interesse pblico. Trazendo esta discusso para o
momento presente e o atual papel das polcias, v-se que essa situao pouco mudou. Ela
continua servindo a uma parcela especfica da sociedade.
Atualmente, no Brasil, h dois principais corpos policiais, formados pela poltica
militar e pela polcia civil. A primeira corporao tem o papel de exercer o policiamento
ostensivo e trabalha mais na represso ao crime. Ela est organizada em batalhes, os quais
cobrem grandes reas do Estado. J a polcia civil est encarregada do policiamento
administrativo e judicirio, organizando-se em distritos, os quais cobrem reas mais restritas
do territrio municipal. Ambas esto sob autoridade das Secretarias de Segurana Pblica dos
Estados. Alm destas duas corporaes, inmeros municpios brasileiros possuem tambm
uma guarda municipal, cuja funo principal seria a de zelar pelo patrimnio pblico.
No caso de Campinas, os mapas 25 e 26 (p. 105) mostram a distribuio dos distritos
da polcia civil e suas respectivas sedes. Em 20 de dezembro de 2004 foi inaugurada uma
nova sede, a do 13 distrito policial de Campinas. Apesar da necessidade urgente de melhoria
do aparato policial nas regies sudoeste e oeste, conforme apontam os mapas sobre
homicdios (p. 100, 101 e 107) e da alta concentrao populacional nessas reas, conforme o
mapa 6 (p. 95), a nova sede foi construda justamente no bairro Cambu, um dos mais ricos
(mapa 14, p. 99) e que conta com uma das maiores concentraes de agentes de segurana
privada da cidade. O mapa 27 (p. 106) traz um procedimento de sobreposio de informaes,
algo relativamente simples dentro da prtica do Geoprocessamento, mas bastante interessante
para as anlises geogrficas. Ele confronta a distribuio das sedes dos distritos, inclusive
com a construo da 13, ao mapa de rendimentos dos responsveis por domiclio. Fica assim
evidente o poder de barganha desses agentes hegemnicos e a quem serve a polcia civil no
municpio.
44
O medo
A racionalizao da sociedade moderna se faz
acompanhar da perda da razo.
(Karel Kosik, A dialtica do Concreto)
Outro elemento interessante para a anlise da violncia e do papel da polcia a
respeito de indagao: quem tem medo de quem na cidade? A parcela mais rica do municpio
tem medo dos pobres, e at por isso constroem uma srie de objetos para evit-los, alm de
terem o corpo policial voltado para defender os seus interesses. J os pobres tm, justamente,
medo da polcia.
46
Esse medo da polcia fruto basicamente da violncia policial e das arbitragens
cometidas por essas corporaes. Por este motivo, de fundamental importncia destacar que
segurana pblica no necessariamente o oposto de violncia.
Alm disso, ricos e pobres temem crimes diferentes. Enquanto os ricos se assustam
com o grande nmero de seqestros-relmpago da cidade (mapa 20, p. 102), os pobres tm
medo dos constantes homicdios que acontecem s suas voltas (mapas 15, 16, 17, 29 e 30).
preciso, ento, considerar o medo nesta discusso geogrfica, visto que, mesmo
estando em um perodo marcado pela racionalidade, justamente o medo, um atributo
altamente subjetivo e do mbito da emoo e no da razo, que aparece como a justificativa
para a implantao de novos objetos tcnicos, do incentivo ao endurecimento da polcia ou,
em outras palavras, o aumento da violncia policial.
47
O medo, este fator subjetivo, vem dialeticamente
48
se tornando a razo e a justificativa
de uma srie de aes no perodo atual. A questo ambiental, por exemplo, tem na explorao
do medo das catstrofes um dos seus maiores trunfos polticos, para no falar do medo do
46
Chico Buarque na cano Acorda Amor nos presenteia com sua perspiccia quando, ao invs de dizer
chame a polcia, como seria o usual, prefere dizer chame o ladro.
47
Algumas reaes em particular como a criminalidade podem, por seu turno, conduzir a reaes por parte
do aparelho de Estado ou de segmentos da sociedade que contribuem para agravar e no para minorar o quadro
de tenses (intensificao da represso policial e aumento dos preconceitos contra a populao pobre)
configurando assim um feedback positivo, um crculo vicioso. (SOUZA, 1996, p. 422).
48
Ao mesmo tempo em que o medo pode ser entendido como um mecanismo de defesa, tendo um carter mais
racional, ele pode ser profundamente irracional, baseando-se apenas em emoes. Meu medo de avio, por
exemplo, no racional, por mais que me provem estatisticamente que este o meio de transporte mais seguro
que existe.
45
terrorismo justificando inmeras prticas imperialistas e autoritrias do governo norte-
americano do presidente Bush.
49
Caldeira (2000, p. 9) diz que:
Nas duas ltimas dcadas, em cidades to diversas como So Paulo, Los Angeles, J ohannesburgo,
Buenos Aires, Budapeste, Cidade do Mxico e Miami, diferentes grupos sociais, especialmente das
classes mais altas, tm usado o medo da violncia e do crime para justificar tanto novas tecnologias de
excluso social quanto sua retirada dos bairros tradicionais dessas cidades.
Para piorar ainda mais a situao, temos a mdia trabalhando no sentido de reforar
esta condio de insegurana e ajudando a legitimar uma srie de aes que, na verdade, s
ajudam a agravar esta sensao generalizada de incertezas. Para Milton Santos (1988, p. 22),
se antes a natureza podia criar o medo, hoje o medo que cria a natureza meditica e falsa,
uma parte da natureza sendo apresentada como se fosse o Todo. (...) Sempre houve pocas de
medo. Mas esta uma poca de medo permanente e generalizado. E Caldeira (2000, p. 27)
completa que a fala do crime alimenta um crculo em que o medo trabalhado e
reproduzido, e no qual a violncia a um s tempo combatida e ampliada.
O medo se tornou no s uma justificativa, como tambm uma lucrativa atividade
econmica, criando o que podemos chamar de uma indstria do medo. Conforme
informaes cedidas pelo presidente do Sindicato da Categoria Profissional dos Empregados e
de Trabalhadores em Vigilncia e Segurana Privada / Conexos e Similares de Campinas e
Regio (SINDIVIGILNCIA CAMPINAS), Sr. Geizo Arajo de Souza
50
, no Brasil, existem
1.600 empresas legalizadas, estimando-se existirem outras 4.500 clandestinas, as quais exercem
a atividade de segurana privada sem autorizao do Ministrio da Justia, tendo envolvidos,
em sua maioria, policiais que trabalham no chamado bico, mesmo correndo riscos de
exonerao pelo Governo do Estado. No Estado de So Paulo atuam 410 empresas legalizadas
(com cerca de 95.000 a 100.000 funcionrios vigilantes portadores de formao especfica na
rea), sendo que 138 delas atuam na cidade de Campinas e regio da base territorial do
49
Dallari (1977, p. 69) mostra que utilizar o medo como justificativa poltica no exclusividade do governo
norte-americano: Como tem ocorrido sempre que se instala uma nova ditadura na Amrica Latina, tambm em
1937 foram alegadas razes de segurana, usando-se como pretexto a necessidade de um governo forte para
proteger as liberdades individuais. o paradoxo que se tem repetido sempre: sufoca-se a liberdade para proteger
a liberdade.
50
Informaes enviadas por e-mail em17 de setembro de 2004. Ver documento completo no anexo C, pgina 125.
46
Sindicato (contabilizando entre 8.000 e 9.000 vigilantes)
51
. Em 2003, a segurana privada
movimentou cerca de R$ 8,5 bilhes, e no Estado de So Paulo cerca de R$ 2,4 bilhes.
Nossa tese a de que a segurana privada vem aumentar a disparidade em relao a
quem faz uso da segurana no Brasil. No bastasse a segurana pblica j trabalhar para os
agentes hegemnicos, surgem tambm empresas privadas para atender a esta mesma parcela
da populao. Dessa forma, os pobres se vem duplamente abandonados, tendo que, muitas
vezes, ser coniventes com as formas de segurana fornecidas pelo crime organizado.
Esse movimento de privatizao da segurana pblica faz parte de outro maior de
privatizao generalizada que vem se dando no Brasil. O cidado perde espao, entrando em
cena apenas aqueles que conseguem atingir o nvel de consumidor
52
(SANTOS, 2002a).
A dialtica se faz importante ao mostrar que essas novas aes e objetos que ameaam
as solidariedades orgnicas acabam sendo, na verdade, promotoras e no redutoras de
violncia. Retomando-se o conceito de poder proposto por Arendt, isso fica mais claro, pois o
isolamento reduz o poder, visto que diminui as possibilidades de existncia de pactos, de
aes em conjunto, deixando espao para a violncia.
E conforme Sueli Felix (2002, p. 119) nos alerta: o medo do crime reduz as
atividades sociais particularmente entre as mulheres e os mais velhos e, uma sociedade menos
ativa comunitariamente est mais vulnervel criminalidade. Esta sociedade que prima pelo
individualismo, que incentiva as prticas segregadoras, que constri cotidianos limitados no
poderia ser outra coisa seno violenta.
Quais seriam, ento, os motivos pelos quais chegamos a essa situao de segregao e
medo exacerbados? Por que Brasil e, em especial, Campinas chegaram a esse estgio? Para
alcanar essa compreenso, o mtodo dialtico nos ensina que impossvel entender o
momento presente partindo dele mesmo. preciso fazer um resgate histrico dos usos do
territrio que propiciaram essa situao. Da a importncia fundamental do conceito de
formao scio-espacial. (SANTOS, 1979b).
51
A rea de atuao do SINDIVIGILNCIA CAMPINAS evolve 30 municpios, sendo eles: Campinas, guas
de Lindia, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Cosmpolis, Elias Fausto, Holambra, Hortolndia,
Indaiatuba, Itapira, Itatiba, J aguarina, Lindia, Louveira, Mogi-Gua, Mogi-Mirim, Monte Alegre do Sul,
Monte - Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulnia, Pedreira, Santa Brbara D'Oeste, Santo Antonio de Posse,
Serra Negra, Sumar, Valinhos e Vinhedo.
52
A mudana de cidado para consumidor no deixa de ser uma forma de violncia. Se lembrarmos da definio
de Galtung (apud CIIP, 2002, p. 24), de que h violncia quando no h liberdade, veremos que essa
transformao violenta no sentido de restringir a alguns poucos consumidores o direito da reclamao. O
PROCON e os Servios de Atendimento ao Consumidor (SACs) tomam a vez.
47
CAPTULO 4
Uma formao scio-espacial corporativa e fragmentada
O momento passado est morto como tempo,
no porm como espao.
(Milton Santos. Pensando o Espao do Homem)
48
A formao scio-espacial
Para o entendimento das relaes entre o mundo e o lugar e para a compreenso da
relao existente entre o conceito de uso proposto por Ortega y Gasset (1973) e o de territrio
usado de Milton Santos (SANTOS et al. 2000a), preciso que tratemos do conceito de
formao scio-espacial. Este conceito vem de uma releitura que Milton Santos, em Espao e
Sociedade (1979b), faz do conceito de Marx de formao econmica e social, o qual se refere
ao modo de produo empiricizado em uma sociedade definida e em um perodo histrico
definido. Para Santos, o modo de produo seria um gnero cujas formaes sociais seriam
as espcies; o modo de produo seria apenas uma possibilidade de realizao e somente a
formao econmica e social seria a possibilidade realizada (SANTOS, 1979b, p. 13).
53
Mas esse autor completa dizendo que no existe formao econmica e social
desprendida do espao: modo de produo, formao social e espao essas trs categorias
so interdependentes (ibidem, p. 14). Para ele, tratar apenas de formao econmica e social
aceitar a dualidade espao e sociedade. Ele ento pergunta:
Como pudemos esquecer por tanto tempo esta inseparabilidade das realidades e das noes de
sociedade e de espao inerentes categoria da formao social? S o atraso terico conhecido por essas
duas noes pode explicar que no se tenha procurado reuni-las num conceito nico. (...) De fato, de
formaes scio-espaciais que se trata (ibidem, p. 19).
A formao scio-espacial constituda de um conjunto de formas-contedo em
constante processo de refuncionalizao. Milton Santos mostra que Marx j destacava esse
atributo do espao: tudo o que resultado da produo , ao mesmo tempo, uma pr-
condio da produo, ou ainda, Cada pr-condio da produo social , ao mesmo tempo,
seu resultado, e cada um de seus resultados aparece simultaneamente como pr-condio
(MARX apud SANTOS, 1979b, p. 19).
54
Mais tarde, com o livro A Natureza do Espao (1999a, p. 113), Milton Santos adapta
um conceito da geomorfologia para dar conta dessas formas presentes, mas com origem no
passado e cujas funes, muitas vezes, no so as mesmas do momento de criao do objeto
53
Fora dos lugares, produtos, inovaes, populaes, dinheiro, por mais concreto que paream, so abstraes.
(...) Por isso a formao scio-espacial e no o modo de produo constitui o instrumento adequado para
entender a histria e o presente de um pas. (SANTOS, 1999a, p. 107).
54
Cada combinao de formas espaciais e de tcnicas correspondentes constitui o atributo produtivo de um
espao, sua virtualidade e sua limitao. A funo da forma espacial depende da redistribuio, a cada momento
histrico, sobre o espao total da totalidade das funes que uma formao social chamada a realizar. (...) Se
no podem criar formas novas ou renovar as antigas, as determinaes sociais tm que se adaptar (SANTOS,
1979b, p. 16).
49
tcnico: chamemos rugosidade ao que fica do passado como forma, espao construdo,
paisagem, o que resta do processo de supresso, acumulao, superposio, com que as coisas
se substituem e acumulam em todos os lugares. Portanto, a rugosidade seria o conceito de
uso aplicado para a forma, para o objeto. Se somarmos rugosidades mais usos temos o
territrio usado:
A formao scio-espacial a mediadora entre o Mundo e a Regio, o Lugar e entre Mundo e
Territrio. Este papel de mediao no cabe ao territrio em si, mas ao territrio e ao seu uso, num
momento dado, o que supe de um lado uma existncia material de formas geogrficas, naturais ou
transformadas pelo homem, formas altamente usadas e, de outro lado, a existncia de normas de uso,
jurdicas ou meramente costumeiras, formais ou simplesmente informais (SANTOS, 1999a, p. 270).
Portanto, a dialtica existente entre o lugar e o mundo s pode ser compreendida com
o entendimento da categoria de anlise responsvel por essa mediao. Os eventos que vm
do mundo se particularizam nos lugares ao passarem pelo filtro histrico da formao scio-
espacial.
A Histria como recurso de mtodo
A Geografia uma cincia do presente. Talvez seja este o motivo de seu destaque
como uma rea da cincia voltada ao, ao fazer poltico. Mas o fato de ter um enfoque no
presente no a exclui da responsabilidade de considerar a histria no fazer geogrfico.
Reconhecer o papel da histria no exatamente o mesmo que aceitar uma Geografia
da Histria. Para os gegrafos, a Histria um recurso de mtodo, um artifcio para se
entender o perodo em que se vive.
55
At porque espao e tempo so um hbrido, um no pode
ser entendido sem o outro.
Para Milton Santos (SANTOS, 1996a, p. 57) a Geografia deve preocupar-se com as
relaes presididas pela histria corrente. Mas ele destaca que:
sempre temerrio trabalhar unicamente com o presente e somente a partir dele. Mais adequado
buscar compreender o seu processo formativo. Quando nos contentamos com o presente, e partimos
dele, corremos o risco de estabelecer uma cadeia causal inadequada que pode comandar o raciocnio
numa direo indesejada. (SANTOS, 1995, p. 698).
Da a necessidade de se fazer uso da periodizao, para que espao e tempo possam
ser empiricizados ao mesmo tempo (SANTOS, 1996a, p. 83). Para Maria Adlia de Souza
(2005) a periodizao um instrumental tcnico de lida com a totalidade. Maria Laura
55
As metrpoles ameaam cair na armadilha da contemporaneidade radical: negao do passado e do futuro por
uma afirmao desajuizada de um presente capaz de produzir imediatamente. (MORAIS, 1981, p 62).
50
Silveira (1999, p. 22) destaca ainda que sem a recorrncia a uma periodizao, apagam-se os
processos histricos e corre-se o risco da naturalizao dos contedos dos conceitos.
Porm, a periodizao, qualquer que seja, sempre uma reduo. Milton Santos
(1998, p. 15) nos alerta que sempre perigoso buscar reduzir a histria a um esquema.
Alm disso, no h uma nica periodizao vlida, mas elas podem ser muitas, em virtude
das diversas escalas de observao (p. 70).
Devemos completar que a periodizao que aqui proporemos no ser feita tendo
como referncia somente o tema da violncia em Campinas. Como a violncia no se explica
por si s, seramos incoerentes com o mtodo proposto se assim fizssemos. Milton Santos
(1997c, p. 22) diz que o espao o resultado da geografizao de um conjunto de variveis,
de sua interao localizada, e no dos efeitos de uma varivel isolada. Sozinha uma varivel
inteiramente carente de significado, como o fora do sistema ao qual pertence.
Historiadores, economistas e socilogos j propuseram periodizaes para o Brasil
muito teis, mas incompletas no sentido de que levam em conta apenas as relaes sociais,
deixando de lado a materialidade, o sistema de objetos, o territrio usado. nesse sentido que
Milton Santos (1999a; SANTOS e SILVEIRA, 2001) prope uma periodizao baseada na
sucesso dos meios geogrficos no Brasil. Ele identifica trs grandes momentos: o meio
natural, o meio tcnico e o meio tcnico-cientfico e informacional.
O primeiro momento seria aquele em que era ainda a natureza quem comandava a
maioria das aes humanas. As tcnicas e o trabalho eram totalmente associados s ddivas da
natureza. Esse o perodo do tempo lento e que vai do surgimento do homem em sociedade
ao advento das mquinas.
O meio tcnico surge quando o homem comea a se sobrepor ao imprio da
natureza atravs da construo de sistemas tcnicos. As mquinas (ferrovias, portos,
telgrafos) so incorporadas ao territrio, mas de forma seletiva, sendo este meio
caracterizado pelas desigualdades regionais. Dessa forma, o progresso tcnico era
geograficamente circunscrito, instalando-se em poucos pases e regies.
Aps a segunda guerra mundial at a dcada de 70 temos um perodo de transio que
podemos considerar como sendo o meio tcnico-cientfico. o perodo da tecnocincia, ou
seja, quando a cincia passa a estar intrinsecamente ligada tcnica e regida pelas leis do
mercado.
51
A partir da dcada de 70 temos o surgimento do meio geogrfico atual, o meio
tcnico-cientfico e informacional
56
em que a informao passa a ser varivel fundamental no
perodo de globalizao, de constituio de um mercado global e de uma unicidade tcnica
planetria. Os fluxos imateriais do uma nova lgica de funcionamento ao territrio e
intensificam o processo de alienao, pois, como nunca, as novas aceleraes so seletivas.
Definem-se agora densidades diferentes, novos usos e uma nova escassez. (SANTOS e
SILVEIRA, 2001).
57
O processo de formao de Campinas de certa forma reflete os processos que
aconteciam na formao scio-espacial brasileira, em que ela estava contida
58
, ou pelo menos
os processos que atingiam a regio concentrada (SANTOS e RIBEIRO, 1979 e SANTOS e
SILVEIRA, 2001, p. 27). Quando o Brasil vivia um perodo eminente agrcola, Campinas
tambm conhecia um perodo de forte produo de cana-de-acar. Em seguida, tanto em
Campinas quanto no Brasil a produo de cana passa a dar lugar produo de caf. Esse
perodo dura at a dcada de 30, quando o caf comea a ser lentamente substitudo por
atividades industriais. A partir da dcada de 70, o meio tcnico-cientfico e informacional
comea a atingir alguns pontos luminosos do territrio brasileiro, sendo que Campinas era um
desses privilegiados.
A formao do territrio campineiro: uma histria voltada fluidez
No possvel, no atual momento histrico, entender o espao geogrfico sem levar
em conta o atributo da fluidez. Santos (1999a, p. 218) diz que:
Uma das caractersticas do mundo atual a exigncia de fluidez para a circulao de idias, mensagens,
produtos ou dinheiro, interessando aos atores hegemnicos. A fluidez contempornea baseada nas
redes tcnicas, que so um dos suportes da competitividade. Da a busca voraz de ainda mais fluidez,
levando procura de novas tcnicas ainda mais eficazes. A fluidez , ao mesmo tempo, uma causa, uma
condio e um resultado.
A distino entre fluidez e viscosidade do territrio (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p.
261) algo fundamental para se entender a atual face da dialtica espacial. Alm disso, para
56
H autores, como Maria Adlia de Souza (2005) que j apontam o advento de um novo perodo, marcado pelas
contra-racionalidades. Seria o Perodo Popular da Histria, previsto por Milton Santos (2000).
57
Os fluxos de informao so responsveis pelas novas hierarquias e polarizaes e substituem os fluxos de
matria como organizadores dos sistemas urbanos e da dinmica espacial. (SANTOS, 1998, p. 54).
58
A expanso urbana de Campinas em seus diferentes cortes temporais refletiu sempre os ciclos da economia
nacional que nela se manifestaram, com maior ou menor intensidade. (BADAR, 1996, p. 101).
52
entender a ao do crime organizado que se d em Campinas nos dias de hoje no se pode
deixar de lado o papel das redes:
As organizaes ligadas ao comrcio de drogas e as organizaes ligadas ao comrcio de dinheiro
(moeda, papel ou crdito) atuam na forma de rede e de fluxos que perpassam fronteiras nacionais, ao
mesmo tempo em que so beneficiadas pela existncia dessas fronteiras, na medida em que estas
regulam o fator risco. (MACHADO, 1996, p. 37)
A dialtica est presente tambm na prpria discusso sobre o conceito de mobilidade
geogrfica, entendida aqui como os fluxos materiais (pessoas e mercadorias), mais os fluxos
imateriais (informao). A mobilidade pode, ao mesmo tempo, ser condio de cidadania e
promotora de perversidade. Em outras palavras, a dialtica espacial tambm pode ser
percebida entre aqueles que usam as redes tcnicas e aqueles que sofrem as redes, ou seja, que
no tm acesso a elas, vivendo nos seus interstcios. Talvez por isso Milton Santos (1988, p.
57) acredite que as redes so vetores de modernidade e tambm de entropia, e Ribeiro
(2000, p. 21) defenda que as redes criam simultaneamente racionalidade e irracionalidade,
libertam e subordinam.
Raffestin (1993, p. 200) chama de circulao os fluxos materiais e de comunicao os
imateriais: A circulao e a comunicao so as duas faces da mobilidade. (...) Fala-se em
circulao cada vez que se trate de transferncia de seres e de bens lato sensu, enquanto
reservaremos o termo comunicao transferncia da informao. Porm, no adotaremos
aqui exatamente dessa maneira esses dois conceitos para evitar qualquer confuso com as
distines entre o comunicacional e o informacional, j trabalhados no captulo 3.
Campinas, curiosamente, uma cidade que nasce da fluidez. Sua posio geogrfica
permitiu-lhe, em diferentes momentos da histria, servir de ligao entre interior e capital
(BAENINGER e GONALVES, 2000, p. 2). Ela nasce de um pouso bandeirista denominado
Campinas Velhas, instalado no Caminho das Minas de Goyazes. Esse pouso se torna uma
freguesia em 1763, aps a mudana da capital de Salvador para o Rio de J aneiro, durante o
governo pombalino. Era um perodo em que a produo de acar ia perdendo fora no
nordeste e, ao poucos, ganhando importncia no sudeste. Em So Paulo forma-se o
quadriltero paulista do acar, composto pelo que hoje conhecemos como sendo as cidades
de Sorocaba, Piracicaba, Mogi-guau e J undia. Campinas surge no centro desse quadriltero
como um ponto de ligao entre essa rede:
Desenhou-se um arco de ocupao composto por cinco vilas e freguesias (...) exatamente no centro
instalou-se a Freguesia de Nossa Senhora da Conceio das Campinas do Mato Grosso de Jundia, a
nica criada sobre a pica estrada goiana, bem no cruzamento com o arco acima citado. (SANTOS, A.,
2002, p.64).
53
A condio de freguesia declarada em 14 de julho de 1774 por Francisco Barreto
Leme e, em 13 de dezembro de 1797, graas ao progresso aucareiro da regio, elevada a
Vila de So Carlos. Em 1842 passa ento categoria de municpio, tendo como seu primeiro
prefeito Orozimbo Maia. Badar (1996, p. 24) confirma o papel das redes na sua constituio
ao dizer que a cidade se expandia com a adeso de novos contingentes populacionais
oriundos de toda a regio, ocupando especialmente a poro sul do rossio, definida pelos
eixos virios para So Paulo (Santos) e Itu, que ali se cruzavam.
Campinas lidera a produo canavieira at 1851, quando o caf passa a superar o papel
do acar na balana comercial campineira. Nessa transio, surge uma nova forma de
aquisio de terras no Brasil com a Lei de Terras de 1850. A partir de 1854, as terras no
eram mais doadas, mas sim vendidas. J nesse perodo a cidade delineia os seus primeiros
aspectos de desigualdades espaciais devido acumulao de terras nas mos de poucas
famlias.
Em 1865 comea a implantao das estradas de ferro, cujo objetivo maior era dar
fluidez produo de caf. So criadas, por campineiros influentes, a Cia. Paulista de Vias
Frreas e Fluviais e a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegao:
A inaugurao dos trilhos da Cia. Paulista de Vias Frreas e Fluviais em 1872, ligando Campinas a
J undia, e l encontrando-se com as linhas da So Paulo Railway, ps Campinas em contato direto com
So Paulo e Santos. Por outro lado, a Cia. Mogiana, a partir de 1875, estabelecia a conexo com o
interior e, articulando-se por seu turno com as vias fluviais, acompanhava o itinerrio do caf e gerava
as condies bsicas para que Campinas assumisse, desde ento, a funo de plo regional. (BADAR,
1996, p. 25).
Dez anos depois chegam regio os correios e os telgrafos, estes com uma ligao
bastante ntima com o funcionamento das ferrovias. Enquanto as ferrovias se encarregavam
dos fluxos materiais, os telgrafos se encarregavam dos fluxos imateriais. Surgem ainda em
1879 os bondes, como alternativa de transporte intra-urbano.
De uma economia colonial aucareira, a cidade aos poucos vai se tornando uma
economia cafeeira. O caf propicia o surgimento de um mercado interno, promove uma
acumulao de capital, alm de incentivar a imigrao, especialmente de italianos. Com isso,
Campinas comea a se inserir em uma economia industrial.
nesse perodo que surgem empresas concessionrias pblicas de gua, luz, trem,
bondes. Ainda na dcada de 1870, surgem vrios bancos os quais ficaram responsveis por
fazer a articulao financeira entre So Paulo e o interior do Estado.
54
J na dcada de 1880, a cidade passa por uma epidemia de febre amarela. curioso
notar que a ao da Intendncia Municipal no combate doena deixou de fora bairros
populares como a Vila Industrial, mostrando, j nessa poca, um carter seletivo das polticas
pblicas da cidade, assim como acontece com os servios de segurana pblica hoje.
De 1934 a 1962, incentivado por um af progressista e pela necessidade da prefeitura
retomar o controle da expanso da malha urbana, foi colocado em prtica o Plano de
Melhoramentos Urbanos, idealizado pelo engenheiro Prestes Maia. Ele ressaltava que o plano
no deveria se restringir a simplesmente um projeto de ruas, j que defendia que todos os
fatos e aspectos urbanos se entrelaavam. Porm, contrariamente sua vontade, as aes
acabaram se concentrando apenas na questo viria, com o objetivo nico de aumentar a
fluidez no centro da cidade e de promover uma valorizao fundiria.
Na primeira fase, at meados da dcada de 50, o plano acompanhou a indstria de
bens de consumo. Nesse perodo, a parceria pblico-privado foi promissora, conferindo
melhor qualidade de vida populao, com crescimento urbano patrocinado pelo capital. Mas
esse casamento durou pouco, pois a partir de 1956 chega o capital estrangeiro, buscando
desfrutar da proximidade de So Paulo, das redes de infra-estrutura e dos incentivos fiscais e
territoriais fornecidos pelo governo municipal. A busca desenfreada pela reproduo de
capital, aliada a um crescimento vertiginoso da populao, fez com que a qualidade de vida
casse notadamente.
A legislao municipal e seu governo no foram capazes de conter a violenta
especulao imobiliria provocada pelo capital privado. Badar (1996, p. 122) destaca que
todos os lotes edificveis em Campinas somavam condies para abrigar, em 1953, uma
populao de 400.000 habitantes, ou seja, mais de trs vezes a populao urbana efetivamente
existente. Essa especulao fez com que Campinas se tornasse uma cidade espraiada, com
inmeros vazios no seu interior. Isso, de certa maneira, explica a existncia de bairros pobres
to distantes do centro da cidade, cuja populao sofre com altos ndices de criminalidade,
alm das carncias de infra-estrutura como a de transportes.
O plano de Prestes Maia dizia-se baseado em fatores puramente tcnicos. Mas o que se
viu foi um plano, como qualquer outro, fortemente poltico. Morais (1981) destaca que o
espao, uma vez habitado por seres humanos, se transforma em algo poltico. E
acrescentamos: a poltica a arte das escolhas. Das propostas do engenheiro, as que
realmente foram colocadas em prtica, ou seja, escolhidas, foram aquelas que satisfaziam aos
55
interesses de uma classe dominante. As obras efetivamente construdas tinham como objetivo
aumentar a fluidez do centro da cidade, com o alargamento de ruas estratgicas. Foi um
planejamento puramente setorial, que no via o territrio como uma totalidade, focando as
aes apenas nas suas funcionalidades. Era um urbanismo racionalista e funcionalista.
Na dcada de 1950 o carter nodal da cidade reforado com a inaugurao das
primeiras pistas da Rodovia Anhanguera, funcionando como uma nova ligao de Campinas a
J undia e capital, So Paulo.
Na dcada de 1960, com a criao da Universidade Estadual de Campinas
UNICAMP e o Plo petroqumico de Paulnia, a regio comea a se destacar como centro de
alta tecnologia. nesse perodo que criado tambm o Aeroporto Internacional de Viracopos,
com o intuito de fazer fluir a produo da regio. Desde sua criao, um aeroporto voltado
mais ao transporte de cargas do que de passageiros.
Na dcada de 70, quando a capital do Estado passa por um processo de
desconcentrao industrial, Campinas uma dessas cidades escolhidas pelos empresrios.
Inmeras novas empresas vieram se instalar na regio, ao mesmo tempo em que elas atraram
tambm vrios migrantes de baixa qualificao, os quais no foram absorvidos pelo circuito
superior de economia (SANTOS, 1979a).
59
Em 1978 inaugurada a Rodovia dos Bandeirantes, sendo mais uma via de ligao
entre Campinas e So Paulo. em torno desta e da Rodovia Anhanguera que vo se instalar
tanto as empresas de alta tecnologia quanto a populao de baixa renda. Nessa dcada, a
regio sudoeste a que mais cresce, influenciada pelas atraes promovidas pelas rodovias,
pelo Aeroporto de Viracopos, pelos Distritos Industriais de Campinas (DICs) e pelos
conjuntos habitacionais construdos pela Companhia de Habitao Popular de Campinas
(COHAB-Campinas).
A tabela a seguir mostra a importncia da imigrao na constituio da populao
campineira e destaca como esse crescimento foi extremamente alto e rpido na dcada de 70.
Alm disso, ressalta a importncia de Campinas frente regio nesse contexto de atrao de
migrantes e sua perda de importncia nas dcadas seguintes, quando a absoro migratria
59
O setor sudoeste foi ocupado durante a fase de crescimento que comeou durante a dcada de 1970.
Majoritariamente imigrantes pobres e sem qualificao. (HOGAN, 2001, p. 406).
56
passa a se dar mais nos municpios do entorno que no municpio sede (BAENINGER e
GONALVES, 2000, p. 8).
Tabela 2. Evoluo dos Saldos Migratrios e Participao Relativa no Crescimento Absoluto (%).
Campinas e Regio Metropolitana. 1970-1996.
reas Saldos Migratrios % Relati vo no Crescimento Absoluto da Populao
1970-1980 1980-1991 1991-1996 1970-1980 1980-1991 1991-1996
RM. Campinas 356.171 279.438 99.232 59,77 47,62 42,96
Campinas 188.596 30.285 9.890 65,33 16,95 16,13
Fonte: Baeninger, 2001
Ao mesmo tempo em que Campinas atraa os migrantes de baixa renda, ela tambm
seduzia imigrantes estrangeiros e migrantes brasileiros de alto poder aquisitivo. Eles eram
atrados pelas oportunidades na indstria e nos servios de alta tecnologia e pelo grande
nmero de centros universitrios da cidade. Porm, estes, ao contrrio dos migrantes pobres
que se destinaram s regies sudoeste e oeste, iro, por sua vez, ocupar pores mais bem
equipadas do municpio, bairros centrais e ao norte, como Baro Geraldo, J oaquim Egdio e
Sousas.
60
justamente com a vinda destas pessoas que os enclaves fortificados se difundem
pelo territrio campineiro.
Cunha e Oliveira (2001, p. 352) resumem bem esse perodo de transio de Campinas
ao dizerem que:
Seu crescimento industrial foi elevado na dcada de 70 e, com um intenso processo de modernizao
agrcola, a regio se tornou importante plo regional. Na dcada de 80, apesar da crise econmica, o
comportamento da regio ainda se imps ao de So Paulo e outras regies brasileiras. No incio da
dcada de 90, notam-se algumas mudanas neste cenrio de desenvolvimento econmico com reflexos
visveis no desemprego, no encerramento das atividades de indstrias ou suas mudanas para Estados
mais convenientes em termos tributrios, na reduo da produo agrcola devido principalmente
poltica de exportao e crise no setor alcooleiro e, finalmente, com a questo social atingindo nveis
alarmantes gerando reflexos principalmente na violncia urbana e nas ocupaes de terra.
O mapa 3 (p. 94), construdo a partir de imagens de satlite, mostra o quanto e em
quais direes a mancha urbana de Campinas e entorno cresce entre 1973 e 2005.
61
Tal
potencialidade do Sensoriamento Remoto j era destacada por Milton Santos (1998, p. 123)
quando ele dizia que:
60
Ver mapa de referncia pgina 93.
61
Detalhes dos procedimentos utilizados na elaborao desse mapa, inclusive com as imagens de satlites que
lhe deram origem, podem ser vistos no Apndice A, pgina 118. Tanto nesse mapa quanto no de nmero 19
(p. 102), optou-se pelos municpios do entorno, e no pelos 19 da Regio Metropolitana de Campinas pelo fato
desta ltima incluir cidades que no tm ligao direta com Campinas e excluir outras importantes para esta
anlise.
57
Os progressos tcnicos que, por intermdio dos satlites, permitem a fotografia do planeta, permitem-
nos uma viso emprica da totalidade dos objetos instalados na face da Terra. Como as fotografias se
sucedem em intervalos regulares, obtemos, assim, o retrato da prpria evoluo do processo de
ocupao da crosta terrestre. A simultaneidade retratada fato verdadeiramente novo e revolucionrio,
para o conhecimento do real e o correspondente enfoque das cincias do homem, alterando-lhe, assim,
os paradigmas.
importante destacar no mapa 3 e nos mapas 4 (p. 94) e 5 (p. 95) o quanto a cidade
cresce em direo s regies sudoeste e oeste, justamente as mais violentas do municpio.
Porm, no se deve entender que crescimento urbano sinnimo de crescimento da violncia,
conforme querem muitos autores. Francisco Filho (2003, p. 36), por exemplo, acredita que:
Quanto maior a cidade, mais violenta se torna. (...) como se um mecanismo de agresso, presente em
todos os indivduos, tivesse seu gatilho disparado ao se atingir determinado nmero de pessoas vivendo
num mesmo espao.
O mapa 3 (p. 94), contraposto ao mapa 19 (p. 102), pode ser um argumento para
desmentir essa afirmao. Olhando atentamente o primeiro mapa, vemos que a mancha urbana
tambm cresce consideravelmente em direo regio sudeste, especialmente rumo aos
distritos de Valinhos e Vinhedo. Porm, o mapa 19 nos mostra que esses dois municpios,
mesmo com o alto crescimento urbano, apresentam taxas de homicdios muito baixas. Portanto,
no o crescimento urbano em si que est ligado violncia, mas sim, a forma como ele se d.
Alm disso, o mapa 19 tambm serve para desmentir a relao entre pobreza e
violncia. Pedreira e Hortolndia, por exemplo, possuem o valor do Produto Interno Bruto
(PIB) muito baixos. Mas, enquanto o primeiro tem taxas baixssimas de homicdios, o
segundo um dos mais violentos da regio em relao a este tipo de crime. J Paulnia,
mesmo com o PIB mais alto dos municpios apresentados, apresenta um alto ndice de
assassinatos.
vlido lembrar que o objeto cidade, o qual nasce justamente como local de
encontro, tem na urbanizao e nas redes uma das formas de distanciamento entre as pessoas,
sendo este distanciamento uma das explicaes para a existncia da violncia.
Os fluxos da Campinas de hoje
Em 2000 sancionada a lei criando a Regio Metropolitana de Campinas (RMC), a
qual constituda por 19 municpios
62
, cujos critrios que justificaram a incluso destes e a
excluso de outros nunca foram muito claros e pblicos.
62
Fazem parte da RMC os seguintes municpios: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmpolis,
Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolndia, Indaiatuba, Itatiba, J aguarina, Monte-Mor, Nova Odessa, Paulnia,
Pedreira, Santa Brbara dOeste, Santo Antnio de Posse, Sumar, Valinhos e Vinhedo.
58
Sabemos que o conceito de regio torna-se uma grande incgnita num perodo cada
vez mais entrecortado por redes, em que lugares se ligam diretamente com o mundo. E
Campinas um grande exemplo de n desse espao reticular. Dessa maneira, nos
questionamos a respeito dos objetivos dessa regionalizao e dos critrios que a embasaram.
63
Tudo nos leva a crer que essa regionalizao vem reforar o papel de ponto de
passagem de Campinas, tanto no que diz respeito circulao de produtos e, principalmente,
no que se refere ao movimento de fluxos informacionais.
No entanto, vale destacar que a regio no se volta a todo o tipo de fluidez, mas
especialmente quela voltada ao grande capital. H dois casos acontecendo no momento que
so timos exemplos das prioridades polticas da regio. O primeiro diz respeito ampliao
do Aeroporto de Viracopos, o qual, aps uma reforma, dever se tornar o maior aeroporto de
cargas da Amrica Latina. Para que isso acontea, devero ser removidas cerca de cinco mil
famlias que vivem em bairros pobres e em ocupaes em torno do aeroporto. Nesse caso, os
argumentos em torno de uma referncia modernidade nos fazem lembrar os mesmos
argumentos que legitimaram, no passado, o plano de Prestes Maia.
O segundo diz respeito aos problemas de congestionamento na Estao Rodoviria, a
qual administrada pela Maternidade de Campinas desde 1963. J h alguns anos so
discutidas propostas de construo de um novo terminal, o que ainda no se concretizou. Em
74, o ex-prefeito Orestes Qurcia (PMDB) estendeu o contrato com a maternidade de 1974
para 2010 e, em 2000, o ento prefeito Francisco Amaral (PPB), por sua vez, prorrogou a
concesso at 2030. Devido ineficincia da administrao da Maternidade, alguns
segmentos da sociedade j comeam a pedir o rompimento do contrato.
interessante perceber que os dois casos envolvem questes jurdicas complexas, o
primeiro na desapropriao de vrias famlias, e o segundo no rompimento de um contrato de
concesso. curioso notar que, no primeiro caso, em que o Aeroporto se equipar para
aumentar a quantidade de cargas transportadas, ou seja, para atender s grandes empresas da
regio, as aes esto se concretizando de maneira extremamente rpida. J no segundo, em
que o interesse seria o de reestruturar uma estao rodoviria visando melhoria do
atendimento dos passageiros, na sua grande maioria de classes mdia e baixa, a quebra de
63
O grande fluxo que define a Regio Metropolitana de Campinas no est dentro, mas fora dela, ou seja, os
fluxos decorrem das conexes geogrficas que ela realiza com o exterior. (ALBUQUERQUE, 2003, p. 544).
59
uma concesso parece ser algo muito mais distante. a violncia promovida por um Estado
refm das empresas!
Podemos ainda lembrar um outro exemplo de escolha poltica feita em Campinas em
relao aos seus sistemas de transporte. Esta mesma cidade, que em 1968 abandonou o
sistema de bondes eltricos, relativamente eficiente e igualitrio em relao s categorias de
agentes que dele faziam uso
64
, aprovou recentemente um projeto de estudo de viabilidade para
a construo de um trem rpido ligando Campinas a So Paulo.
Estes exemplos, apesar de no tratarem diretamente da questo da violncia, revelam
quais so as prioridades da administrao pblica de Campinas. A cidade opta por investir no
aumento da sua fluidez, mas no uma fluidez que considera o territrio usado, com todos os
seus agentes, mas que privilegia apenas aqueles hegemnicos.
Esse uso corporativo da cidade promove o aumento das desigualdades urbanas,
deixando os espaos luminosos cada vez mais distantes daqueles opacos. o
entendimento dessa dialtica espacial que nos permite entender porque esta cidade se torna
to violenta.
Campinas: cone da dialtica espacial
Campinas um celeiro de contradies, um exemplo emprico da dialtica espacial.
Ao mesmo tempo em que a cidade marcada pela velocidade, tambm marcada pela
lentido, pois vizinhos s Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, rpidas e modernas,
encontram-se bairros muito pobres em que em algumas ruas no se consegue passar de carro
devido ao grande nmero de buracos. Locais em que as pessoas gastam cerca de duas horas
para ir do trabalho para a casa, tendo que complementar uma boa parte do percurso a p,
devido m distribuio dos servios de nibus coletivo.
Essa cidade veloz mostra-se tambm perversa quando analisamos a violncia no
trnsito em Campinas. O mapa 23 (p. 104) mostra como as mortes no trnsito acontecem
prximas a pores mais ricas e a vias de maior movimento. Porm, quando analisamos o
local de residncia das vtimas (mapa 24), percebemos que muitas delas so provenientes de
bairros mais pobres e perifricos. A possvel razo dessa discrepncia se deve ao fato de que a
64
Os bondes eram eficientes meios de transporte e cobriam todos os pontos da cidade, permitindo que se
chegasse aos arrabaldes mais afastados em cerca de 5 minutos. (BADAR, 1996, p. 66).
60
maior parte das pessoas que morrem em acidentes de trnsito no se refere quelas que esto
atrs dos volantes, mas sim a pedestres atropelados.
As caractersticas nodais da cidade no atraem somente as grandes empresas. Em
1991, uma Comisso Parlamentar de Inqurito mostrou como Campinas tambm um centro
logstico e financeiro do crime organizado. Ou seja, suas redes, tanto de transportes quanto de
comunicao, so tambm usadas na administrao do narcotrfico e de outras formas de
crime organizado.
Esse carter desigual da cidade vem aumentando drasticamente nos ltimos anos, pois
quanto mais a cidade se enriquece, mais ela tambm se empobrece. Entre 1991 e 2000, a
populao residente em favelas
65
passou de cerca de 63 mil para 127 mil, com taxa de
crescimento anual em torno de 6% entre 1991 e 1996, e de 11% na segunda metade da dcada
de 90, enquanto a populao total do municpio cresceu cerca de 1,6% ao ano em todo o
perodo (AIDAR, 2002, p. 6). Essa mesma cidade que conhece um aumento de pobreza e
violncia aquela que apresenta um crescimento constante do Produto Interno Bruto (PIB)
nos ltimos anos, conforme tabela abaixo:
Tabela 3. Crescimento do PIB e PIB per Capita. Campinas. 1999-2000.
1999 2000 2001 2002
PIB (em milhes de reais) 9.872,44 10.010,88 10.616,57 10.820,58
PIB per Capita 10.243 10.244 10.716 10.774
Fonte: SEADE.
Campinas , portanto, um cone da dialtica espacial, pois ao mesmo tempo em que
nela se encontram indiscutveis exemplos de modernidade, encontram-se tambm exemplos
das perversidades geradas pelo seu processo de formao. A compreenso do estgio atual da
violncia nesta cidade passa ento necessariamente pelo reconhecimento da modernizao
seletiva e incompleta que nela ocorreu. Assim como o Brasil, Campinas uma formao
territorial corporativa e fragmentada.
Uma das formas de se reconhecer as manifestaes atuais do carter desigual do
processo de formao campineiro atravs de instrumentos analticos como as estatsticas e o
Geoprocessamento. Mas, para que eles possam ser aproveitados em sua plenitude,
necessrio que suas limitaes sejam identificadas atravs do mtodo dialtico. E a isso que
se prope o prximo captulo.
65
Para a localizao das favelas, ocupaes e aglomeraes subnormais de Campinas, ver os mapas 7, 8 e 9, s
pginas 96 e 97.
61
CAPTULO 5
Constatar no Compreender: limitaes do mtodo
analtico
A geografia escancara o que os nmeros escamoteiam
(Maria Adlia de Souza)
62
O mtodo analtico congela a realidade, descreve-a, analisa-a e, por fim, faz dedues
(SOUZA, 2005). Ele , portanto, idealista, no sentido em que pensa um mundo sem
contradies. Esse mtodo j foi o raciocnio central da escola quantitativa da Geografia, mas
acabou cedendo espao s idias marxistas da chamada Geografia Crtica. Hoje ele retoma
foras, travestido pelas novas tecnologias do Geoprocessamento.
Somente dentro da escola analtica cabem afirmaes como a de Lauro Francisco
Filho (2003), para quem o Geoprocessamento capaz de trabalhar com relaes de causa e
efeito
66
, dentro dos estudos sobre violncia. Kosik (1976, p. 90) alerta-nos, porm, de que
querer estabelecer uma contraposio entre os efeitos e as causas significa no saber
apreender a essncia do problema.
Outro exemplo analtico dentro dos estudos geogrficos a relao que Mendona
(2001) faz entre clima e criminalidade. A violncia, porm, no pode ser compreendida
apenas atravs de correlaes: primeiro, porque as correlaes se baseiam em estatsticas e,
como ser visto adiante, estas podem mentir; segundo, porque o mximo que as correlaes
conseguem atingir so algumas constataes, o que no significa necessariamente um passo
no sentido das compreenses.
Entretanto, importante destacar que o mtodo analtico, assim como o hermenutico,
no deve ser descartado, mas utilizado de forma subordinada ao dialtico. Conforme aponta
Kosik (1976, p. 16):
A destruio da pseudoconcreticidade que o pensamento dialtico tem de efetuar no nega a
existncia ou a objetividade daqueles fenmenos mas destri a sua pretensa independncia,
demonstrando o seu carter mediato e apresentando, contra a sua pretensa independncia, prova do seu
carter derivado.
Nessa reflexo sobre as limitaes do mtodo analtico utilizaremos, ento, o
Geoprocessamento como exemplo de instrumento de anlise, comeando por sua definio.
O Geoprocessamento como instrumental analtico
O Geoprocessamento, tambm chamado de Geoinformao, Geotecnologias ou
Geomtica, no uma nica tecnologia apenas, mas um conjunto, sendo que quatro delas
constituem os seus pilares: o Sensoriamento Remoto, a Cartografia Digital, os Sistemas de
66
O Geoprocessamento se caracteriza como uma ferramenta de extremo valor para a anlise de fenmenos com
expresso territorial, pois permite sua espacializao atravs da quantificao, qualificao e localizao, bem
como o relacionamento com outras variveis espaciais, estabelecendo uma relao de causa e efeito
extremamente til a todos aqueles que tm como funo a gesto do espao urbano. (FRANCISCO FILHO,
2003, p. 3).
63
Informaes Georreferenciadas (SIGs)
67
e os Sistemas de Posicionamento Global (GPS),
definidos abaixo.
CROSTA e SOUZA FILHO (1997, p. C-10) definem Sensoriamento Remoto como:
Um ramo da cincia que aborda a obteno e a anlise de informaes sobre materiais (naturais ou no),
objetos ou fenmenos na superfcie da Terra a partir de dispositivos situados distncia dos mesmos.
Tais dispositivos recebem o nome de sensores, cuja funo receber e registrar informaes
provenientes desses materiais, objetos ou fenmenos (genericamente denominados de alvos), para
posterior processamento e interpretao por um analista. Os sensores so geralmente colocados em
plataformas areas (por exemplo, avies) ou orbitais (satlites). O principal objetivo do sensoriamento
remoto expandir a percepo sensorial do ser humano, seja atravs da viso sinptica (panormica)
proporcionada pela aquisio area ou espacial da informao, seja pela possibilidade de se obter
informaes em regies do espectro eletromagntico inacessveis viso humana.
O Sensoriamento Remoto funciona, portanto, como fonte de dados e informaes,
geralmente traduzidas na forma de imagens areas (provenientes dos sensores orbitais) e
fotografias areas (capturadas por sensores a bordo de avies). Sua utilidade dentro da
Geografia limitada no sentido de que no capaz de apreender o espao geogrfico, mas
somente uma frao dele, a paisagem, como veremos adiante.
Com o surgimento da computao grfica, a cartografia passa de um estado analgico
para um formato digital. O marco dessa transio est no surgimento dos sistemas CAD
(Computer Aided Design), ou em portugus, Projetos Assistidos por Computador, que
utilizam programas para a confeco de desenhos em meio digital. O processo de confeco
de mapas torna-se, ento, muito mais rpido e desenvolto. A reproduo dos mapas se torna
algo trivial, e um grande volume em papel substitudo por pequenas mdias e discos rgidos.
A atualizao dos mapas tambm se torna muito mais eficaz. Essa revoluo cartogrfica
criou o que chamamos hoje de Cartografia Digital ou Cartografia Automtica e impulsionou o
surgimento dos SIGs.
Os SIGs so sistemas que ordenam as informaes georreferenciadas, permitindo a
consulta e manipulao de bancos de dados georreferenciados. Existem na literatura diversas
definies de SIG, as quais podem ser conhecidas em Branco (1997) e Silva (1999). Este
ltimo entende que para um sistema constituir um SIG ele deve:
Usar o meio digital, portanto o uso intensivo de informtica imprescindvel; deve conter uma base de
dados integrada, estes dados precisam estar georreferenciados e com controle de erro; devem conter
funes de anlises destes dados que variem da lgebra cumulativa (operaes tipo soma, subtrao,
multiplicao, diviso etc.) at lgebra no-cumulativa (operaes lgicas). (SILVA, 1999, p. 45).
67
O termo mais difundido o de Sistemas de Informaes Geogrficas, traduo do ingls GIS, Geographic
Information Systems. Acreditamos que as informaes geogrficas no dizem respeito apenas quelas
informaes referenciadas a um sistema de coordenadas, indo muito alm delas. por esse motivo que
preferimos o termo Sistema de Informaes Georreferenciadas, pois disto que se trata.
64
Nos SIGs esto as maiores potencialidades do Geoprocessamento dentro da Geografia,
pois eles so capazes de trabalhar com dados de temticas diversas (sade, educao,
segurana pblica, transportes, cobertura vegetal, urbanizao), conseguem relacionar de
forma bastante complexa variveis diferentes e tm um potencial ainda pouco explorado
quanto representao dos fluxos e das dinmicas espaciais.
Por fim, completa o Geoprocessamento o Sistema de Posicionamento Global (GPS), o
qual permite que se saibam quais so as coordenadas de qualquer ponto da superfcie terrestre
atravs de uma constelao de 24 satlites e receptores em campo.
O Geoprocessamento , portanto, um conjunto de tecnologias voltadas captao,
armazenamento, manipulao e edio de dados georreferenciados. Alm dos quatro pilares
citados, h ainda outras tecnologias acessrias ao Geoprocessamento, dentre elas a
Topografia, a Geoestatstica, a Computao Grfica, as Linguagens de Programao e as
Tecnologias de Bancos de Dados.
Realidade versus representao da realidade
Certa vez, durante um curso que ministrvamos a professores de Geografia da cidade
de Campinas, uma aluna nos fez uma pergunta se, como gegrafos, deveramos fazer primeiro
os mapas e depois interpret-los, ou o oposto, se deveramos ter a teoria que nos levaria aos
mapas. Respondemos que primeiramente necessrio que tenhamos a grande teoria, um
arcabouo terico e metodolgico formado por conceitos que se completam. somente
atravs da teoria que podemos chegar s perguntas corretas para poder conhecer a realidade. E
o ponto de partida para a confeco de qualquer mapa
68
no outro seno uma pergunta.
Obviamente, o mtodo de pesquisa no uma receita de bolo. No meio do caminho podemos
tirar ou acrescentar algum ingrediente, se nos convier. evidente que, a partir do mapa,
podemos ter outra interpretao da realidade e at formular novas perguntas ou refutar uma
hiptese inicial.
Lojkine (1981, p. 22) traz uma indagao semelhante ao estudar as polticas urbanas:
se nosso objetivo concreto de pesquisa a ou as polticas urbanas nos pases capitalistas
desenvolvidos, por que no comear pelo real e pelo concreto, em vez de comear por
noes to abstratas quanto as determinaes gerais do Estado e do urbano? Para responder a
68
Para J oly (1990, p. 7) um mapa uma representao geomtrica plana, simplificada e convencional, do todo
ou de parte da superfcie terrestre, numa relao de similitude conveniente denominada escala.
65
essa pergunta, ele traz a resposta que Marx dava queles que achavam que a economia
poltica devia partir seus estudos da populao, sua diviso em classes, sua distribuio na
cidade, no campo. Marx dizia que:
A populao uma abstrao se no considero, por exemplo, as classes de que se compe. Essas classes
so por sua vez, uma palavra v se desconheo os elementos nos quais elas se apiam, como trabalho
assalariado, capital... Portanto, se eu comeasse assim pela populao, teria uma representao catica
do todo (MARX apud LOJ KINE, 1981, p. 22).
Dessa maneira, respondendo pergunta da aluna, se comessemos pelos mapas
tambm teramos uma representao catica do todo.
Karel Kosik (1976) traz elementos que podem ser teis no aprofundamento dessa
discusso ao trabalhar com o conceito de pseudoconcreticidade e com o par dialtico
fenmeno/essncia. Para ele, a essncia seria a coisa-em-si, a realidade sem mediaes,
imediata.
69
J o fenmeno seria a representao da realidade, a realidade que nos chega pelas
diversas formas de mediao.
Nesse sentido, o mundo da pseudoconcreticidade seria constitudo pelo complexo dos
fenmenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida humana, que, com
a sua regularidade, imediatismo e evidncia, penetram na conscincia dos indivduos agentes,
assumindo um aspecto independente e natural (KOSIK, 1976, p. 11). E no mundo da
pseudoconcreticidade o aspecto fenomnico da coisa, em que a coisa se manifesta e se
esconde, considerado como a essncia mesma, e a diferena entre o fenmeno e a essncia
desaparece. (p. 12). Mas ele nos lembra que deixar de parte a aparncia fenomnica
significa barrar o caminho ao conhecimento do real. (p. 58).
No caso do Geoprocessamento, aquilo que ele consegue mostrar no a realidade em
si, no o espao geogrfico, mas apenas uma representao. Ele trabalha com fenmenos e
no com a essncia, estando, por isso, prximo da idia de pseudoconcreticidade. Mas isso
no quer dizer que devemos descart-lo das anlises geogrficas. Ele deve ser usado, mas com
o conhecimento das suas limitaes enquanto apenas um instrumento do trabalho geogrfico.
69
A dialtica trata da coisa em si. Mas a coisa em si no se manifesta imediatamente ao homem (...) Por isso
o pensamento dialtico distingue entre representao e conceito da coisa. (KOSIK, 1976, p. 9). A
representao da coisa no constitui uma qualidade natural da coisa e da realidade: a projeo, na conscincia
do sujeito, de determinadas condies histricas petrificadas. (p. 15).
66
O Geogrfico e o Geomtrico
Desde que Samuel Morse, em 1837, inventou o telgrafo, a noo de distncia
geomtrica vem mudando de carter. At ento, fluxos materiais e fluxos imateriais eram
dados inseparveis. A informao tinha que circular materializada na forma de uma carta, por
exemplo. J unto com a inveno do trem, surge o telgrafo, provocando uma verdadeira
revoluo no que diz respeito mobilidade geogrfica. Pela primeira vez, fluxos imateriais
podem existir sem a necessidade dos fluxos materiais. A tcnica comea a aproximar
lugares distantes.
Hoje, no paradigma da telemtica, essa situao foi ampliada ao extremo. As redes
tcnicas de transmisso de dados trouxeram a possibilidade da instantaneidade e
simultaneidade do mundo. Foi ela que permitiu que So Paulo passasse por um processo de
desconcentrao industrial, no acompanhado de um processo de descentralizao. As sedes
das empresas continuam na capital do Estado, administrando sua produo atravs das
modernas redes de transmisso de informaes.
Dessa maneira, proximidade geomtrica
70
no mais sinnimo de proximidade
geogrfica ou organizacional. H lugares em Campinas geograficamente mais prximos de
grandes centros como Nova Iorque, Londres e Tquio do que de bairros pobres como os da
regio sudoeste do municpio.
Neste mesmo raciocnio, podemos dizer que a escala, instrumento de anlise
tradicional dos gegrafos, tambm muda de natureza. Para Milton Santos (1998, p. 38),
cresce o divrcio entre a sede ltima da ao e o seu resultado. Nessas condies, a escala
pode at existir. Mas nada tem a ver com o tamanho (a velha preocupao com as distncias)
nem com as contigidades impostas por uma organizao. Escala tempo.
No perodo atual, cada vez mais a noo de escala geomtrica se distancia da noo de
escala geogrfica. A primeira diz respeito relao numrica entre distncias representadas
em um mapa e distncias medidas no terreno. J a segunda se refere ao nvel de anlise das
relaes geogrficas, no tendo relao direta com a idia de tamanho. Abrange, portanto os
conceitos de lugar, regio, formao scio-espacial e mundo.
Nesse sentido, podemos perceber uma primeira limitao do Geoprocessamento, o
qual, enquanto representao do espao geogrfico, s abarca as geometrias, mas no as
geografias.
70
Porm, a proximidade geomtrica no perde importncia no perodo atual, conforme visto no captulo 3.
67
Limites tericos do Geoprocessamento
As virtuosidades do Geoprocessamento ao mesmo tempo em que podem nos
impressionar, podem tambm dar a falsa impresso de que possvel reduzir o espao
geogrfico sua representao. o perigo em reduzir a Geografia aos seus meios
(CASTILLO, 2002, p. 40).
Souza (2003, p. 1) chama-nos a ateno para o fato de que,
Insistentemente, a Geografia na busca de atualizar sua epistemologia, tem se desviado de seu prprio
mtodo. O surgimento do Geoprocessamento dado pelo desenvolvimento das tecnologias da informao
tem se constitudo em um novo momento para os estudos geogrficos, onde meios e fins necessrios ao
conhecimento do planeta, voltam a ser confundidos. Fazer rapidamente um mapa passou a ser a delcia
de muitos, inclusive de alguns gegrafos. O Geoprocessamento passa a ser a finalidade do
conhecimento do espao geogrfico e no a Geografia. O mapa deixa de ser uma representao e passa
a ser a realidade mesma.
A comear pelo sensoriamento remoto possvel perceber as limitaes dessa
tecnologia quanto representao do espao. Se entendermos os elementos do espao
geogrfico como sendo o lugar, a regio, o territrio e a paisagem, veremos que so apenas os
trs primeiros que abrigam a noo de totalidade, sendo que a paisagem apenas uma frao
do espao, materialidade congelada e parcial do espao geogrfico (CASTILLO, 2002, p.
41)
71
. E justamente dessa ltima categoria que o sensoriamento remoto d conta. Ele no
capaz de capturar o espao geogrfico, mas apenas a paisagem, aqui entendida como Milton
Santos (1999a, p. 83) a define: a paisagem o conjunto de formas que, num dado momento,
exprimem as heranas que representam as sucessivas relaes localizadas entre homem e
natureza.
O sensoriamento, portanto, jamais capaz de apreender o espao geogrfico em sua
totalidade por ser, justamente, uma dupla reduo da realidade. Primeiramente pelo fato da
paisagem j ser uma reduo por si mesma. Paisagem no o espao (SANTOS 1996a, p.
72)
72
, mas apenas um fragmento dele. E a imagem de satlite e a fotografia rea no so a
paisagem em si, mas uma representao dela, visto que so apenas uma estatstica da
paisagem (CASTILLO, 2002).
71
Kosik (1976, p. 25) nos chama a ateno para o fato de que a realidade no se exaure na realidade fsica do
mundo. Podemos entender tambm que o espao geogrfico no se exaure na sua realidade fsica, ou seja, na
configurao territorial e nas paisagens.
72
A paisagem diferente do espao. A primeira a materializao de um instante da sociedade. Seria, numa
comparao ousada, a realidade de homens fixos, parados como numa fotografia. O espao resulta do casamento
da sociedade com a paisagem. O espao contm o movimento. Por isso, paisagem e espao so um par dialtico.
Complementam-se e se ope. Um esforo analtico impe que os separemos como categorias diferentes, se no
queremos correr o risco de no reconhecer o movimento da sociedade. (SANTOS, 1996a, p. 72).
68
Cmara, Monteiro e Medeiros (2000, p. 6) nos chamam a ateno para as limitaes
do Geoprocessamento caso consideremos o espao geogrfico sob a tica das suas categorias
de anlise: forma, funo, processo e estrutura (SANTOS, 1997c). Essa tecnologia consegue
muito bem representar as formas, ou seja, os objetos, as materialidades. Porm, consegue
apenas de forma incompleta representar a funo exercida pela forma, a estrutura e os
processos.
Ainda, se considerarmos o espao como um conjunto de fixos e fluxos,
horizontalidades e verticalidades, veremos que o Geoprocessamento abarca os fixos, as
horizontalidades, mas ainda incipiente na representao dos fluxos e das verticalidades,
variveis fundamentais para o entendimento do funcionamento do meio tcnico-cientfico e
informacional.
Por fim, se nos basearmos na j mencionada definio do espao geogrfico como
um conjunto indissocivel de sistemas de objetos e sistemas de aes (SANTOS, 1997c,
1998, 1999a) perceberemos que os objetos so passveis de representao em um ambiente
computacional, o mesmo no acontecendo com os sistemas de objetos e, muito menos, com
os sistemas de aes.
Tambm o GPS traz uma contribuio limitada por nos dar somente a localizao de
um ponto, sendo incapaz de dizer algo sobre a sua situao
73
. Ele pode dizer algo sobre o
local, mas no sobre o lugar. Local nvel, lugar existncia.
Cmara, Monteiro e Medeiros (2000) parecem acreditar na evoluo do
Geoprocessamento no sentido de superar essas limitaes e se constituir em uma cincia.
Acreditamos, porm, que mesmo ainda no tendo desenvolvido todo o seu potencial, essa
tecnologia sempre ser apenas uma tecnologia. Como os prprios autores nos ensinam os
modelos sero sempre aproximaes reducionistas da realidade geogrfica (p. 13). Ou, como
diz Habermas (1983, p. 279), a exigncia de adequao da teoria na sua constituio e do
conceito em sua estrutura ao objeto e do objeto ao mtodo por si mesmos s pode tornar-se
realidade efetiva dialeticamente e no no mbito de uma teoria de modelos.
A evoluo do Geoprocessamento para uma cincia do espao, como prope aqueles
autores, seria algo redundante no sentido de que uma cincia do espao j existe, sendo esta a
73
Uma situao geogrfica supe uma localizao material e relacional (stio e situao), mas vai alm porque
nos conduz pergunta pela coisa que inclui o momento de sua construo e o seu movimento histrico.
(SILVEIRA, 1999, p. 22).
69
Geografia, para a qual essas tecnologias sero sempre um instrumental e sero sempre
dependentes de uma abordagem terico-metodolgica.
Por que duvidar dos mapas
Monmonier (1996), em sua obra How to Lie With Maps j havia destacado: os mapas
mentem! Intencionalmente, ou mesmo sem inteno (CMARA, 2000), os mapas podem
passar informaes que no correspondem realidade. A escolha das projees, das formas de
representao e das classes pode destacar ou encobrir informaes estratgicas.
O mapa 18 (p. 101) traz um exemplo de como a partir de um mesmo conjunto de
dados possvel construir mapas diferentes. As quatro opes se referem aos homicdios por
Unidade Bsica de Sade em 2002 (mapa 15, p. 100), mas cada um deles foi construdo a
partir de classificaes diferentes. No primeiro utilizou-se o mtodo de quebras naturais,
diferindo do mapa 15 apenas no fato de que, ao invs de cinco classes, foram escolhidas
apenas 3. Os demais mapas foram construdos a partir dos mtodos de intervalos iguais, reas
iguais e quantis.
74
Os mapas feitos pelos mtodos de quebras naturais e de intervalos iguais
realam a discrepncia entre o nmero de ocorrncias da poro norte e da poro sul do
municpio, enquanto os outros dois apresentam uma distribuio menos contrastante.
Nesse sentido, a aparncia estritamente tcnica dos mapas pode esconder o seu
importante papel poltico. Segundo Boaventura de Souza Santos (1991, p. 65), a
representao/distoro da realidade um pressuposto do exerccio do poder.
No bastasse isso, tambm devemos duvidar dos mapas porque eles sempre so
escolhas. Eles no representam a realidade em sua totalidade, pois as variveis cartografadas
so sempre criteriosamente selecionadas. A figura abaixo, extrada da obra Les Mondes
Nouveaux (BRUNET e DOULLFUS, 1990) um timo exemplo disso. Dois mapas da
mesma rea (centro de Moscou), da mesma poca (Guerra-Fria), mostram informaes
diferentes. Enquanto o mapa produzido pelos americanos ( direita) destaca a sede da polcia
russa, a KGB, o mapa turstico russo ( esquerda) omite essa informao estratgica.
74
Para mais informaes sobre os mtodos de classificao cartogrfica consultar Slocum (1999).
70
At mesmo as imagens de satlite no fogem a essa regra. Dependendo do tratamento
dado a elas, feies so destacadas ou camufladas. Alm disso, sempre devemos ficar muito
atentos s datas dos dados, dos mapas e, em especial, das imagens. Devemos nos lembrar
sempre que a imagem um instante congelado no tempo. J o espao extremamente
dinmico e uma imagem de um ano atrs pode no mais corresponder realidade presente.
Basta imaginar uma imagem do centro de Manhattan no dia 10 de setembro de 2001!
Por que duvidar das estatsticas policiais
A estatstica a arte de torturar os nmeros at que eles confessem
(Jos Juliano de Carvalho Filho)
Huff (1973) em How to lie with Statistics nos mostra que, assim como os mapas, as
estatsticas (que por sinal so as fontes da elaborao dos mapas) tambm mentem. E
podemos ainda completar: no caso das estatsticas policias, tais mentiras so mais evidentes.
Uma multiplicao de ocorrncias em um distrito policial, por exemplo, pode representar
tanto um real aumento da criminalidade quanto uma atuao mais eficiente da polcia.
Dados como causas mortis tambm no fogem regra, visto que podem trazer
informaes distorcidas: uma pessoa que, tendo levado um tiro, no morreu no momento da
ao, poder vir a falecer uma ou duas semanas depois e ter sua morte catalogada como por
infeco generalizada, por exemplo. Outra distoro a ser levada em conta advm do
despreparo dos funcionrios pblicos no que concerne ao preenchimento de boletins de
ocorrncia e declaraes de bito.
Figura 2. Mostrar ou esconder a verdade? (BRUNET e DOULLFUS, 1990)
71
Dependendo do tipo de crime os dados podero ser mais ou menos confiveis.
Geralmente, dados de homicdios costumam ser mais confiveis do que de estupros, por
exemplo. Alm de ser mais pblico, o ato homicida no deixa tanta margem para a
manipulao das estatsticas quanto o estupro. Este, muitas vezes, no denunciado por
vergonha, medo ou descrena na ao da polcia.
Em Campinas, at mesmo os homicdios possuem incoerncias em seus dados.
Segundo dados oficiais fornecidos pela Polcia Civil, em 2001 o nmero de homicdios
dolosos teria sido de 533. Segundo a pgina da internet da Secretaria de Segurana Pblica do
Estado de So Paulo ( qual a Polcia Civil subordinada), para o mesmo perodo o nmero
dessas ocorrncias teria sido de 542. Segundo os mesmos dados da Polcia Civil, o nmero
total de homicdios (culposos mais dolosos) para 2002 teria sido de 530, enquanto nos dados
fornecidos pela Secretaria de Sade de Campinas o nmero total de homicdios seria de 520
para o mesmo perodo. Vrios so os fatores que podem ser a causa dessas diferenas, que
podem ocorrer devido ao critrio de alocao do crime para Campinas (local do homicdio ou
local de residncia da vtima), erros de tabulao e digitao e, mesmo, manipulao das
estatsticas.
Ainda preciso destacar que frequentemente os homicdios cometidos por policiais
acabam no entrando nas estatsticas oficiais, conforme nos indica Caldeira (2000, p. 110).
preciso ter em mente tambm que a polcia age a partir de esteretipos na hora de
abordar um suspeito, inflando, por exemplo, os nmeros em relao populao pobre e
negra. As estatsticas super-representam crimes cujas vtimas so de bairros ricos e sub-
representam aqueles nos quais as vtimas so de bairros pobres. Foucault (1987, p. 211) nos
lembra que o delinqente se distingue do infrator pelo fato de no ser tanto seu ato quanto
sua vida o que mais o caracteriza. E as estatsticas, muitas vezes, procuram mais por
delinqentes do que por infratores. Boris Fausto (2001, p. 12) completa que a criminalizao
dos subalternos revela-se como poderoso instrumento de controle social.
Alm disso, os pobres recorrem menos s denncias formais, tanto por saberem da
ineficincia da polcia em resolver os problemas dessas classes quanto por no terem
delegacias de polcias prximas s suas casas, conforme mapa 27, pgina 106.
Tambm importante destacar que, na anlise geogrfica, devemos levar em
considerao no somente as estatsticas criminais, mas tambm de fundamental
importncia saber a partir de que tipo de regionalizao os mapas foram criados e quo
72
espacialmente detalhados so estes dados. Os mapas 15 (p. 100) e 29 (p. 107) ilustram essa
questo. Enquanto o mapa construdo a partir das Unidades Bsicas de Sade (UBSs) mais
detalhado, o segundo, construdo sobre a diviso dos distritos policiais, traz um detalhamento
menor. Alm disso, um leitor desavisado pode estranhar o fato de o primeiro conter um
mximo de 28 homicdios por rea, e o segundo chegar a 117. Isso acontece justamente
devido diferena de tamanho de cada setor, sendo que o distrito cobre reas muitas vezes
maiores que as UBSs. Uma maneira de minimizar esse problema seria trabalhar com
densidade de homicdios, conforme mostra o mapa 16 (p. 100).
Outra interpretao que pode ser feita da comparao entre esses mapas a de que os
dados da Secretaria da Sade quanto a homicdios so mais detalhados do que aqueles da
Polcia Civil. Carneiro (1999, p. 166) afirma que o pas dispe de um sistema razoavelmente
desenvolvido de estatsticas de sade, demogrficas, econmicas e sociais, mas caminha na
mais completa ignorncia quando o assunto estatstica criminal. Isso pode ser notado
particularmente em Campinas.
No devemos nos esquecer tambm que as estatsticas criminais, como o nome j
indica, trabalham com a idia de crime, ou seja, com aquela parcela da violncia que
normatizada e entendida como uma infrao lei. Kahn (2005, p. 4) nos lembra que os dados
so antes um retrato do processo social de notificao de crimes do que um retrato fiel do
universo dos crimes realmente cometidos num determinado local. Dornelles (1988, p. 44)
tambm diz que os nmeros estatsticos sobre a criminalidade numa sociedade revelam
apenas aquela parcela da realidade criminal. As estatsticas trabalham apenas com o criminoso
processado ou condenado. Portanto, a violncia real sempre maior do que aquela
representada pelas estatsticas criminais.
Quando pensamos em mapas criminais, estamos diante, portanto, de um duplo
problema: tanto a gerao do mapa quanto a base de dados que o alimenta podem conter
informaes erradas. nesse sentido que autores como Carneiro (1999) propem pesquisas de
vitimizao em campo, atravs de questionrios, evitando o filtro promovido pelos rgos
geradores de estatsticas. Dessa forma, pelo menos um dos problemas pode ser amenizado.
Por fim, preciso dizer que a prpria representao da violncia a partir de um
nmero, de uma estatstica, j uma enorme reduo.
73
O Geoprocessamento e seus usos
Na discusso sobre violncia e Geoprocessamento no podemos nos esquecer que,
historicamente, ele surge no para diminu-la, mas, pelo contrrio, para promov-la. O
Geoprocessamento e o termo Guerra possuem uma enorme afinidade.
A comear pela cartografia analgica, que muito tempo depois resultaria na digital e
nos SIGs, ela sempre foi um instrumento estratgico nas organizaes de tropas, e a posse de
mapas confiveis decidiu, por diversas vezes, quem seriam os vencedores e os perdedores das
batalhas.
O Sensoriamento Remoto, ou mais especificamente a Aerofotogrametria, tambm
aparece com seus primeiros experimentos com cmeras a bordo de pipas, bales e at mesmo
pombos j na Primeira Guerra Mundial, sendo que, na Segunda Guerra, esse instrumento j
havia se aprimorado e se difundido ao ponto de ser alocado em avies de guerra.
O GPS lanado, tambm para fins militares, em 1978, pelo Departamento de Defesa
dos Estados Unidos da Amrica (DoD). Os norte-americanos eram os nicos que tinham
acesso s informaes precisas do sistema, enquanto os demais usurios pelo mundo recebiam
informaes menos confiveis devido a um erro propositalmente gerado pelo DoD. Em 1 de
maio de 2000, esse erro foi eliminado e todos os usurios do mundo passaram a receber as
informaes com maior preciso. Coincidentemente ou no, em 11 e setembro de 2001
ocorreu, em Nova Iorque, o atentado terrorista s Torres Gmeas.
75
Portanto, o mesmo Geoprocessamento que pode ser um instrumento interessante para
polticas de combate violncia, conforme os exemplos apresentados no Caderno de Mapas,
pode tambm ser promotor de violncia como instrumento de guerra.
Devido ao seu forte poder de convencimento, o Geoprocessamento vem se tornando
um instrumento ao mesmo tempo til e perigoso. Ribeiro et al (2001/02, p. 41) constatam isso
dizendo que: estabelece-se, pelo distanciamento, a reproduo de uma outra forma de
naturalizao, em que o discurso aparece como objeto, juntamente com mapas e imagens. E
eles completam alertando-nos que: mapas, imagens e falas, subordinados calculabilidade e
aos cdigos hegemnicos da eficcia, sustentam novos distanciamentos, dificultando o
encontro de projetos e utopias efetivamente transformadores (p. 42).
Concordamos tambm com Branco (1997, p. 87) quando ela diz que a questo que se
coloca hoje a respeito dos SIGs no mais us-los ou no, mas definir o seu papel na
75
H mais de vinte anos os avies j so fabricados com receptores GPS embutidos.
74
Geografia e tendo em vista as limitaes impostas pelo paradigma em que se baseiam, por
qu, como e para qu utiliz-los.
O planejamento territorial tem no Geoprocessamento um importante instrumento de
anlise. A discusso, portanto, no se os planejadores devem ou no se utilizar dessa
tcnica, mas sim como e com que ressalvas utiliz-la.
Porm, um dos principais problemas do planejamento vai alm da discusso
meramente tcnica do Geoprocessamento e se refere viso puramente analtica e pouco
dialtica dos planejadores. A maior parte dos gestores divide as funes da administrao
pblica em setores e no em reas, deixando o territrio de lado. Mas, enquanto a violncia
for entendida como apenas uma questo setorial de segurana pblica, ela jamais ser
resolvida. Somente um planejamento realmente territorial, e no setorial, dar conta das
complexidades dos usos do territrio, conforme ser visto a seguir.
75
CAPTULO 6
Do planejamento setorial ao territorial:
para alm da segurana pblica
Mas o que faz o governo? No cuida dos verdadeiros problemas da populao e
diante dos conflitos sociais mobiliza um formidvel aparelho de informao para
dizer que o problema mais polcia e no mais poltica. A nao pode apodrecer,
mas a discusso a segurana pblica, no a civilizao. Enquanto o debate no
voltar a ser centrado no modelo de civilizao, a discusso ser pobre, insuficiente e
enganosa.
(Milton Santos, Territrio e Sociedade)
76
Da Geografia ao Planejamento
Para muitos, refletir sobre o fenmeno da violncia o mesmo que refletir sobre as
questes da segurana pblica.
76
A violncia , entretanto, um fenmeno muito mais
complexo e que ultrapassa a questo setorial da segurana. Na busca do entendimento dessa
complexidade envolvendo a questo da violncia, o planejamento se divide em duas grandes
escolas, sendo a primeira analtica e setorial e a segunda dialtica.
A escola analtica v o planejamento como um conjunto de tcnicas e de
procedimentos. Para ela, os problemas do planejamento seriam resolvidos com melhores
tecnologias e novas formas de faz-lo. Ferraz (1994, p. 11) nos d um bom exemplo de como
a analtica entende o planejamento ao dizer que as causas da violncia no se situam nas
reas da sociologia, do direito e da psiquiatria, mas, sim, no mbito da organizao fsica da
cidade, rea da engenharia.
O mtodo dialtico, por outro lado, nos possibilita uma viso diferente, considerando o
planejamento como uma questo no apenas tcnica, mas tambm poltica, ou seja, como um
embate de interesses. Ribeiro (2000, p. 23) identifica as limitaes da viso tecnicista ao dizer
que:
Da mesma forma que o tempo no destri o espao, j que a matria resiste a sua transformao em
fluxo, a nova instrumentalidade, posta a servio da ao hegemnica, no destri a sociedade histrica,
que tambm resiste a sua transformao em fluxo. Esta uma iluso tecnicista que no se coaduna com
qualquer observao de senso comum. Afinal, os tempos e espaos do existir continuam envolvidos nas
regras e nos limites do cotidiano. Da mesma maneira, a tcnica ainda no alcanou oferecer, aos seres
humanas, a superao de suas principais angstias: a perda, a dor e a morte.
Habermas (1983, p. 314) reala a indissociabilidade entre tcnica e poltica ao dizer
que a razo tcnica de um sistema social de agir racional-com-respeito-a-fins no perde seu
contedo poltico. E Yazigi (2000, p. 488) completa: o urbanismo tem que ser entendido
como um ramo da poltica.
Seguindo os preceitos da escola analtica, as administraes municipais de
praticamente todos os municpios do Brasil recortam os territrios setorialmente. um
planejamento desconexo, em que cada setor enxerga e regionaliza o territrio sua maneira.
A Educao no conversa com a Sade, que por sua vez no conversa com as Finanas, e
estas no se entendem com a Segurana Pblica. No caso desta ltima, o problema mostra-se
mais grave quando polcia militar e polcia civil trabalham desconexas, caso comum em todos
os Estados da Federao.
76
Os mapas 21 e 22, pgina 103, mostram um exemplo incontestvel de um ato de violncia, o suicdio, cujas
explicaes e aes de preveno fogem do mbito da segurana pblica.
77
A setorizao da administrao pblica provoca resultado semelhante ao da
disciplinarizao do conhecimento. Assim como a transdisciplinaridade no apenas a soma
das disciplinas
77
, o planejamento territorial no apenas a soma dos setores. Certeau (1994, p.
119) alertava-nos de que fora das fronteiras da disciplina que as prticas formam a
realidade opaca de onde pode nascer uma questo terica. Assim como fora dos setores,
no territrio usado que pode nascer um planejamento realmente justo. A dialtica leva-nos a
pensar, portanto, um planejamento territorial e no, setorial em que seja o territrio usado
e no, os setores que dite as regras (MELGAO e ALBUQUERQUE, 2004).
O planejamento setorial aderente aos interesses dos agentes hegemnicos,
favorvel s verticalidades e no s horizontalidades. Por ser pretensamente apoltico, neutro
e tcnico, ele encobre as perversidades feitas atravs dos acordos entre Estado e interesses
privados. Para Lojkine (1981, p. 54),
A planificao urbana no mais o produto de um cdigo de urbanismo, mas sim o resultado de
acordos mais ou menos explcitos estabelecidos entre os dirigentes do aparelho do Estado, alguns
interesses econmicos e financeiros e um punhado de polticos locais... O Estado seleciona alguns
grupos econmicos e sociais que transforma em parceiros privilegiados e com os quais exerce
arbitragens.
O planejamento territorial precisa levar em conta o conceito de cotidiano e a noo de
complexidade
78
. Deve levar em conta tambm os interesses dos lugares
79
, e no apenas
interesses externos a estes. Planejar a cidade passa a ser, portanto, uma questo de
articulaes e de acordos. Para Certeau (1994, p. 172), planejar a cidade ao mesmo tempo
pensar a prpria pluralidade do real e dar efetividade a este pensamento do plural: saber e
poder articular. Mas esses acordos no devem ser incentivados apenas entre alguns poucos
agentes hegemnicos, e sim entre todos os agentes, inclusive os hegemonizados. Os gegrafos
precisam, ento, estar preparados para compreender este novo momento. E essa compreenso
no poder vir seno pelo mtodo dialtico.
Para entender a desigualdade espacial, a dialtica espacial e a alienao do territrio,
existe um conceito prprio dos gegrafos e muito til para tratar dessa questo. Trata-se do
77
A interdisciplinaridade no algo que diga respeito s disciplinas, mas metadisciplina. (SANTOS et al.,
2000b, p. 49)
78
Ao destruir a rua como espao para a vida pblica, o planejamento modernista tambm minou a diversidade
urbana e a possibilidade de coexistncia de diferenas. (CALDEIRA, 2000, p. 311).
79
Parece claro que, se os problemas da metrpole surgiram de imposies alienantes, que cercearam a
participao de cidados na produo do seu espao, uma primeira esperana ser a de reconquistar a
participao do povo. (MORAIS, 1981, p. 102)
78
conceito de regio. Mas no daqueles conceitos de regio de outros perodos histricos, como
o de regio natural de Ratzel, regio geogrfica de La Blache ou regio funcional, da
Geografia Quantitativa. preciso trabalhar com um conceito refuncionalizado e coerente com
as especificidades do atual perodo tcnico-cientfico e informacional. Essa discusso , dessa
forma, o ponto de partida para a reflexo sobre a questo da fragmentao das administraes
municipais.
O complexo conceito de regio
Assim como h aqueles que pregam o fim do Estado, o fim do territrio, a existncia
dos no-lugares, h quem diga que a regio um conceito do passado, que a globalizao vem
acabando com as regies. Sabemos, porm, que a globalizao um vetor seletivo, que no
ativa todos os pontos igualmente, mas escolhe alguns para privilegi-los (SOUZA, 1995) . Por
isso dizemos, o que para alguns pode parecer contraditrio, que a globalizao vem
acompanhada de um profundo processo de fragmentao. Da Santos e Silveira (2001, p. 259)
falarem em espaos opacos e espaos luminosos. No precisamos ser cientistas, muito menos
intelectuais, para perceber que a globalizao vem aumentando as desigualdades, no apenas
sociais, mas tambm espaciais, mesmo porque essas duas desigualdades so indissociveis.
Basta olharmos as paisagens ou assistirmos aos jornais para notarmos essas diferenas.
O conceito de regio vem se transformando com o tempo, dado o esforo da Geografia
em rever os seus conceitos e dada prpria mudana do funcionamento do mundo em que os
fatores de coerncia da regio vm se transformando. No surgimento da Geografia Regional a
regio era considerada um espao
80
com caractersticas fsicas e socioculturais homogneas,
fruto de uma histria que teceu relaes que enraizaram os homens ao territrio e que
particularizou este espao, fazendo-o distinto dos espaos contguos (LENCIONE, 1999, p.
100). A regio era algo a ser descoberto, existia independente do pesquisador. Este deveria
apenas ser capaz de distinguir as homogeneidades na superfcie terrestre e reconhecer as
individualidades regionais. (p. 100). De regio natural, ela passa a geogrfica, homognea,
funcional (GOMES, 1995 e CORRA, 1986), conceitos que no respondem mais ao
funcionamento do perodo atual.
No mundo de hoje, por uma srie de motivos, esses conceitos de regio no se aplicam
mais. Neste novo perodo em que as modernizaes chegam cada vez mais depressa,
80
Lencione assume aqui espao como palco, no como instncia e totalidade em movimento.
79
invivel procurarmos por regies homogneas, ou seja, regies em que as variaes dentro de
uma rea so menores que as variaes do entorno. Isto porque uma rea homognea hoje
pode se tornar heterognea do dia para a noite, dada a intensa acelerao contempornea
(SANTOS, 1999a, p. 158).
Podemos, ainda, traar regies considerando separadamente alguns temas especficos,
como produo industrial, servios, clima, geomorfologia, mas dificilmente encontraremos
uma harmonia, uma simbiose entre esses elementos como tnhamos no passado. Tambm
porque temos hoje um mundo cortado por redes de transporte e principalmente redes
informacionais, o que revolucionou a antiga noo de distncia (de deslocamento, logo
tempo) a qual no mais apenas geomtrica. A idia de proximidade organizacional toma o
lugar da proximidade geomtrica, e o que define essa situao o acesso s redes de
transporte e comunicao. Dessa maneira, at mesmo a necessidade de haver contigidade
para se definir uma regio pode ser contestada.
Temos ento um impasse. Se dissermos que a regio no faz mais sentido, estaremos
sendo condizentes com aquelas idias liberais que crem na globalizao como um vetor
homogeneizador dos lugares. Por outro lado, se insistirmos na utilizao do conceito de
regio, teremos que adapt-lo ao perodo e realidade em que vivemos. A dificuldade na
reformulao do conceito se deve dificuldade de se delimitar regies nesse mundo cada vez
mais mutante.
Porm, no porque a regio tem uma menor durao de seu edifcio regional
(SANTOS, 1999a, p.197) que o seu conceito tambm ser instvel. Temos que inserir esse
fator de mutabilidade na prpria definio da regio. Konder (1981, p. 51) diz que para dar
conta do movimento infinitamente rico pelo qual a realidade est sempre assumindo formas
novas, os conceitos com os quais o nosso conhecimento trabalha precisam aprender a ser
fluidos.
A regio se caracterizaria ento por uma coerncia funcional (SANTOS, 1999a,
p.197) entre um ou mltiplos fatores espaciais, independente do tempo de durao dessa
coerncia. Dessa maneira, a regio continua a existir, mas com um nvel de complexidade
jamais visto pelo homem. (p.197). Temos ento que pensar a regio atravs de uma mxima
do sculo XV, reproduzida por Ortega Y Gasset (1973, p. 65): Nada seguro para mim
seno o incerto. E assim a regio.
80
Nosso raciocnio cartesiano nos cobra uma viso geomtrica, uma idia de escala
geomtrica ao se pensar o lugar e a regio. Mas qual o limite do acontecer solidrio, que
coerncia funcional levaremos em questo? Como delimitar ento a fronteira do lugar ou da
regio? A resposta taxativa: impossvel delimit-las.
81
Mas nem por isso esses dois
conceitos so inteis. Pelo contrrio, a maleabilidade deles que permite que faamos
interpretaes novas do mundo que nos apresentado. Milton Santos (1999a, p. 131) diz que:
A regio e o lugar no tm existncia prpria. (...) Sua significao dada pela totalidade de
recursos e muda conforme o movimento histrico. Portanto, so conceitos dialticos, visto
que possuem a idia de dinmica, contm a noo de totalidade, pois o lugar contm o
mundo
82
, e trazem a idia de contradio, dado que a dialtica espacial se manifesta nas
diferenciaes entre lugares e regies e nas diferenciaes intralugares e intraregies.
Postas essas idias, podemos entender a razo pela qual Milton Santos (1999a, p. 132)
diz que a distino entre lugar e regio passa a ser menos relevante do que antes (...) Na
realidade, a regio pode ser considerada um lugar, desde que a regra da unidade e da
continuidade do acontecer histrico se verifique. E os lugares veja-se o exemplo das cidades
grandes tambm podem ser regies.
Essa reflexo terica, alm de ser til na discusso da setorizao da gesto municipal,
tambm pode nos ajudar a entender a realidade da Regio Metropolitana de Campinas
(RMC). Milton Santos (1999a, p. 226) diz que:
Na caracterizao atual das regies, longe estamos daquela solidariedade orgnica que era o prprio
cerne da definio do fenmeno regional. O que temos hoje so solidariedades organizacionais. As
regies existem porque sobre elas se impem arranjos institucionais, criadores de uma coeso
organizacional baseada em racionalidades de origens distantes, mas que se tornam um dos fundamentos
de sua existncia e definio.
A realidade da RMC parece algo muito condizente com as palavras acima. Para
Albuquerque (2003, p. 546):
A institucionalizao da Regio Metropolitana de Campinas s faz sentido como um recorte poltico
ideolgico de um espao luminoso do territrio brasileiro, que se destaca como um recurso para as
corporaes capitalistas e passa a se constituir como uma unidade poltica de planejamento cujo
objetivo estaria voltado para a ampliao da produo de espaos luminosos.
81
A regio tornou-se um dado mutvel que no se prende a seus limites, mas aos processos que nela se
realizam. (ALBUQUERQUE, 2003, p. 536).
82
Cada lugar , sua maneira, o mundo. (SANTOS, 1999a, p. 252).
81
Regionalizao e Diferenciao Regional
O que seria ento a regionalizao? Qual a diferena em relao ao conceito de
regio? Geralmente, a regionalizao interpretada de duas maneiras. Na primeira, vista
como um processo e entendida como uma conseqncia da ao seletiva dos vetores
hegemnicos, ou seja, um resultado das modernizaes diferenciais promovidas pela
globalizao. As possibilidades dadas pelo modo de produo capitalista no so efetivadas
homogeneamente pelas formaes scio-espaciais (SANTOS, 1979b), resultando da o
processo de regionalizao. nesse sentido que Milton Santos emprega o termo na seguinte
passagem:
Na mesma vertente ps-moderna que fala de fim do territrio e de no-lugar, inclui-se, tambm, a
negao da idia de regio, quando exatamente, nenhum subespao do Planeta pode escapar ao processo
conjunto de globalizao e fragmentao, isto , individualizao e regionalizao. (1999a, p. 196, grifo
nosso).
A essa noo no chamaremos de regionalizao, mas de diferenciao regional (MELGAO
e ALBUQUERQUE, 2004).
Tambm podemos encontrar o termo regionalizao empregado com o sentido de
planificao, de delimitao de regies, do estabelecimento de limites espaciais, com os fins
os mais diversos. Por exemplo, dentro de uma administrao municipal temos uma
regionalizao promovida pela rea da sade, outra pela segurana pblica. Na escala
nacional temos a regionalizao utilizada pelo IBGE, a qual divide o pas em regio sul,
sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Dessa maneira, a regionalizao uma tentativa
(sempre frustrada) de captar a diferenciao regional. a velha idia de descobrir a regio e
prontamente delimit-la. Mas, como sabemos que a regio uma entidade em constante
mutao, percebemos que a coerncia entre a regionalizao e a diferenciao regional no
dura muito tempo. A delimitao um instante congelado do tempo, por isso ela sempre
passado.
A delimitao, ou regionalizao, produz formas-contedo, denominadas regies, mas
que, na verdade, no correspondem regio em sua verdadeira coerncia funcional. Silveira
(2003, p. 410) nos alerta que:
Ancorada numa concepo de escala geogrfica, a viso geomtrica da geografia e do espao pretende
definir a regio a partir dos limites. Essa viso escalar e, em conseqncia, a ciso escalar se antepem
escolha das variveis consideradas pertinentes interpretao de um fenmeno. Assim, mudando-se
os limites... acabaria a regio.
No podemos nos esquecer tambm que o espao dialtico. Fazemos uma
regionalizao pensando na diferenciao regional que ocorreu no passado e chegou at
82
aquele instante. Mas, assim que regionalizamos, criamos normas formais e informais de uso e
estamos interferindo em uma nova diferenciao regional.
83
A regionalizao, nesse sentido,
tambm pode ser vista como uma rugosidade (SANTOS, 1999a, p. 113).
Alm da noo de algo do passado que fica como marca na paisagem presente, a
regionalizao uma rugosidade por tambm conter a noo de inrcia-dinmica, que o
prprio Marx j havia destacado, ou seja, a de que tudo o que resultado da produo , ao
mesmo tempo, uma pr-condio da produo. (MARX, apud SANTOS, 1979b, p. 19). A
regionalizao, resultado de uma interpretao da diferenciao regional acontecida no
passado, passa a ser pr-condio das novas diferenciaes que iro ocorrer.
A regionalizao, ento, acaba criando sinergias nos lugares delimitados, porque ela
uma forma-contedo que contribui para a instalao de outras formas-contedo. (SILVA
NETO, 2003).
Com esta argumentao, podemos demonstrar como o conceito de lugar e de regio, se
abarcarem a noo de fluidez, de acelerao, podem ser extremamente interessantes para a
compreenso deste mundo mutante. Podemos tambm perceber como a regio um conceito
carregado de ideologia, visto que ela se vale do argumento da diferenciao regional, mas
rapidamente a coerncia se esvai, mantendo os limites da regionalizao apenas por interesses
polticos.
Campinas: territrio recortado
A administrao pblica em Campinas segue um modelo setorial, sendo que cada setor
possui a sua prpria regionalizao, ou seja, a sua prpria maneira de lidar com o territrio.
(MELGAO e ALBUQUERQUE, 2004). O objetivo central do processo de regionalizao
seria o de descentralizar e aperfeioar a gesto pblica. Esse tipo de setorizao regra em
praticamente todos os municpios brasileiros.
Temos no mapa 31 (p. 108) seis regionalizaes promovidas por diferentes setores da
administrao pblica de Campinas, sendo elas: 1. Administraes Regionais, 2. Unidades
Territoriais Bsicas, 3. Regionalizao da Secretaria de Sade, 4. Bacias Hidrogrficas, 5.
Distritos Policiais e 6. Setores Censitrios.
83
A primeira regionalizao do Brasil de que se tem notcia foi a diviso, ainda enquanto colnia de Portugal, do
pas em Capitanias Hereditrias. Tal regionalizao influenciou fortemente as diferenciaes regionais que
ocorreram aps este perodo e que possuem marcas ainda no perodo atual.
83
A regionalizao resultado de uma determinada concepo sobre a dinmica
territorial. Sendo assim, cada uma dessas regionalizaes setoriais foi feita em funo do
entendimento de variveis particulares correspondentes a cada setor. Isso fez com que fossem
traadas seis delimitaes diferentes do territrio, o qual passou a ser compreendido como
uma sobreposio de regionalizaes, cujos limites e informaes geralmente no tm
correspondncia entre si.
A existncia de regionalizaes diversas dentro de uma mesma administrao gera
alguns problemas de gesto como a falta de comunicao entre os setores, a dificuldade na
padronizao de dados estatsticos colhidos em cada regionalizao, a quase impossibilidade
de associao entre esses dados e, muitas vezes, a m destinao de verbas, as quais poderiam
ser mais bem empregadas caso houvesse uma maior sintonia entre os setores.
Milton Santos (2003, p.189) ressalta o papel das formas no planejamento atual ao falar
sobre a execuo de projetos de planejamento aparentemente isolados mas que, contudo,
visam o mesmo alvo: acelerar a modernizao capitalista e frustrar, se necessrio, projetos
nacionais de desenvolvimento. E ele completa dizendo que atravs da ao sobre as formas,
tanto novas como renovadas, o planejamento constitui muitas vezes meramente uma fachada
cientfica para operaes capitalistas (p. 193).
Contudo, poderamos argumentar, a princpio, em favor de que cada secretaria tenha
sua prpria regionalizao. Para isso, teramos que nos basear na idia, j exposta, de que a
regio s faz sentido se for considerada segundo algum tema especfico, no havendo mais
hoje aquela regio formada por um vasto conjunto de fatores nos quais se observa uma
homogeneidade. Isso at pode ser verdade. Porm, sabemos que a violncia, por exemplo,
possui estreita relao com outras questes como a educao, as finanas, a sade, os
transportes. As maiores intervenes voltadas diminuio da violncia, inclusive, do-se em
reas consideradas fora do mbito da segurana pblica, estando esta mais voltada a prticas
remediadoras do que preventivas.
Esta questo pde ser percebida em entrevista feita com um lder comunitrio do
J ardim Campo Belo
84
, um dos bairros de Campinas com problemas mais severos em relao
criminalidade. Uma das reclamaes dele e de outros moradores dizia respeito ao alto ndice
de estupros na rea. Pudemos perceber que essa incidncia no estava ligada unicamente
ineficincia da cobertura policial no bairro, mas tinha uma ligao ntima com a m
84
Ver mapa de referncia pgina 93.
84
distribuio dos transportes e de iluminao pblica. A maioria dos residentes no bairro
utiliza, em mdia, dois nibus para chegar em casa, sempre j tarde da noite. H poucos
itinerrios e por isso as pessoas, em especial as mulheres, esperam longos perodos nos pontos
de nibus e descem em pontos muito distantes de suas casas, tendo que completar o percurso
a p. Para complicar ainda mais a situao, a iluminao pblica no bairro praticamente
inexiste. H, portanto, um conjunto de fatores correlacionados que se perdem em uma anlise
puramente setorial do territrio.
Lojkine (1981, p. 54) identifica as limitaes do planejamento setorial ao dizer que:
Os habitantes das cidades no se sentem defendidos nem pelos figures que ainda so a expresso de
uma sociedade rural, nem mesmo pelos funcionrios locais da administrao estatal que permanecem
prisioneiros dos recortes setoriais de suas atribuies.
Dessa maneira, propomos aqui uma administrao no baseada em setores, mas que
tenha como fundamento o territrio, ou melhor, o territrio usado. Sabemos que, no lugar,
essas manifestaes setoriais acontecem de forma hbrida. A violncia, ou mais
especificamente a segurana pblica, est diretamente ligada a diversos outros setores. Qual
seria ento a soluo? Se os limites do lugar no so passveis de delimitao permanente,
como ento promover uma administrao com base no territrio? Seria possvel criar uma
nica regionalizao em que cada unidade abrangesse todos os setores, ou seja, que cada
habitante tivesse a seu dispor, a uma distncia compatvel com suas possibilidades de
locomoo, toda a infra-estrutura bsica para que ele tenha uma condio cidad? Quais
seriam ento os critrios para se promover essa regionalizao nica? Ou vamos mais alm,
seria necessrio haver uma regionalizao?
O problema est dado. J as repostas, no as temos ainda, mas esperamos que este
mtodo utilizado nos guie em direo a elas. Porm, j temos algumas pistas, e uma delas o
fato de que o planejamento deve ressaltar o papel da informao nos lugares, tentando
diminuir o processo de alienao do territrio e a violncia da informao intermediada pelos
veculos de comunicao de massa.
Pedagogia do Lugar: para alm da segurana pblica
Tanto Francisco Filho (2003) quanto Aidar (2002) constatam que, no caso de
Campinas, as reas com maior ndice de crimes contra a pessoa esto mais relacionadas com
reas de baixos ndices de educao do que com regies de baixa renda. Isto nos leva a pensar
o papel da educao na compreenso da violncia.
85
O acesso s redes de informao vem se tornando cada vez mais um requisito de
acesso cidadania. Acesso informao sinnimo de acesso educao, cultura, ao lazer
e, sobretudo, ao poder
85
. Nesse sentido, pensamos um planejamento que retome o papel da
informao nos lugares, buscando tir-los dos interstcios do espao reticular.
Souza (2000, p. 3) chama de pedagogia cidad a atividade que envolve um trabalho
sistemtico com os movimentos populares no sentido de oferecer-lhes informao confivel e
organizada para as suas reivindicaes, bem como lhes ensinar formas de armazenar e utilizar
essas informaes. Essa pedagogia colabora ento para eliminar os filtros diversos, em
especial os da mdia. Assim, espera-se que as informaes cheguem aos lugares da forma
mais correta possvel e possam ser contestadas, ou ainda mesmo geradas, organizadas,
interpretadas e difundidas nos lugares.
Dessa maneira, o problema das mltiplas regionalizaes pode ser minimizado
medida que as pessoas tiverem acesso s informaes que do conta da sua realidade quanto
s condies de sade, educao, segurana, etc., e possam compar-las com as condies dos
demais lugares.
Vemos nisso um ponto de se repensar o Geoprocessamento, fazendo com que ele se
torne menos uma arma de explorao e mais uma arma de cidadania, podendo se constituir
em uma Cartografia dos Lugares, ou como quer Ribeiro et al. (2001/02), uma Cartografia da
Ao.
86
Em Campinas pudemos ter acesso a uma iniciativa que, de certa maneira, trabalha no
sentido de possibilitar a gerao de informao sobre denncias de criminalidade, sem que
elas tenham que passar pelos filtros dos rgos de polcia. No dia 07 de fevereiro de 2002,
mediante parceria entre a Secretaria de Segurana Pblica do Estado de So Paulo (Polcias
Civil e Militar), a organizao no-governamental Movimento Vida Melhor e empresrios de
Campinas, foi criado o servio Disque-Denncia. Desde sua criao, at o dia 31 de julho de
85
A produo, a acumulao e a circulao intensas da informao, em todas as suas formas, so decisivas para
a realizao dos projetos dos agentes sociais, e a sua posse ou ausncia um novo artifcio da escassez e da
abundncia. (TOZI, 2005. p. 6).
86
Nesse sentido, prope-se uma cartografia incompleta que se faz fazendo; uma cartografia da prtica, que no
seja apenas dos usos e das funes do espao, mas, tambm, usvel, tentativa e plstica, atravs da qual se
manifeste a sincronia espao-temporal produzida e produtora da ao. (RIBEIRO, 2001/02, p. 43).
86
2004, foram feitas 72.646 ligaes (mdia de 53 por dia), totalizando 22.546 denncias.
Destas, 1023 casos foram solucionados (mdia de 1,13 ao dia)
87
.
Apesar de no ser a nica soluo para a criminalidade, como os prprios dados de
casos solucionados acima nos mostram, acreditamos que essa uma interessante iniciativa no
combate violncia. H, porm, bairros em que os traficantes inibem a populao a
denunciar, mesmo no caso do Disque-Denncia, em que as ligaes so annimas. Marcelo
Souza (1996, p. 461) identifica algo semelhante quando diz que:
Os traficantes de droga, ao cooptarem, eliminarem ou fabricarem lideranas comunitrias, e ao incutir
temor e desconfiana nos moradores em geral, tm contribudo para solapar os fundamentos de uma
autntica participao popular no processo de planejamento e implementao de polticas pblicas.
Na tentativa de enfraquecer o poder de articulao desses criminosos, necessrio um
planejamento territorial que seja capaz de compensar com vantagem os benefcios imediatos
oferecidos pelo crime organizado.
Dessa forma, a pedagogia do lugar funcionaria como um instrumento de
desalienao territorial e de incentivo s prticas cotidianas, coeso e promoo das
articulaes e, consequentemente, ao aumento do poder dos agentes hegemonizados. Mais do
que informao, ela promoveria a comunicao.
A pedagogia do lugar surge, ento, como uma forma de incentivo ao surgimento de
novas solidariedades orgnicas e, consequentemente, de diminuio de diversas formas de
violncia. tambm uma forma de se considerar o lugar na sua infinidade de aspectos, e no
como uma interpretao limitada feita via setores da administrao pblica.
, portanto, cada vez mais urgente a necessidade de se mudar o foco das discusses a
respeito do planejamento e da violncia. A questo no setorial, o que nos permite afirmar
com confiana que o problema no de segurana pblica. Como pde ser visto, a violncia
um fenmeno extremamente complexo, e s a partir dos conceitos de lugar e de territrio
usado ela poder ser profundamente compreendida. Assim, cada vez mais urgente a
necessidade se passar de um planejamento setorial para um planejamento verdadeiramente
territorial.
87
Ver no anexo A, pgina 123, as denncias feitas em 2004.
87
Consideraes Finais
A vida no um produto da Tcnica mas da
Poltica, a ao que d sentido materialidade.
(Milton Santos, Tcnica Espao e Tempo)
88
Conceituar violncia uma tarefa extremamente rdua, e estudar esse fenmeno a
partir da Geografia talvez seja um desafio ainda mais difcil. Mas uma coisa certa: a
violncia no , por si s, objeto de estudo da Geografia. Aos gegrafos cabe estud-la
enquanto prtica espacial, fruto de usos especficos do territrio.
Esse princpio permitiu-nos associar a reflexo sociolgica a respeito das distines
entre violncia e poder (ARENDT, 1994) idia de solidariedades geogrficas (SANTOS,
1994; 1998). Esse raciocnio mostrou-se algo realmente novo, na medida em que trouxe uma
possibilidade diferente de compreenso da violncia ao destacar suas relaes com as
articulaes feitas nos lugares.
Alm disso, a constatao de que a violncia uma questo que vai alm das prticas
criminosas foi um importante ponto de partida para esta dissertao. Do preconceito aos
homicdios, a violncia est inserida em prticas de naturezas e abrangncias muito distintas.
Por esse motivo, houve que se fazer uma reflexo que fosse alm da discusso legalista. Foi
preciso compreender as legitimaes dadas pelos usos, e essa compreenso no viria da
leitura das leis.
Falar em violncia falar em complexidade. E, quando se trata de discutir a
complexidade da realidade, nenhum outro mtodo to eficiente quanto o dialtico. A
dialtica permitiu que trabalhssemos com o movimento perptuo de transformao
permanente das coisas, a totalidade e a contradio. Esses trs elementos, quando pensados a
partir da Geografia, indicaram-nos a importncia de se pensar o conceito de territrio usado,
levando-nos a refletir sobre a dialtica espacial.
Atravs da dialtica espacial pudemos perceber que a violncia no se manifesta
somente em situaes mais extremas, mas que ela pode ser identificada nos diferentes usos do
territrio. A alienao territorial, por exemplo, uma forma silenciosa e cruel de violncia.
Alm da alienao, outras inmeras formas silenciosas s puderam ser apreendidas
quando passamos da escala do territrio para a escala do lugar e do cotidiano. O estudo desses
dois conceitos permitiu-nos no s identificar as diversas formas de violncia diria, mas
tambm notar as formas de resistncias, de contra-violncias feitas no mbito das articulaes
locais, ou seja, das solidariedades geogrficas.
Quanto maior o nmero de articulaes cotidianas e quanto mais heterogneas elas
forem, maior ser a coeso nos lugares, maior ser o poder e menor ser a necessidade de se
usar da violncia. Contudo, no nesse sentido que vm trabalhando os empreendedores do
89
urbano quando propem formas que tm no medo a principal argumentao para a promoo
da segregao espacial.
Esta segregao no exclusividade deste perodo, mas historicamente produzida
atravs da formao scio-espacial brasileira. Essa construo repercutiu tambm na
formao territorial de Campinas, a qual igualmente marcada por um processo de
modernizao desigual. Dessa forma, para entender a violncia em Campinas foi necessrio
compreender como este territrio se voltou para usos corporativos e hegemnicos, deixando
um grande vcuo para a maior parte da populao. Sendo assim, a dialtica espacial em
Campinas se tornou latente em sua paisagem.
Utilizar o mtodo dialtico no significou, porm, deixar de lado o analtico. Este
ltimo pode e deve ser usado, desde que subordinado ao primeiro. Sendo assim, foi
importante que as limitaes da abordagem analtica fossem discutidas para que a
compreenso sobre a violncia pudesse avanar.
Dessa forma, no h problema em se utilizar estatsticas criminais ou ir adiante,
espacializando-as sob a forma de mapas. Mas preciso ter em mente que estes no podem ser
o ponto de partida da anlise, e sim devem ser usados apenas como forma de se reforar, de
forma emprica, uma argumentao terica. O Geoprocessamento, ento, deve ser encarado
como um instrumento da pesquisa em Geografia, um meio, e no um fim em si mesmo, sendo
que a sua importncia depender dos usos que dele forem feitos.
Mas para que esta reflexo sobre o conceito de violncia, a dialtica espacial, o lugar e
o cotidiano, a formao scio espacial e o Geoprocessamento no ficasse apenas nas palavras
e pudesse resultar em aes efetivas, a discusso sobre o planejamento se fez necessria. E a
Geografia talvez seja a cincia que mais condies tenha para tratar desse assunto.
Pensar o planejamento pensar a pluralidade. pensar a indissociabilidade entre
materialidade e ao, entre tcnica e poltica. Nesse sentido, um planejamento que v alm da
questo setorial e atinja um patamar territorial se mostra indispensvel. Nossa reflexo ento
procurou deixar claro que a violncia no uma questo somente de segurana pblica. No
se trata apenas de se repensar as formas de agir das polcias. Trata-se de algo mais abrangente,
que s o conceito de territrio usado pode fornecer. Alm disso, mais importante que repensar
a forma de agir das polcias rever as prprias funes dessas instituies.
A violncia mostrou-se, portanto, um problema de ordem muito mais poltica do que
tcnica. Por esse motivo, a diminuio da violncia no ocorrer nem com o aumento da
90
represso policial nem com a ampliao de prticas de vigilncia. Para Yazigi (2000, p. 256)
esta modalidade de resposta armada s faz alimentar o ciclo de violncia, j que enfraquece
cada vez mais a esfera pblica. E, como a poltica a arte das escolhas, o homem precisa ser
encarado como o agente, e no o agido na questo da violncia. Conforme Zanotelli (2002, p.
52), as noes de fato social, de que todo ato humano de natureza social, nos ajudam a
entender a busca desesperada que os dominantes tm feito para encobrir a razo social da
violncia. Por esse motivo, ela no pode mais ser entendida como uma fatalidade.
Portanto, para que a Geografia possa ter um papel importante na discusso da
violncia ela precisa ser uma cincia do atrito, ou seja, uma Geografia da ao. E, para isso,
no h outro caminho seno a superao das limitaes do mtodo analtico e o envolvimento
profundo com o dialtico.
A dialtica vem nos possibilitando compreender a violncia em sua complexidade.
Nesse sentido, o incentivo a um cotidiano heterogneo e sem alienao o que realmente
propiciar um contraponto aos movimentos violentos, atravs do aumento das articulaes e
das solidariedades geogrficas.
E Kosik (1976, p. 78) nos lembra do carter tambm transformador da violncia ao
dizer que para que o homem possa descobrir a verdade da cotidianidade alienada, deve
conseguir dela se desligar, liber-la da familiaridade, exercer sobre ela uma violncia.
Certeau (1994, p. 45) e Habermas (1983, p. 325) nos indicam que esse movimento
revolucionrio, essa contra-violncia, no vir dos governantes, muito menos dos agentes
hegemnicos, mas do homem pobre e comum. O primeiro diz que as tticas do consumo,
engenhosidades do fraco para tirar partido do forte, vo desembocar ento em uma politizao
das prticas cotidianas. E o segundo aponta que a dominao poltica pode, de agora por
diante ser legitimada de baixo para cima, em vez de cima para baixo. Milton Santos
(1999a, p. 260) compartilha dessa expectativa ao dizer que agora, estamos descobrindo que,
nas cidades, o tempo que comanda, ou vai comandar, o tempo dos homens lentos. A
resistncia, portanto, no vir do mundo, mas dos lugares.
Anima-nos, por fim, a acreditar em uma Geografia metodologicamente revolucionria,
que seja capaz de compreender este novo Perodo Popular da Histria (SANTOS, 2000), e
que possa contribuir para um planejamento territorial mais justo e solidrio. Ouamos ento
os gritos do territrio! (SOUZA, 2005).
91
Para terminar, lembremo-nos da provocao de Marx (1946, p. 54, traduo nossa) em
sua dcima-primeira tese sobre Feuerbach Os filsofos tm se limitado a interpretar o
mundo; trata-se, no entanto, de transform-lo. Poderamos reinterpret-la para a Geografia:
os analticos tm se limitado a descrever a violncia; trata-se, no entanto, de compreend-la. E
compreender mudar, como j dizia Sartre (1966, p. 20).
CADERNO DE MAPAS
93
Mapa 1. Referncia Bairros.
Mapa 2. Referncia: Unidades Bsicas de Sade UBS.
94
Mapa 3. Crescimento Urbano entre 1973 e 2005.
88
Mapa 4. Crescimento da Populao. 1996-2000.
88
Detalhes dos procedimentos utilizados na elaborao deste mapa, inclusive com as imagens de satlites que
lhe deram origem, podem ser vistos no Apndice A, pgina 118.
95
Mapa 5. Natalidade.
Mapa 6. Densidade Populacional.
96
Mapa 7. Favelas.
Mapa 8. Ocupaes.
97
Mapa 9. Aglomeraes Subnormais.
Mapa 10. Populao Alfabetizada.
98
Mapa 11. Responsveis pelo Domiclio, com mais de 5 anos de Estudos.
Mapa 12. Responsveis pelo Domiclio, com menos de 5 anos de Estudos.
99
Mapa 13. Domiclios sem Banheiro.
Mapa 14. Valor do Rendimento Mdio Mensal dos Responsveis pelos Domiclios.
100
Mapa 15. Homicdios por UBS.
Mapa 16. Densidade de Homicdios.
101
Mapa 17. Residncia das Vtimas de Homicdios.
Mapa 18. Homicdios: Mesmos Dados, Mapas Diferentes.
102
Mapa 19. Homicdios e PIB per Capita.
Mapa 20. Seqestros-relmpago.
103
Mapa 21. Suicdios.
Mapa 22. Residncia das Vtimas de Suicdios.
104
Mapa 23. Mortes no Trnsito.
Mapa 24. Residncia das Vtimas Mortas em Acidentes de Trnsito.
105
Mapa 25. Distritos Policiais e Respectivas Sedes.
Mapa 26. Localizao da Sede do 13 Distrito.
106
Mapa 27. Sedes dos Distritos sobrepostas aos Rendimentos do Responsvel pelo Domiclio.
Mapa 28. Crimes Contra a Pessoa e Crimes Contra o Patrimnio.
107
Mapa 29. Homicdios por Distrito Policial. 2002.
Mapa 30. Homicdios por Distrito Policial. 2003.
108
Mapa 31. Campinas. Territrio Recortado: Regionalizaes da Administrao Pblica. 2004
3. Unidades Bsicas de Sade (UBSs) 4. Bacias Hidrogrficas
2. Unidades Territoriais Bsicas (UTBs) 1. Administraes Regionais (ARs)
5. Distritos Policiais 6. Setores Censitrios
109
Bibliografia
ABBAGNANO, Nicola. Dicionrio de Filosofia. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
AIDAR, Tirza. A face perversa da cidade: configurao scio-espacial das mortes violentas
em Campinas nos anos 90. Tese de Doutorado, Faculdade de Cincias Mdicas - UNICAMP,
Campinas-SP. 2002.
ALBUQUERQUE, Mariana Vercesi de. A Regionalizao no Perodo Tcnico-Cientfico-
Informacional: A Regio Metropolitana de Campinas. In: SOUZA, M. A. de. (org.)
Territrio Brasileiro: usos e abusos. Campinas: Edies TERRITORIAL, 2003. p. 534-547.
ARENDT, Hannah. A Condio Humana. Rio de J aneiro: Forense Universitria, 1987.
339p.
________ Sobre a violncia. Trad. Andr Duarte. Rio de Janeiro, Relume-Dumar, 1994. 114 p.
BADAR, Ricardo de Souza Campos. Campinas: o Despertar da Modernidade. Campinas:
rea de Publicaes CMU/UNICAMP, 1996. 162 p.
BAENINGER, Rosana Aparecida. Regio Metropolitana de Campinas: expanso e
consolidao do urbano paulista. In: HOGAN, D. J . (et al.) Migrao e Ambiente nas
Aglomeraes Urbanas. Campinas: NEPO/UNICAMP, 2001. p. 321-348.
BAENINGER, Rosana Aparecida; GONALVES, Renata Franco de. Novas Espacialidades
no Processo de Urbanizao: a regio metropolitana de Campinas. XII Encontro Nacional de
Estudos Populacionais Brasil 500 Anos: mudanas e continuidades, Caxambu, MG, 2000.
BALBIM, Renato. Prticas espaciais e informatizao do espao da circulao:
mobilidade cotidiana em So Paulo. Tese de Doutorado. Departamento de Geografia.
FFLCH-USP. 2003
BARROW, J ohn D., Teorias de Tudo: a busca da explicao final. Rio de J aneiro: J orge
Zahar Ed., 1994. p. 292.
BRANCO, Maria Luisa Gomes Castello. A Geografia e os Sistemas de Informao
Geogrfica, Territrio, Vol. 1, n. 2, LAGET/UFRJ , Relume-Dumar, Rio de J aneiro,
jan./jun. 1997, p. 77-91.
BRUNET, Roger; DOLLFUS, Olivier. Gographie universelle. Tome 1: Les Mondes
Nouveaux. Paris, Hachette/Reclus, 1990.
CMARA, Gilberto. Como mentir com mapas (sem o saber). Infogeo. n. 15. 2000.
________ Geometrias no so Geografias: o legado de Milton Santos. InfoGeo. ano 3, n.20.
2001.
110
CMARA, G.; MONTEIRO, A. M.; MEDEIROS J . S. Fundamentos Epistemolgicos da
Cincia da Geoinformao. In: Introduo Cincia da Geoinformao. Livro on-line,
INPE. 2000. Disponvel em: <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/cap5-
epistemologia.pdf >. Acesso em 15 ago. 2005.
CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. A Cidade Fortificada. Folha de So Paulo, 22 de setembro
de 1996. Caderno MAIS!, p. 5-6.
________ Cidade de Muros: Crime, segregao e cidadania em So Paulo, So Paulo:
Edusp, 2000. 400 p.
CARNEIRO, Leandro Piquet. Para Medir a Violncia. In: PANDOLFI, D. C. (et al.).
Cidadania, Justia e Violncia. Rio de J aneiro: FGV, 1999. p. 165-178.
CASTILLO, Ricardo. Sistemas Orbitais e Uso do Territrio: Integrao eletrnica e
conhecimento digital do territrio brasileiro, Tese (Doutorado em Geografia Humana).
Departamento de Geografia. FFLCH USP, So Paulo 1999.
________ A Imagem de Satlite como Estatstica da Paisagem: crtica a uma concepo
reducionista da Geografia. Cincia Geogrfica, Bauru, vol. 1, n. 7, p.39-42, jan/abr. 2002.
CASTILLO, Ricardo; TOLEDO, Rubens; ANDRADE, J ulia. Trs Dimenses da
Solidariedade em Geografia. Autonomia Poltico-Territorial e Tributao. Experimental, So
Paulo, n. 3, setembro, 1997. p. 69-99.
CATAIA, Mrcio. Territrio Nacional e Fronteiras Internas: A fragmentao do Territrio
Brasileiro. Tese (Doutorado em Geografia Humana) Departamento de Geografia. FFLCH-
USP, So Paulo, 2001.
CERTEAU, Michel de. A Inveno do Cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrpolis, Rj: Vozes,
1994 (1980). 351 p.
CERTEAU. Michel de, GIARD, Luce e MAYOL, Pierre. A Inveno do Cotidiano: 2.
morar, cozinhar. Petrpolis, RJ : Vozes, 1996. 372 p.
CIIP - Centro Internacional de Investigao e Informao para a Paz; Universidade para a Paz
das Naes Unidas, O estado da paz e a evoluo da violncia: a situao da Amrica
Latina. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2002. 230 p.
CORREA, Roberto Lobato. Regio e Organizao Espacial. So Paulo: tica, 1986. 93 p.
COULON, Alain. A Escola de Chicago. Campinas, SP: Papirus, 1995. 136 p.
CUNHA, J os Marcos e OLIVEIRA, Antonio de. Populao e Espao Intra-Urbano em
Campinas. In: HOGAN, D. J . (et al.) Migrao e Ambiente nas Aglomeraes Urbanas.
Campinas: NEPO/UNICAMP, 2001. p. 351-393.
CROSTA, lvaro; SOUZA FILHO, Carlos Roberto de. Sensoriamento Remoto. Anurio
Fator GIS, 1997. p. C-10 C-21.
111
DALLARI, Dalmo de Abreu. O Pequeno Exrcito Paulista. So Paulo: Editora Perspectiva,
1977. 95 p.
DORNELLES, J oo Ricardo W. O que crime. So Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 83 p.
DURKHEIM, mile. Da diviso do trabalho social; As regras do mtodo sociolgico; O
suicdio, As formas elementares da vida religiosa. So Paulo: Abril Cultural, 1978. Coleo
Os Pensadores. 247 p.
EMPLASA. Por dentro da Regio Metropolitana de Campinas (Cd-Rom), Governo do
Estado de So Paulo, Secretaria de Planejamento e Gesto. 2002.
FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano: a criminalidade em So Paulo (1880-1924). So Paulo:
Edusp, 2001. 326 p.
FELIX, Sueli Andruccioli, Geografia do Crime: interdisciplinaridade e relevncias, Marlia:
Marlia UNESP Publicaes, 2002. 200 p.
FERRAZ, Hermes. A Violncia Urbana: ensaio. So Paulo: J oo Scortecci Editora, 1994.
115 p.
FIORI, Wagner da Rocha. Modelo Psicanaltico. In: RAPPAPORT, C. R. Psicologia do
Desenvolvimento. Ed. EPU, 1981.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da priso. Trad. R. Ramalhete. Petrpolis,
RJ : Vozes, 1987. 288 p.
FRANCISCO FILHO. Distribuio espacial da violncia em Campinas: uma anlise por
Geoprocessamento. 2003. Tese (Doutorado em Geografia) Instituto de Geografia,
Universidade Federal do Rio de J aneiro, Rio de J aneiro, 2003.
GUIMARES, urea Maria. Vigilncia, punio e depredao escolar. Campinas, SP:
Papirus, 2003 (1985). 160 p.
GOMES, Paulo da Costa. O Conceito de Regio e sua Discusso. In: CASTRO, I. A. (et al.)
Geografia: conceitos e temas. Rio de J aneiro: Bertrand Brasil, 1995. p. 49-76.
GURR, Ted Robert. On the History of Violent Crime in Europe. In: GRAHAM, Hugh
Davis; GURR, Ted Robert (orgs). Violence in America: Historical and Comparative
Perspectives. Ed. Revista. Beverly Hills: Sage, 1979. p. 353-374.
HABERMAS, J rgen. Teoria Analtica da Cincia e Dialtica: contribuio polmica entre
Popper e Adorno. In: Textos Escolhidos. So Paulo: Abril Cultural, 1983. Coleo os
Pensadores.
HELLER, Agnes. O Cotidiano e a Histria. So Paulo: Editora Paz e Terra, 2000. 122 p.
HENNINGTON, Elida Azevedo. Sade e Trabalho: mortalidade e violncia no municpio
de Campinas SP. Tese de Doutorado, FCM UNICAMP, 2002.
112
HUFF, Darrell. How to Lie with Statistics. London: Penguin Books, 1973. 124 p.
ISNARD, Hidelbert. O espao geogrfico. Coimbra: Almeida, 1979. 257 p.
J OLY, Fernand. A Cartografia. Campinas, SP: Papirus, 1990. 136 p.
KAHIL, Samira Peduti. Unidade e Diversidade do Mundo Contemporneo. Holambra: a
Existncia do Mundo no Lugar. Tese de Doutorado. Departamento de Geografia, FFLCH-
USP, So Paulo, 1997.
KAHN, Tlio. Estatstica de Criminalidade: manual de interpretao. Coordenadoria de
Anlise e Planejamento - Secretaria de Segurana Pblica do Estado de So Paulo. 2005.
Disponvel em: <http://www.seguranca.sp.gov.br/estatisticas/graficos200404/manual.pdf>.
Acesso em 10 de julho de 2005.
KONDER, Leandro. O que dialtica. So Paulo: Editora Brasiliense, 1981. 87 p.
KOSIK, Karel. Dialtica do Concreto. Rio de J aneiro: Paz e Terra, 1976 (1963). 230 p.
LENCIONE, Sandra. Regio e Geografia. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo,
1999. 214 p.
LNIN, V.I. Obras Escolhidas. So Paulo: Editora Alfa mega, 1980.
LOJ KINE, J . O Estado Capitalista e a Questo Urbana. So Paulo: Martins Fontes, 1981.
337 p.
LWY, Michael. Ideologias e Cincia Social: elementos para uma anlise marxista. So
Paulo, Cortez, 1985. 112 p.
MACHADO, Lia Osrio. O Comrcio Ilcito de Drogas e a Geografia da Integrao
Financeira: uma simbiose? In: CASTRO, I. E., GOMES, P.C.C. e CORRA, R. L., Brasil:
questes atuais de reorganizao do territrio. Rio de J aneiro: Bertrand Brasil, 1996. p. 15-64.
MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. Rio de J aneiro: Zahar Editores, 1982. 330 p.
MARX, Karl. Teses sobre Feuerbach. In: ENGELS, Friederich. Ludwig Feurbach et la fin
de la philosofie classique allemande. Paris: Edition Sociales, 1946.
________ Salrio, Preo e Lucro. So Paulo: Nova Cultural, 1986. 78 p.
________ O capital: crtica da economia poltica. Livro Primeiro, tomo 2. So Paulo: Nova
Cultural, 1996. 394 p.
MATIAS, Lindon. Sistema de Informaes Geogrficas (SIG): teoria e mtodo para
representao do espao geogrfico. So Paulo, FFLCH USP, 2001.
MELGAO, Lucas. Uso do Territrio, Violncia e Tecnologias da Informao: o caso de
Campinas-SP. Monografia. Campinas, Instituto de Geocincias, 2002.
113
________ O Uso do Territrio pela Violncia, In: SOUZA, M. A. Territrio Brasileiro: usos
e abusos. Campinas: Edies Territorial, 2003. p. 524-533.
MELGAO, Lucas; ALBUQUERQUE, Mariana. Territrio Recortado. Anais do VI
Congresso Brasileiro de Gegrafos. Goinia. J ulho de 2004.
MENDONA, Francisco. Clima e Criminalidade: ensaio analtico da correlao entre a
temperatura do ar e a incidncia da criminalidade urbana. Curitiba: Editora da UFPR, 2001.
182 p.
MICHAUD, Yves. Violence et Politique. Paris: Gallimard, 1978. 231 p.
MONMONIER, Mark. How to lie With Maps. Chicago and London: University of Chicago
Press, 1996. 208 p.
MORAIS, Regis de. O que Violncia Urbana. So Paulo: Brasiliense, 1981. 116 p.
ODALIA, Nilo. O que Violncia. So Paulo: Editora Brasiliense, 1983. 96 p.
ORTEGA Y GASSET, Jos. O Homem e Gente. Trad. J. Carlos Lisboa. Rio de Janeiro: Ibero-
Americano, 1973 (1957). 306 p.
________ Meditaciones Del Quijote. Revista de Occidente en Alianza Editorial. 6 edio,
Madri, 1999.
PEET, Richard. Inequality and Poverty: a marxist-geographic theory. Annals of the
Association of American Geographers, Washington DC, Estados Unidos, 65 (4), 1975. p.
564-575.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS: Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, Sumrio de dados: Populao, Campinas e Regio, 1998.
________ Sumrio de dados: Populao, Campinas e Regio, 1999.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS: Escritrio de Planejamento. Matriz de
Periodizao de Campinas. Direo geral de Maria Adlia de Souza. Campinas: Instituto
Proofcio, 2004. CD-ROM
PRISIONEIRO da Grade de Ferro (Auto-Retratos). Direo de Paulo Sacramento. So Paulo,
Olhos de Co Produes Cinematogrficas. 2003. DVD.
PUTNAM, Robert. Capital Social e Democracia. In: Braudel Papers. Documento do Instituto
Fernand Braudel de Economia Mundial, n. 10, 1995. p. 1-8.
RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. So Paulo: Editora tica, 1993. 270 p.
RIBEIRO, Ana Clara Torres. A natureza do poder: tcnica e ao social. Interface
Comunicao, Sade, Educao, v.4, n.7, 2000, p.13-24.
114
________ Dimensiones culturales de la ilegalidad. In: PATIO, Anlida Rincn. Espacios
Urbanos no Con-sentidos: legalidad e ilegalidad en la produccin de ciudad. Medelln,
Colmbia: Universidade Nacional da Colmbia e Prefeitura de Medelln, 2005. 361 p.
RIBEIRO, Ana Clara Torres (et al.). Por uma cartografia da ao: pequeno ensaio de mtodo.
In: Cadernos IPPUR, v. 15/16, n. 2/1, agosto/julho. 2001-2/2002-1.
SANTOS, Antnio da Costa. Campinas, das Origens ao Futuro. Campinas: Editora da
UNICAMP, 2002. 397 p.
SANTOS, Boaventura de Souza. Uma cartografia simblica das representaes sociais:
prolegmenos a uma concepo ps-moderna do direito. In: Espao e Debates, v. 33, n. XI,
1991. p. 63-79.
________ Pela Mo de Alice: O social e o poltico na ps-modernidade. So Paulo: Editora
Cortez, 1997. 348 p.
SANTOS, Milton. O Trabalho do gegrafo no Terceiro Mundo. So Paulo: HUCITEC,
1971. 113 p.
________ Pobreza Urbana. So Paulo: HUCITEC, 1978. 119 p.
________O Espao Dividido: os dois circuitos da economia urbana dos pases
desenvolvidos. Rio de J aneiro: Francisco Alves, 1979a. 345 p.
________Espao e Sociedade. Petrpolis: Vozes, 1979b. 152 p.
________ Metrpole Corporativa e Fragmentada: o caso de So Paulo. So Paulo: Nobel,
Secretaria de Estado da Cultura. 1990. 117 p.
________O Lugar encontrando o Futuro. Conferncia de abertura do Encontro
Internacional: Lugar, Formao Scio-Espacial, Mundo. So Paulo, Anpege. Departamento
de Geografia USP. 1994.
________A Questo do Meio Ambiente: desafios para a construo de uma perspectiva
transdisciplinar. Anales de Geografia n. 15. Madrid: Universidade Complutense de Madrid,
1995. p. 695-705.
________Metamorfoses do Espao Habitado. So Paulo: Editora HUCITEC, 1996a. 126 p.
________O Retorno do Territrio in: SOUZA, M. A., SANTOS, M. e SILVEIRA, M. L.
Territrio: globalizao e fragmentao. So Paulo: ANPUR, Hucitec, 1996b.
________Pensando o Espao do Homem. So Paulo: HUCITEC, 1997a, 68 p.
________ Da Poltica dos Estados Poltica das Empresas, Belo Horizonte, Cadernos da
Escola do Legislativo, 3 (6): 3-191, jul./dez. 1997b.
________Espao e Mtodo. So Paulo: Nobel, 1997c. 88 p.
115
________Tcnica, espao e tempo. So Paulo: Hucitec, 1998. 190 p.
________A Natureza do Espao: razo e emoo. So Paulo: Hucitec, 1999a. 308 p.
________ O Territrio e o Saber Local: algumas categorias de anlise. Cadernos IPPUR,
Rio de J aneiro, Ano XIII, n. 2, 1999b. p. 15-26.
________ Por uma outra globalizao: do pensamento nico conscincia universal. Rio de
J aneiro, So Paulo: Editora Record, 2000. 174 p.
________O Espao do Cidado. So Paulo: Studio Nobel, 2002a. 142 p.
________O Pas Distorcido. So Paulo: Publifolha, 2002b. 221 p.
________ A Totalidade do Diabo: como as formas geogrficas difundem o capital e mudam
as estruturas sociais. In: Economia Espacial. So Paulo: EDUSP, 2003. p. 187-202.
________ O Retorno do Territrio. In: Da Totalidade ao Lugar. So Paulo: EDUSP, 2005.
p. 137-144.
SANTOS, Milton. et al. O Papel Ativo da Geografia: um manifesto. XII Encontro Nacional
de Gegrafos. Florianpolis, J ulho de 2000a. 15 p.
________ Territrio e sociedade: entrevista com Milton Santos. So Paulo: Editora
Fundao Perseu Abramo, 2000b. 127 p.
SANTOS, Milton; RIBEIRO, Ana Clara Torres. O conceito de regio concentrada.
Universidade Federal do Rio e J aneiro, IPPUR e Departamento de Geografia, mimeo., 1979.
SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: Territrio e sociedade no incio do
sculo XXI. Rio de J aneiro: Record, 2001. 473 p.
SARTRE, Jean Paul, Questo de Mtodo. So Paulo: Difuso Europia do Livro, 1966, 147 p.
SILVA, Ardemrio de. Sistemas de Informaes Geogrficas: conceitos e fundamentos.
Campinas: Editora da Unicamp, 1999. 236 p.
SILVA NETO, Manoel Lemes. A Questo regional Hoje: Reflexes a partir do caso paulista.
In: SOUZA, Maria. Adlia A. (org.). Territrio Brasileiro: usos e abusos. Campinas,
Edies Territorial, 2003. p. 355-379.
SILVEIRA, Maria Laura. Uma situao geogrfica: do mtodo metodologia. Territrio, n.
6, LAGET/UFRJ , Garamond, Rio de J aneiro, jan./jun. 1999, p. 21-28.
________ A Regio e a Inveno da Viabilidade do Territrio. In: SOUZA, Maria. Adlia A.
(org.). Territrio Brasileiro: usos e abusos. Campinas: Edies Territorial, 2003. p. 408-416.
SLOCUM, Terry A. Thematic Cartography and Visualization. Rio de Janeiro: Prentice-Hall
do Brasil, 1999. 293 p.
SOJCHER, Jacques. Le Dmarche Potique. Paris: UGE, 1976. 145 p.
116
SOLIDARIEDADE. In: Dicionrio Aurlio. Rio de J aneiro: Editora Nova Fronteira, 1995.
SOREL, Georges. Reflexes Sobre a Violncia. Petrpolis: Vozes, 1993. 287 p.
SORRE, Maximillien. Lhomme sur la terre. Paris: Corriger, 1961. 365 p.
SOUZA, Marcelo Lopes de. As Drogas e a Questo Urbana no Brasil. A dinmica scio-
espacial nas cidades brasileiras sob a influncia do trfico de drogas. In: CASTRO, I. E.,
GOMES, P.C.C. e CORRA, R. L., Brasil: questes atuais de reorganizao do territrio.
Rio de J aneiro: Bertrand Brasil, 1996.
SOUZA, Maria Adlia de (org.). Territrio: Globalizao e Fragmentao. So Paulo:
HUCITEC, 1994. 332 p.
________ Conexes Geogrficas: um Ensaio Metodolgico. Boletim Paulista de Geografia
n71, 1995. p. 113-128.
________ Pedagogia Cidad e Tecnologia da Informao: Um projeto piloto para a Periferia
Sul da Cidade de So Paulo. In: RIBEIRO, A. C. Repensando a Experincia Urbana da
Amrica Latina: Questes, Conceitos e Valores. CLACSO, Buenos Aires, 2000. Disponvel
em: <http://www.territorial.org.br/bibvirtual.html>. Acesso em 15 ago. 2005.
________ As Tecnologias da Informao e a Compreenso do Mundo do Presente: A
Geografia como finalidade e o Geoprocessamento como meio. Campinas: TERRITORIAL:
Instituto de Pesquisa, Informao e Planejamento, 2003. (mimeo).
________ Notas dos seminrios de orientao. Campinas, Sindicato dos Mdicos e So
Paulo, Departamento de Geografia FFLCH USP, 2005.
SUTHERLAND, Edwin. The Professional Thief: by a professional thief. Chigado: Phoenix
Books, 1965. 256 p.
TOZI, Fbio. As privatizaes e a viabilizao do territrio como recurso. Dissertao
(Mestrado em Geografia). Instituto de Geocincias, UNICAMP, Campinas, SP. 2005.
VIANA, Ana Luiza Dvila. Novos riscos, a cidade e a intersetorialidade das polticas
pblicas.Revista de Administrao Pblica, Rio de J aneiro, v.32, ano. 2, mar./abr. 1998.
YAZIGI, Eduardo. O Mundo das Caladas. So Paulo: Humanitas/FFLCH/USP; Imprensa
Oficial do Estado, 2000. 548 p.
ZANOTELLI, Cludio. Globalizao Estado e Culturas Criminosas. Terra Livre So Paulo,
ano 18, n.12, jan/jun. 2002. p.116-127.
________ Desterritorializao da Violncia no Capitalismo Globalitrio: o caso do Brasil e do
Esprito Santo. Terra Livre. So Paulo, ano19, n. 21, jul/dez. 2003. p. 225-240.
APNDICE
118
Apndice A Elaborao do Mapa de Crescimento da Mancha Urbana de Campinas e
Entorno.
Introduo
Uma das inmeras potencialidades do Sensoriamento Remoto est na possibilidade de
se acompanhar o crescimento daquilo que se costumou chamar por mancha urbana.
Obviamente, conforme pode ser visto nas consideraes do captulo 5, o que a imagem
consegue captar so apenas formas. Desta forma, importante destacar que o que estamos
chamando de mancha urbana no nos mostra necessariamente o que e o que no urbano
em um municpio, visto que este conceito se refere a algo mais complexo e que no se reduz a
algumas imagens. Porm, tal ferramental no deixa de ser interessante no planejamento
territorial, sendo que ele nos d inclusive algumas pistas do crescimento urbano de uma
regio.
Materiais
Para a elaborao deste mapa foram utilizadas uma cena do sensor MSS do satlite
Landsat 1 de 30/07/1973 (rbita 235, ponto 076) e trs cenas do sensor CCD do satlite
CBERS II, sendo uma de 27/07/2004 (rbita 154, ponto 126) e duas de 17/02/2005 (rbita
155, ponto 125 e rbita 155, ponto 126). Todas as cenas foram adquiridas gratuitamente junto
ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE atravs da pgina www.dgi.inpe.br.
Procedimentos
Para a elaborao do mapa da mancha urbana de 1973, o primeiro passo foi a
elaborao de uma composio colorida falsa-cor RGB-654, de tal forma que as reas
urbanizadas ficassem realadas.
Em seguida, a cena foi georreferenciada e cortada atravs de uma mscara contendo
Campinas e os municpios que com ela fazem fronteira. O resultado pode ser visto na imagem
abaixo:
119
Na seqncia, atravs de uma interpretao visual foram delimitadas as reas
consideradas urbanas. Vale destacar que a baixa resoluo espacial da imagem, com pixel de
80 m, dificultou substancialmente esta operao. Alm disso, devido ao fato dos
comportamentos espectrais serem semelhantes, algumas reas de solo exposto podem ter sido
confundidas com reas urbanizadas. Feitas as ressalvas, segue abaixo o resultado da
interpretao.
Dentro de um SIG foram sobrepostos imagem os limites dos municpios
89
e
elaborado o layout final:
89
Em 1973 Sumar e Hortolndia formavam ainda um nico municpio, sendo que a emancipao deste ltimo
se deu somente em 1991.
120
Para a imagem CBERSII foram seguidos praticamente os mesmos passos, exceto o
fato de que foi necessrio primeiramente elaborar um mosaico da rea a partir das trs cenas
adquiridas.
Abaixo, tem-se uma composio colorida falsa-cor RGB-432:
121
Neste caso, a interpretao e delimitao das reas urbanas foi facilitada pela melhor
resoluo espacial do CBERSII, em torno de 20m:
Gerou-se, ento, o mapa final com os limites e as manchas urbanas.
Por fim, foram extradas as manchas urbanas de 1973 e 2005, e ambas foram
sobrepostas e comparadas em ambiente SIG, conforme pode ser visto no mapa 3 pgina 94.
ANEXOS
123
Anexo A Denncias recebidas pelo Disque-Denncia de Campinas entre 01/01/04
e 31/07/04.
Assuntos
Denncias
Positivas
Resultados
Positivos
Trfico de drogas 890 343
Violncia contra criana 196 179
Indivduo procurado 94 63
Homicdio 89 51
Estelionato/Fraude/Falsificao 84 51
Crime contra adm. justia Fuga Rdio telefonia 58 44
Roubo/Furto de veculos 55 38
Abandono e desmanche de veculos 44 41
Crime contra sade pblica 37 37
Outros 32 28
Seqestro 28 11
Violncia contra idoso 25 18
Roubo/Furto em geral 25 15
Roubo/Furto a estabelecimento comercial 19 8
Porte ilegal de armas 17 16
Crime contra o patrimnio 17 11
Estupro/Atentado ao pudor 13 6
Roubo/Furto de cargas 11 9
Tentativa de homicdio 9 9
Extorso/Corrupo 8 7
Crime contra o meio ambiente 7 6
Crime contra liberdade sexual/Prostituio 5 5
Violncia contra mulher 5 5
Contrabando 5 4
Crime contra adm. Pblica/J ogos de azar 4 4
Roubo/Furto a residncia 4 4
Posse e uso de drogas 3 3
Crime praticado por funcionrio pblico 3 3
Crime contra o patrimnio pblico 2 2
Roubo/Furto a transeuntes 2 1
Depsito clandestino de combustvel 1 1
Total 1792 1023
O dique-denncia considera como positivas aquelas denncias que possuem uma
motivao verdadeira, sendo desconsiderados os trotes ou solicitaes que no
configuram denncias propriamente ditas. Pode haver, para um mesmo caso, mais de
uma denncia. Os resultados positivos so aqueles em que o problema relatado na
denncia tenha sido resolvido pela polcia.
124
Anexo B Cena do Documentrio Prisioneiro da Grade de Ferro (Auto-Retratos)
Essa pea aqui um motor de toca-fitas, ento eu ponho ela num cabo de escova, prendo, arrumo uma
caneta quilomtrica ponho o biquinho do isqueiro aqui, dentro. Isso aqui um araminho de caderno.
Com esse arame eu fixo a agulha. Ponho essa pea aqui que de caneta, carga de caneta tambm. E t
pronta pra funcionar! (PRISIONEIRO, 2003).
125
Of.089/2004
Campinas, 17 de setembro de 2.004
Ilmo. Sr.
Lucas de Melo Melgao
DD. Professor de Geografia Puccamp
CAMPINAS / SP
Assunto:informaes acerca da segurana privada
Prezado Sr,
Em considerao sua solicitao de colaborao, na
obteno de dados sobre o papel da segurana privada no combate
violncia, estamos enviando os dados disponveis conforme a suas
observaes:
1) Quanto ao crescimento do nmero de empresas de
segurana privada, somente o departamento de Policia Federal do Ministrio
da J ustia, dispe das estatsticas, uma vez que a autorizao de
funcionamento e o controle das empresas so da responsabilidade do DPF,
no havendo publicidade desses dados;
2) Quanto ao nmero de empresas existentes atualmente no
estado de So Paulo, de 410 empresas legalizadas, sendo que 138 delas
atuam na cidade de Campinas e regio da base territorial do Sindicato,
reunindo 30 municpios, a saber: Campinas, guas de Lindia, Americana,
Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Cosmpolis, Elias Fausto, Holambra,
Hortolndia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, J aguarina, Lindia, Louveira, Mogi-
Gua, Mogi-Mirim, Monte Alegre do Sul, Monte - Mor, Morungaba, Nova
Odessa, Paulnia, Pedreira, Santa Brbara D'Oeste, Santo Antonio de Posse,
Serra Negra, Sumar, Valinhos e Vinhedo.
3) Quanto ao nmero de funcionrios vigilantes portadores de
formao profissional, cerca de entre 95.000 100.000 trabalham no estado
de So Paulo e destes, entre 8.000 9.000 que trabalham nas 30 cidades que
compe a base territorial do Sindivigilncia Campinas;
4) No Brasil, existem 1.600 empresas legalizadas, estimando-se
existirem outras 4.500 clandestinas, que exercem a atividade de segurana
privada sem autorizao do Ministrio da J ustia, tendo envolvidos em sua
maioria policiais que trabalham no chamado bico, mesmo correndo riscos
de exonerao pelo Governo do Estado;
5) Quanto aos vigilantes no Brasil, seriam cerca de 350.000
empregados com carteira assinada em empresas especializadas em
segurana, que terceirizam a mo de obra de acordo com a lei federal e
outros 150.000 empregados na segurana orgnica, significando orgnica, a
segurana prestada em estabelecimentos de atividade econmica diversa,
126
que emprega pessoal prprio com formao em vigilncia, sem que possa
entretanto locar a mo de obra para terceiros;
6) Quanto s empresas clandestinas, utilizam cerca 600.000
homens sem registro em carteira em sua maioria absoluta e portanto de modo
desorganizado que fere o principio do direito, caracterizando crime contra a
organizao do trabalho;
7) O nmero de funcionrios ocupados na segurana privada
contratados pelas empresas legalizadas, foi reduzido nos ltimos 05 anos,
considerando que em 1998, existiram cerca de 146.000 no estado de So
Paulo, que entretanto contribuiu para o aumento da clandestinidade,
convindo ressaltar que no somente os que praticam a vigilncia clandestina,
mas tambm tomador dos servios, se constitui em agente potencial de crime
contra a organizao do trabalho, que pode ser considerado desobedincia
civil, para os quais o Ministrio do Trabalho e da Previdncia Social no tem
dado nenhuma resposta positiva sociedade brasileira, uma vez que no se
tem notado a reduo da clandestinidade, que muito pelo contrrio somente
tem crescido;
8) O papel preponderante da segurana privada, fica restrito
segurana interna de estabelecimentos bancrios, comerciais, industriais,
shopping centers, hiper e supermercados e todo seguimento da sociedade
organizada, sendo certo que os vigilantes formados de acordo com a lei,
dificilmente prevaricam no exerccio da funo, sendo raros os casos em que
o vigilante profissionalizado se envolve em atos criminosos;
9) Quanto a isso, a Secretaria da Segurana de So Paulo,
apesar de tratar o assunto com muita reserva, no tem conseguido segurar a
publicidade, dando conta de que para cada 10 agentes de segurana
mortos na vigilncia, 08 deles ou so policiais ou so clandestinos;
10) Destaca-se que o vigilante profissionalizado, possui curso
especializado de combate ao crime pela preveno, sendo inclusive portador
de uma carteira nacional de vigilante, que o habilita em todo o Brasil, cujo
documento foi elaborado a partir de 1999, no sentido de qualificar o vigilante
e ao mesmo tempo afastar do meio elementos condenados pela J ustia, com
o que conseguiu-se dar maior qualidade vigilncia, uma vez que a o
Departamento de Policia Federal, antes de conceder a CNV, rastreia a vida
pregressa do cidado e uma vez credenciado, o vigilante passa a fazer parte
integrante do cadastro nacional de segurana privada, ou seja, um vigilante
cadastrado em Campinas, figura no cadastro geral da Policia Federal em
todo o Brasil e assim reciprocamente em todo o territrio nacional;
11) Com relao ao crescimento das empresas em blindagens
de veculos de transporte de valores, VTV, existem poucas em funcionamento
no Brasil, dado que a tecnologia altamente cientifica e de custo
incomensurvel e alm do mais, as empresas so controladas pelo exrcito,
sendo certo que os veculos blindados fabricados no Brasil, esto entre os
melhores do mundo em qualidade, funcionando inclusive com alta tecnologia
agregada, embora externamente no parea;
12) Um dado interessante a destacar tambm, diz respeito ao
uso de armas pelos vigilantes legalizados, que pertencem s empresas de
segurana, por elas adquiridas e registradas, mediante autorizao do
Ministrio da J ustia e do Ministrio do Exrcito, sendo de um modo geral
razoavelmente controlada a compra de armas e munies pelas empresas;
127
13) Um outro componente tambm interessante, o uso de
colete a prova de balas, que para uso dos vigilantes necessita de autorizao
do Exrcito para a aquisio, os quais as empresas de segurana que os
fornece tambm adquirem somente se a qualidade for aprovada pelo
Exrcito;
14) Com relao violncia em Campinas e de um modo
geral nas grandes cidades, as estatsticas so controladas pelo aparato
policial e a comunidade fica restringida no conhecimento da realidade, que
divulgada apenas por estimativas e este um fator que contribui
grandemente para o aumento da violncia, uma vez que a comunidade de
um modo geral, no tem parmetros para que possa participar na preveno
de crimes;
15) Uma das suas referncias, diz respeito a endereo das
sedes das empresas de segurana e concomitantemente das ruas
patrulhadas por elas, pelo que lhe informamos, no podermos fornecer
endereos das empresas por questo legal, mas so elas encontradas
facilmente nas listas telefnicas e quanto s ruas que patrulham, podemos
afirmar que legalmente nenhuma, considerando que o papel da segurana
privada se restringe aos servios intramuros;
16) Outros dados interessantes da vigilncia privada, dizem
respeito aos vigilantes treinados por especializao para trabalhar na
segurana patrimonial, pessoal, transporte de valores, escolta armada,
segurana floresta, segurana condominial, segurana bancria, segurana
de eventos, preveno e combate a incndios, como vigilante bombeiro civil,
segurana eletrnica monitorada, etc,;
17) A diferena da segurana privada em relao
segurana pblica, dentre outras que a segurana privada tem um rgido
controle de qualidade pelas empresas, exercida sob rigoroso regimento
disciplinar dos vigilantes que so monitorados por agentes especializados em
superviso de servios e alm do mais, a empresa de segurana privada, tem
a parceria com o tomador do servio, que informa sobre o comportamento
funcional do vigilante e porisso a preparao dos homens periodicamente
reciclada, no sentido de manter o profissional atualizado nas suas atribuies,
destacando-se inclusive na segurana privada, considervel nmero de
vigilantes que falam mais de um idioma, com maior nfase do ingls e do
espanhol, especialmente aqueles que prestam servios empresrios e
executivos, como tambm em hotis de padro elevado, sendo ainda grande
parte dos vigilantes treinados no uso de informtica;
18) Alguns dados estatsticos disponibilizados, mostram que no
estado de So Paulo em 2003, foram gastos pelos tomadores dos servios,
cerca de 2, 4 bilhes e no Brasil 8,5 bilhes, gerando inclusive alm do
pagamento de salrios, recolhimento de encargos sociais vultosos, uma vez
que somente o custo salarial sofre a imposio de nada menos que 101% de
encargos e mais 11% de impostos;
19) Quanto s atividades econmicas em que empregam os
vigilantes, pode se destacar que 15% trabalham em bancos, 10% em rgos
pblicos, 48% nas indstrias, 10% em condomnios, 8% em estabelecimentos
comerciais, 5% em eventos de curta durao e 4% em outros seguimentos,
considerando deste universo, os vigilantes legalizados, empregados das
empresas tambm legalizadas;
128
C O N C L U I N D O:
O papel da segurana privada no combate ao crime, de
grande magnitude diante da organizao dos agentes criminosos, que no
medem conseqncias para os seus extintos na prtica de violncia contra a
pessoa e o patrimnio, considerando que a preparao do agente de
segurana e a inteligncia do homem, so as duas principais armas na
preveno de delitos, enquanto que a utilizao de equipamentos eletrnicos
na segurana, trata-se apenas de um coadjutor no combate ao crime,
servindo em tese para a identificao dos marginais pelas imagens gravadas,
nada mais que isso.
Considerando que a violncia urbana no respeita fronteiras,
diante do fracasso da organizao de segurana pblica de um modo geral,
no se pode menosprezar a enorme contribuio da segurana privada, que
afasta da consecuo de crimes contra o patrimnio e as pessoas, um grande
nmero de marginais, que ento se aventuram a praticar crimes nas ruas.
Do nosso ponto de vista, atribuir o aumento da violncia ao
crescimento populacional, no nos parece de tudo verdadeiro,
principalmente quando atribuda a populao pobre que no participa da
incluso social, que enquanto as elites se ocupam em culpa-las, as cabeas
inteligentes do crime organizado, permanecem impunes at porque a grande
arma das quadrilhas organizadas, est na conivncia do aparelho que os
devia reprimir, dando cabo das suas aes criminosas.
Arrematando enfim, que nas condies de operrios
conscientes do nosso papel na organizao dos trabalhadores, devemos
enxergar a violncia por primeiro, advinda da incapacidade dos polticos que
subtraem da classe trabalhadora grande parte dos salrios que ganham e das
indstrias e do comrcio, somas elevadas em impostos sem que retornem
populao em estruturas bsicas que garantam uma assistncia adequada
sade da famlia, a educao pela escolaridade pblica e o direito ao
trabalho pelo desenvolvimento da nao.
Acreditando estar prestando a colaborao que V.Sa nos
solicita, colocamo-nos disposio para outras informaes que se julgarem
necessrias.
Atenciosamente,
GEI ZO ARAJ O DE SOUZA
*****Presidente *****
Você também pode gostar
- Alberto Acosta PDFDocumento19 páginasAlberto Acosta PDFAlexandro RamosAinda não há avaliações
- 3699 8411 1 SMDocumento10 páginas3699 8411 1 SMju1976Ainda não há avaliações
- 5112 17666 1 PBDocumento17 páginas5112 17666 1 PBThiago SoaresAinda não há avaliações
- Edital - 01.2019 - PAPq - OFICIAL - 28.02.2019 1Documento14 páginasEdital - 01.2019 - PAPq - OFICIAL - 28.02.2019 1ju1976Ainda não há avaliações
- Optativas 2018-2Documento5 páginasOptativas 2018-2Thiago MarquesAinda não há avaliações
- REIFICAÇÃO Por AXEL HONNETHDocumento12 páginasREIFICAÇÃO Por AXEL HONNETHTiê FélixAinda não há avaliações
- EPTECTO. O Manual de EpictetoDocumento3 páginasEPTECTO. O Manual de Epictetoju1976Ainda não há avaliações
- 8660 24618 2 PBDocumento14 páginas8660 24618 2 PBIsabel JungkAinda não há avaliações
- Por Que SouriauDocumento14 páginasPor Que SouriauJoão CintraAinda não há avaliações
- 06 RESOLUÇÃO CONUN UEMG Nº 372 - 2017 de 05 - 10 - 2017 Atribuições de Encargo Ao ProfessorDocumento12 páginas06 RESOLUÇÃO CONUN UEMG Nº 372 - 2017 de 05 - 10 - 2017 Atribuições de Encargo Ao Professorju1976Ainda não há avaliações
- Alberto Munari - Jean PiagetDocumento156 páginasAlberto Munari - Jean PiagetPablo NunesAinda não há avaliações
- ATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Pensar Habermas para Além de Habermas PDFDocumento26 páginasATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Pensar Habermas para Além de Habermas PDFju1976Ainda não há avaliações
- Edital 2018 Final OkDocumento16 páginasEdital 2018 Final Okju1976Ainda não há avaliações
- 3744 14180 3 PBDocumento2 páginas3744 14180 3 PBju1976Ainda não há avaliações
- FRANCO. Diálogos Entre Walter Benjamin e Glauber Rocha: Uma Leitura Alegórica de Terra em Transe e o Mito Fundador Do BrasilDocumento13 páginasFRANCO. Diálogos Entre Walter Benjamin e Glauber Rocha: Uma Leitura Alegórica de Terra em Transe e o Mito Fundador Do Brasilju1976Ainda não há avaliações
- O Minotauro e Os Labirintos Contemporâneos : 1. Objectivo Deste EstudoDocumento19 páginasO Minotauro e Os Labirintos Contemporâneos : 1. Objectivo Deste Estudoju1976Ainda não há avaliações
- 1 BIANCHI O Que É Um Golpe de Estado PDFDocumento7 páginas1 BIANCHI O Que É Um Golpe de Estado PDFdanilopiermateiAinda não há avaliações
- Artigo Streeck Crises Capitalismo DemocrDocumento22 páginasArtigo Streeck Crises Capitalismo Democrb3578910Ainda não há avaliações
- D Grafico 1sem2018Documento2 páginasD Grafico 1sem2018ju1976Ainda não há avaliações
- Ementa Curso Golpe de 2016 Da UnBDocumento4 páginasEmenta Curso Golpe de 2016 Da UnBEXAME.com100% (1)
- 1 PB PDFDocumento8 páginas1 PB PDFju1976Ainda não há avaliações
- O Desenvolvimento Da Criança Cega - Maria Eduarda DiasDocumento54 páginasO Desenvolvimento Da Criança Cega - Maria Eduarda Diasju1976100% (1)
- Do Problema Geral Da Razão Pura: Relendo Kant HojeDocumento27 páginasDo Problema Geral Da Razão Pura: Relendo Kant Hojeju1976Ainda não há avaliações
- Artes Visuais 1sem2018 - Versao 8Documento1 páginaArtes Visuais 1sem2018 - Versao 8ju1976Ainda não há avaliações
- Desde o Século XIX Que "Intervenção Militar" É Prática Frequente No Brasil - Jornalistas LivresDocumento10 páginasDesde o Século XIX Que "Intervenção Militar" É Prática Frequente No Brasil - Jornalistas Livresju1976Ainda não há avaliações
- Redacao Cientifica DoutoradoDocumento3 páginasRedacao Cientifica Doutoradoju1976Ainda não há avaliações
- O Que Faz o Brasil Ter A Maior População de Domésticas Do Mundo - BBC BrasilDocumento8 páginasO Que Faz o Brasil Ter A Maior População de Domésticas Do Mundo - BBC Brasilju1976Ainda não há avaliações
- Peirce e PopperDocumento118 páginasPeirce e Popperju1976Ainda não há avaliações
- Escrita À Mão Ajuda A Fixar Mais Dados, Apontam Estudos - 08:07:2014 - Equilíbrio e Saúde - Folha de S.Paulo PDFDocumento4 páginasEscrita À Mão Ajuda A Fixar Mais Dados, Apontam Estudos - 08:07:2014 - Equilíbrio e Saúde - Folha de S.Paulo PDFju1976Ainda não há avaliações
- Peirce e PopperDocumento118 páginasPeirce e Popperju1976Ainda não há avaliações
- Politicas Publicas 2022Documento126 páginasPoliticas Publicas 2022Erik AlmeidaAinda não há avaliações
- Resenha O Conceito e A Tragédia Da CulturaDocumento3 páginasResenha O Conceito e A Tragédia Da CulturaGüstavö GündësAinda não há avaliações
- I. Abordagem Introdutória À Filosofia e Ao FilosofarDocumento21 páginasI. Abordagem Introdutória À Filosofia e Ao FilosofarJosé Leote PaixãoAinda não há avaliações
- Etnometodologia Pesquisa EducaçãoDocumento17 páginasEtnometodologia Pesquisa Educaçãobarbara GomesAinda não há avaliações
- Campos - R - A - FERRAMENTA - 5S - E - SUAS-with-cover-page-v2 (1) 5sDocumento13 páginasCampos - R - A - FERRAMENTA - 5S - E - SUAS-with-cover-page-v2 (1) 5sJoão GabrielAinda não há avaliações
- Querem Acabar Comigo Tito GuedesDocumento149 páginasQuerem Acabar Comigo Tito GuedesAryelleAinda não há avaliações
- Tese 12Documento268 páginasTese 12Lucas PauliAinda não há avaliações
- Livro de Prática e Pesquisa I Definitivo PDFDocumento111 páginasLivro de Prática e Pesquisa I Definitivo PDFBeatriz CoutinhoAinda não há avaliações
- Curso Princípios e Métodos Da Auto-Educacão - Aula 1Documento21 páginasCurso Princípios e Métodos Da Auto-Educacão - Aula 1Marcela SecchesAinda não há avaliações
- Apostila Historia 7 Ano 2 Bimestre2Documento46 páginasApostila Historia 7 Ano 2 Bimestre2Talita Ramone100% (1)
- Projeto de Vida - 2º AnoDocumento46 páginasProjeto de Vida - 2º AnoNayara DutraaAinda não há avaliações
- A JUSTIFICAÇÃO DO FORMALISMO JURÍDICO - TEXTOS EM DEBATE - SÉRIE DIREITO EM DEBATE - DDJ - 1 Edição PDFDocumento94 páginasA JUSTIFICAÇÃO DO FORMALISMO JURÍDICO - TEXTOS EM DEBATE - SÉRIE DIREITO EM DEBATE - DDJ - 1 Edição PDFMarcos Mat100% (2)
- Vainer Patria Empresa MercadoriaDocumento15 páginasVainer Patria Empresa MercadoriaEmmanuel Correa OliveiraAinda não há avaliações
- Ebook Ainda Existem Latifundios No BrasilDocumento291 páginasEbook Ainda Existem Latifundios No BrasilcartomapaAinda não há avaliações
- FundamentosGestaoEmpresarial Atividade02Documento3 páginasFundamentosGestaoEmpresarial Atividade02Italo Eduardo AntunesAinda não há avaliações
- Barbieri - A Origem Da Escola Pública No Século XIXDocumento15 páginasBarbieri - A Origem Da Escola Pública No Século XIXMarcos RohlingAinda não há avaliações
- 7998 29292 1 PBDocumento25 páginas7998 29292 1 PBSidney RuffinoAinda não há avaliações
- Ana Caetano para Uma Analise Sociologica Da ReflexividadeDocumento18 páginasAna Caetano para Uma Analise Sociologica Da ReflexividadeCelso MendesAinda não há avaliações
- Debate RessentimentoDocumento8 páginasDebate Ressentimentonoda.data.analysysAinda não há avaliações
- Pereira Mo Amarante P.patologizacaodofeminino FINALDocumento22 páginasPereira Mo Amarante P.patologizacaodofeminino FINALMila PimentelAinda não há avaliações
- MOURA, Arthur Hyppolito de - A Psicoterapia Institucional e o Clube Dos SaberesDocumento171 páginasMOURA, Arthur Hyppolito de - A Psicoterapia Institucional e o Clube Dos SaberesLilian Terra100% (1)
- Canto OrfeônicoDocumento183 páginasCanto OrfeônicoOtoniel ViannaAinda não há avaliações
- Mapa Mental - CTSDocumento1 páginaMapa Mental - CTSCarolayne MabelAinda não há avaliações
- Transexual - A Reinvenção Do Corpo Sexualidade e Gênero Na Experiência TransexualDocumento245 páginasTransexual - A Reinvenção Do Corpo Sexualidade e Gênero Na Experiência TransexualElionai Soares MunizAinda não há avaliações
- MEMORIAL SeverinoDocumento49 páginasMEMORIAL SeverinoAna Lúcia MoraesAinda não há avaliações
- Bioética e Avaliação Tecnológica em SaúdeDocumento11 páginasBioética e Avaliação Tecnológica em SaúdeagnaldoAinda não há avaliações
- Constant Nieuwenhuis - Nova BabilôniaDocumento12 páginasConstant Nieuwenhuis - Nova BabilôniaEclê GomesAinda não há avaliações
- Ciência e Biologia Na Educação Do Campo No Ceará - ApresentaçãoDocumento34 páginasCiência e Biologia Na Educação Do Campo No Ceará - ApresentaçãoMilena AiresAinda não há avaliações
- Casamento, Separação de Fato e Divórcio No BrasilDocumento114 páginasCasamento, Separação de Fato e Divórcio No Brasildeborabastoss3670Ainda não há avaliações
- Orientacoes Curriculares Ed Pre EscDocumento28 páginasOrientacoes Curriculares Ed Pre EscCarla CláudioAinda não há avaliações