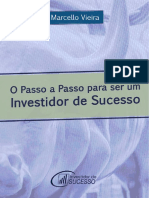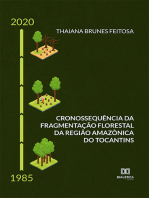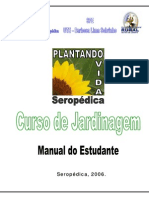Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Urbanização em Restingas
Enviado por
gilbrosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Urbanização em Restingas
Enviado por
gilbrosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
X Encontro Nacional da Anpur
Urbanizao em reas de restinga:
uma proposta de avaliao de sua
sustentabilidade
CRICHYNO, Jorge.
Professor Adjunto (Mestre em Cincias Ambientais) da Escola de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense
HOLZER, Werther.
Professor Adjunto (Doutor em Geografia Humana -USP) da Escola de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense
PIRES, Alice Cabanelas.
Aluna de Graduao do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFF, Bolsista PIBIC/CNPq
Palavras-chave
Planejamento Urbano e Ambiental; Avaliao Ps-Ocupao; Restinga.
Introduo
Este texto resultado de diversas pesquisas realizadas por seus autores: estudo das comunidades vegetais da APA de Maric para sua posterior utilizao
em projetos paisagsticos em reas litorneas (Crichyno, 1996); a compilao
de dados institucionais disponveis sobre a APA de Maric (Holzer, 1999); estudo dos conjuntos vegetacionais que compe a APA de Maric (Crichyno e
Holzer, 2000); e no estudo, em andamento, intitulado Avaliao PsOcupao da Urbanizao de Restingas: Impactos Ambientais de seu Parcelamento (Holzer e Crichyno, 2002).
A proposta, nesta pesquisa que ora realizamos, de avaliar o impacto
causado pelo parcelamento e a urbanizao sobre a vegetao de restinga,
utilizando-se da vegetao como marcador deste impacto. Nesta avaliao a
vegetao utilizada como marcador em um contexto de Avaliao PsOcupaco (APO). Para isso selecionamos trs reas de restinga do Estado do
Rio de Janeiro, uma das quais, a rea da Restinga de Maric, situada no municpio do mesmo nome, ser objeto deste texto.
A Restinga de Maric era inteiramente coberta por vegetao de restinga,
mas hoje est totalmente urbanizada, com exceo da rea da APA de Maric,
e devido ao adensamento da ocupao humana se encontra em diversos estgios de degradao. O stio limtrofe a uma unidade de conservao, a rea
de Proteo Ambiental Estadual da Restinga de Maric, que j citamos, o que
permite a utilizao do que ainda est relativamente preservado como marcador para a anlise das reas urbanizadas.
A pesquisa tem como meta aferir o potencial paisagstico dos conjuntos
vegetacionais e propor solues de projeto e desenho urbano e ambiental que
permitam a explorao auto-sustentvel do ecoturismo e das atividades comerciais, de servio e residenciais de reas de restinga, ou seja, de propiciar
solues urbansticas e paisagsticas que tenham a maior fidelidade possvel
com a paisagem natural, propiciando um equilbrio entre as espcies vegetais
a serem utilizadas, e permitindo que sirvam de suporte fauna nativa.
ST3, 2
Novas escalas e estratgias territoriais na gesto ambiental
X Encontro Nacional da Anpur
Processo de urbanizao e impactos ambientais
sobre a vegetao
Cerca de 65% da costa brasileira ocupada por ecossistemas de restinga. Esses sistemas, na interface entre os ambientes marinho e continental, so naturalmente frgeis. Estas zonas costeiras so afetadas por processos naturais
resultantes da ao elica, marinha e da drenagem fluvial.
No Estado do Rio de Janeiro as zonas costeiras se de seqncias sedimentares regressivas e transgressivas associadas s variaes do nvel do
mar durante o quaternrio e ao aporte sedimentar do litoral, principalmente
de origem fluvial. As feies morfolgicas do ecossistema de restinga ao
longo do litoral fluminense so representadas por cristas de praias e sistemas de restingas, ou seja, a formao geolgica est intimamente associada
vegetao.
Figura 1: Perfil esquemtico da rea de restinga
As restingas, por sua localizao, tornaram-se, nos ltimos cinqenta
anos, um dos ambientes naturais mais visados e explorados pelo turismo e
atividades de lazer, e tambm pela urbanizao que se beneficia de seus aspectos estticos e locacionais.
Como ecossistema litorneo, a restinga foi dos primeiros ambientes
a sofrer interveno dos europeus (Dean, 1996). Sua utilizao remonta
pr-histria brasileira, como testemunham os vestgios arqueolgicos
encontrados em todo o litoral brasileiro, entre eles a nossa rea de estudo, e os relatos dos primeiros viajantes que tocaram o nosso litoral (Staden, Lry, Anchieta, p. ex.).
A ocupao do litoral pelos europeus iniciou um ciclo de explorao mais
intensivo dos recursos naturais da faixa litornea, levando ao corte de madeira
para diversos fins, e a utilizao do solo para fins agrcolas, e no caso das restingas onde o solo pobre, para fins de pecuria.
Recentemente a faixa de restingas em Maric passou por um processo de
degradao mais intensa devido explorao de areia e de turfa, a circulao
de veculos off road, a retirada de espcies vegetais, deposio de lixo, e de
modo radical pelo parcelamento e edificaes. A atividade humana desestabili-
ST3, 2
Novas escalas e estratgias territoriais na gesto ambiental
X Encontro Nacional da Anpur
za progressivamente os componentes biolgicos e paisagstico-ambientais,
com a conseqente degradao decorrente dos impactos da expanso urbana.
A diminuio e estabilizao dos efeitos da degradao do ecossistema
de restingas aponta para a necessidade de estudos voltados para um processo de gesto e de planejamento que considere os fatores ecolgicos, paisagsticos e tursticos, conciliando-os com os princpios de conservao e de
sustentabilidade.
A urbanizao a forma de interveno humana aquela cujos efeitos so
mais destrutivos, provocando a eliminao completa do ecossistema e no
somente sua degradao. Na implantao de loteamentos, prtica rotineira a
eliminao total da vegetao para sua delimitao e urbanizao, processo
que se completa quando as unidades so implantadas. O posterior ajardinamento do local, quando feito, costuma apelar para plantas exticas, mais
disponveis no mercado.
A eliminao das restingas pode resultar na diminuio do valor econmico do empreendimento imobilirio, pois a ausncia de vegetao causa desestabilizao do solo (essencialmente arenoso), provocando bloqueio de estradas, invaso das habitaes por areia, alm de assoreamento e obstruo
de lagoas e cursos dgua processo que pode ser observado em toda a sua
magnitude em Itaunas ES. Tambm as construes beira-mar ficam diretamente expostas ao vento e maresia, e em alguns casos ao direta das
mars como na rea de pesquisa a que se refere este texto . A cobertura
vegetal, por outro lado, contribui para manter a permeabilidade do solo,
permitindo a alimentao dos lenis freticos, garantindo a estabilidade
em seu nvel e, consequentemente, garantindo o fornecimento de gua
potvel na regio.
Atualmente, em todo o litoral
brasileiro, a vegetao de restinga est
reduzida, e confinada, a manchas remanescentes algumas das quais
esto sendo utilizadas em nossa pesquisa como marcador para a avaliao
ps-ocupao das reas urbanizadas.
Estas manchas de vegetao ainda se
constituem em ambientes bastante diversificados, que merecem ser preserFoto 1: Destruio da orla de Maric em 07/05/2000. Werther Holzer
vados e recuperados. Onde j esto
parcelados, mas com baixa taxa de
ocupao, ou glebas extensas altamente ameaados pela expanso urbana voltada para a especulao imobiliria, acreditamos ser possvel um desenho do
parcelamento que concilie a ocupao com a preservao.
A urbanizao fragmenta o ecossistema com a formao de manchas
verdes de diferentes formas, tamanhos e graus de isolamento. Estudos cientficos (Andrade, 1967), demonstram que h uma correlao comparativa refeST3, 2
Novas escalas e estratgias territoriais na gesto ambiental
X Encontro Nacional da Anpur
rente ao aumento do tamanho das ilhas de vegetao, que est relacionado a
uma maior variabilidade de ambientes e a quantidade de recursos em seu interior, o que diminui a probabilidade de extino das espcies.
A Teoria de Ilhas, baseia-se na constatao de que o isolamento da ilha
(ou mancha verde) determina a taxa de colonizao da mesma, ou seja, ilhas de
vegetao mais prximas da fonte de espcies so mais facilmente colonizadas
por novas espcies, aumentando sua diversidade, ou so mais facilmente recolonizadas pelas espcies que sofreram eventual extino no local da ilha.
A forma da mancha, segundo Goldstein (1981), mais importante no
caso das manchas pequenas (onde a relao permetro/rea maior). Assim,
quanto maior o permetro em relao rea, maior tambm ser o contato da
mancha com o ambiente urbano e poucas espcies sobrevivem nestas condies. Uma relao menor permetro/rea implica numa grande extenso interna da mancha verde (ilha) com condies mais naturais, o que permite a manuteno da diversidade de espcies original da mancha. A forma circular a
que minimiza esta relao permetro rea, so propostos outros desenhos
formais, como por exemplo formas hexagoniais, onde os lotes seriam fatias
triangulares do hexgono. Estas formas so parmetros para nossa pesquisa.
Goldstein (1981) verificou que a tendncia histrica da urbanizao de dividir os parcelamentos em lotes retangulares faz com que as manchas de vegetao eventualmente preservadas sejam pequenas e sujeitas interveno humana. Este o caso clssico do desenho de parcelamento da restinga em nosso
litoral: lotes retangulares, 12X30 m, ou 15X30 m, constituindo-se em quadras
retangulares com mdia de 6 lotes voltados para a praia; nestes casos as vias de
circulao no consideram as particularidades geolgicas do terreno.
Blouin e Connor (1985), discutem a possibilidade do sistema de manchas
circulares, ou com formas equivalentes, apresentar falhas, argumentando que
ele no permitiria a manuteno do gradiente ambiental perpendicular praia,
alm de no considerar comportamentos culturais como o de cercar ou murar
os lotes, que causariam a fragmentao da mancha verde e uma grande interveno no centro da mesma, local de encontro das cercas.
Anlise urbanstica da APA de Maric
A rea em questo constituda por extenso cordo litorneo, com cerca de
20 km de extenso, caracterizado geolgicamente e em termos de vegetao
como uma formao de restinga. Esta caracterizao indica um sistema geolgico precrio, que se no estivesse associado vegetao, que fixa seu solo
arenoso, poderia ser facilmente destrudo pela violncia do mar. Este o motivo
que recomenda um estudo aprofundado e judicioso de qualquer interveno
humana, em especial a urbanizao.
ST3, 2
Novas escalas e estratgias territoriais na gesto ambiental
X Encontro Nacional da Anpur
Foto 2: rea de Proteo Ambiental de Maric. Werther Holzer
A rea de Proteo Ambiental de Maric, criada em 1984, a mais antiga
APA sob administrao estadual, sendo gerenciada pela FEEMA, rgo de fiscalizao ambiental do Estado. A rea protegida abrange 496 hectares de vegetao de restinga, numa estreita faixa que se estende no sentido lesteoeste, espremendo-se entre o Oceano Atlntico e a Laguna de Maric, no sentido sul-norte (SEMAM/IEF, 1994).
A colonizao da rea antiga, datando do sculo XVI, mas as condies
da costa, imprprias para se aportar, e do solo, arenoso na restinga, impeliram a ocupao para o interior, na orla entre as lagunas e a serra, onde se
implantou a Vila de Maric, circundada por prsperos engenhos de acar e de
aguardente. No entanto a pesca era sua atividade mais importante, sendo a
colnia do Zacarias, situada na APA, responsvel, em 1940, por um tero da
produo pesqueira do Estado (Lamego, 1974).
A Expanso urbana recente, mas a quase totalidade da restinga j estava loteada na dcada de oitenta, quando as atividade tradicionais do municpio, inclusive a pesca j haviam entrado em decadncia. Os anos noventa
marcam uma expanso, e especulao, imobiliria intensiva, quando o municpio mais que dobrou sua populao de residentes.
Atualmente a APA de Maric a nica rea de restinga relativamente
preservada no litoral que se estende de Niteri at Saquarema (cerca de 150
km de costa), mas um local pouco freqentado por moradores e turistas. A
rea tornou-se um gigantesco local de despejo. Junte-se a isso o roubo de
areia, que compromete a prpria estabilidade da restinga, e a retirada indiscriminada de espcies vegetais que so vendidas clandestinamente, alm das
queimadas promovidas por motivos fteis.
O Plano Diretor de Maric, realizado pela FUNDREM em 1979, no se descuida destes aspectos alertando para os impactos negativos que determinados
empreendimentos poderiam ter para o ecossistema local, fragilizando-o, seno
destruindo-o por completo.
ST3, 2
Novas escalas e estratgias territoriais na gesto ambiental
X Encontro Nacional da Anpur
Dos objetivos que orientavam o Plano Diretor deve ser destacado o da
preservao de reas com valor paisagstico, especialmente a restinga e suas praias. Para atingir estes objetivos o Plano Diretor propunha coibir a ocupao das dunas e praias da restinga de modo a manter a vegetao existente e
as caractersticas especiais da rea; alm de obstar a construo de estradas
ao longo da restinga, restringindo a circulao via j existente.
Segundo o Plano Diretor a Zona Especial da Restinga, deveria ser objeto de um plano urbanstico detalhado, que lamentavelmente no foi implantado. Dentre as proposies do Plano Diretor para que fossem atingidos os
objetivos propostos estava a de nmero 9, que determinava o estabelecimento
... de condicionantes ambientais para a ocupao das orlas martima e lacustre, de modo a orientar a urbanizao destas reas..
Implementado o Plano Diretor, que foi aprovado em dezembro de 1983,
algumas medidas iniciais que aparentemente salvaguardavam a restinga e
orla martima foram adotadas: est determinado que na orla martima deve
ser respeitada faixa estabelecida pela Regulamentao Urbanstica, alm das
disposies existentes no Cdigo Florestal e demais legislaes aplicveis
ser considerada como ZNAM (Zona Non-Aedificandi Martima) a faixa de 50
metros ao longo do mar a partir da linha mdia da mar., no entanto a praia
ocupa habitualmente uma faixa bem maior sem qualquer cobertura vegetal;
determina, tambm, que
os projetos de urbanizao na rea da restinga devero respeitar a vegetao nativa e as dunas cujas caractersticas de excepcional beleza e raridade
evidenciam a necessidade de sua preservao.,
permite no entanto o parcelamento da rea em lotes mnimos de 360 m2, que
apesar da taxa relativamente baixa de ocupao proposta (40%), no suficiente para garantir a manuteno da vegetao nativa.
Podemos ver que tanto o Plano Diretor quanto o PDU consideravam a fragilidade do ecossistema da restinga e ofereciam alguns mecanismos para a sua
preservao. No entanto nesta ZNAM, por exemplo, foram implantados quiosques, e inclusive residncias, destrudos por um ciclone de maio de 2001 Os
quiosques foram implantados sobre, ou antes, da primeira faixa de vegetao
de restinga, a que fixa o solo arenoso e o protege no embate com as mars,
sobre uma rua projetada, ainda que invivel de ser implantada, que se configurava como rea Non-Aedificandi. Eis o motivo de sua destruio.
Foto 3: Destruio em 07/05/2000.. Werther Holzer
ST3, 2
Novas escalas e estratgias territoriais na gesto ambiental
X Encontro Nacional da Anpur
Avaliao preliminar dos impactos
da urbanizao sobre a vegetao
A destruio das formaes vegetais da restinga de Maric tem levado rarefao das espcies nativas, que atualmente s podem ser encontradas em
manchas isoladas espalhadas pela rea urbanizada, mas pouco edificada (entre 10% e 20 % do total), ou na APA.
A fisionomia da componente vegetal da restinga compreendendo espcies
nativas, revela um potencial, representado pelas espcies de valor ornamental,
com vistas preservao ambiental e utilizao no planejamento paisagstico
de reas litorneas.
No que concerne ao potencial paisagstico da restinga de Maric, no contexto da fisionomia da paisagem natural litornea, a vegetao se apresenta
como uma sucesso de mosaicos variados, formados de jardins naturais,
resultantes de um processo ecolgico de fixao e distribuio de diversas espcies nativas.
A organizao desses diversos mosaicos de cunho ecolgico e paisagstico determina, de certo modo, a composio de diferentes tipologias de jardins, nas quais so encontradas de muitas a poucas espcies reunidas, atravs
de um processo de associao biolgica ambiente/fauna/flora.
A presena de um determinado elemento vegetal (espcie), em torno do
qual se associam e se renem outras espcies, que mantm graus de dependncia ou no, torna possvel esse estabelecimento interativo com o ambiente
local em razo de diversos fatores, tais como: suporte, solo, ventilao, insolao, biomassa vegetal, concorrncia espacial, etc.
Na formao inicial desses jardins naturais, observa-se que h sempre
um elemento vegetal colonizador, capaz de interferir no futuro desenvolvimento desses jardins, existindo como componente vegetal dominante ou cedendo lugar ao estabelecimento de outras espcies em uma escala de desenvolvimento e de sucesso natural.
Para que se considere o potencial paisagstico de uma espcie, deve-se
levar em conta as funes e caractersticas que ela desempenha na paisagem
natural, nas diferentes zonas ou faixas do cordo arenoso da restinga: anteduna, duna, ps-duna, depresses e terrenos mais elevados.
No processo de formao dos jardins naturais da APA de Maric, estas
funes e caractersticas so importante para a fisionomia dos conjuntos vegetacionais, de modo que cada elemento contribua para a visualizao do todo
e das partes, realando os atributos paisagsticos em termos de forma, cor,
textura, ritmo, volumetria, interao ecolgica, entre outros.
A partir da anlise da fisionomia dos conjuntos vegetacionais, podem ser
percebidos cinco nveis, ou extratos, na composio dos jardins naturais: 1- O
revestimento do material arenoso em aclive suave e em reas planas; 2 - O revestimento de material orgnico e argilo-siltoso abrangendo o extrato vegetal de
gramneas e herbceas; 3 o revestimento vegetal do extrato arbustivo baixo; 4
ST3, 2
Novas escalas e estratgias territoriais na gesto ambiental
X Encontro Nacional da Anpur
o revestimento vegetal do extrato arbustivo alto, trepadeiras e epfitas; 5 o
revestimento arbreo estabelecendo massa de vegetao compacta.
Em funo desses nveis ou extratos formadores dos conjuntos vegetacionais, foram identificadas cinco tipologias de jardins naturais, a saber:
Tipologia de revestimento apresenta vegetao de porte rasteiro formado pelo solo arenoso e de gramneas ou porte relvado, sujeitas ao da
salinidade, vento e insolao, e dependendo da localizao, sujeita ao efeito
das mars altas.. Colonizam os primeiros metros de substrato, raramente observadas fora da rea de influncia das mars. A partir dos 25 metros para o
interior da restinga ocorrem outras espcies.
Foto 4: Jardins Naturais (Tipologia de Revestimento). Werther Holzer
Tipologia de porte herbceo apresenta vegetao formada por espcies
pioneira (bromlias, gramneas e cactos) que possibilitam fixar nutrientes e
meio propcio ao desenvolvimento de outras espcies no solo arenoso das
ante-dunas, constituindo os primeiros arranjos vegetacionais.
Foto 5: Jardins Naturais (Tipologia de Herbceas). Werther Holzer
ST3, 2
Novas escalas e estratgias territoriais na gesto ambiental
X Encontro Nacional da Anpur
Tipologia de porte herbceo e arbustivo apresenta vegetao formada por espcies de herbceas da faixa anterior e arbustos baixos, com
ramos rentes ao solo aps o cordo de dunas, possuindo altura varivel
de 1 a 3 metros.
Foto 6: Jardins Naturais (Tipologia de Arbustivas Baixas). Werther Holzer
Tipologia de porte arbustivo/trepadeiras apresenta vegetao caracterizada por grandes espaos livres de revestimento arenoso alternado com aglomerados de manchas de vegetao jardins naturais (herbceas, arbustos,
trepadeiras e epfitas). Nessas formaes de 3 a 6 metros de dimetro varivel, em algumas reas que apresentam depresses prximas ao lenol fratico, ocorrem espcies higrfilas reunidas em pequenos bolses e alagados,
alm de outras importantes espcies.
Foto 7: Jardins Naturais (Tipologia de Arbustivas Altas). Werther Holzer
ST3, 2
Novas escalas e estratgias territoriais na gesto ambiental
X Encontro Nacional da Anpur
| 10
Tipologia de porte arbreo apresenta vegetao predominantemente
arbrea de 6 a 10 metros, que ocorrem em terreno mais elevado que os anteriores (mata de restinga).
Foto 8: Jardins Naturais (Tipologia de Arbreas). Werther Holzer
No caso da restinga a anlise dos diferentes nveis de degradao da vegetao pode ser um indicador preciso de como se percebe e se manejam os
recursos naturais disponveis, indicando que as opes atuais de traado virio
e de formato dos lotes e quadras impedem a efetiva preservao dos recursos,
alterando os nveis de tolerncia scio-ambiental das comunidades locais.
Concluso
Diante do quadro de degradao da paisagem litornea, dos impactos scioambientais desencadeados pela intensa urbanizao pouco ou nada planejada,
os ecossistemas litorneos, como outros, vem sendo destrudos e substitudos
por outros indicadores ambientais.
Dentre estes, a vegetao constitui elemento fundamental na aferio e
avaliao dos efeitos da ocupao urbana, e at como marcador da apropriao econmica, social e ambiental que se faz da paisagem. Desvelados os entrelaamentos, no mbito da preservao e do planejamento ambiental, e a
lgica dos interesses econmicos determinantes das aes dos proprietrios de
terra e dos incorporadores imobilirios e da inrcia das polticas pblicas (face
amplitude da legislao ambiental), possvel pensar que todos esses
fatores so determinantes na reconfigurao das paisagens que compe
a restinga limtrofe rea de Proteo Ambiental, que objeto de nosso
estudo.
O processo de urbanizao clssico, principalmente destinado a abrigar
complexos tursticos, industriais e habitacionais, tem causado grandes devastaes nos mais diversos ecossistemas. Mesmo que parte de suas reas sejam
mantidas intactas, as reas devastadas (devido ao nosso conhecimento ainda
incompleto da amplitude das interaes ambientais, e a fartura de espcies
ST3, 2
Novas escalas e estratgias territoriais na gesto ambiental
X Encontro Nacional da Anpur
| 11
endmicas) perdem muito de sua riqueza biolgica e de seu equilbrio ambiental e, portanto, seu potencial produtivo.
As restingas, enquanto ecossistema tpico da zona costeira, se encontram
totalmente contidas em terras continentais, possuindo grande importncia para a
estabilidade do meio marinho. A vegetao existente prpria e tem papel fundamental na fixao dos substratos (dunas mveis de areias) em relao a tempestades e ventos, ainda mais nesses tempos de aquecimento global, sobre o
qual se tem pouca informao precisa mas que pode ter um impacto enorme em
toda a rea costeira. A vegetao possibilita a subsistncia de uma diversidade
de espcies animais que tem nas matas das dunas um habitat especfico (Clark,
1985). A sua eliminao aumenta a velocidade de expanso das dunas (Coutinho, s.d) criando problemas ambientais imediatos ao seu entorno, com a ocupao e o soterramento de reas significativas pelas areias impulsionadas pelos
ventos (Secretaria de Planejamento/IDEC, 1989), trazendo conseqncias no
custo de equipamentos para a sua remoo, alm de problemas de segurana
nas estradas e na consolidao de reas habitacionais.
As dunas possuem um alto valor para as comunidades, tanto pelo seu
carter paisagstico como ambiental, devido s excepcionais qualidades
cnicas, biolgicas e edafolgicas. Entretanto, mostram-se especialmente sensveis a qualquer forma de assentamento humano que desestabilize sua estrutura por completo. Esta desestabilizao ocorre quando da retirada de vegetao e areia, alm da filtragem de seus aqferos.
De modo geral, as restingas justamente pelo fato de ocorrerem sobre
terrenos planos do litoral, nelas acontecem as maiores exploraes pelas mais
diversas formas de assentamento humano, com destaque para a urbanizao
desenfreada. Estes fatos justificam um cuidado especial do ponto de vista paisagstico e scio-ambiental em termos morfolgicos, estticos, culturais e econmicos, sendo considerados os remanescentes de vegetao como simples
mato por todos que nela constrem.
A sua vegetao no possui o porte e nem o totem cultural em que se
converteu a Mata Atlntica. Paradoxalmente, a erradicao intensiva da vegetao de restinga a transforma em ambiente raro, isto , excepcional. Tal situao torna, de imediato, esses ecossistemas paisagisticamente interessantes
(como j o so em termos ambientais), na medida em que abrigam formas
especiais de associao entre flora e fauna de ecossistemas diversos.
Diante desse quadro, a vegetao como possvel marcador referencial no
processo de preservao ou de degradao paisagstica, aponta para a questo
de parmetros comparativos de ps-ocupao da urbanizao no estudo de
reas de restinga. Nesse sentido, cabem algumas questes que conduzem a
um conjunto de reflexes que podem ser chamados de temticas:
Frente ao processo de expanso urbana e a necessidade de um planejamento scio-ambiental da paisagem litornea, qual o papel das reas
de Proteo Ambiental de restinga em termos da preservao e manejo
de sua vegetao?
ST3, 2
Novas escalas e estratgias territoriais na gesto ambiental
X Encontro Nacional da Anpur
| 12
Quais os segmentos significativos que podem ser inseridos nos modelos
de planejamento paisagstico ambiental, destinados preservao permanente de modo que a populao tenha assegurada a efetiva implementao de um gerenciamento costeiro dos recursos naturais?
De que forma seriam privilegiados pelo planejamento urbano os loteamentos e assentamentos humanos que conservassem partes significativas de vegetao de restinga, de modo contnuo e sucessivo, vinculando-as implementao de projetos de desenvolvimento autosustentveis?
Quais as novas concepes e padres de parcelamento do solo urbano
geradas no contexto de um planejamento paisagstico-ambiental?
De que modo a vegetao pode configurar-se como marcador de uma
avaliao ps-ocupao na urbanizao de restinga?
A proposta temtica principal j aponta para possveis desdobramentos
deste trabalho, ampliando-o para um quadro urbano mais geral, a partir da
avaliao dos conjuntos vegetacionais de restinga e medidas de conservao e
de planejamento que permitam estabelecer parmetros de anlise comparativa, orientando novos padres de ocupao ordenada dos ecossistemas de restinga, relacionando-os com a gesto auto-sustentvel da urbanizao em reas litorneas.
Referncias Bibliogrficas
ANDRADE, M. A. B. A Baixada Santista: Aspectos Geogrficos. So Paulo, EDUSP, 1967.
BLOUIN, M.; CONNOR, E. S. Is there a best shape for nature reserve?. Biol. Conserv., (32): 277-288,
1985.
CLARK, J. R. Coastal Ecosystems Management: A Technical Manual for the Conservation of Coastal Tones
Resources. New York, John Wiley, 1977.
COUTINHO, Leopoldo Magno. Mata Costeira, Restinga e Mangue. So Paulo, ABAP, s.d. (apostila)
CRICHYNO, Jorge. Uso potencial da vegetao de restinga (Maric - RJ): critrio para seleo de espcies
em projetos de paisagismo.In: Anais Do II Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de
Arquitetura e Urbanismo no Brasil. So Paulo, UNIMARCO, 1996. p. 131 - 144.
CRICHYNO, Jorge; HOLZER, Werther. rea de proteo ambiental: potencial paisagstico-ambiental da
vegetao aplicada ao paisagismo. In: Anais do V Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de
Arquitetura e Urbanismo no Brasil. So Paulo, Semiotic Systems, 2000 (CD-ROM)
DEAN, Warren. A Ferro e a Fogo: A Histria e a Devastao da Mata Atlntica Brasileira. So Paulo,
Companhia das Letras, 1996.
GOLDSTEIN, E. L. Exploration in birdland geometry. Urban Ecology. (5): 113-124, 1981.
HOLZER, Werther. Diagnstico e Propostas de Projeto Urbano e Paisagstico para a rea de Proteo
Ambiental de Maric RJ. Projeto de Pesquisa. Niteri, UFF/PROPP/TUR, 1999.
LAMEGO, Alberto. O Homem e a Restinga. Rio de Janeiro, Ed. Lidador, 1974. 2 ed.
RIO GRANDE DO NORTE (ESTADO). Secretaria de Planejamento/IDEC. Plano de Manejo do Parque das
Dunas de Natal. Natal, IDEC, 1989.
SEMAM/IEF. Reserva da Biosfera da Mata Atlntica. Rio de Janeiro, SEMAM/IEF, 1994.
ST3, 2
Novas escalas e estratgias territoriais na gesto ambiental
Você também pode gostar
- O Investidor de Sucesso - Marcello VieiraDocumento34 páginasO Investidor de Sucesso - Marcello VieiraeliasdocarmolimaAinda não há avaliações
- Ecovila UrbanaDocumento14 páginasEcovila UrbanaCatarine GuimaraesAinda não há avaliações
- Herbáceas HerryDocumento40 páginasHerbáceas HerryBel TemponiAinda não há avaliações
- Guia CompostagemDocumento16 páginasGuia CompostagemgilbrosAinda não há avaliações
- Patologias Do ConcretoDocumento13 páginasPatologias Do ConcretoAdair da Rosa100% (1)
- Tutela jurídica do solo: avaliação do Novo Código Florestal: as Áreas de Preservação Permanente APPs e a conservação da qualidade do solo e da água superficialNo EverandTutela jurídica do solo: avaliação do Novo Código Florestal: as Áreas de Preservação Permanente APPs e a conservação da qualidade do solo e da água superficialAinda não há avaliações
- O TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA: Suas Atribuições e Competências No Mundo Do Trabalho.Documento38 páginasO TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA: Suas Atribuições e Competências No Mundo Do Trabalho.Abrahão Ferreira100% (2)
- 1 - Fundamentos Didáticos e Metodologia Do Ensino de Matemática PDFDocumento198 páginas1 - Fundamentos Didáticos e Metodologia Do Ensino de Matemática PDFdanieleAinda não há avaliações
- Fisiologia e Manejo de Gramíneas Forrageiras TropicaisDocumento26 páginasFisiologia e Manejo de Gramíneas Forrageiras TropicaisNewton de Lucena Costa100% (1)
- PPP EscolaQuilombolaDocumento113 páginasPPP EscolaQuilombolaDiogo Ramos100% (1)
- Slides - Economia e Política de Saúde - CópiaDocumento105 páginasSlides - Economia e Política de Saúde - CópiaAlexandra100% (1)
- METODO IAN MCHARG CampecheDocumento15 páginasMETODO IAN MCHARG CampecheAnderson HenriqueAinda não há avaliações
- Litoral e Seus EcossistemasDocumento82 páginasLitoral e Seus EcossistemasCarla Oliveira FariasAinda não há avaliações
- A Paisagem Da BordaDocumento20 páginasA Paisagem Da BordaTayane AraujoAinda não há avaliações
- Rios e Paisagem Urbana em Cidades BrasileirasDocumento31 páginasRios e Paisagem Urbana em Cidades BrasileiraspatriciattakAinda não há avaliações
- Mata Ciliar Importancia e FuncionamentoDocumento3 páginasMata Ciliar Importancia e FuncionamentoAntonio MarcosAinda não há avaliações
- Anais Xiv Enepea - St2Documento971 páginasAnais Xiv Enepea - St2Pedro Igor Galvão GomesAinda não há avaliações
- Norma Pignataro Emerenciano BuenoDocumento15 páginasNorma Pignataro Emerenciano BuenoFabianestavaresAinda não há avaliações
- Classificacao SupervisionadaDocumento12 páginasClassificacao SupervisionadaKaren FernandesAinda não há avaliações
- Trabalho Completo Ev154 MD1 Sa120 Id373327092021153645Documento14 páginasTrabalho Completo Ev154 MD1 Sa120 Id373327092021153645Aline BertoAinda não há avaliações
- Trabalho Ev133 MD4 Sa47 Id823 07112019113541Documento10 páginasTrabalho Ev133 MD4 Sa47 Id823 07112019113541Juliana Santedicola AndradeAinda não há avaliações
- Os Valores Naturais Das Unidades de Conservação Do RecifeDocumento25 páginasOs Valores Naturais Das Unidades de Conservação Do RecifeCésar Oliveira0% (1)
- Banhados PDFDocumento13 páginasBanhados PDFsanberteiAinda não há avaliações
- Programa Pró-Ciências - Áreas VerdesDocumento9 páginasPrograma Pró-Ciências - Áreas VerdesLuisPontesAinda não há avaliações
- Aula 1 Parte 1Documento70 páginasAula 1 Parte 1Lucas OliveiraAinda não há avaliações
- Análise Do Uso e Ocupação Do Solo Nas Áreas de Preservação Permanente Da Microbacia Ribeirão Bonito, Apoiada em Técnicas de Geoprocessamento PDFDocumento11 páginasAnálise Do Uso e Ocupação Do Solo Nas Áreas de Preservação Permanente Da Microbacia Ribeirão Bonito, Apoiada em Técnicas de Geoprocessamento PDFEric Silva AraujoAinda não há avaliações
- Estudo de Caso Do Corrego Agua Fria Proposta para o Plano de RecuperacaoDocumento10 páginasEstudo de Caso Do Corrego Agua Fria Proposta para o Plano de RecuperacaoRubens ModestoAinda não há avaliações
- 51204-Texto Do Artigo-182034-1-10-20211210Documento26 páginas51204-Texto Do Artigo-182034-1-10-20211210Vitor Ribeiro De SouzaAinda não há avaliações
- Projecto - David FerrãoDocumento30 páginasProjecto - David FerrãoCremildo Felisberto Ali RomãoAinda não há avaliações
- Lagoa Do NadoDocumento16 páginasLagoa Do Nadolaisllopes5521Ainda não há avaliações
- Biogegrafia de ILhasDocumento4 páginasBiogegrafia de ILhasRô BatistaAinda não há avaliações
- Respostas Roteiro de EstudosDocumento24 páginasRespostas Roteiro de EstudosRobson DanrlleyAinda não há avaliações
- Lagoas Marginais E Sua Importância para Conservação Da Biodiversidade - Relação Com Alterações HidrológicasDocumento16 páginasLagoas Marginais E Sua Importância para Conservação Da Biodiversidade - Relação Com Alterações HidrológicasrosariodaconceicaoraulrosariorAinda não há avaliações
- Especies Florestais de RestingasDocumento14 páginasEspecies Florestais de RestingasBasílio MacielAinda não há avaliações
- 287 Diagnóstico Geoambiental Como Subsídio Ao Planejamento Da Área de Proteção Ambiental Do Lagamar, Campos Dos Goytacazes, RJDocumento5 páginas287 Diagnóstico Geoambiental Como Subsídio Ao Planejamento Da Área de Proteção Ambiental Do Lagamar, Campos Dos Goytacazes, RJLaís OliveiraAinda não há avaliações
- 4009 24542 1 PBDocumento15 páginas4009 24542 1 PBAndré Jardim MoreiraAinda não há avaliações
- Projecto de PesquisaDocumento17 páginasProjecto de Pesquisaneves tuluaAinda não há avaliações
- Biodiversidade e Conservação Dos ManguexaisDocumento41 páginasBiodiversidade e Conservação Dos ManguexaisLAISA GABRIELE BATISTA DE JESUSAinda não há avaliações
- Mapas Geoambientais SCGGDocumento17 páginasMapas Geoambientais SCGGhomosapiens47Ainda não há avaliações
- Projectos em Risco e ImpactosDocumento9 páginasProjectos em Risco e Impactosdom aleftAinda não há avaliações
- Marques, 2019Documento22 páginasMarques, 2019Natália AguiarAinda não há avaliações
- Exercícios Paisagem Lugar e TextoDocumento2 páginasExercícios Paisagem Lugar e TextoMaych MeloAinda não há avaliações
- Relatorio de Ecossistemas Regionais - RestingaDocumento16 páginasRelatorio de Ecossistemas Regionais - RestingacintiakeAinda não há avaliações
- Exploração Do Mangal Nas Zonas CosteirasDocumento13 páginasExploração Do Mangal Nas Zonas CosteirasbennynhagutsoAinda não há avaliações
- Ilhas de DiversidadeDocumento0 páginaIlhas de DiversidadeLaura AraujoAinda não há avaliações
- Arborização Urbana - Identifcação e Avaliação de Espécies Arbóreas No Município de ArapiracaDocumento15 páginasArborização Urbana - Identifcação e Avaliação de Espécies Arbóreas No Município de ArapiracaLiquinho CanutoAinda não há avaliações
- Ecossistema Costeiro - Restinga e ManguezalDocumento6 páginasEcossistema Costeiro - Restinga e ManguezalEdjan SilvaAinda não há avaliações
- Artigo Educação AmbientalDocumento14 páginasArtigo Educação Ambientalescola florianoAinda não há avaliações
- Alberti, 2011Documento21 páginasAlberti, 2011tatybio27Ainda não há avaliações
- OT-003 Deborah Regina ZornoffDocumento12 páginasOT-003 Deborah Regina ZornoffGEOGRAFÍA DE COSTA RICAAinda não há avaliações
- Mapping and Assessment of Protection of Mangrove Habitats U) in BrazilDocumento11 páginasMapping and Assessment of Protection of Mangrove Habitats U) in BrazilThiago Alves NiloAinda não há avaliações
- Enanpege 2017Documento12 páginasEnanpege 2017Lucas AraújoAinda não há avaliações
- A Lei 12.651 - 2012 e Seus Impactos Sobre As Áreas Destinadas À Preservação No Município de Paraty (RJ - Brasil)Documento10 páginasA Lei 12.651 - 2012 e Seus Impactos Sobre As Áreas Destinadas À Preservação No Município de Paraty (RJ - Brasil)CPDOC PARATYAinda não há avaliações
- Mapeamento Da Geodiversidade Do Município de Rio Tinto - PBDocumento2 páginasMapeamento Da Geodiversidade Do Município de Rio Tinto - PBSidney MedeirosAinda não há avaliações
- 2650 9726 1 PBDocumento17 páginas2650 9726 1 PBSilde tomasAinda não há avaliações
- Martins Et Al 2005 PDFDocumento8 páginasMartins Et Al 2005 PDFElfany ReisAinda não há avaliações
- Seleção de Áreas de Interesse Ecológico Através deDocumento8 páginasSeleção de Áreas de Interesse Ecológico Através deSurf AnalyticsAinda não há avaliações
- Avaliação de Pesquisa I2Documento6 páginasAvaliação de Pesquisa I2matheusmoreira180Ainda não há avaliações
- Analise de Vulnerabilidade de Um Parque Urbano AtrDocumento10 páginasAnalise de Vulnerabilidade de Um Parque Urbano AtrVivaldo PalangaAinda não há avaliações
- Árvores Nativas para A Arborização UrbanaDocumento13 páginasÁrvores Nativas para A Arborização UrbanapatymattiolliAinda não há avaliações
- 020905-Preservaçao Dos Manguezais e Seus ReflexosDocumento12 páginas020905-Preservaçao Dos Manguezais e Seus ReflexosAlexandre KorteAinda não há avaliações
- 24 Tabarelli GasconDocumento8 páginas24 Tabarelli GasconFrederick BarrosAinda não há avaliações
- 8 - Conservação Da Biodiversidade em FragmentosDocumento18 páginas8 - Conservação Da Biodiversidade em FragmentosCésar Claudio Cáceres EncinaAinda não há avaliações
- Pant AnalDocumento8 páginasPant AnalBe ClausAinda não há avaliações
- Planejamento e Recuperação Das Trilhas de Acesso Às Cachoeiras Paraíso e Véu Da Noiva, APA São Thomé - São Thomé Das Letras MG PDFDocumento16 páginasPlanejamento e Recuperação Das Trilhas de Acesso Às Cachoeiras Paraíso e Véu Da Noiva, APA São Thomé - São Thomé Das Letras MG PDFeziodornelaAinda não há avaliações
- Ambientes AlagadosNo EverandAmbientes AlagadosAinda não há avaliações
- Cronossequência da fragmentação florestal da Região Amazônica do TocantinsNo EverandCronossequência da fragmentação florestal da Região Amazônica do TocantinsAinda não há avaliações
- Discussões interdisciplinares: debates e discussões entre ciências exatas e naturais: – Volume 3No EverandDiscussões interdisciplinares: debates e discussões entre ciências exatas e naturais: – Volume 3Ainda não há avaliações
- Discussões interdisciplinares: debates e discussões entre ciências exatas e naturais: Volume 4No EverandDiscussões interdisciplinares: debates e discussões entre ciências exatas e naturais: Volume 4Ainda não há avaliações
- Apostila de JardinagemDocumento83 páginasApostila de JardinagemKassia MendesAinda não há avaliações
- Manual Vias PublicasDocumento79 páginasManual Vias PublicasMauro Vieira da SilvaAinda não há avaliações
- Diretrizes e Bases Da Implantação Do SUSDocumento247 páginasDiretrizes e Bases Da Implantação Do SUSdilevi80% (5)
- Economia Da Educação - IntroDocumento22 páginasEconomia Da Educação - IntrooromeuAinda não há avaliações
- Trabalho Individual - Matheus Keoma SteinbachDocumento8 páginasTrabalho Individual - Matheus Keoma SteinbachMatheus K. SteinbachAinda não há avaliações
- Dissertação A Conversa Como Prática Artística - Priscila Costa Oliveira 2019Documento350 páginasDissertação A Conversa Como Prática Artística - Priscila Costa Oliveira 2019Priscila Costa Oliveira100% (1)
- Colonialismo Mental e Nacionalismo IngênuoDocumento10 páginasColonialismo Mental e Nacionalismo IngênuomanoeljgAinda não há avaliações
- Cartilha EmpreendedorismoDocumento20 páginasCartilha EmpreendedorismoPaulo Sergio dos SantosAinda não há avaliações
- A Importância Do Inglês No Mercado de TrabalhoDocumento2 páginasA Importância Do Inglês No Mercado de TrabalhoRose Carvalho FonsecaAinda não há avaliações
- Tesouro PublicoDocumento28 páginasTesouro PublicoELEUTERIO MARAGEAinda não há avaliações
- Ciencias Sociais 1Documento10 páginasCiencias Sociais 1julianaAinda não há avaliações
- Soluções Manual História A Parte 2 12ºanoDocumento23 páginasSoluções Manual História A Parte 2 12ºanoMaria Asprilla CostaAinda não há avaliações
- Ritos Corporais Entre Os NaciremaDocumento2 páginasRitos Corporais Entre Os NaciremaCamila SissaAinda não há avaliações
- Avaliação Global EconômicoDocumento2 páginasAvaliação Global EconômicoIsabellabgrossi grossiAinda não há avaliações
- PAULA - INFLUENCIAS NO ESTILO DE VIDA NA SAUDE E NA LONGEVIDADE FinalDocumento12 páginasPAULA - INFLUENCIAS NO ESTILO DE VIDA NA SAUDE E NA LONGEVIDADE FinalCamila Nascimento ZaidanAinda não há avaliações
- Edgar Morin - A Necessidade de Um Pensamento ComplexoDocumento14 páginasEdgar Morin - A Necessidade de Um Pensamento ComplexoMichelCostaAinda não há avaliações
- Analise Das Implicações Da Inovação e Gestão de Qualidade Nas Organizações MoçambicanasDocumento5 páginasAnalise Das Implicações Da Inovação e Gestão de Qualidade Nas Organizações MoçambicanasValter GoveAinda não há avaliações
- Comportamento Do Consumidor de Cosméticos de Luxo, Um Estudo Exploratório PDFDocumento112 páginasComportamento Do Consumidor de Cosméticos de Luxo, Um Estudo Exploratório PDFTatiana Ferrara BarrosAinda não há avaliações
- Semana 02 - Resumo e ArgumentaçãoDocumento2 páginasSemana 02 - Resumo e ArgumentaçãoLucas Henrique MotaAinda não há avaliações
- Pavimento Semi RigidoDocumento17 páginasPavimento Semi RigidoEdrey vitorAinda não há avaliações
- Codigo de Conduta Funcionario PublicoDocumento6 páginasCodigo de Conduta Funcionario PublicoAurelio MaciaAinda não há avaliações
- LIÇÃO #1,2,3, E4, HistoriaDocumento4 páginasLIÇÃO #1,2,3, E4, HistoriaDercio Sinoda Monguela MonguelaAinda não há avaliações
- Veloso - O Ônibus, A Cidade e A LutaDocumento215 páginasVeloso - O Ônibus, A Cidade e A Lutamateus santosAinda não há avaliações
- Habilidades e Competências - BNCC - Ensino - MedioDocumento5 páginasHabilidades e Competências - BNCC - Ensino - MedioProf Silas PedrosaAinda não há avaliações
- POMPEIA, C. Concertação e Poder - o Agronegócio Como Fenômeno Político No Brasil (2020) PDFDocumento17 páginasPOMPEIA, C. Concertação e Poder - o Agronegócio Como Fenômeno Político No Brasil (2020) PDFBrunoAinda não há avaliações
- Avaliação Sociologia Eja - CORREÇÃO VI e VII ETAPADocumento2 páginasAvaliação Sociologia Eja - CORREÇÃO VI e VII ETAPASamila Araújo100% (1)