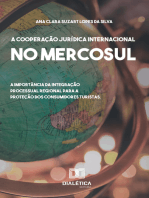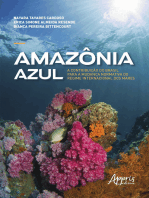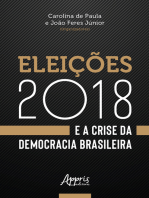Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Blocos Regionais e Globalizacao PDF
Blocos Regionais e Globalizacao PDF
Enviado por
Isabella Eic VenturaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Blocos Regionais e Globalizacao PDF
Blocos Regionais e Globalizacao PDF
Enviado por
Isabella Eic VenturaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
BLOCOS REGIONAIS E GLOBALIZAÇÃO
Demétrio Magnoli
("Globalização, Estado nacional e espaço mundial", Demétrio Magnoli, Ed. Moderna,
S.P., 1997, pág. 44-58)
A multiplicação dos acordos e blocos econômicos regionais constitui um dos
fenômenos mais marcantes do pós-Guerra Fria. A antiga paisagem plana, onde se
destacava o cume praticamente solitário da Comunidade Européia, foi preenchida
por cordilheiras, montanhas e morros de blocos poderosos, intermediários ou pífios,
ou apenas de projetos ambiciosos de megablocos transcontinentais.
Atualmente, ao lado da União Européia, perfilam-se o Nafta, a Bacia do Pacífico e,
em outra escala, o Mercosul, o Pacto Andino, o Mercado Comum Centro-Americano
e muitos outros ainda menos significativos. Há também uma declaração política de
países da APEC (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) projetando para as
primeiras décadas do novo século a formação de uma zona comercial envolvendo
países asiáticos e americanos.
A selva de blocos regionais não é habitada por uma única espécie de animais.
Efetivamente, deve-se distinguir quatro tipos de tratados econômicos diferentes, e
ainda uma modalidade de bloco regional espontâneo.
O tipo de tratado econômico menos ambicioso consiste na Zona de Livre
Comércio. A sua constituição envolve apenas um acordo entre Estados destinado a,
na etapa final. eliminar as restrições tarifárias e não-tarifárias que incidem sobre a
circulação de mercadorias entre os integrantes. Trata-se de um acordo circunscrito à
esfera comercial, que não implica compromissos a respeito do intercâmbio de cada
Estado com países externos ao bloco. Teoricamente, um integrante de determinada
zona de livre comércio pode se associar a outras zonas similares.
A finalidade de um tratado de livre comércio, do ponto de vista da teoria econômica,
é ampliar a exposição da economia dos países integrantes à concorrência externa, a
fim de estimular ganhos de produtividade na estrutura produtiva nacional. O Nafta é,
atualmente, o mais ilustre representante dessa espécie que vaga pelas planícies da
selva de blocos regionais.
Um pouco mais ambicioso é o tratado de União Aduaneira. Trata-se também de um
acordo circunscrito à esfera comercial, mas define duas metas: a eliminação das
restrições alfandegárias e a fixação de uma tarifa externa comunitária. Essa tarifa
externa consiste em um imposto de importação comum cobrado sobre mercadorias
provenientes de países externos ao bloco. obviamente, um integrante de
determinada união aduaneira não pode se associar a outro tratado econômico que
projete a eliminação de restrições comerciais.
A finalidade de uma união aduaneira é atrair investimentos produtivos para o interior
do território recoberto pelo tratado. As empresas que nele se instalam - sejam elas
controladas por capitais internos ou externos - beneficiam-se do tamanho do
mercado consumidor gerado pela regra de livre comércio e da proteção alfandegária
comum contra a concorrência de empresas exteriores ao bloco. O Mercosul projeta
tornar-se uma união aduaneira.
Nos planaltos da selva dos blocos encontra-se o hábitat de um animal superior: o
Mercado Comum. O tratado de Mercado Comum engloba as regras da união
aduaneira mas não se contenta com elas. Ele tem por objetivo assegurar, além da
livre circulação de mercadorias, a de capitais, serviços e pessoas, através das
fronteiras políticas dos países integrantes. Dessa forma, não se restringe à esfera
comercial, invadindo os domínios da legislação industrial, ambiental, financeira e
educacional.
Em termos de teoria econômica, o mercado comum almeja estimular a integração
internacional das corporações produtivas e financeiras no interior do bloco. A idéia
consiste em unificar praticamente todas as dimensões dos mercados nacionais,
criando um mercado regional poderoso, capaz de funcionar como trampolim para
que as empresas instaladas no seu interior possam concorrer vantajosamente no
espaço global. O grande representante dessa espécie é a União Européia.
Nos cumes mais altos da selva, existe um animal mítico, que jamais viveu realmente:
a União Econômica e Monetária. Esse animal mítico foi criado pelos governos
europeus no Tratado de Maastricht. A União Européia pretende tentar o salto mortal
para se transfigurar na primeira união econômica e monetária da história.
A união econômica e monetária é um mercado comum acrescido de uma moeda
única. No seu interior, as moedas nacionais seriam substituídas por uma divisa
comunitária, emitida e controlada por um banco central supranacional.
Por isso, diferentes análises podem conduzir a distintas delimitações dessas áreas.
Pelo mesmo motivo, com o tempo, áreas desse tipo se alastram ou se contraem,
independentemente da vontade dos governos ou da ação dos diplomatas.
UNIÃO EUROPÉIA
O mais antigo dos blocos regionais nasceu no ambiente bipolar da Guerra Fria, que
a estruturou internamente. Essa estrutura herdada de um sistema internacional que
desapareceu encontrasse atualmente em crise.
O Tratado de Roma de 1957 criou a Comunidade Européia (CE), ampliando o
alcance da Comunidade do Carvão e do Aço que tinha sido estabelecida cinco anos
antes. Na base desse primeiro acordo europeu estava a reaproximação entre a
França e a Alemanha – que era, então, a Alemanha ocidental - promovida pela
bipartição do Velho Continente em esferas geopolíticas antagônicas. Franceses e
alemães enterravam séculos de desconfianças e guerras e assentavam os alicerces
para a cooperação política através,, de um tratado econômico. A sombra da União
Soviética funcionava como solda da liga franco-alemã. Os alargamentos geográficos
da Europa comunitária, durante a Guerra Fria, transformaram o bloco inicial de seis
Estados na Comunidade dos Doze, configurada em 1986. A adesão mais
importante, política e economicamente, foi a da Grã-Bretanha, em 1973, alcançada
depois de quinze anos de desacordos e intrigas entre Paris e Londres. Essa adesão
representou a completa integração geopolítica da Comunidade ao ocidente liderado
pelos Estados Unidos.
Mas o percurso que conduziu à Comunidade dos Doze jamais alterou a estrutura
básica do bloco, definida pelo limite estratégico da Cortina de Ferro e pelo eixo
franco-alemão, que determinava o sentido e o conteúdo da existência comunitária.
O encerramento da Guerra Fria e a reunificação alemã representaram uma completa
reformulação do equilíbrio geopolítico europeu. As suas repercussões na
Comunidade Européia continuam a se fazer sentir, principalmente sob a forma da
crise do eixo franco-alemão.
O primeiro alargamento comunitário no pós-Guerra Fria, em 1995, envolveu o
ingresso de três antigos Estados neutros: Áustria, Suécia e Finlândia.
Simultaneamente, a transição para a economia de mercado nos países do antigo
bloco soviético sustentava novos pedidos de adesão. Na virada do século, a União
Européia poderá abrigar a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, a Eslovênia e,
talvez, outros países da Europa centro-oriental.
Os alargamentos comunitários projetados representam a reconstituição do espaço
europeu integrado que existiu antes da Segunda Guerra Mundial. A nova
organização do espaço europeu significará a soldagem da periferia centro-oriental
ao núcleo econômico da União. Entretanto, também significará um realinhamento na
geometria européia, com a consolidação da liderança da Alemanha unificada. A
maior economia do Velho Mundo retomará a sua função de elo de ligação entre o
oeste e o leste do continente e espraiará a sua influência para os países do antigo
bloco soviético. Em contrapartida, o peso e a influência da França serão reduzidos.
O novo alargamento comunitário acentua as diferenças entre as economias da
União, multiplicando as dificuldades associadas à implantação da moeda única
prevista no Tratado de Maastricht. A necessidade de combinar o alargamento
geográfico com o cronograma de aprofundamento da integração gerou a idéia da
"Europa a múltiplas velocidades". Segundo esse esquema, um pequeno núcleo de
cinco ou seis países adotaria a moeda única nos prazos de Maastricht, enquanto o
restante dos países permaneceria, por mais algum tempo, com as suas moedas
nacionais. Esse duplo processo desenha os novos contornos da Europa comunitária,
no pós-Guerra Fria.
Do bloco econômico europeu emana um campo vasto de influência, que se estende
para o leste na direção da Rússia e das repúblicas ocidentais da CEI, e para o sul na
direção da África do Norte e Oriente Médio. Esse amplo espaço geográfico orienta-
se cada vez mais para a órbita do marco alemão e, no futuro, do Euro, a moeda
única comunitária.
NAFTA E MERCOSUL
O Nafta surgiu como fruto das políticas comerciais do,, Estados Unidos para o pós-
Guerra Fria. Ele foi constituído em duas etapas: na primeira, os Estados Unidos
firmaram um acordo bilateral de livre comércio com o Canadá; na segunda, em
1994, o México foi incorporado ao bloco.
A estratégia do Nafta representava uma cartada americana para a eventualidade de
fracasso das negociações comerciais multilaterais do GATT. Nesse caso, o Nafta
estava projetado para constituir a pedra inicial de uma imensa zona de livre comércio
das Américas. O alvo visado era a União Européia que, liderada pela França,
entravava as negociações sobre o comércio de produtos agro-industriais.
O acordo finalmente alcançado nas negociações com a União Européia refreou o
ímpeto de Washington. Quase ao mesmo tempo, o colapso econômico mexicano de
1995, provocado por uma crise aguda nas contas externas do país, reativou as
críticas de setores políticos e sindicais dos Estados Unidos aos projetos de
ampliação do Nafta. O Chile, que negociava a sua adesão, foi levado a orientar-se
para o Mercosul, sem abandonar a meta de associação ao Nafta. Entretanto, a
política externa americana não abandonou a meta da zona hemisférica de livre
comércio: afinal, a América Latina constitui a única macro-área geográfica com a
qual os Estados Unidos exibem saldos comerciais positivos.
O Mercosul, instituído pelo Tratado de Assunção de 1991, surgiu também a partir de
motivações Políticas: tratava-se de romper o padrão de rivalidade histórica entre o
Brasil e a Argentina.
Além disso, ele representava uma estratégia dos governos de Brasília e Buenos
Aires para promover a abertura das economias de ambos os países, expondo-os à
concorrência externa e atraindo investimentos internacionais.
Mas, na ótica da política externa brasileira, o Mercosul constitui também uma
resposta às iniciativas comerciais americanas e ao projeto de uma zona hemisférica
de livre comércio negociada nos termos de Washington. A estratégia brasileira -
definida no jargão diplomático como "política de building blocks" - consiste em
consolidar o bloco do Cone Sul e, em seguida, estabelecer uma área de livre
comércio sul-americana. Essas iniciativas formariam o alicerce para as negociações
futuras da zona hemisférica proposta pelos Estados Unidos. Os acordos de livre
comércio firmados pelo Mercosul com o Chile e a Bolívia e a abertura de
negociações para a cooperação entre o Mercosul e a União Européia inscrevem-se
nessa estratégia.
O Nafta e, em outra escala, o Mercosul, estruturam blocos econômicos nos dois
extremos latitudinais do continente americano. Contudo, entre eles, outros tratados
comerciais agrupam os países da região andina, do Caribe e do istmo centro-
americano. Esse conjunto heterogêneo de blocos comerciais novos ou antigos
atravessa processos de redefinição impulsionados pela abertura das economias
latinoamericanas à concorrência externa. A configuração de uma zona hemisférica
de livre comércio representa apenas uma das possibilidades para a integração dos
países do continente na economia global.
A BACIA DO PACÍFICO
A expressão Bacia do Pacífico associou-se à noção de um bloco econômico na
década de 1970, quando os chamados Dragões Asiáticos - Hong Kong, Cingapura,
Taiwan e Coréia do Sul - empreenderam a sua acelerada arrancada industrial.
Em parte, essa arrancada foi impulsionada por investimentos japoneses diretos,
deslocados do arquipélago pelo aumento dos custos de produção associado aos
choques de preços do petróleo e à elevação dos salários internos.
Uma década depois, outros Dragões despontavam: Tailândia, Malásia e Indonésia.
Mais uma vez, os capitais industriais japoneses desempenharam o papel de
alavancagem. Em meados da década de 1980, o iene conhecia um movimento de
valorização diante do dólar, puxando para cima os custos de produção no interior do
Japão e favorecendo os investimentos no exterior. Atualmente, a difusão da
economia industrial na macro-área alcança as Filipinas e o Vietnã, evidenciando o
vigor da dinâmica regional de integração.
Esse percurso de difusão regional da indústria gerou a crença de que se tratava de
um fenômeno vinculado exclusivamente à internacionalização da base produtiva
japonesa. Contudo, a análise dos investimentos estrangeiros diretos na Ásia revela
uma realidade mais complexa.
No início do processo, os capitais japoneses (e americanos) efetivamente cumpriram
funções decisivas nas arrancadas industriais. Porém, um pouco mais tarde, declina a
importância dos investimentos americanos e, principalmente, verifica-se uma
explosão de investimentos internacionais provenientes de grupos econômicos dos
próprios Dragões Asiáticos. São capitais de Hong Kong, Cingapura, Taiwan e Coréia
do Sul procurando oportunidades na Tailândia, na Indonésia, na Malásia e, acima de
tudo, na China Popular.
A modernização da economia industrial da China Popular - empurrada pela política
de abertura conduzida a partir da cúpula do Partido Comunista - é um componente
fundamental do chamado "milagre asiático". Os baixos custos da abundante força de
trabalho, os vastos recursos naturais, as oportunidades de investimento em infra-
estruturas de transportes, comunicações e hotelaria, as garantias fornecidas pelos
donos do poder na China tudo isso atrai as corporações empresariais asiáticas para
o novo oceano da economia de mercado que se abre.
A dinâmica desses investimentos relaciona-se com a presença de uma vasta elite
econômica de origem chinesa disseminada pela Ásia meridional e oriental. A
diáspora de chineses étnicos na macro-área compreende mais de 50 milhões de
pessoas, que se deslocaram da China desde o século XVII. Em Taiwan e Hong
Kong - as "Chinas exteriores" - eles são quase a totalidade da população. Na cidade-
Estado de Cingapura, formam a maioria da população, mas também representam
minorias significativas na Malásia e Tailândia. Porém, o que mais impressiona é a
sua participação nas economias locais: os chineses étnicos controlam as economias
de Cingapura e Malásia e têm um peso determinante nas economias da Tailândia,
da Indonésia e das Filipinas. A antiga colônia britânica de Hong Kong funciona como
porta de entrada na China Popular dos investimentos dos chineses étnicos que têm
as suas bases no exterior.
Os Dragões Asiáticos surgiram como "plataformas de exportação", orientando a sua
economia industrial para os mercados do Ocidente e para o Japão. Do ponto de
vista comercial, portanto, a integração regional era bastante fraca e tornava-se difícil,
inclusive, caracterizar esse conjunto heterogêneo de países e cidades-Estado como
um bloco econômico.
Entretanto, as sucessivas ondas de investimentos internacionais e o próprio
crescimento econômico regional modificaram esse panorama. De um lado, ampliou-
se o consumo interno de países como Taiwan e Coréia do Sul, onde a renda da
população conheceu um forte aumento. De outro, as unidades de produção
implantadas na região passaram a importar máquinas, equipamentos e serviços das
suas matrizes, muitas vezes situadas em outros países asiáticos. Esses fenômenos
dinamizaram as trocas intra-regionais, configurando um verdadeiro bloco econômico.
A ampliação do comércio intra-regional acelerou-se em meados da década de 1980,
precisamente quando arrancava para a industrialização o segundo grupo de
Dragões. Os investimentos na Tailândia, na Malásia e na Indonésia geravam
comércio. Ao mesmo tempo, o aprofundamento da abertura chinesa ativava novos
circuitos de intercâmbio. Os diferentes estágios de industrialização dos países da
região criavam complementaridades externas, que se traduziam na explosão das
trocas asiáticas.
Em 1980, o comércio intra-regional não chegava a 40 bilhões de dólares e, em 1986,
ultrapassava em pouco os 50 bilhões, mas em 1992 ele aproximava-se da marca de
220 bilhões. Nascia um novo pólo econômico no mundo.
REGIONALIZAÇÃO X GLOBALIZAÇÃO
A multiplicação dos blocos regionais ameaça fragmentar a economia mundial,
isolando macro-áreas fechadas sobre si mesmas? Seria a tendência à
regionalização um obstáculo para a integração global dos mercados" A teoria
econômica explica que a formação de áreas regionais de livre comércio acarreta
duas conseqüências simultâneas. De um lado, fluxos comerciais direcionados, em
função da atração exercida pela remoção de barreiras alfandegárias. De outro,
criam-se novos fluxos comerciais, na medida em que a retirada de barreiras
alfandegárias estimula a importação de mercadorias a custos mais baixos. O
primeiro fenômeno atua contra a tendência à globalização; o segundo atua a favor.
Atualmente, o forte crescimento do comércio mundial indica que a criação de novas
oportunidades de intercâmbio é mais intensa que o redirecionamento de fluxos já
existentes. A causa desse predomínio é simples: as políticas econômicas liberais
têm suplantado as estratégias protecionistas, de forma que os países integrantes de
blocos regionais preferem rebaixar também as tarifas que cobram de mercadorias
importadas de fora do seu bloco. Os acordos multilaterais alcançados no âmbito do
GATT e as regras da Organização Mundial de Comércio funcionam como garantias
da continuidade desse movimento liberalizante.
Mas a globalização não se circunscreve ao comércio. No terreno dos investimentos
e da ampliação da área de atuação geográfica das transnacionais, os blocos
econômicos representam verdadeiros trampolins para a estruturação de um mercado
globalizado.
A União Européia, com a sua uniformidade interna de regras econômicas, funciona
como uma moldura para a concentração de capitais, a fusão de empresas e a
cooperação produtiva internacional. O mais interessante é que - ao contrário dos
sonhos franceses - predominam as associações entre corporações européias e
parceiros americanos ou asiáticos, e não as fusões e aquisições intracomunitárias.
Essa tendência, que corresponde ao desejo britânico, decorre das diferenças de
políticas industriais dos governos europeus e constitui um entrave para o
desenvolvimento de empresas comunitárias suficientemente poderosas para
enfrentar a concorrência global. Por outro lado, ela favorece o processo de
globalização, ao estreitar os laços da economia européia com as corporações
transnacionais dos outros continentes.
As coisas se passam de forma similar, e até com mais clareza, no âmbito do
Mercosul. A constituição de uma zona de livre comércio, que marcha para ser unia
união alfandegária, incentiva os investimentos internacionais no interior dos limites
do bloco, pois as unidades produtivas implantadas em qualquer dos países
integrantes do Mercosul se beneficiam da remoção das barreiras para a exportação
das suas mercadorias para os demais integrantes. A montadora automobilística
francesa Renault já deflagrou um programa de pesados investimentos no Brasil,
enquanto a Fiat italiana reorganiza as suas linhas de montagem no Brasil e na
Argentina a fim de racionalizar a produção para um mercado integrado.
Simultaneamente, empresas agro-industriais brasileiras expandem a sua atuação
para o mercado argentino e construtoras dos dois países aguardam o lançamento de
concorrência para vultosas obras conjuntas de infra-estrutura.
A Bacia do Pacífico constitui ilustração ainda melhor do papel dos blocos regionais
na edificação dos alicerces para a globalização. Cingapura e Hong Kong funcionam
como cidades-Estado internacionalizadas, servindo de pontes entre a economia
mundial e o entorno macro-regional.
Elas sediam os quartéis-generais das corporações americanas e européias para a
Ásia e o Pacífico. São também centros bancários e financeiros para as operações
nos mercados de capital dos países vizinhos. Finalmente, servem como terminais
portuários de exportação e reexportação situados sobre as grandes rotas
transoceânicas.
Na macro-região estão surgindo as mais novas corporações transnacionais.
Montadoras automobilísticas da Coréia do Sul já atuam agressivamente na Europa,
nos Estados Unidos e na América Latina. Atrás delas, vêm grupos econômicos
baseados em Hong Kong, na Indonésia, na Malásia, em Taiwan ou na Tailândia, que
expandem as suas atividades para os países asiáticos e preparam-se para ingressar
no mercado mundial. Os seus negócios incluem desde os investimentos imobiliários
e hoteleiros até a mineração e a geração de energia, passando pela intermediação
financeira.
A regionalização não representa uma barreira para a globalização. Os blocos
regionais, pelo contrário, formam a estrutura orgânica da economia mundial. Por
isso, o fortalecimento da última implica a multiplicação dos primeiros.
Você também pode gostar
- Aula 00 QuestoesDocumento33 páginasAula 00 QuestoesPabAinda não há avaliações
- Teórico - Política Internacional - Quadro de Aula 04Documento31 páginasTeórico - Política Internacional - Quadro de Aula 04Pedro VillasAinda não há avaliações
- Bibliografia Todas As Matérias CacdDocumento5 páginasBibliografia Todas As Matérias CacdGabi Oo100% (1)
- Bibliografia de Economia e Geografia (CACD)Documento2 páginasBibliografia de Economia e Geografia (CACD)Anderson MansuetoAinda não há avaliações
- Fora Da CaixaDocumento211 páginasFora Da CaixaNatan Borges100% (3)
- OTOC-Dossier Preços TransferenciaDocumento91 páginasOTOC-Dossier Preços TransferenciaRui Costa100% (3)
- Relação Material Didático PI - Clio 2013.2 PDFDocumento2 páginasRelação Material Didático PI - Clio 2013.2 PDFRoberto DantasAinda não há avaliações
- D360 - Lingua Portuguesa (M. Hera) - Folha de Exercícios Sobre Crase - Aula 06 (Isabel V.) PDFDocumento4 páginasD360 - Lingua Portuguesa (M. Hera) - Folha de Exercícios Sobre Crase - Aula 06 (Isabel V.) PDFtao do somAinda não há avaliações
- DR 2014.1 - Programas (BSB)Documento37 páginasDR 2014.1 - Programas (BSB)vtorres23Ainda não há avaliações
- Resenha HAS Donghi. Cap 5Documento4 páginasResenha HAS Donghi. Cap 5Luiz CostaAinda não há avaliações
- A OMC e A Conferência de BaliDocumento12 páginasA OMC e A Conferência de BaliDiego HatadaAinda não há avaliações
- NOGUEIRA - MESSARI - Cap. 1 IntroduçãoDocumento13 páginasNOGUEIRA - MESSARI - Cap. 1 IntroduçãoFelipe Alves100% (1)
- 40 - Aula-40-Revolucao-Chinesa PDFDocumento7 páginas40 - Aula-40-Revolucao-Chinesa PDFprocurador federalAinda não há avaliações
- Módulo VerdeDocumento62 páginasMódulo VerdeVanessa Sousa100% (1)
- Rodada Doha, Chegamos Muito Perto, Mas Não Chegamos LáDocumento20 páginasRodada Doha, Chegamos Muito Perto, Mas Não Chegamos LáVinícius CarvalhoAinda não há avaliações
- Bibliografia Curso Economia Teórico 2017Documento3 páginasBibliografia Curso Economia Teórico 2017Miguel SetteAinda não há avaliações
- E-Book Economia Sprint FinalDocumento15 páginasE-Book Economia Sprint FinalRicardo Terra BarbosaAinda não há avaliações
- Diplomacia 360 Jul.18 ClioDocumento3 páginasDiplomacia 360 Jul.18 ClioVini DiasAinda não há avaliações
- SAB - Aula 4Documento2 páginasSAB - Aula 4RaíssaGuimarãesAinda não há avaliações
- 1.1 Características BásicasDocumento6 páginas1.1 Características BásicasuserandreAinda não há avaliações
- Politica Externa Do Japao Aspectos Institucionais e Evolucao HistoricaDocumento116 páginasPolitica Externa Do Japao Aspectos Institucionais e Evolucao HistoricaVanessa SouzaAinda não há avaliações
- Projeto America in The World R6451465300df7Documento8 páginasProjeto America in The World R6451465300df7Fernando de Souza DantasAinda não há avaliações
- Comentários Sobre As Materias CACD 2019 ProfessoresDocumento12 páginasComentários Sobre As Materias CACD 2019 ProfessoresMário CerqueiraAinda não há avaliações
- Direito Interno 2021 - Cronograma de Aulas IDEG - 2Documento2 páginasDireito Interno 2021 - Cronograma de Aulas IDEG - 2Alvaro Borges RosaAinda não há avaliações
- História Do Brasil RJ - Programa Resumido - Luigi BonaféDocumento1 páginaHistória Do Brasil RJ - Programa Resumido - Luigi BonaféRamosAugustoAinda não há avaliações
- Resumo A Ordem Do Progresso Cap 1-3Documento13 páginasResumo A Ordem Do Progresso Cap 1-3Diêgo LaurentinoAinda não há avaliações
- História Do Brasil - Quadro de Aula 02Documento1 páginaHistória Do Brasil - Quadro de Aula 02Géssica Leite LealAinda não há avaliações
- ABC Das Nações UnidasDocumento30 páginasABC Das Nações UnidasLekkaGuzmAinda não há avaliações
- Francisco Doratioto - O Império Do Brasil e A ArgentinaDocumento32 páginasFrancisco Doratioto - O Império Do Brasil e A Argentinarguidi5100% (1)
- O Regime de Não-Proliferação NuclearDocumento26 páginasO Regime de Não-Proliferação NuclearMiniAinda não há avaliações
- 1129-O Brasil e As Nacoes Unidas 70 AnosDocumento536 páginas1129-O Brasil e As Nacoes Unidas 70 AnosTiago LopesAinda não há avaliações
- Pi - Resumos Grupo 2009-2010Documento165 páginasPi - Resumos Grupo 2009-2010paulakansasAinda não há avaliações
- Fichamento - Curso de Direito Internacional Público - Alberto Do Amaral JúniorDocumento2 páginasFichamento - Curso de Direito Internacional Público - Alberto Do Amaral JúniorAugustoAinda não há avaliações
- 2.2. A Situação Política e Econômica EuropeiaDocumento2 páginas2.2. A Situação Política e Econômica EuropeiauserandreAinda não há avaliações
- Diplomacia 360 Out16 Bibliografia Modulo AzulDocumento39 páginasDiplomacia 360 Out16 Bibliografia Modulo AzulGustavo MarquesAinda não há avaliações
- CACD Leituras RecomendadasDocumento3 páginasCACD Leituras RecomendadasRuy Domingues LimaAinda não há avaliações
- REPI - 2a EdiçãoDocumento3.133 páginasREPI - 2a EdiçãoMatheus LimaAinda não há avaliações
- Como o Sistema Financeiro Captura A Humanidade Através Da DívidaDocumento13 páginasComo o Sistema Financeiro Captura A Humanidade Através Da DívidaGRAZIA.TANTAAinda não há avaliações
- Desnvolvimento Económico Relações Sociais e Poder Político Nos Séculos XII A XIVDocumento26 páginasDesnvolvimento Económico Relações Sociais e Poder Político Nos Séculos XII A XIVAna SantosAinda não há avaliações
- Economia Internacional BaumannDocumento5 páginasEconomia Internacional BaumannJonas Rocha0% (1)
- 1.1.1 - PreferênciasDocumento5 páginas1.1.1 - Preferênciasuserandre100% (1)
- Bancos e Banqueiros, Sociedade e PolíticaDocumento723 páginasBancos e Banqueiros, Sociedade e PolíticaAntonio NetoAinda não há avaliações
- 1-A Geopolítica Na Virada Do Milênio - Bertha Becker - 037Documento37 páginas1-A Geopolítica Na Virada Do Milênio - Bertha Becker - 037Efraim de Souza MoraesAinda não há avaliações
- Cap. Modelo Ricardiano-ProvaIDocumento21 páginasCap. Modelo Ricardiano-ProvaIChristiane MonteiroAinda não há avaliações
- 04 Bretton Woods FMI e BIRDDocumento21 páginas04 Bretton Woods FMI e BIRDAdriely Teixeira100% (1)
- CAMPOLINA, Clélio Diniz. Desenvolvimento Poligonal No Brasil Nem Desconcentração Nem Contínua Polarização. P. 35-59 PDFDocumento30 páginasCAMPOLINA, Clélio Diniz. Desenvolvimento Poligonal No Brasil Nem Desconcentração Nem Contínua Polarização. P. 35-59 PDFLucas Alexando PereiraAinda não há avaliações
- Processo de Construção Da União EuropeiaDocumento19 páginasProcesso de Construção Da União EuropeiaHugo ReisAinda não há avaliações
- Guerra Do VietnãDocumento6 páginasGuerra Do VietnãAldo Carvalho100% (1)
- Ibrahim Abdul Hak Neto Armas de Destruicao em MassaDocumento236 páginasIbrahim Abdul Hak Neto Armas de Destruicao em MassaChrístoffer RodriguesAinda não há avaliações
- PECEQUILO - 2008 - A Política Externa Do Brasil No Século XXIDocumento18 páginasPECEQUILO - 2008 - A Política Externa Do Brasil No Século XXIripe2010100% (1)
- Teoria Clássica Do Comércio Internacional Mercantilismo, Teoria Das Vantagens Absolutas (Apresentação) Autor Sílvia Helena G. de MirandaDocumento29 páginasTeoria Clássica Do Comércio Internacional Mercantilismo, Teoria Das Vantagens Absolutas (Apresentação) Autor Sílvia Helena G. de MirandaARAO JOSE SITOEAinda não há avaliações
- A Construção Da Europa A Última UtopiDocumento195 páginasA Construção Da Europa A Última UtopiRafael PereiraAinda não há avaliações
- Mercosul – Mercado comum do Sul: Instituições Financeiras dos países membrosNo EverandMercosul – Mercado comum do Sul: Instituições Financeiras dos países membrosAinda não há avaliações
- As Relações Diplomáticas entre Brasil e Uruguai (1931-1938): O Brasil de Getúlio Vargas Visto pelo Uruguai de Gabriel TerraNo EverandAs Relações Diplomáticas entre Brasil e Uruguai (1931-1938): O Brasil de Getúlio Vargas Visto pelo Uruguai de Gabriel TerraAinda não há avaliações
- Impactos da Iniciativa Chinesa Cinturão e Rota no Brasil: estará o país preparado para as oportunidades e desafios da Nova Rota da Seda?No EverandImpactos da Iniciativa Chinesa Cinturão e Rota no Brasil: estará o país preparado para as oportunidades e desafios da Nova Rota da Seda?Ainda não há avaliações
- Paradiplomacia Subnacional: Da Teoria À EmpiriaNo EverandParadiplomacia Subnacional: Da Teoria À EmpiriaAinda não há avaliações
- O Abc Da Integração Europeia: Das Origens Aos Desafios ContemporâneosNo EverandO Abc Da Integração Europeia: Das Origens Aos Desafios ContemporâneosAinda não há avaliações
- A Cooperação Jurídica Internacional no Mercosul: a importância da integração processual regional para a proteção dos consumidores turistasNo EverandA Cooperação Jurídica Internacional no Mercosul: a importância da integração processual regional para a proteção dos consumidores turistasAinda não há avaliações
- Argentina e o Brasil Frente aos Estados Unidos (2003 – 2015) : Entre a Autonomia e a SubordinaçãoNo EverandArgentina e o Brasil Frente aos Estados Unidos (2003 – 2015) : Entre a Autonomia e a SubordinaçãoAinda não há avaliações
- Amazônia Azul:: A Contribuição do Brasil para a Mudança Normativa do Regime Internacional dos MaresNo EverandAmazônia Azul:: A Contribuição do Brasil para a Mudança Normativa do Regime Internacional dos MaresAinda não há avaliações
- Tendências Atuais Da EducaçãoDocumento44 páginasTendências Atuais Da EducaçãoYury GodoyAinda não há avaliações
- 10996-Texto Do Artigo-15301582-1-10-20200717Documento23 páginas10996-Texto Do Artigo-15301582-1-10-20200717Silvestre MatabelaJrAinda não há avaliações
- File - Passei Direto1Documento11 páginasFile - Passei Direto1Diogo A. Correa Dos SantosAinda não há avaliações
- Representante ComercialDocumento209 páginasRepresentante ComercialDnery Júnior100% (2)
- TRABALHO TUBALDINI A Crise Do Nacional Populismo 1961 1964Documento9 páginasTRABALHO TUBALDINI A Crise Do Nacional Populismo 1961 1964crcncrcnAinda não há avaliações
- PROVA UEPA 2 ETAPA Vestibular 2012Documento22 páginasPROVA UEPA 2 ETAPA Vestibular 2012Rian MoreiraAinda não há avaliações
- Obstáculos Ao Desenvolvimento (9.º)Documento30 páginasObstáculos Ao Desenvolvimento (9.º)profgeofernando83% (6)
- Aqui, Lá e em Todo Lugar A Dignidade Humana No Direito Contemporâneo e No Discurso TransnacionalDocumento43 páginasAqui, Lá e em Todo Lugar A Dignidade Humana No Direito Contemporâneo e No Discurso TransnacionalUkkanAinda não há avaliações
- Globalzação, Cultura e Esporte PDFDocumento18 páginasGlobalzação, Cultura e Esporte PDFSairo MachadoAinda não há avaliações
- Controladoria 2012 PDFDocumento341 páginasControladoria 2012 PDFDayana MartinsAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre o Direito Transnacional PDFDocumento11 páginasReflexões Sobre o Direito Transnacional PDFAna Carolina Faria SilvestreAinda não há avaliações
- Questionário para Entrevista - Vagas DiversasDocumento4 páginasQuestionário para Entrevista - Vagas DiversaslukassanctisAinda não há avaliações
- A Situação Internacional e As Tarefas Dos ML-resolucao-da-cipomlDocumento34 páginasA Situação Internacional e As Tarefas Dos ML-resolucao-da-cipomlMatheus Portela CarvalhoAinda não há avaliações
- Mariana Barreto - As Majors Da Música e o Mercado Fonográfico Nacional PDFDocumento268 páginasMariana Barreto - As Majors Da Música e o Mercado Fonográfico Nacional PDFLellison SouzaAinda não há avaliações
- Matrizes Do Século XxiDocumento5 páginasMatrizes Do Século XxiGrrützz IdilAinda não há avaliações
- 1 - Obstáculos Ao Desenvolvimento (Geografia)Documento24 páginas1 - Obstáculos Ao Desenvolvimento (Geografia)Ana Neiva100% (1)
- 20 Portugues Instrumental PG 558a583Documento10 páginas20 Portugues Instrumental PG 558a583Eunice Alves da SilvaAinda não há avaliações
- SDGCompass GuiaDocumento30 páginasSDGCompass Guiapsiclick100% (1)
- Bertha Becker - Novas Territorialidades Na Amazônia Desafio Às Políticas Públicas CRHDocumento7 páginasBertha Becker - Novas Territorialidades Na Amazônia Desafio Às Políticas Públicas CRHLuiz Adriano MorettiAinda não há avaliações
- O Que É Globalização - ApostilaDocumento2 páginasO Que É Globalização - ApostilaHeliton MendesAinda não há avaliações
- A Sociedade Global Do Risco - Ulrich Beck e Danilo ZoloDocumento12 páginasA Sociedade Global Do Risco - Ulrich Beck e Danilo ZoloLara Sanábria VianaAinda não há avaliações
- Nação, Nacionalismo, Estado PDFDocumento12 páginasNação, Nacionalismo, Estado PDFFagner VelosoAinda não há avaliações
- Interdependência Complexa e FuncionalismoDocumento7 páginasInterdependência Complexa e Funcionalismorafaela popovAinda não há avaliações
- Questão-01 - (Unicamp SP/2021)Documento128 páginasQuestão-01 - (Unicamp SP/2021)Jordyr SouzaAinda não há avaliações
- Exercícios de HistóriaaDocumento32 páginasExercícios de HistóriaaDaniel Almeida0% (1)
- As MultinacionaisDocumento15 páginasAs MultinacionaisLiliane RamalhoAinda não há avaliações
- Nadia Tese Final OrlandoDocumento62 páginasNadia Tese Final Orlandoorlando chirindaAinda não há avaliações
- ACFI O Que Esta Por Tras Desta InovacaoDocumento30 páginasACFI O Que Esta Por Tras Desta InovacaoLívia Valeriano BarrosoAinda não há avaliações