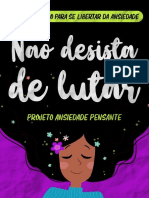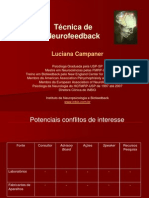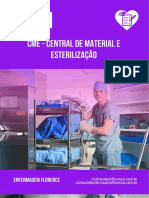Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Introdução Lab
Introdução Lab
Enviado por
Bruna0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações4 páginasTítulo original
Introdução lab .docx
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações4 páginasIntrodução Lab
Introdução Lab
Enviado por
BrunaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
Introdução
Gonadotrofina coriônica humana (hCG)
A hCG é também conhecida como coriogonadotrofina ou
gonadotrofina placentária. Desde 1927, ficou demonstrado que o
sangue e a urina de mulheres gestantes continham um hormônio que
era capaz de induzir hiperemia ovariana e formação de corpo lúteo.
Acreditava-se, entretanto, que essa substância era produzida na
hipófise da gestante. Foi chamada primeiramente de prolan A, e
somente em 1932 ficou caraterizada a procedência placentária da
substancia, razão pela qual foi dado o nome de gonadotrofina
coriônica humana. Pesquisas realizadas posteriormente utilizando
métodos histoquímicos, imunológicos e microscopia eletrônica
indicaram, de forma definitiva, que a hCG se forma no
sinciciotrofoblasto.
Sabe-se na atualidade, que existe correlação entte maiores
concentrações séricas de hCC e o maior número de células
trofoblásticas, o que ocorre entre 8 e 10 semanas de gestação. As
vilosidades coriônicas são responsáveis pela maior parcela da
produção de hCG e órgãos fetais como fígado, pulmão, ovário,
testículos e, sobretudo, os rins, ainda que em menores quantidades,
também sintetizam o hormônio.
A hCG é uma glicoproteína com peso molecular da ordem de 36.000
a 40.000 dáltons. A parte proteica representa 70% da molécula e a
porção glicídica, os outros 30%. A porção proteica contém 237
aminoácidos distribuídos em duas cadeias (subunidades alfa e beta),
que se ligam de maneira não covalente.
Os hormônios glicoproteicos hipofisários (FSH, LH, TSH) também
são constituídos por subunidades alfa e beta:
A subunidade alfa desses hormônios tem idêntica estrutura
química àquela apresentada pela hCG.
A subunidade beta determina as diferenças estruturais e
biológicas entre esses hormônios polipeptídicos.
Estudos mostraram que proteínas híbridas formadas pela associação
da subunidade alfa do TSH com a subunidade beta do LH, por
exemplo, resultavam em hormônio com atividade biológica somente
do LH. Por sua vez, a união da cadeia alfa do LH com a cadeia beta
do TSH dava origem a uma substância que era capaz de estimular a
tireoide. As subunidades isoladas não tem atividade biológica.
Entretanto, quando novamente reunidas, passam a ter a ação da
subunidade beta presente na molécula reconstituída.
A subunidade alfa do hCG e o LH hipofisário, na espécie humana, são
indistinguíveis, e as subunidades beta desses hormônios possuem
extensa identidade. Apenas os 30 últimos aminoácidos presentes na
extremidade carboxílica da subunidade beta são característicos da
hCG, não sendo encontrados em nenhuma outra subunidade de
nenhum outro hormônio.
Graças a essa semelhança estrutural entre as subunidades alfa, a
hCG apresenta reação imunológica cruzada com as subunidades alfa
dos demais hormônios glicoproteicos. A identidade dos anticorpos
produzidos se dá, também, com os hormônios completos (presença
das duas cadeias unidas). Existem soros específicos para a hCG que
contém anticorpos para a subunidade beta desse hormônio. Por
radioimunoensaio, esses soros podem discriminar a hCG do LH
produzido pela hipófise.
As subunidades da hCG, quando separadas não apresentam atividade
biológica intrínseca. Admite-se que a subunidade alfa tem pelo
menos duas funções: proteger o hormônio da depuração rápida e, ao
se associar à subunidade beta, ser capaz de assumir conformação
apropriada para se acoplar ao receptor específico do hormônio.
A hCG é produzida pelas vilosidades coriônicas desde fases muito
precoces da gestação. Nas primeiras semanas, os níveis do hormônio
dobram a cada 1,7 a 2 dias e atingem valores máximos entre 60 e 80
dias de gravidez, quando são detectadas concentrações de 50.000 a
150.000 UI/ mL na urina. Depois, há gradual declínio até
concentrações de 3.000 a 10.000 UI/mL, as quais permanecem
praticamente inalteradas até o termo da gestação. A concentração
sérica atinge de 500.000 a 1.000.000 UI/mL, no seu pico, caindo para
valores de 80.000 a 120.000 UI/mL no termo.
As curvas de concentração de hCG na urina e no plasma materno se
comportam de maneira semelhante às curvas de concentração desse
hormônio placentário no sangue do cordão umbilical, no plasma fetal
e no líquido amniótico. A hCG produzida pelas células trofoblásticas
é quase toda transferida para a circulação materna (90%), e apenas
uma pequena fração (10%) é levada ao feto pela veia umbilical. A
concentração de hCG no sangue do cordão umbilical do feto apenas
l:570- 800 da concentração hormonal observada no sangue materno
na gestação próxima ao termo.
No inicio da gestação, a hCG atua na manutenção morfológica e
funcional do corpo lúteo (função luteotrófica semelhante ao LH
hipofisário). As células luteinizadas do corpo lúteo contém receptores
com alta afinidade para a hCG; o estímulo para a síntese de
progesterona pelo corpo lúteo se faz pelo sistema monofosfato de
adenosina cíclico (AMP cíclico).
Alguns autores defendem que a hCG protege o embrião da rejeição
imunológica materna. ln vitro, a hCG inibe a produção de anticorpos
pelos linfócitos estimulados pela fito-hemaglutinina. Com base
nessas observações e também pela constatação de altas
concentrações de hCG na superfície do trofoblasto voltado para a
decídua, foi sugerido que a hCG desempenharia importante papel
imunossupressor in vivo. Mais estudos precisam ser realizados para
confirmação desse fato.
A hCG tem atividade tireotrófica intrínseca, com apenas 1:4.000 da
potência do TSH humano. Na presença de níveis muito elevados
desse hormônio, como observado na doença trofoblástica
gestacional, essa atividade tireotrófica intrínseca pode ser suficiente
para provocar hipertireoidismo clínico.
A transformação genital inicial do feto masculino, interna e externa,
se faz por ação da testosterona e de seu derivado, a di-
hidrotestosterona. Admite-se que a hCG possa agir na gônada fetal,
sendo importante nessa diferenciação sexual; ela estimularia, a
partir de 7 semanas de gestação, as células de Leydig dos testículos
do feto a produzirem andrógenos na primeira metade da gestação.
Existem também estudos indicando que a esteroidegênese no córtex
da adrenal do feto depende da hCG.
A hCC é, possivelmente, o primeiro sinal da presença de tecido
trofoblástico no organismo materno; sua identificação constitui
ferramenta importante no diagnóstico precoce de gestação. A
pesquisa da subunidade beta por radioimunoensaio é o teste mais
especifico e sensível para tal finalidade, pois tem sensibilidade de 5 a
40 mUl/mL de plasma, com tempo de execução de 1 a 2 horas. Com
esse teste, o diagnóstico de gestação pode ser feito antes mesmo do
atraso menstrual. A sua realização exige material de dosagem
sofisticado, substâncias radioativas e técnicos diferenciados e, por
isso, o teste não está à disposição em todos os laboratórios. Esse
teste é importante ferramenta para o diagnóstico precoce de
gestação em pacientes inférteis, naquelas propensas a abortamento
muito precoce e para o diagnóstico de gravidez ectópica. Essa
técnica se impõe, ainda, para monitorizar as concentrações séricas
do hormônio na doença trofoblástica, sem risco de reação cruzada
com o LH, contribuindo também para a detecção precoce da recidiva
do coriocarcinoma em pacientes tratadas.
Há outros testes que também podem ser utilizados para o
diagnóstico de gestação e se baseiam na inibição da hemaglutinação
pela hCG na urina ou no plasma, em lâmina ou tubo. Esses exames
não discriminam a hCG do LH e, portanto, são menos específicos do
que o radioimunoensaio para a subunidade beta. Esses exames são
de execução mais rápida e têm menor sensibilidade;
consequentemente, os resultados falso-negativos são mais
frequentes. Tomam-se positivos de 16 a 90 dias após a concepção e
são úteis na prática clínica diária, por serem mais baratos e de
execução mais simples. O método por radioimunoensaio é vantajoso
por ser qualitativo e quantitativo, ao passo que os exames baseados
na inibição da hemaglutinação pela hCG apenas fornecem resultados
qualitativos.
Bibliografia
MEDEIROS; NORMAN. Formas moleculares da gonadotrofina
coriônica humana: características, ensaios e uso clínico. Revista
brasileira de ginecologia e obstetrícia, 2006.
ZUGAIB, Marcelo. Zugaib obstetrícia. 3 ed. São Paulo: Manole, 2016.
Você também pode gostar
- Não Desista de LutarDocumento79 páginasNão Desista de LutarKymberly Manzi Streithorst (ALUNO)92% (13)
- Tecnica NeurofeedbackDocumento86 páginasTecnica Neurofeedbackeri_portela100% (3)
- Monitorizacao Fetal IntrapartoDocumento20 páginasMonitorizacao Fetal IntrapartoBrunaAinda não há avaliações
- OrtopediaDocumento170 páginasOrtopediaBrunaAinda não há avaliações
- Aula 2Documento31 páginasAula 2Beatriz MarimAinda não há avaliações
- Incidente Com Múltiplas Vítimas PDFDocumento53 páginasIncidente Com Múltiplas Vítimas PDFAllyson100% (2)
- ARRITMIADocumento30 páginasARRITMIABruna100% (1)
- Ficha de Avaliação Final - UFCD 9632Documento4 páginasFicha de Avaliação Final - UFCD 9632Sofia Rocha50% (4)
- Manual Neo Nov 2016Documento713 páginasManual Neo Nov 2016Camila GiachimAinda não há avaliações
- Aula 08.1 - ALESE - Saúde Do Homem e Do Idoso PDFDocumento67 páginasAula 08.1 - ALESE - Saúde Do Homem e Do Idoso PDFbrenompeixoto2709Ainda não há avaliações
- Alopecia Androgenética Causas, Sintomas e Tratamentos Próteses Capilares Exclusivas, Perucas e Apliques PDFDocumento1 páginaAlopecia Androgenética Causas, Sintomas e Tratamentos Próteses Capilares Exclusivas, Perucas e Apliques PDFBrunaAinda não há avaliações
- Caso Clínico - Otite Média Aguda - AnotaçãoDocumento3 páginasCaso Clínico - Otite Média Aguda - AnotaçãoBrunaAinda não há avaliações
- Acesso Central Sem VídeosDocumento61 páginasAcesso Central Sem VídeosBrunaAinda não há avaliações
- Estratificação de Risco CVDocumento8 páginasEstratificação de Risco CVBrunaAinda não há avaliações
- Urgências Clínicas Cardiológicas: GepprauDocumento21 páginasUrgências Clínicas Cardiológicas: GepprauBrunaAinda não há avaliações
- Ciclo CelularDocumento48 páginasCiclo CelularBrunaAinda não há avaliações
- Simulado HabDocumento7 páginasSimulado HabBrunaAinda não há avaliações
- OBSTETRICIA - PartogramaDocumento6 páginasOBSTETRICIA - PartogramaBrunaAinda não há avaliações
- V14n2a15 PDFDocumento6 páginasV14n2a15 PDFRicardo Iroko IsholaAinda não há avaliações
- RB1019 Almeida p.102-110Documento9 páginasRB1019 Almeida p.102-110Luana milena AmaranteAinda não há avaliações
- Prova Psicologia Na Saúde - Docx - Passei DiretoDocumento6 páginasProva Psicologia Na Saúde - Docx - Passei DiretoRafael Bezerra de OliveiraAinda não há avaliações
- Prova 03Documento3 páginasProva 03eduardoAinda não há avaliações
- INTRODUÇÃODocumento11 páginasINTRODUÇÃOCristovão Samuel MengaAinda não há avaliações
- 00 Enfermeiro PSFDocumento9 páginas00 Enfermeiro PSFGustavo MarquesAinda não há avaliações
- Treinamento NR 32Documento61 páginasTreinamento NR 32Samira GonçalvesAinda não há avaliações
- Herança SocialDocumento2 páginasHerança SocialAna PedrinaAinda não há avaliações
- Tradução Critérios de BaranyDocumento16 páginasTradução Critérios de BaranyJéssica D S SouzaAinda não há avaliações
- Caso Ozonio Retocolite1Documento9 páginasCaso Ozonio Retocolite1Carlos Antonio firminoAinda não há avaliações
- Atividade 3 Parasitologia PARTE 1Documento2 páginasAtividade 3 Parasitologia PARTE 1julianinha9Ainda não há avaliações
- Prova Engenharia de Segurança Do TrabalhoDocumento16 páginasProva Engenharia de Segurança Do TrabalhoJeessé Costa100% (1)
- Funciona RiosDocumento338 páginasFunciona RiosViolência punk RockAinda não há avaliações
- Sistema Reprodutor ExerciciosDocumento4 páginasSistema Reprodutor ExerciciosJiorge SilvaAinda não há avaliações
- Resolução CFN n.304.2003 PDFDocumento3 páginasResolução CFN n.304.2003 PDFCristianeAinda não há avaliações
- Quais As Vantagens Associadas Ao Consumo de Gomas DoctorGummyDocumento4 páginasQuais As Vantagens Associadas Ao Consumo de Gomas DoctorGummyVinicius FukumiAinda não há avaliações
- Epidemiologia - MedronhoDocumento127 páginasEpidemiologia - MedronhoLuísa OliveiraAinda não há avaliações
- Guia para Diluição de Medicamentos Injetáveis FHCDocumento29 páginasGuia para Diluição de Medicamentos Injetáveis FHCjessicapassos201Ainda não há avaliações
- Avaliação Microbiologica de Queijo Parmesão Ralado - Unopar PDFDocumento3 páginasAvaliação Microbiologica de Queijo Parmesão Ralado - Unopar PDFdornicAinda não há avaliações
- Incidentes Críticos, Um Fio de Ariadne Na Análise DocumentalDocumento11 páginasIncidentes Críticos, Um Fio de Ariadne Na Análise DocumentalRenata VilelaAinda não há avaliações
- CME - Central de Material e EsterilizaçãoDocumento14 páginasCME - Central de Material e EsterilizaçãoRafaelly OliveiraAinda não há avaliações
- Alterações Fisiológicas e Anatômicas Do Envelhecimento Aula 02Documento18 páginasAlterações Fisiológicas e Anatômicas Do Envelhecimento Aula 02jobenoneAinda não há avaliações
- ED Aula 1 Ana Carolina LeiteDocumento3 páginasED Aula 1 Ana Carolina Leitecarol leiteAinda não há avaliações
- Relatório Fleury 2020 PDFDocumento62 páginasRelatório Fleury 2020 PDFArthurVictorAinda não há avaliações