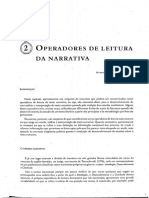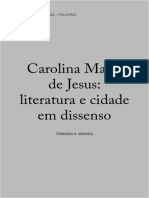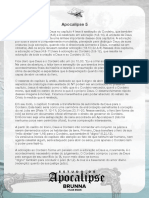O CONCEITO DE REPRESENTAÇÃO
LITERATURA, RELIGIÃO E CINEMA
O mundo é ‘re-presentado’, tornado mais uma vez presente.
Sophia de Mello Breyner Andresen (1991:341)
1. IMITAÇÃO E MIMESE
Com as reflexões de Platão e Aristóteles, instauram-se duas visões sobre a
(arte de) imitação: o discípulo de Sócrates condena-a, apelando mesmo à «(...)
necessidade de a recusar em absoluto (...)», pois «(...) todas as obras dessa
espécie se (…) afiguram ser a destruição da inteligência dos ouvintes (...).»
(Platão, 1972:451). Este sentido negativo atribuído à imitação é justificado por
«(...) o poeta imitador instaurar na alma de cada indivíduo um mau governo,
lisonjeando a parte irracional (...), que está sempre a forjar fantasias, a uma
enorme distância da verdade.» (id.:472). Se as existências do mundo sensível
são cópias das ideias puras, modelo ideal, o artista, ao imitá-las, produz imagens
de imagens do arquétipo, cópia da cópia, simulacros, pelo que se distancia duas
vezes do real, afastando o homem da contemplação da verdade. O poeta «imita»
pessoas que actuam, transformando-se, pelo discurso directo das
representações dramáticas, nas personagens, dando vida e alimento às paixões,
suscitando ilusões e falsas crenças, sem conformidade com a verdade universal
das ideias. Daí, a «mimesis» ser um processo enganador e perigoso para a alma,
sendo a imitação perturbadora e deformadora da realidade.
O filósofo peripatético defende que «(...) imitar é congénito no homem
(...)» (Aristóteles, 1986:106), faculdade inerente ao ser humano desde que
1
�nasce, dado tratar-se do modo como aprende e apreende o mundo e que o
diferencia dos animais. Segundo Aristóteles, a arte seria imitação por imitar a
natureza, suprindo as suas deficiências, entendendo-se a «mimesis» como uma
acção técnica recriadora da realidade, não repetição, mas analogia, semelhança
– que o produto artístico seja não verdadeiro ou falso, mas possível, provável,
verosímil, visando o universal e não o particular. A imitação poética é, pois,
imitação criadora. O objecto de todas as artes é a imitação de homens que
praticam acções, imitando-os melhores do que são, na tragédia, ou
ridicularizando-os, na comédia. Daí, pois, que o feio possa agradar.
A obra de arte (um quadro, por exemplo) será como uma duplicação
fotográfica do mundo sensível, fruto de um desenho interior formado no
espírito, reprodução de uma imagem interior da mente do artista. A imitação
consiste, pois, em apreender elementos da realidade, construindo uma imagem
simbólica. Não consiste em duplicar, dado não existirem duas imagens iguais –
só há imitação quando falta ou existe algo mais do que no modelo.1 A actividade
imitativa é, assim, um processo produtivo e construtivo que implica uma relação
e uma partilha, para que haja conformidade entre a imitação e o objecto
imitado, que permita o reconhecimento e a equivalência. A arte, como mimese,
para ser interpretada, implica um conjunto de normas e convenções, um código
cultural – a obra de arte imita a realidade, mas não é reflexo da realidade, uma
cópia do real. Condicionado pelas expectativas do artista e do receptor,
condicionando uma obra e a sua interpretação, o acto imitativo é determinado
pela tradição e por mecanismos que permitem reconhecer uma imagem como
representação da realidade ou a percepção que dela se tem. Só a familiarização
1
«(...) os poetas imitam homens melhores, piores ou iguais a nós, como o fazem os pintores (...).»
(Aristóteles, id.:105).
2
�com as convenções de cada área artística possibilitará julgar a expressão das
ideias ou emoções de uma obra a ela pertencente. Entenda-se, pois, que haja
rejeição do que é inabitual, artisticamente, dada a sua «irrealidade». Veja-se o
caso das vanguardas – por exemplo, a revista Orpheu, em 1915, tinha como
objectivo irritar o burguês, escandalizar, expressando uma vontade de romper
com o passado, de procurar formas novas, de experimentar processos de escrita
diferentes, de demolir, de renovar e inovar.
O texto literário é uma construção da realidade, uma «realidade fictícia»,
um «mundo fictício», é representação num outro plano. Imitar implica uma
composição e uma transformação, que recria metaforicamente a realidade. A
«mimesis» não é imitação ou reprodução, mas produção sob efeitos da
verosimilhança e da subjectividade: o universo que uma obra constrói é um
mundo possível,2 «(...) universo dotado de uma existência puramente textual
(...)» (Reis, 1997:563), construído a partir da leitura e da interpretação que o
autor faz da realidade, da sua relação com ela, com outros textos escritos,
produzido num determinado contexto. A ficção organiza a realidade em termos
de sentido, apresentando um modelo ou uma proposta de realidade ao
representar entidades do mundo real3 – o homem recorre às palavras (é a
linguagem que produz o texto4) para estruturar a sua percepção e representar o
real.5 A interpretação consiste em mostrar algo, é uma explicação de sentido e
uma reformulação – «fazer é refazer» (Goodman, 1995:43), conduzindo a
versões-de-mundos e não uma única, que se considere verdadeira, o que seria
uma hipótese arbitrária. Assim, a ficção é uma pluralidade de mundos, uma
2
«(...) o possível não é mais do que a face invisível do real.» (Magalhães, 2000:258).
3
«Mas foi a minha imaginação (partindo do real, eu sei) a construí-la. Magia para filtrar o mundo, dar-lhe
algum sentido.» (Oliveira, 2003:28).
4
«Toda a designação do real cabe à linguagem.» (Bessiére, 1995:381).
5
«A percepção e a representação não copiam, pela simples razão de que o mundo apreendido é já o
produto da interacção entre sujeito e objecto, entre o homem e o real.» (Buescu, 1990:268).
3
�leitura do real: «A work of art that imitates a model of reality thus seems to be
imitating reality itself.» (Steiner apud Buescu, id.:266). O mundo está no texto
enquanto é referido por ele – o texto apenas pode falar do mundo, representá-
lo. A «mimesis» é um «(...) processo impulsivo de imitar, não a realidade, mas
uma sua representação.» (Medeiros, 2000:37).
2. REPRESENTAÇÃO
Considerava Aristóteles: «(...) não é ofício do poeta narrar o que
aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é
possível segundo a verosimilhança e a necessidade.» (id.:115).
A representação é uma forma de compreender, de perceber o mundo,
simbólica e referencialmente, mediada por um sujeito; inclui aspectos e
elementos reconhecíveis do «universo real»,6 imagem de algo ausente,
representado interiormente pela imaginação, configurando-o: «(...) há
representação porque há refiguração (...).» (Bessiére, id.:382). Não se trata de
uma cópia servil, mas de uma interpretação, de uma leitura pessoal da
realidade. É a capacidade de idealizar, aliada à ficção e à transposição, que
apresenta metaforicamente a correspondência entre uma pessoa ou objecto e o
seu representante.7 É a ideia de tomar o lugar de: na política, os deputados
representam os seus concidadãos, que os elegeram como seus representantes;
no teatro, os actores representam as personagens criadas pelo dramaturgo, dão-
lhes vida perante os espectadores, presentificam-nas no palco – «(...) a noção de
6
«Não há representação a não ser através de um lugar e de um momento, através de uma personagem e de
uma acção que é a relação da personagem com os objectos desse lugar e desse momento (I. Watt, 1957).»
(apud Bessiére, id.:383).
7
«As goteiras tilintam: como registar este som?» (Oliveira, id.:30). Para representar sons da natureza,
recorre-se à criação de palavras que traduzam o seu significante.
4
�representação quer dizer tornar presente, mas implica sempre uma mistura de
presença e de ausência; de identidade e de diferença.» (Matos, 2001:208). A
representação de algo para alguém implica um acordo, um código, uma
convenção para a nova forma de apresentar, através da mimese e da
verosimilhança, a realidade concreta. Aquilo que representa é diferente do que é
representado, assegura a sua presença, substitui o que está ausente – é pela
semelhança que a representação pode ser conhecida, interiorizada na
consciência, presente no espírito.
Pensemos na religião: quando se diz que as estátuas representam santos
ou a Virgem, o que se afirma é a relação aceite, convencionada, da classificação
daquela imagem que denota o objecto que se pretende imitar. Porque não é
mais que uma norma religiosa o acto de ver e de acreditar nas imagens a
santificação dos seres a que correspondem. Nem sequer se podem dizer que são
feitas à imagem de quem representam, pois não existem representações
primitivas da Virgem ou dos santos que nos mostrem, com fidelidade, como
eram, realmente. Acredita-se que representarão como poderiam ter sido, ou
melhores, nos traços físicos e na expressão de beleza e grandeza, à semelhança
ou em substituição do que não está lá. E a cruz - como ler o que representa a
cruz? Nalgumas igrejas, encontram-se imagens de uma figura masculina
crucificada, noutras, tão-só uma cruz nua de madeira. No primeiro caso,
pretende-se que a expressão de dor e sofrimento provoque nos fiéis (apenas?) a
comoção e desperte a consciência da responsabilidade do peso que, diz-se, Jesus
teria assumido para a nossa salvação. No segundo caso, estamos perante um
símbolo, ou um índice, dado remeter para a imagem antes descrita.8 Não é
8
«(...) porque representar é seguramente referir, estar por, simbolizar. Toda a obra representacionista é
um símbolo (...).» (Goodman, id.:104-105).
5
�necessário mais para despertar a memória da narrativa da Paixão de Cristo. Mas
aceita-se que a cruz de madeira representa a morte e a promessa da
ressurreição de Jesus. Só para o crente é que as estátuas e a cruz representam o
que a tradição cristã designa como os seus representantes.
E como é representada a figura divina? Tida como omnipotente e
omnipresente, será representável? Pensar no divino, conceber um
conhecimento abstracto, invisível e inefável, remete-nos para o domínio do
irrepresentável. Só pela escrita foi possível caracterizar Deus, as suas qualidades
e manifestações, recorrendo a um discurso sublime. No tecto da Capela Sistina,
na cena da «Criação de Adão», Miguel Ângelo representa Deus como um
homem de cabelos e barbas brancos, pretendendo significar o tempo absoluto, a
sabedoria, a venerabilidade, o respeito e a autoridade que a idade traria. Outra
possível representação da entidade divina é sob a forma de um triângulo branco,
representando a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E como
interpretar este através de uma pomba branca? As igrejas são, pois,
representação do espaço divino e este modo simbólico de representação,
classificatório e normativo, impõe ao homem o seu lugar diante de Deus,
garantindo o legado perpétuo de uma ideologia e a sua regra de leitura.
Entendendo-se a representação da figura humana como obedecendo à
harmonia das partes, à proporção das superfícies e dos volumes, à dimensão dos
membros e à sua relação com o tronco e a cabeça, ela é posta em causa quando
se pensa numa figura extra-ordinária: o monstro. Mistura de seres, de partes
de seres, miscelânea de órgãos e de medos e lendas aliadas a cargas simbólicas,
o monstro descentra a representação: «Como estranho à ‘perspectiva’, nega este
modo de ‘simbolização’ (...).» (Gil, 1994:68).
6
� Pode entender-se o conceito de representação como: a) reprodução na
consciência de percepções passadas – as recordações; b) antecipação de
acontecimentos futuros – a imaginação. Unidas, estas duas perspectivas criam
uma representação de vivências do passado e antecipações do futuro que
encontraremos, por exemplo, nas obras de Júlio Verne, que encantam e
surpreendem pela capacidade de recriação e antevisão. É o que nos apresenta a
ficção científica – a criação de futuros mundos possíveis, não sem colher
elementos da realidade contemporânea, efabulando-os.9 Não é reprodução ou
reflexo da realidade; inventa-a, cria um outro universo: «(…) utópico, mítico, ou
apenas por vir.» (Matos, id.:213). Por isso, o Romantismo defendia o valor da
individualidade do génio criador sobre a imitação de modelos, rejeitando o
conceito de mimese pelo de expressão.
3. AUTO-REPRESENTAÇÃO E ENCENAÇÃO
Representar é colocar algo em vez de, é característica inata ao homem
dada a sua percepção da morte, mantendo «in praesentia» uma construção de
sentido diferente da realidade. A obra de arte é uma construção de algo novo
segundo uma convenção, que adquire uma nova vida enquanto houver leituras e
leitores, dependente da construção de vários intérpretes. A representação
implica, pois, uma construção de que o construtor não é só o autor.
Pensemos na fotografia: forma de documento do real, é uma
representação que deverá ser estudada em comparação com obras literárias,
com quadros e com outras fotografias da mesma época, como forma de
9
«A arte é, antes de mais, criadora, no sentido de desencadear experiências antecipadoras e alternativas
relativamente à realidade de determinado momento e circunstância.» (Matos, id.:213).
7
�cruzamento de dados e apuramento de um contexto epocal. A representação
fotográfica permite captar o indivíduo num determinado instante, melhor ainda
que o retrato pintado, tornando desnecessário que o modelo estivesse a posar
várias horas para que o pintor elaborasse, atenta e pacientemente, o quadro.
Mas, inicialmente, manteve-se a encenação, a pose, a construção de cenários,
imaginando-se o retratado qual personagem histórica, fantasiando, pondo em
cena um jogo ficcional que a fotografia guardaria. Posteriormente, o cinema virá
juntar movimento e vida ao retrato. Este não é um simples reflexo da realidade:
através de técnicas fotográficas, como o enquadramento e a iluminação, o
fotógrafo produz uma certa imagem que permanecerá.
É essa vontade de permanecer, de escapar ao desaparecimento, de deixar
marcas ou sinais de si, que justifica a auto-representação, como repetição,
multiplicação de imagens, exemplo de iteração e a negação da morte como
motor da representação. O indivíduo percepciona-se como um ser finito e
desenvolve uma capacidade de criar respostas para a sua tomada de consciência
através de imagens ou textos, objectos que o façam esquecer a sua condição de
mortal:
A representação do Outro ou de si surge pois como manifestação de uma
presença no mundo, como ponto de vista sobre esse mundo, mas também como forma
de potencialmente o recriar ou restaurar. Representar é sempre revolucionar. É sempre
uma forma de protesto contra o desvanecimento do ser no tempo. (Medeiros, id.:36)
Leia-se, agora, um pequeno texto de Maria Judite de Carvalho (1975:25-
27), para reflectir sobre a questão da representação de si próprio:
8
� O GRAVADOR
Eu não sabia como era a minha voz; nunca a tinha escutado a sério, com
atenção... Como havia de ser se falo ao mesmo tempo?
Um dia apareceu lá em casa um gravador, e ei-la a entrar-me pelos ouvidos. Isto
é a minha voz? perguntei num espanto. E todos a dizerem que sim, pois claro, que era
exactamente a minha voz, sem tirar nem pôr.
Coisa mais misteriosa! Uma pequena máquina que rasga os véus entre nós e a
nossa voz, que a fixa ali, como ela é, na fitinha castanha, até à curta eternidade das fitas
magnéticas. Ali está ela, a minha voz (dizem todos que sim e eu acredito) a dizer não sei
o quê há três meses e tal, uma frase qualquer sem pés nem cabeça, a que me ocorreu na
altura.
Coisa útil também, já pensaram? Não para gravar canções, nem conversas, nem
frases sem pés nem cabeça, nada disso. Pedir às pessoas que nos são mais queridas, aos
grandes amigos, àqueles que farão tudo por nós, que gravem frases tranquilizadoras que
depois podemos ouvir incessantemente. Frases definitivas sobre o amor e a amizade e a
lealdade e a imperecibilidade das palavras, das frases ditas num momento e logo
petrificadas para todo o sempre, ali, na fitinha giratória. Hei-de gostar sempre de ti.
Você sabe como eu sou seu amigo (ou sua amiga). Nunca seria capaz de uma
deslealdade. Longe de ti, não sou eu. Não tem ninguém tão seu amigo (ou tão sua
amiga). Coisas assim.
A fitinha a voltar atrás a um simples gesto nosso, e nós tranquilos, meu Deus
que tranquilidade. De olhos fechados, de sorrisos nos lábios, a ouvir, a ouvir... A
acreditar, a acreditar... Na tal imperecibilidade, na tal petrificação... Hei-de gostar
sempre de ti. Você sabe como eu sou seu amigo (ou sua amiga). Nunca seria capaz... E
adormecer assim.
O texto é exemplo de uma auto-representação e uma reflexão sobre a
possibilidade (ou desejo) de perenidade de um sujeito, permitida pela gravação
da sua voz. Recorde-se o provérbio latino: «Verba volant, scripta manent» –
parece que os tempos modernos reformularam este dito com o avanço da
técnica que regista, para além do que é escrito, também o que é dito. Num texto
que se representa confessional, uma reflexão pessoal de um «eu», há que
questionar quais os limites entre a verdade e a invenção, entre a pessoa e a
personagem, e qual a diferença e se há cisão entre a realidade e a ficção – quem
9
�escreve, oculta-se no que diz; quem fala, fala na sua ausência. Um texto de
ficção é um discurso representativo com uma intenção de fingimento e uma
aceitação do jogo ficcional por parte do leitor – a suspensão voluntária da
descrença –, não implicando uma atitude de verificação: «(…) o que é possível é
plausível (…)», afirma Aristóteles (id.:116). O funcionamento da verosimilhança
consiste em incutir à ficção o «efeito de real».
Neste texto, o sujeito descobre-se, tem uma revelação de si próprio, ao
ouvir a sua voz gravada e apercebe-se de não ter consciência de como soa. Mais
atento ao acto de falar e às reacções do receptor, não desenvolvera a capacidade
de se ouvir a si próprio e necessita da confirmação dos outros. Daí, a surpresa e
o desconhecimento que se tornam reconhecimento, «espanto». «Coisa mais
misteriosa!»: o gravador ou a consciência de si, no rasgar de «(…) véus entre nós
e a nossa voz (…)», marca do sujeito, qual pintura rupestre, legado verbal,
permanência da voz, «(…) fixa ali, (...) até à curta eternidade das fitas
magnéticas.». Mas será só das fitas, ou também o sujeito se consciencializa da
sua efemeridade e da daqueles que lhe são queridos? Solicita-lhes, pois, que
também dêem registos de si, suas representações, assinatura, como
«praesentia in absentia»,10 do ser, do discurso, dos sentimentos partilhados,
quando não estiverem perto, repetíveis, iteráveis, em momentos de inefável
solidão e frustração humanas. «Frases definitivas», «imperecibilidade das
palavras», «petrificadas», são lexemas que remetem para a ideia da morte, do
sujeito, das outras pessoas, dos seus discursos, mas permanentes na memória:
«(…) meu Deus, que tranquilidade. De olhos fechados, de sorrisos nos lábios, a
ouvir, a ouvir... A acreditar, a acreditar... (...) E adormecer assim.».
10
«(...) a ausência é o lugar primeiro do discurso (...).» (Foucault, 1992:31).
10
� 4. A REPRESENTAÇÃO NAS ARTES PLÁSTICAS E NO CINEMA
O Renascimento é o grande eixo em torno do qual gira a problemática da
representação, com a noção de perspectiva: a projecção de um espaço dentro do
espaço do quadro. No século XVI, os artistas italianos construíram a câmara
escura, uma espécie de caixa escura através da qual o artista copiava sobre
grandes telas o contorno das imagens invertidas que nelas se projectavam.
Canaletto (1697-1768) foi o primeiro a desenhar com exactidão cenas em
perspectiva, através deste processo – recriando a perfeita ilusão de espaço físico
no espaço plano, representando a realidade miniaturizada numa superfície
plana, reproduzia indícios de profundidade, qualquer que fosse a distância a que
se encontrasse o observador. Uma ilusão torna-se realidade, a partir de um
ponto (de fuga) que atrai o olhar, tal como na representação teatral um foco de
luz orienta o olhar dos espectadores para o palco ou destaca um espaço ou uma
personagem – a visão é o sentido verdadeiramente criador da realidade, pois a
ideia de profundidade é uma construção. A introdução das noções de espaço e
de tempo permitiu que a representação pictórica tivesse uma referência ao
mundo objectivo, sendo a ideia de tempo, nos quadros, representada da
esquerda para a direita.
Quanto à representação do real, a arte grega era profundamente
mimética, em busca da «mimesis» perfeita na representação da figura humana,
procurando aperfeiçoar o real e transformá-lo em símbolo, ideal de força, beleza
e perfeição nas proporções. Os egípcios representavam a figura humana
estilizada, com ausência da tridimensionalidade, não dominando o escorço.11
11
Representação de objectos em proporções menores que a realidade, efeito de perspectiva segundo o
qual os objectos, vistos de frente, apresentam dimensões reduzidas.
11
�Pelo contrário, representavam perfeitamente plantas e animais. Por
comparação, a arte da Idade Média é religiosa, simbólica, não mimética,
querendo reproduzir o divino em grandeza, valorizando e destacando o que é
mais importante num tamanho maior, como na arte egípcia, dado a diferença no
tamanho assinalar uma diferença na importância. Atente-se na (des)proporção
das grandes catedrais que esmaga o homem.
A fotografia, imagem colada ao real, instituirá uma crise na representação
com o desaparecimento do «parecido», apesar de, inicialmente, ter um carácter
pictórico com a tentativa de fazer quadros, recorrendo a cenários e à pose.
Assiste-se ao desejo de posse da imagem, acessível a um maior número de
pessoas, fruto do desejo de superar a morte e dar continuidade à vida,
apropriando-se de uma memória viva que substitui o real.
No seu seguimento, o cinema será a representação total e completa da
realidade, ao reproduzir o movimento. Forma de documentar o real através da
imagem e do movimento, o cinema deriva de uma particularidade: a
persistência retiniana. Dado que o olho conserva durante uma fracção de
segundo a impressão do que vê, basta passar à sua frente, com rapidez
suficiente, imagens encadeadas umas nas outras para que se possa reconstituir o
movimento – o olho consegue-o facilmente, pois cada imagem surge antes que a
anterior tenha desaparecido da retina.
Atente-se, agora, no seguinte excerto do Idílio XV de Teócrito: «Ó
venerável Atena, que tecedeiras as conseguiram fazer? Que artistas puderam
desenhar com tanta exactidão estas figuras? Que verdade nas posições, que
verdade nos movimentos! Não parecem tecidas, parecem vivas. O homem é
realmente habilidoso.» (Rodrigues, 2000:123). Não existe imagem sem o olhar,
que alia e institui uma relação entre recreação e recriação (Auerbach,
12
�2002:319) – perante uma tapeçaria, o observador não se cansa de exultar as
características da representação (não animada) que admira, mas dotada de tal
animismo que parece adivinhar um avanço técnico futuro que fixará e
representará a realidade em movimento. A tapeçaria evoca a colagem de
fotografias ou fotogramas que se sucedem a um dado ritmo e com uma
determinada rapidez. Repare-se na caracterização: «tanta exactidão»,
«verdade», «parecem vivas» – apesar de imóveis nos seus gestos, as imagens
parecem ganhar vida e dão ao observador a impressão de assistir a uma cena
quotidiana. E será essa a missão do cinema – aliar o divertimento a
representações possíveis da realidade; não reprodução do real, ilusão, mas a
apresentação de histórias com que os espectadores se poderão identificar e,
nesse jogo, ter um efeito catártico, permitindo os possíveis que a vida não
concede.
No cartaz que acompanha o filme de Alejandro González Iñárritu ressalta
uma pergunta: «Quanto pesa a vida?». A resposta é o título do filme: 21 gramas
(EUA, 2003). É esse, assegura a ciência, o peso que se perde no momento da
morte. Vinte e um gramas separam o tudo do nada. Tão pouco e tanto. Mas o
que impressiona é a possibilidade de representar a vida e, opostamente, ser
possível medir, pesar, calcular o significado da morte – uma ausência de peso. E
como é ele perdido? De que órgão? De que forma? Sob que forma? Voltamos à
questão do irrepresentável – mas a ciência afirma... Objectivamente, parece ser
facto (representado numa ficção12) qual é a diferença entre a vida e a morte.
Noutro filme do mesmo ano, do realizador francês Gaspar Noe, intitulado
Irréversible, é apresentado ao espectador uma história de três amigos – uma
12
«‘Fabricação’ tornou-se um sinónimo de ‘falsidade’ ou ‘ficção’ por oposição a ‘verdade’ ou ‘facto’.
(...) a ficção é fabricada e o facto descoberto.» (Goodman, id.:141).
13
�mulher, o seu namorado e o seu ex-namorado – e a sua reacção à violação dela,
após a saída de uma festa. A forma inovadora de apresentação/representação
deste filme é, de igual modo, recordada como a crueza do episódio central da
sua história, contada do final para o princípio – isto é, quebrando a norma, a
regra de contar uma história linear, do início até ao seu desfecho, aqui, o
espectador é chamado a intervir, a participar, a ter um papel activo de
acompanhamento, de decifração e reconstituição do que lhe é narrado, pois tem
que fazer ligações constantes e permanentes entre as cenas que já viu, sabendo,
no início, como acaba a história, não porque deduza de imediato ou lhe seja
oferecido tão simplesmente essa conclusão, mas porque tem, logo à partida,
conhecimento do final do filme que se encontra a ver.
Representação da literatura realista do século dezanove emoldurada pela
perspectiva do Renascimento, o cinema passou de arte de feira para os pobres
para entretenimento que disputa o lugar das artes plásticas e da literatura.
14
�BIBLIOGRAFIA
ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner (1991). Obra Poética. Lisboa, Caminho,
volume III.
ARISTÓTELES (1986). Poética. Tradução, prefácio, introdução, comentário e
apêndices de Eudoro de Sousa. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda/
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
AUERBACH, Erich (2002). Mimesis – A Representação da Realidade na
Literatura Ocidental. São Paulo, Editora Perspectiva, 4.a edição.
BESSIÈRE, Jean (1995). «Literatura e Representação» in Marc Angenot et alii
(dir.). Teoria Literária – Problemas e Perspectivas. Lisboa, Publicações Dom
Quixote, pp. 378-396.
BUESCU, Helena Carvalhão (1990). Incidências do Olhar. Percepção e
Representação. Lisboa, Caminho.
CARVALHO, Maria Judite de (1975). A Janela Fingida. (Textos publicados em
1968 e 1969 no Diário de Notícias e outras publicações). Lisboa, Seara Nova.
FEIJÓ, António M. (1999). «Mimese» (s.v.) in José Augusto Cardoso Bernardes
et alii (dir.). Biblos. Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua Portuguesa.
Lisboa/S. Paulo, Editorial Verbo, 3.º volume, cols. 788-794.
FOUCAULT, Michel (1988). «Representar» in As Palavras e as Coisas.
(Colecção Signos n.º 47). Lisboa, Edições 70, pp. 101-130.
------- (1992). O que é um autor?. (Colecção Passagens n.º 6). S.l., Vega.
GIL, José (1994). Monstros. Lisboa, Quetzal Editores.
GOODMAN, Nelson (1995). Modos de Fazer Mundos. Porto, Edições Asa.
MAGALHÃES, Rui (2000). «A Literatura e o In-Possível» in Isabel Allegro de
Magalhães et alii (coord.). Literatura e Pluralidade Cultural. Actas do III
15
�Congresso da Associação de Literatura Comparada. Lisboa, Edições Colibri, pp.
255-263.
MATOS, Maria Vitalina Leal de (1987a). «Mimese» in Ler e Escrever. Lisboa,
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, pp. 171-179.
------- (1987b). «Imitação» in op. cit., pp. 181-184.
------- (2001). Introdução aos Estudos Literários. Lisboa/S. Paulo, Editorial
Verbo.
MEDEIROS, Margarida (2000). Fotografia e Narcisismo. O Auto-Retrato
Contemporâneo. Lisboa, Assírio & Alvim, pp. 33-39.
MITCHELL, W. J. T. (1995). «Representation» in Frank Lentricchia e Thomas
McLaughlin (eds.). Critical Terms for Literary Study. Chicago/London, The
University of Chicago Press, second edition, pp. 11-22.
MODICA, M. (1992). «Imitação» in Ruggiero Romano (dir.). Enciclopédia
Einaudi. Criatividade – Visão. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda,
volume 25, pp. 11-47.
OLIVEIRA, Carlos de (2003). Finisterra. Lisboa, Assírio & Alvim.
PLATÃO (1972). A República. Introdução, tradução e notas de Maria Helena da
Rocha Pereira. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
REBELO, António Ribeiro (1997). «Imitação» (s.v.) in José Augusto Cardoso
Bernardes et alii (dir.). Biblos. Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua
Portuguesa. Lisboa/S. Paulo, Editorial Verbo, 2.º volume, cols. 1158-1170.
REIS, Carlos (1997). «Ficção/Ficcionalidade» (s.v.) in José Augusto Cardoso
Bernardes et alii (dir.). Biblos. Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua
Portuguesa. Lisboa/S. Paulo, Editorial Verbo, 2.º volume, cols. 560-566.
RODRIGUES, Nuno Simões (org.) (2000). Traduções Portuguesas de Teócrito.
Lisboa, Universitária Editora.
16
�in Vértice n.º 150. Lisboa, Editorial Caminho, Janeiro/Fevereiro de 2010,
pp. 42-52.
17
� RESUMO
A recusa platónica da imitação, como perturbadora e deformadora da
realidade, e a defesa aristotélica, que considera a imitação como criadora,
marcaram os primórdios da representação simbólica da realidade. Tendo por
base uma relação de equivalência que permite o reconhecimento do real,
constrói-se um mundo fictício, possível, recriando metaforicamente a realidade,
numa representação que a configura através de uma leitura pessoal.
Através de uma regra normativa, as figuras religiosas representam o
divino e a arte pictórica procurará representar o real nas suas características de
espaço, tempo e profundidade. O cinema será a representação total e completa
da realidade, ao reproduzir e fixar o movimento.
A actividade imitativa é um processo produtivo que implica uma
relação e uma partilha, permitindo o reconhecimento e a equivalência com o
real.
O conceito de representação pode ser lido como reprodução na
consciência de percepções passadas – as recordações – e antecipação de
acontecimentos futuros – a imaginação.
A auto-representação é manifestação de uma presença, de marcas ou
sinais de si, e negação da morte através de imagens e palavras como
perenidade de um sujeito.
18