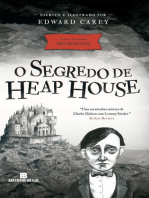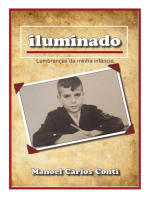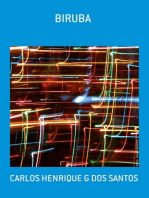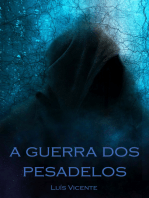Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
05A Rotina Do Quartel
Enviado por
Higino Macedo0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações4 páginasRotina
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoRotina
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações4 páginas05A Rotina Do Quartel
Enviado por
Higino MacedoRotina
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
A rotina do Quartel
Depois de uma semana, todos já tinham estabelecidos suas rotinas. Os coturnos já
cabiam nos pés, as roupas já tinham se ajustado ao corpo. Era impressionante essa
capacidade das roupas de então. Parece que elas se moldavam à pessoa. Claro, os com
familiares na cidade, ou com dinheiro, os alfaiates e costureiras faziam a adaptação. A
cobertura (bico-de-pato, capacete, gorro) se ajustava tanto ao dono que, encontrando a
cobertura, se via o rosto dele, em baixo, como se fosse um holograma.
Todos se empenhavam ao máximo na instrução individual, pois estavam ansiosos
para executar as primeiras instruções de tiro, o que permitiria a que se tirasse serviço
armado, isto é, com o fuzil, como os praças-velho.
Nas primeiras semanas, tinham alguns trotes e brincadeiras, de gosto duvidoso,
durante a “revista do recolher”. Eu tinha pena dos peões por serem, além de lentos,
inocentes. Tinha cobra cega, chicote queimado e outras mais fornecidas pelas mentes
criativas dos que têm alguma coisa de sádico.
Já podia tirar alguma lição da nova vida. Uma, era que quartel sem cachorro não é
quartel. E eles tinham simpatia por alguma atividade: uns seguiam a ordem unida, outros o
pessoal que tirava serviço no paiol, outros ficavam no almoxarifado. Todos se reuniam, perto
do rancho, quando os soldados entravam em forma.
Outra lição era o primeiro contato com as personalidades muito diferente das que se
trazia de casa. Fui notar que os valores morais eram muito flexíveis, para muitos. O que era
honesto, para mim, não o era, para muitos; e já notava que aqueles que vinham de lares
destroçados tinham muito mais dificuldade de separar “o meu” “do teu”. Notei que os
homens urbanos eram mais corruptíveis e corrompidos que os homens rurais. Entre estes, a
moral era mais forte, a palavra dada era mais importante que o papel; o nome de família,
que compunha seu nome, era patrimônio mais importante que seu próprio nome. Assim, eles
traziam no caráter o “sentir vergonha”. Já os urbanos se vendiam, ofereciam comprar as
quebras das regras estabelecidas, a trabalhar mal, a valorizar o ócio como expressão de
malandragem; banalizavam a palavra dada, traiam a camaradagem, faziam da tergiversação
o comportamento diário. Assim, nas primeiras semanas, esses mais malandros começaram
a cometer transgressões. Querendo ser mais malandro que pudessem ser, sempre eram
desmascarados pelos sargentos que tinham anos de experiências em trato com o humano
relapso. O mais importante: comecei a notar a organização. Para tudo tinha manual.
Qualquer assunto da instrução tinha um manual. Para cada arma, munição, aparelho, graxa,
óleo... tinha um manual. Comecei a ver os "bem-informados", entre os mais antigos: os que
sempre têm uma resposta pronta em acordo com o REGULAMENTO. E como, vi e ouvi, nos
anos de caserna, os que arrotavam o regulamento!!! O regulamento me fez meditar muito ao
longo da vida militar.
Vencido os trinta dias, os que moravam na cidade, foram para casa, incluído eu. Até
hoje, meus irmãos brincam comigo, pois quando cheguei em casa me assustei: tudo me
parecia tão pequeno, tão apertado, tão desajeitado: a sala, a cozinha e o meu quarto,numa
casinha ao fundo. Até a cama parecia pequena. Tenho as imagens até hoje, na mente. E,
mais velho, não entendo de como, em trinta dias, meu cérebro embaçou a visão que eu
tinha e colocou outras imagens da proporção da minha casa. Levei uns três dias para que o
cérebro ajustasse a pequenez da minha casa com o gigantismo dos pavilhões do quartel
como coisas normais.
Levou mais de semana até que os recalcitrantes entendessem que “hora é hora: nem
antes nem depois da hora” e tinham que estar, no quartel, prontos para a formatura – “na
hora da formatura”. Muitos tentavam justificar o chegar atrasado porque faltou ônibus; que a
bicicleta furou o pneu; que a chuva estava muito forte; que o relógio ficou travado e não
despertou (não tinham os rádios-relógios elétricos, de hoje, e do celular nem havia projeto);
ou justificar o desalinho do coturno sujo porque choveu, porque tinha muita poeira, que
morava longe; de que a barba estava assim porque tinha feito ontem ao deitar, porque a
“gilete” era velha; ou da farda amassada porque não secou, porque não tinha carvão para
esquentar o ferro-de-passar (não havia ferro elétrico). Foi onde ouvi pela primeira vez, de
muitíssimas depois: “soldado é superior ao tempo”. E eu sempre acreditei nisso, ou melhor,
fiz tudo para assim ser, mesmo com o sacrifício da saúde que me cobra um tributo alto, hoje,
chegado à idade sex – sexagenária.
Começaram a florescer as personalidades, os líderes, e os choques entre eles. Havia
analfabetos muito inteligentes, que pela minha imaturidade, a mim, deixava-me estupefato e
ao mesmo tempo extasiado com essas diversidades. Tinham muitos com completa
descoordenação motora. Na educação física, tem um exercício que se chama polichinelo. É
de execução fácil: começava da posição como em sentido (posição fundamental na
linguagem da ginástica calistênica, a preconizada na época). Pois, da posição inicial saltava-
se para cima o suficiente para voltar com as pernas abertas ao mesmo tempo em que os
braços subiam acima da cabeça batendo as palmas das mãos; novo salto e voltava-se para
a posição inicial. Esse exercício era uma diversão. Muita gente ou dava dois tapas em cima
para uma abertura da perna ou duas aberturas de perna para um tapa, em cima. Outros,
com completa incapacidade de guardar nomes. Na instrução de mosquetão a nomenclatura
do carregador era – “carregador, tipo lâmina, para cinco cartuchos”. Tinha uma inspeção da
instrução por oficiais do QG. Todos os instrutores, e todos eram sargentos, com elevado
nervosismo. Como a pergunta era aleatória, aos recruta, resolveram intensificar a “decoreba”
sobre os que tinham dificuldades. O mais massacrado foi um recruta de número baixo. O
sargento perguntou a ele: – “oh, Número 210, que peça é essa?” – “É um carregador”,
respondeu; o rosto do sargento esboçou um sinal de alívio e de satisfação e continuou o
sargento: – “o nome dessa peça é...” e, ai o recruta (o 210) tascou de um fôlego só: – “é um
carregador metálico tipo gilete” (associou lâmina – carregador, com gilete – lâmina de
barbear). O sargento quase desmaiou; isso era quase cinco horas da tarde e a inspeção
seria as sete do dia seguinte. Sobrou para mim, ir até onze horas da noite fazendo o
“mocorongo” repetir o nome correto das peças do mosquetão. Tanto que eu nunca mais
esqueci. Explicando. Mocorongo, na linguagem castrense, é aquela pessoa que por falta de
jeito, de coordenação motora, de inteligência não consegue realizar os padrões mínimos das
atividades militares. A maioria deles vai para o rancho como auxiliar de cozinha. Na época,
os fogões eram à lenha. Então, todos os dias tinham os cortadores de lenha. Uma vez por
mês, um caminhão ia ao longo das estradas ou em lavouras recém-formadas para apanhar
lenha. Era tanto cerrado que lenha era farta. Mas, os mocorongos eram muito discriminados,
na linguagem de hoje. Rejeitado, mesmo. Pelo dicionário, de forma pejorativa, é: caipira,
mulato, alguém de pouca instrução e também quem nasce em Santarém, Pará. Fico com
minha observação, para consumo castrense.
O cerimonial do rancho era divertido. Quem chegasse até o primeiro terço da
companhia, tinha garantido a “répe” (regressão de repetir), isto é, poderia “repetir” o almoço.
A gula dos dezenove anos é algo assustador, mas lógico e os olhos eram maiores que a
barriga ou que a necessidade de alimento, somados com os maus hábitos de casa. Mas,
também requeria que se comesse rápido. Isso teve enorme influência em minha vida. Nos
tempos de Cadete foram sensacionais. Nunca passei fome por “ações do inimigo” na hora
do almoço. Mas, hoje, o tempo que paro para as refeições parece que estou perdendo
tempo com alguma coisa pouco importante. Até hoje, cinco minutos, para uma refeição, é
muito tempo.
Havia uns “vivos” que levantavam de madrugada, mais ou menos as três e meia ou
quatro da madruga, para auxiliar o rancheiro acender o fogo, fazer o café, buscar o pão na
padaria da subsistência (pão feito por um quartel), cortar o pão e passar margarina. A
bisnaga do pão dava três pedaços. Cada pedaço seria dois pães de cinquenta gramas, de
hoje. Mas, essa grande solidariedade com o rancheiro não era gratuita. Era para ganhar um
pão com margarina para lanche ou merenda durante o dia.
Fiquei muitas vezes indignado com a comida mal feita. Reclamava sempre da salada
de tomate, fruto que sempre gostei. Como tinha um cozinheiro, amigo da família, fui incisivo
com ele. Num dia chuvoso, a instrução estava prejudicada. E o amigo conseguiu com o
instrutor me requisitar para ajudar no rancho. Foi logo dizendo: – “aqui está a faca, ali três
caixa de tomates; são oito horas e a salada tem que ficar pronta até às dez e meia, no
máximo”. Então pensei: “vou cortar bem fininho para mostrar a esses rancheiros que eles
são preguiçosos e relaxados”. Abri a primeira caixa, tirei a tampa, lavei a tampa da caixa e a
fiz de aparadouro para cortar os tomates. Ás nove horas eu tinha cortado apenas meia
caixa. Passou o rancheiro amigo e disse: – “nessa marcha, você não cumprirá a missão...
aperte pé” (na linguagem da terra quer dizer: “acelere”). Comecei a cortar em pedaços mais
graúdos. Às dez horas, ainda faltava uma caixa completa. Tive que apelar: colocava os
tomates “em forma” (em fila) e batia a faca como estivesse desgalhando mato. Tinha tomate
cortado de todo jeito: pela metade, de lado, em comprido, apenas lascado... Entreguei o
tomate, às dez e meia e, já como castigo, tive que temperá-lo: sal e óleo de caroço de
algodão (óleo de soja ainda não era usado). Errei o sal. A soldadesca reclamou bastante. E
o rancheiro ficou uma fera comigo. Foi uma grande lição: antes de reclamar de qualquer
coisa, por mais singela que seja, veja como é feita, com que recurso, com que tempo...
Sobre o rancho também tem uma história bem tenebrosa. Nunca vi tanta mosca num lugar
como ali. Mas era muita mosca. O Subtenente mandava borrifar quase um litro de inseticida
com bomba de flitz ou flits ou flit (não sei se o nome é pelo inventor da bomba ou se pela
marca do veneno, que passou usar tal bomba) todos os dias, antes do almoço. Ainda tinha
um apetrecho com luz azul e com fios eletrizados que era para eliminar moscas. A luz atraia
a mosca e os fios a eletrocutavam. A mim, de extrema inutilidade. Mas, a panela de feijão
era sempre a mais fumegante e a maior. No início de servir a comida, levantava um rolo de
vapor, muito denso, que atingia o teto. E aí era uma festa: cada mosca que passava voando
era morta pelo vapor quente e caia no feijão. Moral da história: quem viesse do meio para o
fim da Companhia para almoçar, ao ser servido de feijão, encontrava grande quantidade de
mosca no feijão. Mas era muita mosca, mesmo. Ao afundar a concha, tinha que balançar de
um lado para outro para tirar a camada, a nata de mosca morta, sobre o feijão. Para os mais
sensíveis, era nojento e não comiam feijão. Todo o rancho buscava uma solução: como
eliminar tanta mosca. Até que um filho de Deus, recruta, achou o foco e deu a solução. Na
descrição das instalações foi dito que ao lado do rancho ficava o campo de futebol. Entre o
rancho e o campo, além de uma cerca de arame farpado, havia uma rampa, pois havia uma
diferença de nível de aproximadamente um metro ou mais. Pois bem, os rancheiros jogavam
a borra de café, do coador, atrás do rancho e na rampa do campo. A prática parecia ser de
anos, pois havia uma enorme camada de borra velha e já se estendia por uns vinte ou trinta
metros. Aí, o recruta, num dia de faxina disse: – “as moscas são criadas debaixo dessa
borra”. O meu grupo estava capinando exatamente as rampas. O sargento encarregado
mandou que, eu e outro soldado, escarafunchássemos a borra. Não deu outra coisa:
milhões de larva, mas muitas larvas brancas. Inacreditável a quantidade de larvas. A solução
do recruta: – “vamos cavar uma fossa e enterrar todas essa borra”. Logo, chamaram o
Subtenente e ele solicitou dois voluntários para fazer a fossa. Perguntei à ele quantos dias
daria para fazer a fossa. Ele chutou: – “cinco dias, topa”? Consultei um outro recruta, bom de
serviço, e topamos. Era uma sexta-feira. Trabalhamos sábado e domingo e ganhamos de
segunda a sexta da semana seguinte. Depois o Subtenente reclamou que foi enganado. Na
verdade ele “se enganou-se a si mesmo”. Mas, foi a solução: as moscas diminuíram,
rapidamente. Colocaram as borras na fossa e em seguida ensoparam com óleo diesel e
atearam fogo. Os resíduos do rancho, em particular o de café, foram lá colocados e sempre
cobertos com cal virgem. A panela de feijão, penhoradamente, agradeceu.
Mas, todos os dias eu me lembrava de que eu estava ali para cumprir meu serviço
militar inicial. Meu objetivo era dar baixa na “primeira baixa” e, em dezembro, e assim em
janeiro seguir para São Paulo. Terminado o internato, tratei de garantir a matrícula. Senti
que teria problemas. Era a escala de serviço. Era apertada. De dois em dois dias se estava
de serviço. Eu morava cerca de três quilômetros do quartel. Saia às cinco e meia e, as seis,
com folga já estava em casa. Não podia esperar o “boião do quartel” porque me atrasaria.
Tomava o banho, e quando tinha, comia o arroz do dia. Por isso disse antes: a comida do
quartel era melhor que a de casa, no mínimo da minha casa. Tinha que ir de “farda de
passeio”. De casa ao colégio tinha mais ou menos uns quatro quilômetros. Em “marcha
forçada” eu levava de trinta a trinta e cinco minutos. Portanto, tudo muito cronometrado:
saída do quartel às cinco e meia da tarde, no máximo; saída de casa as seis e quinze, seis e
vinte da tarde, para chegar ao colégio às sete. A linha de ônibus era de hora em hora e
também não havia dinheiro para isso. Se encontrasse amigos não podia bater papo para
não chegar atrasado. Mortal era em dias de chuva. Quantas vezes, cheguei literalmente
ensopado. O monitor escolar, meu conhecido do campeonato varzeano, me quebrava o
galho: eu perdia um tempo de aula enquanto a roupa escorria embora ficasse molhada de
modo a não molhar a sala. O monitor também abria o portão para eu entrar mesmo depois
de fechado, pois ele sabia de onde eu vinha e o atraso era sempre justo; como ele mesmo
disse: se você chegou até aqui é porque não veio brincar, deu azar e se atrasou. E a Volta?
Ruas escuras, ruas sem pavimento, enxurrada vermelha da argila laterítica... muitos
escorregões, muitos tombos, muita roupa suja... Em casa, eu lavava o sapato e retirava o
barro mais grosso e deixava tudo de molho para a mãe, no dia seguinte terminar de lavar e
tentar secar a roupa, pois seria a mesma no final da tarde. Algumas vezes ela teve que
secar a túnica com ferro de passar.
No colégio dei o meu primeiro fiasco. Na instrução de “Continência e Sinais de
Respeito”, tudo constando de um regulamento – R3, me disseram que, ao ouvir o Hino
Nacional, eu deveria fazer a continência regulamentar. E disseram que isso só era feito em
cerimônias oficiais. Mas, por acaso, no colégio não é cerimônia e não é oficial sendo um dia
cívico? Para os entendedores de regulamento isso não é cerimônia oficial. Incluído aí o
diretor que era oficial QOA da reserva. Não tive dúvida: começamos a cantar e eu não só
cantava muito alto, pois tinha orgulho daquilo tudo, como também fazia minha continência.
Eu fardado, é claro. Um monte de militares à paisana, à meia boca, me mandando desfazer
a continência. Agüentei firme. Fiquei até o final. Terminado o hino, seguimos para as salas
de aula. O diretor, como dito, militar da reserva, me chamou e repetiu a baboseira, mas
elogiou a determinação de continuar, mesmo errado, para ele, mas convicto. Os sinais de
respeito mudaram bastante de lá até eu ir para a reserva como coronel. Mas até hoje, para
mim, colégio em formatura, dia cívico é cerimônia oficial. E todo bicho de cabelo e unha que
veste farda faz continência – do início ao fim do hino. E assim creio até hoje.
– 888888888888888888888888888888888888 –
Você também pode gostar
- Quadrado De Armas: História Gay Ambientada Em Quartel MilitarNo EverandQuadrado De Armas: História Gay Ambientada Em Quartel MilitarAinda não há avaliações
- Chuck Palahniuk - GutsDocumento6 páginasChuck Palahniuk - GutsGustavo SoaresAinda não há avaliações
- Crônicas: A infância e a juventude de uma pessoa ambiciosaNo EverandCrônicas: A infância e a juventude de uma pessoa ambiciosaAinda não há avaliações
- Guts - Chuck PalahniukDocumento6 páginasGuts - Chuck PalahniukPris SerraglioAinda não há avaliações
- Guts/Tripas PT-BRDocumento6 páginasGuts/Tripas PT-BRdiego.navega3100100% (2)
- O Homem Com Cheiro De Pastel De Carne E Outras HistóriasNo EverandO Homem Com Cheiro De Pastel De Carne E Outras HistóriasAinda não há avaliações
- Platão - A República (Ou Sobre A Justiça, Diálogo Político) (2006, Martins Fontes)Documento418 páginasPlatão - A República (Ou Sobre A Justiça, Diálogo Político) (2006, Martins Fontes)Carolina NaveiraAinda não há avaliações
- JEROME Jerome K 1891 A Nova UtopiaDocumento27 páginasJEROME Jerome K 1891 A Nova UtopiaMoziAinda não há avaliações
- 1)- Doce Infância 2)- A Maldição 3)- O InfernoNo Everand1)- Doce Infância 2)- A Maldição 3)- O InfernoAinda não há avaliações
- A Zona de Interesse - Martin Amis PDFDocumento168 páginasA Zona de Interesse - Martin Amis PDFelza100% (1)
- GUTS - Chuck PalanhiukDocumento6 páginasGUTS - Chuck PalanhiukBhárbara CamargoAinda não há avaliações
- Marion Crawford - Camarote 105Documento31 páginasMarion Crawford - Camarote 105Adilson Dos SantosAinda não há avaliações
- Afinacao Da Arte de Chutar TampinhasDocumento13 páginasAfinacao Da Arte de Chutar Tampinhasbreno666Ainda não há avaliações
- Antonio Brasileiro. Memórias Miraculosas de Nestor QuatorzevoltasDocumento212 páginasAntonio Brasileiro. Memórias Miraculosas de Nestor Quatorzevoltastombrasileiro50% (2)
- Historia Noir Primeira ParteDocumento6 páginasHistoria Noir Primeira ParteJose Vitor BatistaAinda não há avaliações
- A Ciência Da FelicidadeDocumento2 páginasA Ciência Da FelicidadeMilton Luiz de SouzaAinda não há avaliações
- Paixão e Pureza ElizabethDocumento300 páginasPaixão e Pureza ElizabethClairton NotrialcAinda não há avaliações
- Ser ReconhecidoDocumento1 páginaSer ReconhecidoHigino MacedoAinda não há avaliações
- 0ANALECTOSDocumento87 páginas0ANALECTOSHigino MacedoAinda não há avaliações
- SabiáDocumento1 páginaSabiáHigino MacedoAinda não há avaliações
- PreconceitoDocumento1 páginaPreconceitoHigino MacedoAinda não há avaliações
- IroniaDocumento1 páginaIroniaHigino MacedoAinda não há avaliações
- Ter Opinião A Ser MetamorfoseDocumento3 páginasTer Opinião A Ser MetamorfoseHigino MacedoAinda não há avaliações
- TOLOSDocumento1 páginaTOLOSHigino MacedoAinda não há avaliações
- PRET PerfeitoDocumento1 páginaPRET PerfeitoHigino MacedoAinda não há avaliações
- Insônia e SonhoDocumento1 páginaInsônia e SonhoHigino MacedoAinda não há avaliações
- Um CorpoDocumento1 páginaUm CorpoHigino MacedoAinda não há avaliações
- Solid ÃoDocumento1 páginaSolid ÃoHigino MacedoAinda não há avaliações
- Ao MundoDocumento1 páginaAo MundoHigino MacedoAinda não há avaliações
- Testament oDocumento1 páginaTestament oHigino MacedoAinda não há avaliações
- VingançaDocumento1 páginaVingançaHigino MacedoAinda não há avaliações
- TempoDocumento1 páginaTempoHigino MacedoAinda não há avaliações
- Juntos e DistantesDocumento1 páginaJuntos e DistantesHigino MacedoAinda não há avaliações
- Parece Mas Não ÉDocumento1 páginaParece Mas Não ÉHigino MacedoAinda não há avaliações
- Bem Te VIDocumento1 páginaBem Te VIHigino MacedoAinda não há avaliações
- Cruel EspelhoDocumento1 páginaCruel EspelhoHigino MacedoAinda não há avaliações
- BUGRINHADocumento1 páginaBUGRINHAHigino MacedoAinda não há avaliações
- Banco de DadosDocumento1 páginaBanco de DadosHigino MacedoAinda não há avaliações
- A SeriemaDocumento1 páginaA SeriemaHigino MacedoAinda não há avaliações
- Estações Do AnoDocumento1 páginaEstações Do AnoHigino MacedoAinda não há avaliações
- FelicidadeDocumento1 páginaFelicidadeHigino MacedoAinda não há avaliações
- A NaturezaDocumento1 páginaA NaturezaHigino MacedoAinda não há avaliações
- 25 CoronelDocumento60 páginas25 CoronelHigino MacedoAinda não há avaliações
- 04as InstalaçõesDocumento3 páginas04as InstalaçõesHigino MacedoAinda não há avaliações
- 22 CapitãoDocumento85 páginas22 CapitãoHigino MacedoAinda não há avaliações
- 26experiência e AprendizagemDocumento172 páginas26experiência e AprendizagemHigino MacedoAinda não há avaliações
- 03A ChegadaDocumento5 páginas03A ChegadaHigino MacedoAinda não há avaliações
- Desconstruindo modelos para inovar: quebrando regras e antecipando o futuroDocumento16 páginasDesconstruindo modelos para inovar: quebrando regras e antecipando o futuroAndre Alonso0% (1)
- Manual Do Cavanhaque para Sedutores (Zera)Documento9 páginasManual Do Cavanhaque para Sedutores (Zera)Feliciano Benedito ArturAinda não há avaliações
- Na Calada Da Noite - Nora RobertsDocumento620 páginasNa Calada Da Noite - Nora RobertsThays rodriguesAinda não há avaliações
- Os principais tipos de depilação: tempo de duração, benefícios e efeitosDocumento11 páginasOs principais tipos de depilação: tempo de duração, benefícios e efeitosJosiane NicolauAinda não há avaliações
- Megasteel Catalogo 2020 Os 4632-CleanDocumento16 páginasMegasteel Catalogo 2020 Os 4632-Cleanjeferson clecioAinda não há avaliações
- Estudo de Caso Gilette - WWW - Pendrive.ibipoeaDocumento2 páginasEstudo de Caso Gilette - WWW - Pendrive.ibipoeaestrelazul_af0% (1)
- Microeconomia - Pindyck Resumo Cap11Documento113 páginasMicroeconomia - Pindyck Resumo Cap11Rodrigo CarraraAinda não há avaliações
- Na Calada Da Noite - Nora RobertsDocumento474 páginasNa Calada Da Noite - Nora RobertsElizangela Pereira da SilvaAinda não há avaliações
- Manual Phillips MG7715Documento5 páginasManual Phillips MG7715edezio100Ainda não há avaliações
- A Gestão Da Inovação Na GilletteDocumento16 páginasA Gestão Da Inovação Na Gilletteantonio suerlilton b. da silvaAinda não há avaliações
- Dicionário Trilíngue Capovilla - LBS, Libras - KDocumento78 páginasDicionário Trilíngue Capovilla - LBS, Libras - KPriscila Regina Silva100% (15)
- Apostila 3Documento111 páginasApostila 3Jujuba MelissaAinda não há avaliações
- Irritacao Causada Pela Maquina Shaver - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaIrritacao Causada Pela Maquina Shaver - Pesquisa GoogleJeferson MenezesAinda não há avaliações
- UntitledDocumento155 páginasUntitledLil GozoAinda não há avaliações
- Manual Mi Electric ShaverDocumento5 páginasManual Mi Electric ShaverYule Henrique da Silva PereiraAinda não há avaliações
- Plano Promocional Gillette Mach 3Documento5 páginasPlano Promocional Gillette Mach 3Cayo CardosoAinda não há avaliações
- Como Fazer Barba (Barbeiro)Documento59 páginasComo Fazer Barba (Barbeiro)Ana Paula Reis Rosa100% (3)
- 1 Relatório - de - Estágio - VF - Ursula VelillaDocumento20 páginas1 Relatório - de - Estágio - VF - Ursula VelillaLuan De Lima RodriguesAinda não há avaliações
- Técnicas de Depilação: Duração e BenefíciosDocumento13 páginasTécnicas de Depilação: Duração e Benefíciosraissa santosAinda não há avaliações
- Miss Universo sobre racismoDocumento9 páginasMiss Universo sobre racismoAirton Ferreira0% (1)
- Apostila Anatomia e Morfologia Vegetal - 2011Documento7 páginasApostila Anatomia e Morfologia Vegetal - 2011Haroldo BertrandAinda não há avaliações
- Bompack Catalogo-Embrast-2020-Edição-6Documento88 páginasBompack Catalogo-Embrast-2020-Edição-6Eduardo Sandra Mariana SantosAinda não há avaliações
- Morfologia e anatomia vegetalDocumento7 páginasMorfologia e anatomia vegetalRafael CavalcanteAinda não há avaliações
- Romance, ConcursoDocumento108 páginasRomance, ConcursoCelso JuniorAinda não há avaliações
- Índice de Barthel Modificado para avaliação da independência funcionalDocumento2 páginasÍndice de Barthel Modificado para avaliação da independência funcionalTailon Gustavo71% (7)
- Relações básicas num thesaurusDocumento17 páginasRelações básicas num thesaurusCarla FerreiraAinda não há avaliações
- A Triste Verdade Sobre Afiação Que Nunca Lhe ContaramDocumento14 páginasA Triste Verdade Sobre Afiação Que Nunca Lhe ContaramHelio Cabral jr100% (5)
- 3 Formas de Depilar Seus Genitais (Homens) - WikihowDocumento15 páginas3 Formas de Depilar Seus Genitais (Homens) - WikihowOrlando JuniorAinda não há avaliações
- A Caderneta Vermelha - Antoine LaurainDocumento119 páginasA Caderneta Vermelha - Antoine LaurainKarine MoraesAinda não há avaliações
- Por Que o Futuro Dos Negócios É GrátisDocumento9 páginasPor Que o Futuro Dos Negócios É Grátisluisff93Ainda não há avaliações