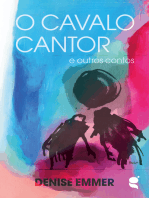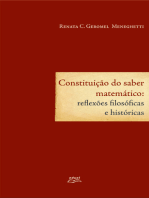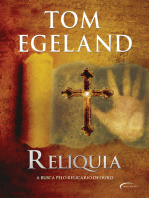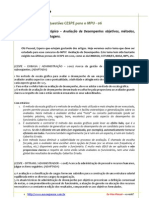Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Gonçalo Tavares. Diário Da Peste
Enviado por
Maria Clara0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
52 visualizações4 páginasTítulo original
Gonçalo Tavares. Diário da Peste
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
52 visualizações4 páginasGonçalo Tavares. Diário Da Peste
Enviado por
Maria ClaraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
RELATÓRIO SOBRE O FIM DO MUNDO
De Março a Junho de 2020, Gonçalo M. Tavares escreveu diariamente para as páginas
do Expresso este Diário da Peste. Preso ao que ia acontecendo, cartografando as
modificações súbitas que iam ocorrendo, Diário da Peste é um monumento àqueles dias
fatais em que parte considerável da população mundial se viu presa em casa.
De março a junho do ano passado Gonçalo M. Tavares escreveu diariamente, para o
Expresso, este conjunto de páginas agora coligidas. Talvez não seja ainda o momento
propício para se fazer um balanço do que se precipitou, do que se abateu sobre nós
todos, daquilo que, num curto espaço de tempo, alterou radicalmente a nossa paisagem
– tanto que ainda andamos, esses amigos dispersos, disseminados, pela terra, como diria
um conhecido filósofo, a tentar perceber o que aconteceu ali por volta de 1914. Mas isto
talvez se possa dizer: de todo o oceano de literatura, entre ensaios, romances, poemas,
testemunhos, crónicas, todo esse mar imenso, que foi sendo produzido em poucos meses
e que tentou, de forma mais ou menos interessante, dar conta da radical novidade que a
epidemia instaurou, Diário da Peste é, possivelmente, um dos monumentos àqueles
meses, conservando e sendo arrastado por uma perplexidade cujos limites ainda não
conhecemos, ainda não cartografámos totalmente – e cuja tensão se deixa ler um todos
os momentos, em todas as entradas, em todas as frases curtas, paratácticas, que nos
chegam de um outro tempo e de um outro espaço.
Para que esta perplexidade se deixe ler em todas as suas modalidades, que vão do
absurdo, do disparate do tempo (a palavra disparate, sonho ou realidade, sempre a li na
proximidade do díspar), a uma certa ausência de tonalidade, muito contribui esse tom de
mero registo em que Gonçalo M. Tavares se situa – “o fim do mundo”, começa logo por
dizer, “sempre foi anunciado em forma de estatística”. E ele, como um estranho
sismógrafo ou um arquivista, vai coligindo informações, histórias, vai juntando-as,
justapondo-as sem uma ligação precisa ou necessária (não há diário algum aqui, porque
havendo subjectividade é apenas uma totalmente no exterior, presa sem escapatória
possível ao real). Talvez porque se encontrava obrigado a escrever todos os dias, estes
textos demonstram um especial aturdimento. Para quem tenha um ouvido mais
filosófico, percebe facilmente que o termo “aturdido” tem uma proveniência venerável,
mas não tão respeitável, remetendo para a distinção entre homem e animal que o
filósofo alemão Heidegger delineou num texto. Atordoado, estonteado, tolhido,
absorvido, apanhado dentro, capturado: todas estas palavras dizem respeito a uma
impossibilidade de distanciamento, de visão de conjunto, e o efeito que resulta dos
textos de Gonçalo M. Tavares é exactamente esse do aturdimento, de uma paradoxal
impossibilidade na medida em que distância é o que mais se viu nesse conjunto de
meses – mas uma distância física que não torna possível outra distância, aquela do
pensamento.
“o humano número 486 morreu num hospital de Madrid.
Lista de mortos.
Lista de livros escolhidos.
Lista de locais a visitar depois da peste, quando se afugentar a ansiedade e não os
corpos.
Dez páginas no jornal com retratos de pessoas com duas datas.
Jacob Steinberg, poeta israelita: «nós parecemos esta noite uma cidade que arde».”
Estas frases justapostas, colocadas em conjunto como que ao acaso – mas o acaso, aqui,
é do próprio real, é a estranheza desse tempo em que não saímos de casa mas onde tudo
era excessivamente presente– permitem a Gonçalo Tavares escapar de um vício que
assolou a humanidade durante aqueles dias, o vício da teoria. Presos em casa,
transformado o ar e a rua em cenário de guerra (“os prédios tornaram-se ilhas rodeadas
de fossos./ o que cai não pode ser recuperado. (...) O inferno está lá em baixo e os
humanos estão em cima a tentar viver”), a humanidade conheceu, durante umas quantas
semanas, o retorno do pensamento e da filosofia ao lugar central do espaço público –
parecendo esquecer, no entanto, que o pensamento chega sempre tarde demais, que a
famosa coruja levanta voo ao crespúsculo. E havendo de tudo, desde optimistas que
viram na pandemia uma oportunidade para algo diferente a tons catastróficos e
apocalípticos, faltou, no entanto, o essencial. E o essencial é esta colecção de factos, de
histórias, a justaposição de frases que permitem cartografar um abismo que, a dada
altura, surgiu num horizonte que não era horizonte algum, mas que se encontrava
presente nos mais ínfimos detalhes – sem ser sobredeterminado por teoria alguma. Daí o
facto de estas frases parecerem ser retiradas de uma noite sem igual – como os
pirilampos de que fala a dada altura, “luz natural mínima emitida por um mínimo
animal” que “anuncia que a noite não é excessiva” – e de o objectivo ser, aqui,
despojado e sóbrio: tratou-se apenas de dar conta, de contar, de relatar, de colocar em
conjunto, toda a perplexidade, o medo, o espanto e as modificações abruptas, que a dada
altura percorreu todo o corpo social. E isto, que parece ser pouco, acaba por se revelar à
altura daqueles tempos – deste tempo? –, daqueles tempos que, ainda não sabemos se
próximos ou distantes, se já na pré-história ou se ainda presentes, continuam a ser uma
incógnita, uma terra deserta que este livro ajuda a cartografar.
E uma das ideias mais interessantes – além do efeito de estranheza, da cartografia
infernal que nos dá a ler – diz respeito ao tempo. Sobre o primeiro confinamento
escreveu-se bastante, ora mostrando que certos processos, continuando tendências
anteriores, aceleraram, ora mostrando um abrandamento, uma desaceleração física – não
mental – que se deixou ver, por exemplo, na quantidade de animais que começaram a
surgir no centro das cidades ou na diminuição da poluição em certas partes do globo. E
não se fez esperar a moral do pensamento, que subsumiu o confinamento a uma
economia: é preciso aprender alguma coisa com tudo o que estava a acontecer, é preciso
tirar ilações, compreender, perceber para melhor controlar. A tudo isto Gonçalo M.
Tavares responde com um hiato, uma cesura, um tempo do “meio”.
“Tudo está a meio.
Março, Abril e Maio parecem ter apenas dias do meio.
Nada está a começar, nada a terminar.
Qualquer que seja a idade. Todos a meio do caminho da sua vida em Maio de 2020”
Há uma referência a Dante, sem dúvida – ao início do Inferno da “Divina Comédia”.
Mas estes “dias do meio”, em que nada começa nem termina, dizem respeito a um hiato
que se relaciona à contagem do tempo: “o século XXI partido em dois por um vírus./
Dois séculos tem este século”. Ou melhor, como dirá adiante Gonçalo Tavares, talvez
não se trate de um século partido em dois (há quem defenda, por exemplo, que o século
XX começa em 1914 ou em 1917 e termina em 1989 e que a Revolução Francesa é, por
si, um século inteiro) mas de uma interrupção, de uma suspensão. 2020 talvez tenha tido
apenas 9 meses e talvez seja necessário pensar uma outra medida, uma nova estrutura,
para se conseguir lidar com aquele acontecimento que remeteu para dentro de casa
grande parte da população e que transformou as ruas das cidades em cenários de guerra
sem que houvesse guerra alguma.
“O século inteiro, como se fosse uma pessoa, sentado com a boca aberta, a olhar para
Cristo vestido como se a cidade em baixo fosse um hospital.
O século com a boca aberta. (...)
Respiro e penso: quanto tempo passou em tão pouco tempo.
Num mês, mil anos ou mais.
Tanto tempo em tão pequeno mês.”
Esta unidade temporal fechada sobre si, que não parece ter relação nem com o que a
antecede nem com o que vem a seguir – na realidade, não andamos longe do
acontecimento traumático, que também ele tende a retirar da linearidade temporal certos
acontecimentos, conferindo-lhes uma aura de irrealidade – é aquilo que encontramos em
Diário da Peste e tem, aliás, uma consequência que Gonçalo Tavares coloca em
evidência.
Já não se trata de um hiato temporal, de um acontecimento cujo tempo tem de ser
contado de outra forma – nem mês, nem ano, nem século, mas esse dia, infernal e
infinito, do meio – mas de uma variação, de uma mutação antropológica que irrompeu
em pouco tempo. “A geração dos humanos com os olhos estupefactos”, “depois disto
acabar, o exterior vai estar repleto de loucos, inventores diários de electricidade”, “um
ciclista treina sozinho em casa. Uma bicicleta impecável, mas a rodar no mesmo sítio”:
disseminados ao longo do texto, encontramos estes pequenos apontamentos. O
distanciamento físico, a impossibilidade do toque, a desconfiança face ao outro, o “olhar
de lado para um outro humano [que] chegou com força ao século”, tudo isto aponta para
uma pura improvisação existencial, uma reinvenção cujas consequências não se
conseguem prever. Não se tratou, naquele conjunto de meses – mas há coisas que ainda
perduram –, de um retorno a fases anteriores, aos caçadores-recolectores, como
acontece em cenários de guerra, mas de uma improvisação sem regras estáveis e
definidas (toco de uma forma, não toco, toco de outra maneira: ninguém sabe bem como
se comportar, só se sabe que a distância tem de ser mantida). Foi preciso improvisar
tudo: as relações pessoais, a relação ao corpo (uma obsessão com as mãos), a rua que se
tornou radioactiva (como andar evitando a proximidade, os outros?), a roupa, também
ela elemento perigoso, toda uma nova série de rituais que se instauraram de um
momento para o outro, demostrando uma plasticidade do humano que só em situações
muito particulares, cenários de guerra ou catástrofes, verificamos. E podia acabar com
um pequeno apontamento humorístico, torcendo uma conhecida frase do poeta alemão
Hölderlin – mas o humor, como diria um pensador de inícios do século XX, é a sombra
da tragédia: doravante, é geometricamente que o homem habita a terra. Com uma
distância de dois metros.
Você também pode gostar
- D. Joanna de Portugal (A Princesa Santa) Esboço BiographicoNo EverandD. Joanna de Portugal (A Princesa Santa) Esboço BiographicoNota: 3 de 5 estrelas3/5 (1)
- ELAS CONTAM CONTOS: 15 Contos de grandes escritoras de vários paises,No EverandELAS CONTAM CONTOS: 15 Contos de grandes escritoras de vários paises,Nota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- ARS METAPHYSICA: Francisco de Holanda e o Neoplatonismo no Século XVINo EverandARS METAPHYSICA: Francisco de Holanda e o Neoplatonismo no Século XVIAinda não há avaliações
- O Amante, de Marguerite Duras: relacionamentos interpessoais e contradições em uma sociedade colonialNo EverandO Amante, de Marguerite Duras: relacionamentos interpessoais e contradições em uma sociedade colonialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Problemas Interessantes de Matemática e Lógica PDFDocumento16 páginasProblemas Interessantes de Matemática e Lógica PDFOnírico SonhoAinda não há avaliações
- A correspondência de Fradique Mendes memórias e notasNo EverandA correspondência de Fradique Mendes memórias e notasAinda não há avaliações
- Constituição do saber matemático: reflexões filosóficas e históricasNo EverandConstituição do saber matemático: reflexões filosóficas e históricasAinda não há avaliações
- Os sonetos completos de Anthero de QuentalNo EverandOs sonetos completos de Anthero de QuentalNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- As Crônicas do Brasil: Brazilian Sketches: Edição bilíngue português - inglêsNo EverandAs Crônicas do Brasil: Brazilian Sketches: Edição bilíngue português - inglêsAinda não há avaliações
- A eternidade na obra de Jorge Luis BorgesNo EverandA eternidade na obra de Jorge Luis BorgesAinda não há avaliações
- Trinta e tantos livros sobre a mesa: Críticas e resenhasNo EverandTrinta e tantos livros sobre a mesa: Críticas e resenhasAinda não há avaliações
- Kyriale - Alphonsus Guimaraens - IBA MENDESDocumento45 páginasKyriale - Alphonsus Guimaraens - IBA MENDESJames Trenton DariusAinda não há avaliações
- Memórias de Pioneiros: Uma impressionante aventura às margens do Rio CaratingaNo EverandMemórias de Pioneiros: Uma impressionante aventura às margens do Rio CaratingaAinda não há avaliações
- A Figura Da Mandorla e Vesica PiscisDocumento163 páginasA Figura Da Mandorla e Vesica PiscisFernanda TrentiniAinda não há avaliações
- Resenha Crítica de "Quebrando o Encanto"Documento22 páginasResenha Crítica de "Quebrando o Encanto"Humberto RamosAinda não há avaliações
- Dialogo de Um Desesperado Com o Seu BaDocumento26 páginasDialogo de Um Desesperado Com o Seu BaAndrea100% (1)
- Os dialectos romanicos ou neo-latinos na África, Ásia e AméricaNo EverandOs dialectos romanicos ou neo-latinos na África, Ásia e AméricaAinda não há avaliações
- Arte negativa para um país negativo: Antonio Dias entre o Brasil e a EuropaNo EverandArte negativa para um país negativo: Antonio Dias entre o Brasil e a EuropaAinda não há avaliações
- Cordel - de Leandro Gomes de BarrosDocumento2 páginasCordel - de Leandro Gomes de BarrosRafaelAinda não há avaliações
- Amândio ReisDocumento6 páginasAmândio ReisMaria ClaraAinda não há avaliações
- Filomena Molder - QoheletDocumento4 páginasFilomena Molder - QoheletMaria ClaraAinda não há avaliações
- CânoneDocumento4 páginasCânoneMaria ClaraAinda não há avaliações
- Alexandre AndradeDocumento4 páginasAlexandre AndradeMaria ClaraAinda não há avaliações
- Gonçalo M. TavaresDocumento4 páginasGonçalo M. TavaresMaria Clara100% (1)
- No Impudor Do OlharDocumento3 páginasNo Impudor Do OlharMaria ClaraAinda não há avaliações
- Glosas Sem PoemaDocumento4 páginasGlosas Sem PoemaMaria ClaraAinda não há avaliações
- Ernesto Sampaio - FernandaDocumento4 páginasErnesto Sampaio - FernandaMaria ClaraAinda não há avaliações
- EXPERIÊNCIA PESSOAL COM DEUS - Fé PDFDocumento20 páginasEXPERIÊNCIA PESSOAL COM DEUS - Fé PDFCarlos Guiar NeuhausAinda não há avaliações
- Plano 4° Ano - MarçoDocumento10 páginasPlano 4° Ano - MarçoElciane CarvalhoAinda não há avaliações
- Direitos HumanosDocumento22 páginasDireitos Humanoswasfi19Ainda não há avaliações
- Proposta Ev127 MD4 Id5280 16072019205650 PDFDocumento19 páginasProposta Ev127 MD4 Id5280 16072019205650 PDFRosalina MoraesAinda não há avaliações
- Juventude e Adolescencia No Seculo XXIDocumento200 páginasJuventude e Adolescencia No Seculo XXIoscarAinda não há avaliações
- Fichamento - Temas de Psicologia - Entrevista e Grupos (José Bleger)Documento10 páginasFichamento - Temas de Psicologia - Entrevista e Grupos (José Bleger)Renata CostaAinda não há avaliações
- Artigo ESCRITA ACADÊMICA JulianaAssisDocumento21 páginasArtigo ESCRITA ACADÊMICA JulianaAssisGeisiane NunesAinda não há avaliações
- Um Copinho de Rum - Lévi-StraussDocumento15 páginasUm Copinho de Rum - Lévi-Straussapi-3715322Ainda não há avaliações
- Psicologia Da AprendizagemDocumento176 páginasPsicologia Da Aprendizagempaulo100% (1)
- Métodos MultissensoriaisDocumento162 páginasMétodos MultissensoriaisSPO100% (1)
- Reconhecimento Dos Vários Reinos e Seus ComponentesDocumento40 páginasReconhecimento Dos Vários Reinos e Seus ComponentesFernando Souza Miguel FidencioAinda não há avaliações
- iNTRODUÇÃO À TEOLOGIA - APOL 1Documento9 páginasiNTRODUÇÃO À TEOLOGIA - APOL 1Rômulo Lima100% (1)
- Tcc-Gabriel-Matrix - Versão Final P - CDDocumento42 páginasTcc-Gabriel-Matrix - Versão Final P - CDKris SilvaAinda não há avaliações
- Ação e Reação Chico Xavier / André LuizDocumento127 páginasAção e Reação Chico Xavier / André LuizLyn R100% (1)
- Atividade 4Documento10 páginasAtividade 4LuisAlmeidaAinda não há avaliações
- ESSTFC485Documento102 páginasESSTFC485wellingtonsantiago029Ainda não há avaliações
- Espiritos Arcanos - Alfa 0.2Documento24 páginasEspiritos Arcanos - Alfa 0.2Carlos ValnicioAinda não há avaliações
- Levinas e o Argumento Do Infinito: Um Diálogo Com Descartes: Sandro Cozza SayãoDocumento20 páginasLevinas e o Argumento Do Infinito: Um Diálogo Com Descartes: Sandro Cozza SayãoRYCHARD KLYSMAN DE ARRUDA CINTRAAinda não há avaliações
- Expoxiçao de EfesiosDocumento61 páginasExpoxiçao de EfesiosThiago Meireles100% (1)
- Questoes MPU ADM 06Documento5 páginasQuestoes MPU ADM 06marceloAinda não há avaliações
- Livro Educacao Ambiental Nova IguacuDocumento200 páginasLivro Educacao Ambiental Nova IguacuCaio CésarAinda não há avaliações
- Redacao 2023 Folheto Especial 1Documento4 páginasRedacao 2023 Folheto Especial 1Maria VeigaAinda não há avaliações
- Resumos de Filosofia 1Documento4 páginasResumos de Filosofia 1Luis AlvesAinda não há avaliações
- Bio ComportDocumento8 páginasBio ComportBiosedal Sedal officialAinda não há avaliações
- Dossiê Saúde UrbanaDocumento144 páginasDossiê Saúde UrbanaRodrigoAinda não há avaliações
- Ilhas Da HistóriaDocumento198 páginasIlhas Da HistóriaAldo Junior ChavesAinda não há avaliações
- Síntese Cap 1 - Introdução A Psicologia - Temas e VariaçõesDocumento2 páginasSíntese Cap 1 - Introdução A Psicologia - Temas e VariaçõesJessica Fernanda BrittoAinda não há avaliações
- Kant Lei MoralDocumento27 páginasKant Lei Moralapi-3735178Ainda não há avaliações
- Medo E Esperança: Symbolon IVDocumento24 páginasMedo E Esperança: Symbolon IVRaissaAinda não há avaliações
- Caderno Temático - Educação Alimentar e NutricionalDocumento101 páginasCaderno Temático - Educação Alimentar e NutricionalBenjamim Figueiredo VerasAinda não há avaliações