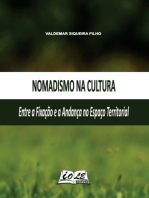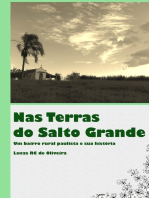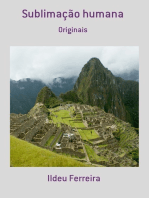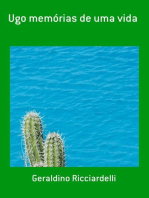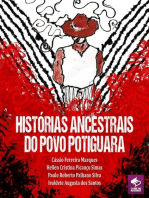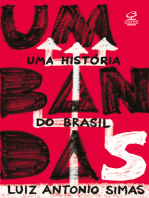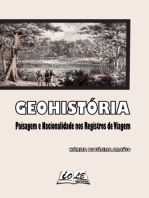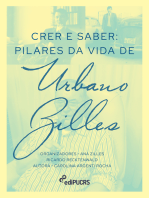Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Toré No Nordeste - Estêvão Palitot
Enviado por
Romildo AraujoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Toré No Nordeste - Estêvão Palitot
Enviado por
Romildo AraujoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
tore.
p65 1 17/05/2000, 09:05
tore.p65 2 17/05/2000, 09:05
TORÉ
Regime Encantado dos Índios do Nordeste
tore.p65 3 17/05/2000, 09:05
tore.p65 4 17/05/2000, 09:05
TORÉ
Regime Encantado do Índio do Nordeste
Organizador
Rodrigo de Azeredo Grünewald
tore.p65 5 17/05/2000, 09:05
ISBN
© 2004 Dos autores
Reservados todos os direitos desta edição.
Reprodução proibida, mesmo parcialmente, sem autorização da
Editora Massangana da Fundação Joaquim Nabuco.
Fundação Joaquim Nabuco Editora Massangana
Rua Dois Irmãos, 15 Apipucos Recife Pernambuco Brasil
CEP 52071440 Telefone (81)34415900
Ramais, 240, 241, 242, 243, 246 - Telefax (81) 34415458
http://www.fundaj.gov.br
__________________________________________________________________
P RESIDENTE F UNDAÇÃO J OAQUIM NABUCO
DA
Fernando Lyra
DIRETORA DO INSTITUTO DE CULTURA
Isabela Cribari
C OORDENADOR GERAL DA EDITORA MASSANGANA
Mário Hélio Gomes de Lima
COORDENADOR EDITORIAL
Sidney Rocha
P ROJETO GRÁFICO
REVISÃO
Tereza Pereira
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Fundação Joaquim Nabuco. Biblioteca)
__________________________________________________________________
Fundação Joaquim Nabuco. Instituto de Pesquisas Sociais.
Coordenação de Estudos Sociais e Culturais.
Editora Massangana, 2004.
292 p.
ISBN
I. II. III. IV. Título.
__________________________________________________________________
981.088 1964 CDU (2.ed.)
tore.p65 6 17/05/2000, 09:05
SUMÁRIO
tore.p65 7 17/05/2000, 09:05
tore.p65 8 17/05/2000, 09:05
tore.p65 9 17/05/2000, 09:05
TORÉ
10
tore.p65 10 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
11
AS MÚLTIPLAS INCERTEZAS DO TORÉ
Rodrigo de Azeredo Grünewald
Lembro-me uma vez quando um nativo me assegurou na Serra do Umã, no sertão
de Pernambuco, que o toré seria a brincadeira, a tradição, a religião, a união e a
profissão dos índios Atikum. Para quem acabava de travar os primeiros contatos
concretos com a realidade indígena do Nordeste brasileiro em janeiro de 1990, nada me
coube no momento a não ser coçar a cabeça. Poucos dias depois, esta multisemântica do
toré começava a se tornar evidente: às quartas e sábados de noite os Atikum se reuniam
para dançar o toré, forgar este brinquedo que se configurava como importante espaço
de lazer (até na sua execução pelas pequenas crianças em suas brincadeiras diárias) ou de
distensão da vida sofrida como agricultores pobres do semi-árido envolvidos em disputas
constantes por terra.
Mas este folguedo, como outros que recheiam as culturas populares, não se caracteriza
como um lazer ordinário como a freqüência à feira dominical ou uma partida de futebol,
pois assume característica de tradição delimitadora daquela gente como membros de um
grupo social. Dessa forma, a seriedade deste brinquedo já se insinua na sua força
mobilizadora de sentimentos e noções identitárias. Todavia, essa tradição é ainda de
natureza sagrada, pois se remete não apenas a um sistema cosmológico dividido pelo
grupo, como é, em si, um rito, ou, o rito através do qual sua experiência primeira com o
sagrado se consolida. A comunhão que os indivíduos do grupo realizam no toré os unifica,
além disso, tornando-os diferentes dos vizinhos e deixando claro para eles próprios que
eles são os mesmos, dividindo uma mesma força mística, repleta de ancestrais (embora
estes não sejam necessariamente nomeados).
Esta união é fundamental para a instrumentalidade do grupo étnico em suas lutas
por recursos diante das adversidades colocadas pela sociedade nacional, ou pelas
vizinhanças pública e privada. A luta por se mostrar índio - e não se diluir entre os
regionais e perder suas características identitárias (ou adesão étnica) - se promove e se
consolida, em larga medida, na instância ritual dos torés promovidos e mantidos com
trabalho pelas pessoas engajadas na manutenção da etnicidade indígena, de estabelecer
um regime de índio (Grünewald, 1993; 1999, 2001) capaz de, pela práxis, torná-los
manifestos como índios. Se a agricultura familiar é o regime de trabalho que se volta para
tore.p65 11 17/05/2000, 09:05
TORÉ
12
a satisfação de suas necessidades alimentares, o trabalho (de índio) no toré é a profissão
que os especifica no amplo espaço camponês do Nordeste brasileiro. O toré, se poesia ou
brincadeira, é também trabalho ligado à realização da práxis que engendra, no ato da
alimentação espiritual do povo, o próprio povo.
Mas se o toré comporta já inicialmente todas essas considerações, vale iniciar esta
apresentação do assunto ressaltando sua complexidade. Não posso deixar de lembrar
neste momento da noção de fato social total contida no Ensaio sobre a Dádiva de
Marcel Mauss (1974) e, com apoio da Introdução a esta obra escrita por Claude Lévi-
Strauss (1974), destacar que o valor social de um sistema pode ser percebido pelas relações
constantes entre os fenômenos que o compõe. Mas o que importa não é meramente
tentar evocar as funções sociais dos elementos do toré no conjunto de fenômenos que se
entrelaçam na composição de suas estruturas sociais específicas, mas tornar claro sua
múltipla composição intrínseca enquanto fenômeno social, sua complexidade cultural e
1
histórica que o torna passível de múltiplas apreensões .
Sintonizando a freqüência indígena
O toré é um tema ainda pouco pesquisado e não muito controvertido dentro de um
campo etnológico preferencialmente atento à exploração de questões de natureza mais
propriamente étnicas. Embora muito se tenha mencionado sobre o toré, ele acaba muitas
vezes por se colocar como uma parte (central até) de uma perspectiva analítica que pretende
dar conta de processos mais abrangentes com relação à existência dos índios do Nordeste.
Em tais esferas, o toré muitas vezes se destaca nas narrativas etnográficas em sua ligação
2 3
com a bebida jurema (feita da casca da raiz de planta do mesmo nome ), o que favorece
sua visibilidade enquanto ritual indígena em cujo espaço se desenvolvem as práticas
4
sagradas . Um esforço recente de apreensão do fenômeno sob esta perspectiva foi o de
Edwin Reesink (2000), que concebe um regime religioso em cuja epistemologia se
fundamenta uma estrutura do sagrado.
Contudo, não assumo como meta para esta introdução uma síntese das contribuições
acadêmicas (e outros registros) sobre o nosso tema para atestar sua realidade. Assim, não
se torna também um objetivo aqui realçar perspectivas metodológicas ou teóricas para
um tratamento do fenômeno na medida em que a multiplicidade de abordagens possíveis
sobre o toré esmaeceria o citado objetivo. Lembrando uma das frases memoráveis que o
poeta e tradutor José Lino Grünewald gostava de exclamar, e aplicando à complexa
situação acadêmica que se configura para os estudos do toré, poderia até afirmar que
minha única certeza é que sou cheio de dúvidas. Se assim o é, vale entretanto uma
tentativa de exposição desses múltiplos objetos que podem se construir em torno do toré
ou dos torés, na medida em que talvez essas manifestações não sejam tão iguais para
serem inclusive passíveis rigorosas de generalizações. Mas capturemos, antes de tudo, os
sinais dos índios.
tore.p65 12 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
13
Primeiramente, destaca-se uma ausência de relatos precisos sobre o toré enquanto
item de cultura material. De fato, além de referências amazônicas que dependeriam de
vigoroso esforço de imaginação difusionista para o estabelecimento de qualquer vínculo
com o nosso objeto, Cascudo (1979) cita Pereira da Costa que se referia ao toré no Nordeste
como uma espécie de flauta feita de cana de taquara, mas que significava também uma
dança indígena que ainda vigorava no início do século XX em Cimbres (atualmente
território Xucuru), agreste de Pernambuco. Também neste estado se registra o toré
dançado pelos carijós da Serra do Umã (área Atikum atualmente) ao som de duas
tubas de metro de comprimento (Iakchtxa), instrumentos sagrados, e maracás e com as
5
mulheres dançando em filas e aos pares (Cascudo, 1979:757) . Neste verbete, o autor
menciona ainda o registro de Alfredo Brandão como uma dança circular realizada pelos
negros de quilombos de Alagoas, com um velho no centro do círculo que é quem tira
as toadas. Já Renato Almeida, se aprofunda na informação de Brandão, expondo duas
modalidades de toré em quilombos, porém ambas referentes a atividades indígenas (ibid).
Por fim, Maynard de Araújo e Aricó Júnior escrevem sobre o toré como variante do
catimbó às margens do rio São Francisco em Alagoas (ibid).
Mas talvez, sua principal alusão seja como folguedo. Assim como os registros do
torém a partir do século XIX entre os Tremembé de Almofala (CE), que destacavam
este fenômeno como dança ou folguedo folclórico dos descendentes dos índios (com
destaque para a idéia de sobrevivência), também o toré recebeu este tratamento. Em 1913,
o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) não nomeia as danças dos Potiguara (PB) e a
Missão de Pesquisas Folclóricas, em 1938, reconhece, além do coco, torés entre esses
nativos bem como entre as manifestações dos Pankararu (PE). Situados mais propriamente
a partir de uma perspectiva folclórica na qual se destacava uma visão da mistura cabocla
na composição da cultura popular, o caráter étnico que tais festas podem exaltar não se
sobressaiu aos olhos desses pesquisadores ou talvez os próprios grupos étnicos não se
6
encontrassem dispostos ou prontos a manifestar sua etnicidade para esses registros .
Apesar disso, a referência ao toré como manifestação indígena é invariavelmente
recorrente na etnologia nordestina desde os relatos de Carlos Estevão de Oliveira (1942),
Estevão Pinto (1956) ou Hohenthal Jr. (1954 e 1960). O primeiro destes autores menciona
o toré, porém concentra sua atenção na manifestação mais essencialmente religiosa da
festa da jurema ou do Ajucá entre os Pankararu. O segundo se preocupa com uma
caracterização geral da cultura dos remanescentes Fulni-ô (PE), onde o toré é percebido
7
como dança cerimonial que pode ter caráter mais festivo e público (como homenagens
pessoais) ou podem ser mais reservados e de diferentes entonações e maneios, como os
torés cantados e dançados nas festas ouricurianas, ou promovidas à noite, em homenagem
às almas dos mortos (Pinto, 1956:136). Por fim, tanto no famoso survey etnológico pelo
Nordeste de Hohenthal Jr. (1960) como em sua análise mais detida sobre os Xucuru
(PE) (Hohenthal Jr., 1954), o toré não deixa de ser mencionado. Nesta segunda citação,
tore.p65 13 17/05/2000, 09:05
TORÉ
14
vale lembrar o comentário de que o toré é a dança mais comum e mais difundida entre
os caboclos do Nordeste de Brasil (Hohenthal Jr., 1954:132). Este autor destaca
também a diferenciação entre os torés públicos e privados, onde nos primeiros ele é
dançado mais para o divertimento dos índios, enquanto que sua execução privada não é
de fácil acesso, pois sempre mantida em segredo dos neo-brasileiros locais (ibid.).
Neste momento, pode se destacar o fato da distribuição do toré pelos grupos indígenas
do Nordeste afinal, trata-se de uma manifestação cultural extensiva a diferentes grupos.
Sabe-se que o SPI volta atenção para o interior da região na década de 1920 por conta de
conflitos envolvendo os Fulni-ô. Este é o único povo indígena do Nordeste que conservou
a língua nativa (o yathê) e, além disso, possuía um lugar reservado na mata para, durante
três meses anuais, se retirarem para práticas rituais e outras atividades íntimas do grupo.
Este lugar e os rituais ali praticados, como o toré, ganham genericamente o nome de
ouricuri, o qual já não se estende aos outros grupos do Nordeste em sua maioria.
Contudo, assim como os registros oficiais sobre a presença indígena nos anos 20-30
do século XX no Nordeste se pontuavam basicamente aos Fulni-ô, Potiguara e Pankararu
e atualmente encontramos mais de quatro dezenas de povos indígenas nos estados da
8
Federação correspondentes a esta região , também a presença do toré como item de
cultura tem crescido proporcionalmente ao aumento do número de comunidades
9
indígenas reconhecidas .
Com relação a isto, vale a lembrança que o reconhecimento desses grupos indígenas
se deu por intermédio da informação nas sociedades nativas de que havia um espaço na
sociedade brasileira para eles ocuparem enquanto indígenas e foi, mediante a difusão desta
notícia, que vários povos emergiram no cenário regional. Mas como identificá-los como
indígenas se, aculturados ou misturados, assemelhavam-se em muito com os regionais?
Papel importante neste processo foi o do chefe da 4ª Inspetoria Regional do SPI,
Raimundo Dantas Carneiro, que reconhecia o ouricuri como espaço sagrado de
exclusividade dos Fulni-ô, onde se dançava o primitivo, o verdadeiro toré. Raimundo
adota então esta prática ritual como referência e passa a exigir o desempenho do toré
pelos índios que reivindicassem reconhecimento de sua indianidade, na medida em que
10
ele acreditava que o toré era a conscientização de que eles eram índios . Não é difícil
de imaginar que, a partir deste momento, os grupos indígenas buscaram reatualizar essa
tradição em busca de recursos da União, especialmente o próprio território.
De fato, a história dos índios no Nordeste é marcada por descontinuidades já muito
salientadas por autores que vêm procurando dar conta desta presença indígena movediça
11
e crescente . O toré, como sinal diacrítico maior da indianidade na região, tem também
histórias descontínuas, difusas, esquecidas e lembradas, recontadas, reinterpretadas,
construídas, imaginadas e, obviamente, vividas.
Reesink (2000) estabelece um resumo sobre a presença histórica, em 1995, dos três
rituais indígenas do Nordeste (toré, praiá e ouricuri) a partir das perspectivas de suas
tore.p65 14 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
15
continuidades ou recriações históricas. E, além destes, devemos lembrar a presença do
12
torém como uma outra linha de ritual indígena do litoral noroeste do Ceará . Todos
esses rituais serão mencionados no presente livro, embora o mesmo tenha por foco o toré,
pela sua marca motriz da elaboração cultural indígena no Nordeste. Talvez já aqui
possamos lamentar a ausência de trabalhos não apenas sobre os Fulni-ô, muito pouco
investigados se pensarmos principalmente na importância etnológica (ou etnohistórica)
que devem apresentar, mas também sobre os Tuxá, que tiveram importante papel no
ensinamento do toré a grupos como os Atikum, Truká ou Kiriri.
Entretanto, apesar da difusão do toré e sua recorrência atual, vale lembrar que cada
um desses grupos estabeleceu um regime próprio. Não acredito possível atribuir sentido
universal ao fenômeno com base nas etnografias existentes. Destaca-se aqui justamente o
inverso: que os sentidos do toré são múltiplos e constituídos a partir de muitos
posicionamentos narrativos.
Codificando a pisada dos caboclos
As considerações precedentes sobre as inconstâncias ou irregularidades em torno do
toré não invalidam, todavia, uma tentativa de aprofundamento em aspectos de sua
existência. E para iniciar este movimento, cabe perguntar pela etimologia do termo e
também sobre como era a vida ritual dos nativos do Nordeste durante a colonização.
Primeiro, não se sabe exatamente da origem do termo. Assim, como se evoca uma
perplexidade quanto aos resultados de apreensão do nome toré pelo lado da cultura
material, há também uma insuficiência para sua determinação em termos lingüísticos.
Mas, da mesma forma que Lima (1946) percebe jurema como um termo tupi de utilização
recente, Pinto (1956) também apreende toré como um empréstimo do tupi e significando
tanto uma flauta quanto uma dança. Reesink, a partir deste momento, sugere uma possível
associação feita deste termo pelos missionários às danças dos povos não-Tupi do interior
do Nordeste pelo emprego da língua geral. Acrescenta ainda que a utilização do termo
toré seria uma alternativa conveniente para as partes do Ouricuri, ao evitar a utilização
dos termos rituais corretos (Reesink, 2000:364), pois seria neste espaço ritual secreto e
de acesso exclusivo dos índios iniciados que uma continuidade identitária se consolidaria,
pelo meio semântico do emprego de vocábulos secretos, aqueles que designam objetos,
atos entidades e atores rituais. Tudo isso reforçaria a hipótese de que o ritual constitui
a melhor instância de configuração de uma continuidade com a cultural original (ibid.).
Apesar da inacessibilidade a esta cultura original por ausência de narrativas que
façam referência explícita ao toré em séculos passados, podemos trazer para o leitor
algumas interpretações etnográficas importantes extraídas de registros históricos sobre
os rituais indígenas no interior do Nordeste que, ao realçar embates ou sínteses culturais
do período colonial, iluminam a descontinuidade dos rituais indígenas e talvez de práticas
precursoras do toré. Refiro-me especificamente ao trabalho de Cristina Pompa (2003),
tore.p65 15 17/05/2000, 09:05
TORÉ
16
que, debruçando-se em determinado momento sobre a relação da catequese com a
religiosidade dos nativos do interior do Nordeste, pode lançar alguma luz sobre a figura,
hoje ressaltada numa memória construída ritualmente (Grünewald, 2002b), dos bravios:
os ancestrais dos atuais índios do Nordeste e que os orientam nos rituais, principalmente
nas questões mais importantes da vida coletiva como seus momentos de etnogênese.
Como afirmaria o já citado José Lino Grünewald, traduzir, em si, já configura uma
forma de interpretação intuitiva, um palmilhar em torno de. Este pensador lembra que,
em o Ser e o Tempo (Sein und Zeit), Heidegger procurava demonstrar que toda exegese
é circular, uma apreensão intelectual que é, nada mais, nada menos, uma antecipação do
conjunto que nos dá existencialmente. E se a questão central estaria na forma e não nos
conteúdos, pois traduzir, muitas vezes, conduz à traição semântica de super-estrutura,
para que se propicie a infra-estrutura do original (Grünewald, 1982), isso pode nos
conduzir à forma (ao código) de leitura que os índios do Nordeste estão construindo
hoje sobre suas origens, sua ontologia. Se os bravios vêm passando o toré para os índios
do Nordeste durante transes mediúnicos, esta tradução, como na literatura, deve ser
pensada em termos da adequação formal dos signos à nova língua, ou, relativamente, ao
novo conjunto de relações sociais e semânticas que cada um dos grupos indígenas do
Nordeste se insere.
Mas talvez não só os bravios estejam trabalhando nas reatulizações dos rituais
indígenas, afinal outros seres também têm contribuído neste sentido. Não podemos
esquecer que, na luta com os colonizadores, muitos grupos indígenas acabaram aldeados
em missões católicas que, ao contrário do que se ressalta periodicamente, eram espaços
de convivência entre portugueses, índios e também negros (cf. Pompa, 2003:307). Por
seu turno, os quilombos, inclusive os próximos ao litoral, como o de Catucá, liderado por
13
Maluguinho , também abrigavam índios (Carvalho, 1998). E isso nos remete à presença
do toré no litoral norte de Pernambuco e sul da Paraíba, como prática vinculada ao
catimbó, e, por extensão, aos chamados toré de caboclo e toré de mestre (Vandezande,
1975). De fato, a difusão do termo toré para designar rituais sincréticos afro-ameríndios
populares com possessão se estende ainda até ritos realizados com a designação de torés
misturados (Nascimento, 1994) em Alagoas e Sergipe, além dos terreiros de umbanda/
jurema que fazem seus torés como o do tatalorixá Pai Vicente Mariano em Campina
Grande (PB). Todos rituais mediúnicos em que o toré é recebido em termos de sua
codificação indígena.
14
E dentro mesmo desses cultos sincréticos pode-se assinalar, não pela continuidade
mas pela recorrência, as presenças, mais ou menos marcantes, de elementos já registrados
nas cerimônias dos Tupi do século XVI (André Thévet, apud. Vainfas, 1999:57), como
maracá, cachimbo, pios (assobios), bebida ritual, penas, possessão coletiva e individual,
cabaça mágica, defumação, cabana especial etc. Naturalmente, esses objetos são agora
operados em contextos semânticos distintos e a essência mesmo de sua funcionalidade
tore.p65 16 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
17
espiritual ou ritual não pode ser mecanicamente transferida de um a outro contexto. Para
além de uma listagem de elementos estanques, o esforço deve seguir na apreensão dos
relacionamentos culturais e dos processos sociais que marcaram uma historicidade do
contato interétnico colonial a fim de alcançar maior densidade descritiva para as
possibilidades existenciais do toré.
Mesmo nos atendo aos torés indígenas, principalmente no interior do Nordeste, sua
área privilegiada, nos defrontamos com diferentes rituais que lançam mão deste termo.
Os processos de formatação histórica do toré foram diversos nesses lugares e com sentidos
diferenciados conforme as contingências de sua instauração. Deve-se, além de tudo,
considerar os contatos culturais que sempre houve entre os grupos sociais: índios que
acolheram negros em suas aldeias, índios que tiveram que aprender ou recriar uma tradição
por exigência do SPI e muitas possibilidades. Não cabe nesta introdução mapear os
casos particulares de formação da tradição do toré (com este nome e rituais co-ligados)
nas áreas indígenas do Nordeste, mas alertar o leitor para a riqueza de processos sociais,
históricos ou culturais que caracterizam não só a existência, mas também a vitalidade e a
distribuição de torés como legado especificamente indígena.
Porém, se os índios tinham seus rituais, não há registro do termo toré à época da
colonização; seja durante a época das missões ou do período do Diretório Pombalino, o
qual não mediu esforços para a assimilação dos indígenas em operação que buscou eliminar
sociedades ou culturas autônomas. Se houve também um processo de silenciamento quanto
às formas de organização social e cultural dos nativos, somente esforços metodológicos
muito criativos seriam capazes de avançar uma interpretação dos parcos fragmentos
disponibilizados pelos missionários, tarefa que Pompa (2003) se propôs e cujo resultado
é hoje referência essencial para se pensar uma relação intereligiosa já no período colonial.
A começar por destacar que os jesuítas já chegaram aos nativos do interior esperando
mais a presença do Demônio do que a de Deus pelas suas próprias experiências com os
Tupis do litoral, e foi isso que acharam, feiticeiros, os maiores contrários (Pompa,
2003:340).
Paralelamente, cabe lembrar nesse momento que Vainfas (1999) nos aponta uma
singularidade importante da presença católica no Brasil colonial, afirmando que, enquanto
na América espanhola logo se montou uma estrutura eclesiástica poderosa, com quadros
treinados na perseguição à feitiçaria, no Brasil os jesuítas se limitavam praticamente em
evangelizar os nativos (Vainfas, 1999:30). Estes, como que num movimento de resistência
ao colonialismo, acionam idolatrias, não especificamente religiosas, mas como rede de
práticas e saberes insurgentes (ver Gruzinski, 2003; Vainfas, 1999).
15
Ao tratar da religião tapuia , Pompa sustenta que a a noção de fé é um produto
histórico, não uma realidade ontológica (Pompa, 2003:349) e que, portanto, foi a religião
cristã que construiu historicamente a fé; não é a fé que identifica a religião (ibid.).
Problema análogo, para a autora, seria o da personificação: como para os Tupi, também
tore.p65 17 17/05/2000, 09:05
TORÉ
18
os tapuias deveriam acreditar em algo, mas principalmente em alguém (ibid.). E essa
crença foi uma marca do evangelizador que transportava para o nativo uma nova
realidade. Divertido atualmente chega a ser quando lemos carta do padre Jacob Roland,
de 1669 (cf: Pompa, 2003:361), que exprime uma preocupação com os nativos cujas
supertições estão repletas de deuzinhos ou espíritos tutelares que se relacionam às
selvas, águas, chuvas, colheitas, feras e que são invocados segundo as necessidades. Esse
é um bom tópico para pensarmos também na relação que os indígenas atualmente
sustentam com relação aos encantados e na prescindência de abordarmos este fenômeno
como eminentemente religioso ou, pelo menos, na urgência de descartarmos sentidos
constituídos a priori sobre o sagrado no toré.
Inclusive, se Varakidzan é o grande protagonista da maior festa celebrada pelos
Tapuia, ele deve ser pensado mais como objeto de culto e não de crença especificamente
16
(ibid.:365). Varakdizan, ligado à constelação de Orion , foi muito importante como
espaço regulador do ciclo de vida das aldeias Kariri. Além disso, algumas descrições
apontam para o fato de sua festa se realizar fora das aldeias, no mato, espaço de mediação
ritual inclusive esse movimento típico de deixar as aldeias e montar novas a partir da
organização primeira dos objetos sagrados e ter o mato como local liminar de função
simbólica importante nos ritos de passagem dos tapuias (ibid.:377) pode nos levar a
pensar na ocorrência dos ouricuris da atualidade.
Outra questão relevante é que, na ausência de informações sobre a organização espacial
das aldeias do sertão, Pompa infere que, com a chegada dos missionários, a organização
do espaço físico das aldeias continuou, possivelmente, conforme o modelo indígena, ao
qual se acrescentaram a igreja e a cruz (ibid.:379). Porém, para além desta penetração, e
ao longo de sua sistematização, a ação catequética também se caracterizou, num segundo
momento, pelo hábito de se misturar nas aldeias índios de diferentes etnias, até criar,
além de uma língua geral, uma cultura geral, a partir da qual se rearticula uma identidade
indígena (ibid.:388).
Provavelmente, cada um desses conjuntos de índios acabou por reconstituir o sentido
do mundo, sendo que a absorção dos símbolos cristãos foi fundamental para praticamente
todos. A experiência das aldeias missionárias do sertão, segundo Pompa:
deixou como herança um horizonte religioso inédito, que os índios carregaram consigo
ao se misturar com o resto da população e ao construir, junto com esta, a cultura cabocla.
Certamente, nas aldeias houve a imposição, freqüentemente violenta, da religião católica,
mas esta religião foi, também, uma recriação original dos indígenas, a partir de seus
sistemas simbólicos e de suas práticas, muitas das quais, como vimos, acabaram por se
impor aos próprios evangelizadores. Em suas práticas catequéticas, os missionários
privilegiaram o penitencialismo exacerbado, no quadro de uma situação histórica em
que a morte era a companheira do cotidiano. Foi a partir desta visão que os indígenas
tore.p65 18 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
19
releram seus mitos e seus rituais e os transformaram, incorporando e traduzindo a nova
realidade (ibid.:415-6).
Mas isto é, como a própria autora admite, não uma característica distintiva da
religiosidade indígena, mas de uma religiosidade cabocla do sertão formada pela força
das pregações itinerantes caracterizada por forte penitencialismo e com função exorcizante
da permanente ameaça da morte ou do Apocalipse (ibid.:416-7). Isso é importante porque
os índios atualmente se inserem nesse quadro do catolicismo caboclo resultante do melting
17
pot da caatinga (Menezes, 1970) independentemente de sua condição indígena .
Entretanto, a idéia aqui não é diminuir o peso da especificidade indígena quanto às
suas tradições, mas apontar para a possibilidade de o toré não ser tão proeminentemente
religioso como querem alguns pesquisadores. Até porque, a partir da perspectiva de
muitos indígenas, a religião deles não passa pelo toré, espaço que, embora adquira sentido
sagrado, nem por isso se vincula às práticas religiosas tal como eles entendem o termo
18
pelo menos no seu sentido oficial . Em algumas aldeias, inclusive, a participação
individual no toré deve ser liberada pelas lideranças religiosas da qual o índio faz parte.
Não é estranha atualmente a notícia de líderes indígenas que foram cobrar de pastores
evangélicos (ou pentecostais) a participação dos índios desta religião nos torés, alegados
como sua tradição étnica. E a participação individual no toré varia em grau de
aprofundamento e comprometimento. Se o toré diversifica-se em força espiritual conforme
a situação de sua prática, a presença dos atores individuais é também discrepante.
Lembro que durante minha pesquisa para o doutoramento estudava a criação de
tradições entre os Pataxó de Coroa Vermelha (BA) e percebia a incrementação de danças
e músicas que eles pretendiam exibir aos turistas e aos não-índios em geral. Para isso, foi
necessário o fomento de um núcleo forte que segurasse essa reatualização ritual. Isto
acabou gerando, para longe do pragmatismo inicial, uma prática espiritual indubitável
de contato com os ancestrais. Mas talvez o espiritual só se apresente aí para uns poucos
que de fato se empenham nos rituais, enquanto que, para a maioria, talvez prevaleça a
idéia do brinquedo ou da tradição étnica, que sacraliza o grupo, mas não divindades.
Assim, a continuidade do grupo é sacralizada tanto pela execução prática conjugada da
tradição quanto pelo contato com os ancestrais, vivos e espirituais, que passam para os
índios que se atropelaram na história, mas que agora estão buscando suas origens como
força de vida, a mágica ou o mistério de ser índio.
Concordo inteiramente com Pompa que o rito seja o espaço privilegiado para a
tradução. Segunda ela, para De Martino o ritual é o instrumento para intervir na
realidade e assimilar a mudança: não para anular a história e reduzir o fluir do tempo a
um eterno retorno, como quer a fenomenologia religiosa, mas para assumir a autoria de
sua transformação, conferindo proteção meta-histórica à ação (De Martino, 1948 e
1977, apud. Pompa, 2003:377). E foi justamente no entorno de uma teoria da prática,
tore.p65 19 17/05/2000, 09:05
TORÉ
20
que elegi a noção nativa Atikum de regime de índio como operador conceitual para a
atualização prática da cultura nativa, ou mais especificamente, de suas tradições étnicas
é a instância prática que vai recodificar (traduzir) a autoctonia para a indianidade na
medida em que ser índio é um movimento pós-contato colonial.
Os regimes de índio criados em torno dos torés são próprios a cada um dos grupos e
carregam sentidos intrínsecos, exclusivos alguns e compartilhados outros. Certamente,
não é universal a associação religiosa ao toré. Muito do que se faz em torno deste, inclusive,
estaria mais para a esfera do xamanismo. Além disso, se no processo de conversão os
padres substituíram xamãs atuando na cura de doenças (Pompa, 2003:382), com o descaso
posterior e contínuo do Estado com relação às populações carentes do semi-árido
nordestino, os curadores nunca deixaram de existir. Em muitos regimes de índio atuais,
o papel dos xamãs (pajés) continua privilegiado e há espaços (mais ou menos reservados)
para a realização das práticas de cura. Nesse âmbito, a jurema, como operador xamânico
19
ou apenas enquanto enteógeno , tem, como deve ter tido, uma posição central para
vários grupos.
Apesar de uma visão objetivista, Gruzinski (2003) chama atenção para a importância
entre os nativos dos alucinógenos, tão repulsivos aos evangelizadores. E isto é de fato
importante não apenas para pensarmos experiências sagradas compartilhadas dos
indígenas antes do contato com o colonizador, mas especialmente nos processos de
reformulação cultural diante do contato colonial, onde, muitas vezes inclusive, essas
experiências (presentes nas esferas das subjetividades) podiam se constituir como último
refúgio da tradição, ainda que a forma e o conteúdo tivessem sido integralmente alterados
e cristianizados (Gruzinski, 2003:315). Mas isso obviamente variou conforme as
20
experiências sociais dos grupos particulares (e seus regimes específicos) e a jurema ,
assim, vai ter importância e significados alterados conforme os torés e os grupos indígenas.
Irônico é que os xamanismos desses grupos, dos catimbozeiros e de outros curadores
foram perseguidos e os ritos com a jurema viraram cultos ocultos cuja ciência, heresia
para os padres, teve que ser desenvolvida a portas fechadas. O SPI, quando exigiu a
dança do toré como atestado de indianidade, acabou por renovar abertamente esse
xamanismo recolocando os caboclos em posição para operar com um codificador
cósmico deixado à deriva na luta pela sobrevivência imposta pela colonização (Grünewald,
2004 no prelo).
A imponderabilidade da tradução
Vale lembrar que a idéia das considerações precedentes não foi a de negar o caráter
religioso do toré (afinal muito das práticas e sentidos inerentes a este fenômeno se
inscrevem em campos religiosos), mas também não assumi-lo a priori. Muitas dicotomias,
inclusive, devem ser dilaceradas. Separar brinquedo de rito (e, conseqüentemente, folclore
de etnografia), xamanismo de religião, autóctone de estrangeiro, entre outras dualidades,
tore.p65 20 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
21
promove apreensões parciais que impedem um maior aprofundamento no toré como
fenômeno de ampla envergadura sociocultural. O lúdico, por exemplo, pode estar sempre
se referindo ao sagrado e o rito ser uma festa (brincadeira) sagrada, pois o sagrado também
serve para brincar e se divertir e não se caracteriza exclusivamente por atitudes de
circunspecção - embora toda a seriedade que, mesmo como brinquedo, recaia sobre ele,
com seus dias certos para execução, dias proibidos e até as interdições pessoais que podem
cercar suas realizações.
Mas, se as dicotomias metodológicas devem ser afastadas, isso não quer dizer que,
sob os pontos de vista epistemológico e instrumental, o toré não se mostre enquanto
construído, muitas vezes, por oposição, como, por exemplo, à mesa branca, ao catimbó,
ao feitiço, ao xangô e a outras práticas rituais existentes dentro ou na circunvizinhança
das áreas indígenas. Como sinal diacrítico, o toré já manifesta, em sua existência, a oposição,
e esta se revela não só para fora das áreas indígenas, como no próprio interior das
comunidades. Note-se, por exemplo, que há grupos de trabalhos espirituais privados em
Atikum que lançam mão da cachaça em seus rituais e outros não, ficando os primeiros
excluídos da referência à linha indígena de trabalho. Mas será que esses rituais privados
são também chamados de toré? Se o trabalho de gentio privado e o toré público Atikum
se opõem em alguns aspectos, não seriam momentos de um mesmo fenômeno? E por aí
se descortinam uma série de problemas ou nuances que tornam este campo praticamente
inesgotável e do qual tenho tentado fazer emergir dúvidas com respeito até à sua
significação.
Assim, na contramão da busca por invariantes universais do toré (que seria o mesmo
que dizer que isso é coisa de índio), talvez valha a pena salientar uma série de objetos
dignos de investigação quando se coloca o toré como horizonte. A começar pelo fenômeno
enquanto linguagem, isto é, o campo semântico do toré na medida em que ele é algo que
comunica e talvez muitas coisas para além da já aludida indianidade. Mas se o rito faz
sentido contextualmente, já podemos antecipar uma indagação, de uma maneira bem
ampla, pelos espaços e os tempos dos torés. Essa questão é evasiva se não nos detivermos
em recortes que podem trazer à tona tanto aspectos internos à realização dos rituais até
problemas da ordem do fenômeno enquanto suporte da memória social ou como tomada
de consciência do grupo nele mesmo. E isso já nos remete novamente à necessidade da
particularização.
Primeiramente, portanto, na medida em que cada comunidade tem seu contexto
histórico em que o toré se liga moldando sentidos e formas distintas, deve-se ter em
mente as particularidades históricas de cada toré de cada grupo (e até dos diferentes
torés dentro de um mesmo grupo) sem esquecer dos personagens marcantes, muitas
vezes imbuídos espiritualmente de refazer o toré (levantar a aldeia) a pedido dos
antepassados. Aliado a isso, questões de distribuição geográfica e de difusão cultural
valem ainda ser mapeadas: os grupos que ensinaram outros a fazer torés e as trocas
tore.p65 21 17/05/2000, 09:05
TORÉ
22
culturais atuais (as músicas de um grupo, por exemplo, são tiradas por vários outros,
muitas vezes com adequações próprias para cada um). A formação atual dos grupos de
toré em seus aspectos interno (organização das pessoas) e externo (conjunturas das arenas
públicas para exibições, por exemplo). Os papéis hierárquicos dos atores no toré. Os
sentimentos ou emoções associados a ele; as tensões entre os grupos que o praticam nas
aldeias. A coesão social da comunidade e as pessoas e grupos (facções) que podem
21
promover uma negação do toré (ou, conseqüentemente, do regime de índio) , enfim,
elementos éticos e morais intra e interétnicos. Os homenageados do toré com os vivas
característicos ao final dos toantes, como Rondon, os chefes de posto, ancestrais, nossas
senhoras, padroeiros, caciques, visitantes etc. E a participação dos não-índios nos torés:
quem, quando e onde?
Sabe-se que o toré é circundado por segredos em torno de uma alegada ciência do
índio, de exclusividade indígena embora muitos conteúdos místicos e esotéricos possam
ser repartidos com pessoas de fora do grupo étnico em certas medidas. Penetrar nos
segredos do toré não tem sido tarefa ainda pretendida pelos etnógrafos que se lamentam
ao comentar que esbarraram neles. Pode-se supor a existência de possíveis hierarquias de
conhecimento ou até mesmo da dissimulação que o próprio segredo opera a fim de criar
o fato do conteúdo exclusivo do grupo étnico (Grünewald, 1993, 1997, 1999, 2002a),
carecendo a etnologia nordestina talvez de depoimentos, ou mais, de etnografias mais
aproximadas à fenomenologia ou de maior duração de campo entre os grupos indígenas.
Inclusive, não há torezeiros que escreveram sobre o toré. O que os etnógrafos têm
elaborado, para além da dicotomia entre público e privado, e já dentro mesmo dos
conteúdos dos trabalhos ocultos ou trabalhos de gentio (Grünewald, 1993, 1999,
2002a), particulares (Batista, 1992), mesas (Silva, 2000), é um arrolar desses
elementos característicos tais como as orações, os seres que são referidos, a cura, cachaça,
alho, maracujá, mel, fumo, apito, os cachimbos arqueológicos (caquis), velas, os
encantos, outros espíritos, as formas de possessão etc. Quanto às questões mais profundas
que tocariam a significação cosmológica de tudo isso, desde Nasser e Nasser (1988) já se
evocam incertezas entre os próprios nativos. Tudo muito diferente do toré exibido
publicamente, principalmente as representações fora da área indígena, nas quais o
utilitarismo predomina.
Paralelamente, há um largo campo de pesquisa para uma estética do toré se percebida
tanto nas suas apresentações públicas quanto nas suas realizações nas comunidades e nos
ritos íntimos. Vale destacar o toré como dança (elementos coreográficos) e o instigante
campo da performance. A etnomusicologia do toré, desde as denominações das músicas
(toantes, cantigas, linhas, torés, benditos, sambas etc), passando por seu
acervo na tradição oral e nos registros passados até as composições recentes (constituição
do corpus musical). Além disso, as próprias formas de composição (pelo indivíduo, ou
através de encantados ou antepassados), ou ainda as influências musicais regionais
tore.p65 22 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
23
como o samba de coco, ciranda, marujadas, linhas de umbanda, benditos etc. Os
instrumentos musicais e sua variabilidade ou mesmo, de forma mais ampla, os materiais
22
do toré (maracá, flauta , búzios, penas, caroá, pinturas corporais etc). Os registros
(sonoros, fílmicos etc) do toré e suas permissões (o que é permitido? para quem? para
quê?), até os projetos de produções culturais. Destacam-se ainda aspectos etnobotânicos
23
ligados à execução musical do toré , pois, para além da relação da música com o
xamanismo, há, nas letras das músicas, a exposição de um rico patrimônio botânico que
24
se articula com vários aspectos da cultura dos nativos . A destacar aí a ingestão da
bebida jurema, que acompanha o toré como maior sinal diacrítico entre o índio e o não-
índio.
Isso nos remete de novo para o fato que ambos, toré e jurema, embora referencialmente
indígenas onde quer que se manifestem, são elementos reatualizados em outros contextos
não-indígenas. E, se no âmbito da questão que extrapola a circunscrição do toré às
sociedades indígenas, pode-se perceber a extensão do termo a outras práticas rituais afro-
ameríndias, também internamente às construções indígenas, destaca-se o fenômeno viçoso
do sincretismo, hibridismo, ou seja lá que nome se prefira, para a adaptação de práticas
xamânicas ou religiosas. Isso pode ser percebido no momento da incrementação dos
torés nas áreas indígenas em suas etnogêneses e também na atualidade pós-moderna,
onde um neo-xamanismo que resgata a jurema e sua cultura ritual associada (toré) como
forma de expressão religiosa enteogênica fomentada pelas experiências ayahuasqueiras
(cf. Grünewald, 2004 no prelo), respalda a promoção de um turismo xamânico que
descobriu o valor do toré como atrativo turístico e se desenvolve com eventos cada vez
mais concorridos levando inclusive a novas acepções e estéticas para a tradição indígena.
Passamos, assim, a uma questão que vem se colocando com relação ao toré desde sua
divulgação interna à antropologia até a sua visibilidade pública atual: trata-se da
autenticidade atribuída a este fenômeno. O toré está intimamente ligado às etnogêneses
dos índios do Nordeste, isto é, sociedades que passavam por camponesas e, diante da
existência de um campo para suas aparições, assumiram publicamente suas identidades
étnicas, reivindicando seus direitos assegurados pela União. Se um inspetor do SPI teve
papel importante ao declarar que o toré era a conscientização de ser índio e que para
ser índio no Nordeste era necessário ser portador dessa tradição (cf. Grünewald, 1993,
1997, 1999), não se pode atribuir a essa exigência, da qual não temos notícias de sua
25
generalidade, a recorrência do toré entre praticamente todos os grupos nordestinos .
Essas populações costumavam ser estigmatizadas pelos regionais (muitas vezes seus
vizinhos e inimigos políticos) como aculturadas e foi atribuído ao toré o estigma de
catimbó ou feitiço, entre outros associados aos cultos afro-brasileiros e portanto
sincréticos e não de domínio indígena. Nem por isso tais grupos deixaram de se firmar
em seus regimes de índio específicos, recriando seu patrimônio étnico a partir de situações
de territorialização (Oliveira, 1999b) que já os extraía de uma posição de contato cultural
tore.p65 23 17/05/2000, 09:05
TORÉ
24
complexa e intensa. O toré, num primeiro filtro, acaba por emergir como um festejo
cristão da indianidade, associado aos antepassados e encantos das matas nativas, passando
pelo mar, até à África distante.
De fato, o toré revela-se mais sistematicamente nos debates antropológicos na esteira
da formação do objeto de estudos chamado de Índios do Nordeste, já muito bem analisado
por Oliveira (ibid.). Este autor, ao destacar os processos de territorialização, ou de
reorganização social, que, funcionando de modo antiassimilacionista, tornaram manifestos
tais povos indígenas com um patrimônio cultural próprio, não deixa de reforçar a prática
do toré como uma marca maior de sua recente indianidade. Neste âmbito, o toré vem
26
assumindo papel fundamental na mobilização étnica dos índios do Nordeste .
Com efeito, o movimento indígena no Nordeste na atualidade já incorporou o toré
como forma de expressão política: desde a mobilização interna dos índios até às
performances nas situações políticas mais variadas com propósitos de demonstração de
poder, união e determinação guerreira. As assembléias indígenas acabam com os torés
pluriétnicos, mas multiculturais, que marcam a indianidade nordestina. O toré já é parte
da ação indigenista no Nordeste na medida em que referido e praticado em suas
manifestações.
Em todos essas situações, ficam evidentes em muitos casos os processos de criação da
tradição do toré a partir de uma retórica do resgate cultural (Grünewald, 2001; 2002c),
a qual perturba não apenas alguns antropólogos que não se sentem à vontade para
reconhecer essa dinâmica, mas principalmente a massa espectadora que projeta no indígena
sua ansiedade evolucionista por aboriginalidade primitiva e acaba por questionar a
legitimidade desses que fazem representações nas cidades, especialmente no famigerado
Dia do Índio, que, em muitos lugares, e até mesmo no interior das próprias aldeias, se
27
configura como o principal momento de ser índio, de se mostrar índio brasileiro através
da representação do toré.
Por fim, para não encerrar esta apresentação de forma circular indagando o que é o
toré depois de ressaltar dúvidas ou incertezas que o rodeiam, gostaria de fixar que, na
medida em que o toré não é um fenômeno estanque, ele deve ser apreendido primariamente
28
como um processo ordenador da vida indígena no Nordeste . Se sua característica
invariante é ser coisa de índio, isso é movimento, é dinâmica histórica que, para além dos
atores ou agentes individuais, promove o referencial da autoctonia nordestina através de
codificação ontológica em regimes específicos. Se difícil traduzir o toré, é porque talvez
ele não seja substância, mas o meio pelo qual a essência indígena se organiza. O toré não
é léxico, mas (quem sabe?) uma gramática flutuante em matas encantadas.
29
Os enfrentantes
Parece claro que múltiplos objetos podem se constituir a partir do amplo tema do
toré. Vários deles estão contemplados pelos autores que compõem esta coletânea. Antes
tore.p65 24 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
25
de abrir definitivamente o terreiro, gostaria ainda de dizer algumas palavras sobre ela.
Poucas semanas antes da realização da VIII Reunião de Antropólogos do Norte e
Nordeste (ABANNE), realizada em São Luís do Maranhão em julho de 2003, o professor
João Pacheco de Oliveira me adiantava conversas sobre a exposição Os Primeiros
Brasileiros, para realização na cidade do Recife em 2005, que já se encontrava em estado
adiantado de planejamento e que tinha por idéia tomar por módulos específicos a Jurema
e o Toré, para os quais ele me convidava para atuar como consultor.
Na Reunião de antropólogos, paralelamente, um GT, sob coordenação de Gustavo
Pacheco e Edmundo Pereira, discutia o tema Música, Ritual e Política, no qual apresentei
comunicação sobre Toré e Ação Política em uma sessão dedicada inteiramente ao assunto.
Mas foi numa caminhada de descanso, descalços sob a maresia da Baía de São Marcos,
que Edmundo lança a idéia, fomentada ao longo da sessão do GT, de um livro sobre este
fenômeno que ele recentemente descobrira e que o encantava bastante. Partimos então
para conversas com o João Pacheco, que resolve incluir o mesmo no projeto da citada
exposição, reforçando sua parte mais propriamente científica. Daí foi um passo para
encaminhar uma chamada para os artigos entre pesquisadores de instituições de vários
estados do país e que podiam contribuir com visões diferenciadas sobre o toré. Neste
sentido, não posso deixar de exprimir meus agradecimentos aos autores que contribuíram,
cumprindo os prazos e tentando de tudo para enquadrar suas idéias dentro do espaço
que lhes foi oferecido. Contei ainda com a ajuda de Edmundo Pereira para o trabalho
inicial de revisão dos artigos. Com certeza, vários de seus comentários foram de auxílio
para os autores. Mais ainda, agradecer a Edmundo Pereira por ter sido o idealizador do
livro. Finalmente, João Pacheco de Oliveira merece menção especial como seu encorajador
e promotor, pois acolheu esta idéia desde o início, incentivou sua realização e, muito
generosamente, criou as condições concretas de sua publicação. E aqui, cabe ressaltar
também a grandeza do coordenador geral da Editora Massangana, Mario Hélio Gomes
Lima, que admitiu plenamente a edição deste livro. Também, o professor Jorge Siqueira,
diretor do Instituto de Pesquisas Sociais / FUNDAJ, foi de grande valor como parceiro
na exposição Os Primeiros Brasileiros e incentivador deste livro.
Coube a mim o trabalho de estabelecer o contato com as pessoas, organizar o material,
trocar impressões e ordenar os textos numa ordem de apresentação que, entre outras, me
pareceu plausível para expressar a polifonia epistemológica do assunto. A uma primeira
vista, pode parecer que o organizador apertou a tecla shuffle para apresentar os artigos,
pois o livro não segue a uma divisão clássica em partes temáticas na medida em que os
capítulos suscitam aspectos temáticos do toré que se complementam, contribuindo para
sua apreensão como fenômeno de ampla complexidade.
Iniciar o livro por questões de ordens étnicas e religiosas me pareceu conveniente
face à atenção dispensada a essas perspectivas que, como vimos, estabelecem critérios
interpretativos já consagrados para uma abordagem do tema. E penetrar cada vez mais
tore.p65 25 17/05/2000, 09:05
TORÉ
26
nos projetos de remodelação religiosa que acompanham os projetos étnicos e políticos.
Explorar ainda as dinâmicas políticas e éticas que sociedades indígenas tornam manifestas
no toré. Atentar para projetos culturais específicos de consolidação deste fenômeno como
tradição delimitadora de etnias do Nordeste e suas formas de manifestação para a sociedade
nacional, da onde a atenção, ao final, para as suas formas de registros hoje e à época das
pesquisas folclóricas, contextualizando seus significados inerentes.
O artigo de Marco Tromboni de S. Nascimento apreende o toré como ritual étnico-
religioso e analisa sua incorporação, há cerca de trinta anos, pelos Kiriri (BA). O autor
identifica a operação de uma racionalidade culturalmente determinada no processo de
reorganização política e reafirmação étnica desse povo, responsável pelo sucesso da
implantação daquele ritual, o qual passa a definir sua indianidade.
Ao destacar a importância do aprendizado do toré e do particular na descoberta da
aldeia Truká (PE), Mércia R. R. Batista se concentra numa descrição de ambas
modalidades rituais, apontando para seus elementos culturais e relações sociais intrínsecas.
Ugo Maia Andrade, por seu turno, direciona a atenção para diferentes modos que os
Tumbalalá (BA) podem acionar para perceberem sua presença no mundo e numa
identidade em devir. Deslocando o foco do étnico para o ético, o autor evoca moralidades
gravitando em torno de regimes de toré e que são produto das formas como os membros
do grupo se articulam social e historicamente.
O artigo de Rita de Cássia M. Neves destaca os conteúdos subjetivos e objetivos
presentes nas situações concretas em que os torés se realizam. A partir do exame de
performances entre os Xucuru (PE), a autora atenta para a existência de fronteiras intra-
étnicas no interior do grupo que evocam relações políticas e de organização social.
Wallace de D. Barbosa percebe o toré como uma prática performática muito difundida
entre os povos indígenas do Nordeste. Associando o toré ao praia, o autor destaca as
fronteira culturais dos grupos Kambiwá e Pipipã (PE) atentando para seus processos
históricos que culminaram com formas específicas de projetos étnicos.
Paralelamente, Clarice N. da Mota explora diferentes modalidades e significações
do toré a partir das performances e concepções sobre este ritual entre as comunidades
Xocó (SE) e Kariri-Xocó (AL), atentando para os contextos históricos a partir dos quais
tore.p65 26 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
27
estas comunidades estabeleceram suas relações interétnicas e territoriais que direcionaram
os rumos que essa tradição seguiu em cada caso.
Já a partir de uma contextualização histórica e cultural dos Potiguara (PB), Estevão
M. Palitot e Fernando B. de Souza Júnior buscam apreender o toré entre esses índios
desde os primeiros registros etnográficos até suas formas e conteúdos atuais
contextualizados a partir de diferentes situações sociais, onde se destacariam também
diversas dimensões concretas de sua realização e com destaque para o fenômeno da
etnicidade.
Carlos Guilherme O. do Valle, a partir do exame minucioso dos aspectos históricos,
sociais e culturais que deram configuração ao torém dos Tremembé (CE) enquanto
tradição e ritual, levanta considerações em torno de suas correlações com o toré
(especialmente dos Tapeba), ampliando sua perspectiva analítica para questões gerais
sobre etnicidade no amplo quadro de multiplicidade étnica no Ceará contemporâneo.
Já Marcos Alexandre dos S. Albuquerque analisa a criação de uma nova tradição
musical (torécoco) em conjunto com a etnogênese do grupo indígena Kapinawá (PE),
onde se destaca uma ambigüidade positiva entre religião, ludicidade e política no âmbito
de um espaço cultural vigoroso.
O artigo de Maria Acselrad, Gustavo Vilar e Carlos Sandroni se debruça sobre os
registros sonoros do toré Pankararu (PE) realizados pela Missão de Pesquisas Folclóricas
do Departamento de Cultura de São Paulo de 1938 em contraposição às observações
etnográficas feitas pelos autores em 2003, nas quais se busca ressaltar inclusive as
dimensões lúdica, sagrada e musical-coreográfica do toré.
Por fim, a partir do registro do toré Kapinawá (PE) para a confecção de um CD em
2003, Edmundo Pereira considera em seu artigo em que medida a situação de gravação
condicionou o ritual, tornando-se reveladora da musicológica do grupo.
Não posso terminar esta introdução lamentando as ausências deste livro, mas saudando
a todos que para ele contribuíram e, principalmente, aos que são simpáticos ao toré. Para
isso chamo à voz o pajé Augusto Gustavo de Oliveira dos Atikum da Serra do Umã
(PE):
Viva a Deus!
Viva os encantados de luz!
Viva a todos índios do Nordeste!
Viva os autores e os leitores do Toré!
VIVA!
tore.p65 27 17/05/2000, 09:05
TORÉ
28
Notas
1
E para além do campo estrito da antropologia, os estudos sobre o toré só têm a se enriquecer a
partir de perspectivas de pesquisas interdisciplinares, com contribuições também da psicologia,
lingüística, música, dança e outros pontos de observação.
2
Na maioria das vezes, trata-se de uma bebida sacramental e que tem sido investigada sob vários
ângulos (cf. Mota e Albuquerque, 2002).
3
Dependendo do grupo, as espécies utilizadas variam e, por esse motivo, não me detenho aqui
em referências às classificações botânicas das mesmas.
4
Essas duas expressões da cultura indígena nordestina (toré e jurema) geralmente encontram-se
dispostas num mesmo campo semântico ou retórico quando se pensa no acervo cultural desses
povos, principalmente em termos de seus sistemas cosmológicos, simbólicos ou rituais.
5
Esta trombeta, khitxá, seria mais própria do toré Fulni-ô, segundo Estevão Pinto (1956:137).
6
Talvez a própria conjuntura histórica não favorecesse manifestações de etnicidade.
7
Mesmo assim, de participação exclusivamente indígena, ao contrário do coco, onde até estranhos
também podiam participar da brincadeira (Pinto, 1956:144).
8
Alagoas: Jeripankó, Kalankó , Karapotó, Kariri-Xokó, Karuazu, Katokim, Koiupanká, Tingui-
Botó, Wassu e Xukuru-Kariri. Bahia: Atikum, Kaimbé, Kantaruré, Kiriri, Pankararé, Pankaru,
Pataxó, Pataxó-Hã-Hã-Hãe (subgrupos Kamakã, Baenã, Kariri-Sapuyá, índios de Olivença),
Tumbalalá, Tupinambá de Belmonte, Tupinambá de Olivença, Tuxá e Xukuru-Kariri. Ceará:
Anacé, Jenipapo-Kanindé, Kalabaça, Kanindé, Pitaguary, Potiguara da Lagoa do Néris, Potiguara
da Serra das Matas, Potiguara da Viração, Tabajarade Maratoã, Tabajara da Poranga, Tabajara da
Serra das Melancias, Tabajara de Quiterianópolis, Tabajara do Olho DÁgua dos Canutos, Tapeba
e Tremembé. Paraíba: Potiguara. Pernambuco: Atikum-Umã, Fulni-ô, Kambiwá, Kapinawá,
Pankará, Pankararu, Pipipã, Truká, Tuxá e Xukuru. Sergipe: Xocó.
9
E também o interesse etnográfico por essas sociedades vem aumentando e se especializando em
vários aspectos desde as dissertações defendidas na década de 70 até a produção antropológica
atual.
10
Esses depoimentos de R. D. Carneiro podem ser consultados em Grünewald (1993).
11
Para o assunto consultar especialmente a coletânea de Oliveira (1999a).
12
Já para o sul da Bahia, pode-se mencionar as realizações cada vez mais intensas do porancim
dos Tupinambá e do auê dos Pataxó.
tore.p65 28 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
29
13
Herói negro que baixa nos terreiros dos torés indígenas do sertão (muito comum entre os
Atikum) como entidade de força das matas.
14
Embora em 1816 Henry Koster (apud. Lima, 1946) tenha descrito ritual de índios do litoral
norte de Pernambuco que também apresenta os elementos característicos que se seguem.
15
Designava-se genericamente por tapuia no período colonial os nativos não falantes do Tupi que
habitavam o interior.
16
Interessante notar a presença desta constelação nas inscrições rupestres do interior do Nordeste,
como na Pedra do Ingá, PB.
17
E mesmo manifestações mais rigorosas como a queima da cansanção entre os Pankararu,
encontram vários paralelos em grupos sertanejos não indígenas.
18
Lembro até uma vez quando pedi para alguns índios mais íntimos me falarem sobre a religião
deles logo após um ritual de toré na Serra do Umã, enquanto caminhávamos e me disseram:
religião? Aqui não tem isso não.
19
Ver Grünewald (2004, no prelo).
20
Planta ou bebida com propriedades alucinógenas, pela mentalidade objetivista.
21
Ver Grünewald, 1993.
22
Comumente chamada de gaita.
23
E obviamente uma etnobotânica do toré não é importante apenas pela sua expressão na música,
mas por um conjunto vasto de informações rituais de riqueza etnobiológica ainda imprevista.
24
Pedro F. Leite da Luz, em comunicação oral apresentada na VIII Reunião de Antropólogos do
Norte e Nordeste (ABANNE) de São Luís (MA) em 2003, forneceu bons exemplos sobre as
plantas cantadas no toré Kapinawá.
25
Pois até alguns grupos que eram portadores de outros sinais diacríticos, têm acabado por se
apropriar de formas de toré localizadas como afirmação de indianidade, como no caso de alguns
Pataxó do Extremo Sul da Bahia (cf. Grünewald, 2001).
26
E uma analogia que ainda precisa ser pesquisada sistematicamente é a dos processos de renovação
étnica no Nordeste brasileiro e entre os índios do Sudoeste norte-americano, em cujas emergências
também assistimos a recriação de danças e rituais (até de celebração cristã com o uso de um
enteógeno pan-indígena) como fundamento diacrítico para a mobilização étnica do Red Power
(cf. Nagel, 1996).
27
A data é brasileira em homenagem a essa minoria nativa.
28
Embora devemos atentar para o caso do torém no Ceará que, como fenômeno paralelo, embora
excessivamente localizado, pode apontar recorrências criativas e interessantes para a compreensão
do processo da indianidade nordestina.
29
Em Atikum, se chama de enfrentantes às pessoas que seguem à frente na roda do toré, tirando
os toantes ou as linhas.
30
Agradeço a Lemuel Dourado Guerra pela tradução da voz do pajé para notação musical.
tore.p65 29 17/05/2000, 09:05
TORÉ
30
Bibliografia
CARVALHO, Marcus Joaquim M. 1998. O Quilombo de Malunguinho, o Rei das Matas de
Pernambuco. In: REIS, J. J. e GOMES, F. S. (orgs.). Liberdade por um Fio. História dos
Quilombos no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras.
CASCUDO, Luis da C. 1979. Toré (verbete). In: Dicionário do Folclore Brasileiro. São
Paulo, Melhoramentos.
GRÜNEWALD, José L. 1982. Introdução. In: Transas Traições Traduções. Salvador, Código 7.
GRÜNEWALD, Rodrigo de A. 1993. Regime de Índio e Faccionalismo: os Atikum da Serra
do Umã. Dissertação de Mestrado, Museu Nacional, UFRJ.
GRÜNEWALD, Rodrigo de A. 1997. A Tradição como Pedra de Toque da Etnicidade. In:
Anuário Antropológico 96. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro.
GRÜNEWALD, Rodrigo de A. 1999. Etnogênese e Regime de Índio na Serra do Umã. In:
OLIVEIRA, J. P. (org.). A Viagem da volta. Etnicidade, política e reelaboração cultural no
Nordeste indígena. Rio de Janeiro, Contra Capa.
GRÜNEWALD, Rodrigo de A. 2001. Os Índios do Descobrimento: Tradição e Turismo. Rio
de Janeiro, Contra Capa.
GRÜNEWALD, Rodrigo de A. 2002a. A Jurema no Regime de Índio: o Caso Atikum. In:
MOTA, C. N. e ALBUQUERQUE, U. P. (orgs.). As Muitas faces da Jurema: de Espécie
Botânica à Divindade Afro-indígena. Recife, Bagaço.
GRÜNEWALD, Rodrigo de A. 2002b. A Construção da Imagem dos Bravios e a Memória
Atikum. In: Anuário Antropológico 98. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro.
GRÜNEWALD, Rodrigo de A. 2002c. Tourism and Cultural Revival. In: Annals of Tourism
Research, 29 (4).
GRÜNEWALD, Rodrigo de A. 2004 (no prelo). Sujeitos da Jurema e o Resgate da Ciência
do Índio. In: LABATE, B. & GOULART, S. (Orgs.). O Uso Ritual das Plantas de Poder.
Campinas, Mercado de Letras.
GRUZINSKI, Serge. 2003. A Colonização do Imaginário. Sociedades Indígenas e
Ocidentalização no México Espanhol. Séculos XVI XVIII. São Paulo, Companhia das Letras.
HOHENTHAL Jr., William D. 1954. Notes on the Shucurú Indians of Serra de Ararobá,
Pernambuco, Brazil. In: Revista do Museu Paulista, v. VIII. São Paulo.
tore.p65 30 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
31
HOHENTHAL Jr., William D. 1960. As Tribos Indígenas do Médio e Baixo São Francisco.
In: Revista do Museu Paulista, v. XII. São Paulo.
LÉVI-STRAUSS, Claude. 1974. Introdução: A Obra de Marcel Mauss. In: MAUSS, M.
Sociologia e Antropologia, volume II. São Paulo, EPU/EDUSP.
LIMA, Oswaldo. G. de. 1946. Observações sobre o Vinho da Jurema Utilizado pelos Índios
Pankararu de Tacaratú (PE). In: Arquivos do Instituto de Pesquisas Agrônomas, Recife (PE)
4.
MAUSS, Marcel. 1974. Ensaio sobre a Dádiva. Forma e Razão da Troca nas Sociedades
Arcaicas. In: Sociologia e Antropologia, volume II. São Paulo, EPU/EDUSP.
MENEZES, Djacir. 1970. O Outro Nordeste. Rio de Janeiro, Artenova.
MOTA, Clarice M. e ALBUQUERQUE, Ulysses P. 2002. As Muitas faces da Jurema: de
Espécie Botânica à Divindade Afro-Indígena. Recife, Bagaço.
NAGEL, Joane. 1996. American Indian Ethnic Renewal. Red Power and the Resurgence of
Identity and Culture. New York/ Oxford, Oxford University Press.
NASSER, Elizabeth e NASSER, Nássaro. 1988. Tuxá. In: SILVA, P. A. (org.). O Índio na
Bahia. Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia.
OLIVEIRA, Carlos E. 1942. O Ossuário da Gruta do Padre em Itaparica e algumas Notícias
sobre Remanescentes Indígenas no Nordeste Brasileiro. In: Boletim do Museu Nacional, 14-
17 (1938-1941), Rio de Janeiro.
OLIVEIRA, João Pacheco de. 1999a. A Viagem da Volta: Etnicidade, Política e Reelaboração
Cultural no Nordeste Indígena. Rio Janeiro, Contra Capa.
OLIVEIRA, João Pacheco de. 1999b. Uma Etnologia dos Índios Misturados: Situação
Colonial, Territorialização e Fluxos Culturais. In: A Viagem da Volta: Etnicidade, Política e
Reelaboração Cultural no Nordeste Indígena. Rio Janeiro, Contra Capa.
PINTO, Estevão. 1956. Etnologia Brasileira (Fulniô - Os Últimos Tapuias). São Paulo,
Companhia Editora Nacional.
POMPA, Cristina. 2003. A Religião como Tradução. Missionários, Tupi e Tapuia no Brasil
Colonial. Bauru, EDUSC/ANPOCS.
REESINK, Edwin. 2000. O Segredo do Sagrado: o Toré entre os Índios do Nordeste. In:
ALMEIDA, L. S.; GALINDO, M. & ELIAS, J.L. (Orgs.). Índios no Nordeste: Temas e
Problemas 2. Maceió, EDUFAL.
SILVA, Christiano B. M. 2000. Os Índios Fortes: Aspectos Empíricos e Interpretativos do
Xamanismo Kariri-Xocó. In: ALMEIDA, L. S.; GALINDO, M. & ELIAS, J.L. (Orgs.).
Índios no Nordeste: Temas e Problemas 2. Maceió, EDUFAL.
VAINFAS, Ronaldo. 1999. A Heresia dos índios. Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial.
São Paulo, Companhia das Letras.
VANDEZANDE, René. 1975. Catimbó. Pesquisa Exploratória sobre uma Forma Nordestina
de Culto Mediúnico. Dissertação de Mestrado, UFPE.
tore.p65 31 17/05/2000, 09:05
TORÉ
32
tore.p65 32 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
33
TORÉ KIRIRI
O sagrado e o étnico
1
na reorganização coletiva de um povo
Marco Tromboni de S. Nascimento
Dentre os vários grupos que praticam o toré, escolhemos o Kiriri pelo fato de que o
2
toré lá realizado simplesmente não existia até cerca de trinta anos atrás, e foi (re)aprendido
nos anos 70, transmitido pelos índios Tuxá, do município de Rodelas (BA). Sobretudo,
a adoção do ritual se deu ao mesmo tempo em que se reacendeu a luta pela expulsão dos
posseiros da área da antiga missão jesuítica de Saco dos Morcegos - atual distrito de
Mirandela do município de Banzaê (BA) -, e pela demarcação da reserva, ensejando,
portanto, uma situação privilegiada para o estudo da associação entre ritual e etnicidade.
Outra razão para essa escolha é que, entre os Kiriri, já nos anos 80, houve um processo de
faccionalismo político muito forte, ocasionando a divisão do grupo em duas facções,
cada qual com a sua estruturação política, isto é, cacique, pajé e conselheiros, conforme o
modelo de organização política vigente entre os povos indígenas do nordeste. Tal divisão
teve como móvel imediato um conflito acerca da escolha do pajé que comandaria o toré.
Não havendo acordo, seguiu-se o rompimento também na esfera ritual: há hoje na área,
de fato, dois terreiros de toré, o que aponta mais explicitamente para a relação entre ritual
e organização política.
Outra razão importante foi que podíamos saber um pouco sobre a existência de duas
curadoras que ocupavam o espaço social que veio a ser preenchido posteriormente pelo
toré, cujas atividades passaram a ser reprimidas quando da chegada do toré, nas quais se
podia perceber a presença de elementos rituais afro-brasileiros (Bandeira, 1972). Em
campo, já encontramos tais práticas de cura pelo menos oficialmente desativadas, passando
a ser estigmatizadas como coisa de negro após a introdução do toré. Uma delas estava
significativamente excluída da comunidade, embora ainda permanecesse residindo na
área indígena. Quanto à outra, que possuía um trabalho similar em suas características
gerais, embora algo diferente nos detalhes, ela soube, ao contrário da primeira, adaptar
suas concepções e práticas àquelas trazidas junto com o toré, do qual é hoje a principal
mestra.
Esses dados são relevantes porque partimos do pressuposto de que as lideranças Kiriri,
ao buscarem uma renovação ritual junto aos Tuxá no início dos anos 70, foram levadas
por uma série de motivações que poderíamos caracterizar como étnico-políticas, mas o
tore.p65 33 17/05/2000, 09:05
TORÉ
34
fizeram no interior de um quadro pré-existente de referências religiosas. Efetivamente,
não se troca de ritual por uma simples decisão política de suas lideranças. Ou, pelo menos,
temos que admitir que há todo um processo sócio-cultural entre uma decisão de lideranças
e sua adoção por toda uma população indígena. Se houve algo como um projeto consciente
de reafirmação étnica conduzido pela ação de lideranças indígenas particularmente
sagazes, e estamos certos de que houve, por certo que o entendimento de tal projeto não
pode ser reduzido a atitudes arbitrárias de indivíduos isolados de um contexto cultural
determinado, qualquer que seja ele, simplesmente agindo segundo uma racionalidade
abstrata e incondicionada. De fato, a questão é saber como, e por quê, tal renovação
ritual pôde ser concretizada, e sob que termos e categorias estaria operando uma
racionalidade culturalmente determinada.
O toré, enquanto ritual religioso, caracteriza-se pelo transe mediúnico, nele ocorrendo
a possessão ou, se preferirmos usar categorias nativas kiriri, enramar ou manifestar.
É através dessa possessão que os encantos se manifestam. A comunicação com os
encantos, ou encantados é o objetivo do ritual.
Todo sábado, à noite, é dia de brincadeira, que é como se referem também a essa
atividade que tem para os índios um caráter lúdico que não contradiz seu aspecto religioso.
Cantam e dançam marcando o ritmo ao som das maracás, chocalhos confecionados a
partir da cabaça, planta comum na região. Trata-se de um objeto ritual cercado de
reverências e que simboliza a sua indianidade. Qualquer um pode portá-las durante o
toré, mas apenas os entendidos - indivíduos adultos iniciados na ciência dos índios -
as utilizam também em outros momentos rituais, isto é, durante o trabalho, que é a
parte propriamente religiosa e que pode ser realizada também em outras ocasiões, sem a
dança no terreiro. Muitos comparecem ao toré com um saiote de fibras de caroá, a tanga,
às vezes por cima da roupa comum. O caroá é importante porque antigamente era com
ele que se fazia a ´roupa de índio`. Alguns entendidos, o pajé e as mulheres que
recebem os encantos, destacam-se pelo porte de uma roupa ritual apenas um pouco
mais elaborada, incluindo, além da tanga, adereços feitos de fibra de pindoba para os
pulsos e tornozelos que podem ou não ser enfeitados com penas.
Providências devem ser tomadas para a preparação do terreiro ao ar livre, tais como
a defumação. Nela um entendido, quase sempre um conselheiro, cargo político
inferior apenas ao de cacique, mantém aceso um paú (cachimbo tubular) que,
invertido, é soprado pelo fornilho de modo a lançar um jato de fumaça que é aspergida
ao longo de um trajeto que percorre toda a área externa e interna do terreiro. Ele é
seguido em fila por dois ajudantes, homem ou mulher, um segurando uma lamparina
acesa (um fifó de querosene) e outro portando uma cabaça contendo ora a bebida jurema,
ora o vinho de milho ou buraiê (não-alcoólico), ora o zuru (cachaça comum), que
são lançados ao chão. Espera-se com isso, atrair os encantos e afastar os coisa ruim,
categoria que envolve espíritos de falecidos não-índios, também chamados espírito de
tore.p65 34 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
35
morto ou espírito branco. Também é usado o aruí, um tipo de apito tocado às
escondidas e que anuncia a aproximação dos encantos, servindo também como aviso
para que as pessoas comecem a se ajuntar em formação para o início da dança.
Quando a formação já está delineada, inicia-se o movimento. Visto de cima, o conjunto
de algumas dezenas de índios busca, em fila indiana, performar inicialmente um círculo,
homens a frente, seguidos das mulheres e tendo as crianças por último, girando no sentido
anti-horário em passos ritmados pelo canto e pelos maracás, de forma que os primeiros,
puxados pelo pajé, logo alcancem os últimos, necessariamente mais lentos,
ultrapassando-os por dentro do círculo, de modo a formar uma espiral que se contrai ao
máximo, quando uma inversão súbita de sentido, por parte daquele que puxa os demais,
normalmente o pajé ou um de seus auxiliares, vai desfazendo completamente a espiral,
repetindo-se indefinidamente essa coreografia. Esse movimento é percorrido com uma
pisada característica, um passo simples de caminhar e às vezes correr dançando para
que a fila não se rompa, com pequenos pulinhos em que se bate em uníssono um dos pés
com força no chão de modo a produzir um estrondo ritmado no chão de terra batida. É
o jeito Kiriri de pisar, ao qual dão grande importância, e através do qual costumam se
distinguir de outros índios que dançam suas próprias versões do toré, assim como dos
convidados civilizados que se aventuram a imitar desajeitadamente as sutilezas dos
movimentos corporais dos kiriri.
Esse movimento em espiral é sempre paralisado quando se substitui uma linha -
i.é., canto repetido demoradamente - por outra, servindo para que se tome um pouco de
fôlego, permanecendo o círculo aberto. Essa é a hora em que as pessoas entram e saem da
formação, já que não é obrigatório que todos dancem todas as linhas. O ritmo tem sua
frequência acelerada à medida em que se aproxima o climax, quando os encantos baixam
ou enramam. A cada encantado que enrama a formação se modifica. Dispõem-se
então em duas fileiras opostas, uma dos homens e meninos e outra das mulheres, frente
a frente e separadas por uns poucos metros, para que entre as duas os encantados
enramados nas mestras dancem seus passos peculiares por alguns minutos antes de serem
recolhidos à camarinha para a realização do seu trabalho. Ao lado das manifestantes
dançam também as meninas menores, prefigurando uma espécie de preparação para
uma possível vocação futura, quando algumas delas poderão desempenhar a função de
mestras, isto é, virem a incorporar os encantados. Após ser recolhido o encantado à
camarinha, volta-se à formação inicial até que o próximo encantado enrame. Quando
não se espera que mais nenhum outro encantado baixe, dá-se um grande intervalo para
que os mesmos sejam consultados pelos que estiverem necessitados. Os demais aguardam
no terreiro, descansando e conversando despreocupadamente, sendo que os jóvens, em
geral mais dispostos e animados, logo reiniciam a brincadeira, que implica basicamente
o mesmo movimento em espiral, sendo que os cantos ou linhas agora são aqueles que
visam apenas a diversão. Nesse momento também é distribuída uma pequena quantidade
tore.p65 35 17/05/2000, 09:05
TORÉ
36
do vinho da jurema para aqueles que quiserem, assim como o buraiê (não se deve
beber cachaça, o zuru, durante o Toré), entendendo-se que com sua ingestão o indivíduo
como que reforça sua proteção espiritual.
Há linhas especiais para cada encantado que se quer invocar, mas apenas dois ou
três enramam em cada toré, sem que seja possível determinar exatamente qual atenderá
ao chamado naquela noite. Algumas linhas, porém, além daquelas voltadas para a
simples diversão, não são dirigidas a nenhum em especial, como a que sempre abre o
trabalho no início do ritual:
Venho da Jurema
Eu vou pro Juremá (bis)
Chega meus caboco índio
Que vem do Forte do Mar (bis)
(estribilho)
Ah, sina êh, ah sina áh
Ah, sina êh, sina êh, sina há (várias vezes)
Outras são dirigidas a Deus, Jesus Cristo ou Nossa Senhora, como esta, por exemplo:
Lá no pé do cruzeiro, oh Jurema
Eu brinco é com a Maracá na mão (bis)
Pedindo a Jesus Cristo
Com Cristo no meu coração (bis)
(estribilho)
Hêina, hêina êh
Hêina, hêina áh (bis)
Hêina, hêina êh
Hêina áh, hêina áh (várias vezes)
E ainda outras dirigidas à própria Jurema:
Jurema, minha Jurema
Eu quero ver meus caboco regimá
É no regimo de Deus
É no regimo da união
(estribilho)
Hêina, hêina êh
Hêina, hêina áh (bis)
Hêina, hêina êh
Hêina áh, hêina áh (várias vezes)
tore.p65 36 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
37
Os encantos, encantados, mestres encantados, gentios ou caboquinhos são
entidades sobrenaturais em princípio benéficas, que auxiliam os índios de diversos modos.
Enfatiza-se sobremodo seu caráter de entidades vivas, isto é, que já são da natureza ou
que, tendo sido humanos, não passaram pela experiência da morte, isto é, não são espírito
de morto, que é coisa de gente branco, numa alusão ao espiritismo, umbanda, ou
outros trabalhos que não são coisa de índio, mas que eles conhecem ou têm notícia.
Assim, alguns deles tiveram existência humana, foram antepassados que se teriam
encantado, ido para o reino dos encantados ou reino da Jurema, ou Juremá,
mas sem que tenham morrido. Não deixaram de viver, não são também espíritos
desencarnados. Continuam vivos, só que em tal reino, o qual os encarnados só
podem enxergar através de uma preparação espiritual, a que poucos estão vocacionados,
e pela ingestão da vinho da jurema, sendo que, para a maioria, a comunicação com este
mundo paralelo é apenas a que se dá, via incorporação, durante o ritual. Assim, há o
Sultão das Matas, o Papagaio Amarelo, o Boi do Corte, o Rei Porquinho, o
Véio Ká, o Mané Maior, o Barriquinha, o Mestre Liro, o Mestre Zabelê, a
Caiporinha, a Sereia, etc. É preciso referir que os encantos, de fato, só enramam
em mulheres durante o ritual, embora, na concepção nativa, nada impeça que enramem
em quem bem entendam, embora esse comportamento descontrolado ritualmente seja
antes característico dos coisa ruim, dos espíritos mortos, sendo este estado de
incorporação não desejada entendido como a etiologia de comportamentos auto-
destrutivos e/ou antissociais a cuja cura justamente visa o ritual e a ajuda dos encantados.
Os encantos são descritos muitas vezes como tendo a aparência de homens
descomunais, ferozes e implacáveis, de feições rudes e olhos esbugalhados,
verdadeiramente assustadores, à semelhança de como caracterizam o gentio brabio,
seus antepassados que ainda viviam no mato, embora não sejam sempre equacionados
com esses últimos. Apesar de sua aparência algo aterradora, muitas vezes com elementos
zoomorfos, podem ser, quando devidamente solicitados, prestativos e comunicam-se com
os kiriri, através de procedimentos que constituem o que chamam de a ciência do índio,
a qual realiza-se reservadamente na camarinha contígua ao terreiro onde se dança o
toré. Podem apresentar-se também como visagens, dadas muitas vezes no meio da
mata, ou então em sonhos. Quando aparecem nestes são sempre levados a sério, e um
sonho do cacique ou do pajé pode resultar em medidas radicais no plano da vida
comunitária.
Vagam os encantos pelas matas, pelos tabuleiros, pelas grutas ou águas. Enquanto
visagens, podem se apresentar sob a forma animal e muitos caçadores, por não
reconhecê-los adequadamente, já tentaram alvejá-los, o que resulta, crêem, em doenças e
padecimentos para si mesmos. Sob estas formas, aproximam-se e espiam tudo, ficam
sabendo dos segredos das pessoas e podem informar ao pajé quando este realiza seus
trabalhos. Porém, somente as pessoas que têm algum conhecimento da ciência podem
tore.p65 37 17/05/2000, 09:05
TORÉ
38
reconhecê-los sob esta forma, distinguindo-os dos simples animais. Essas entidades se
manifestam no toré com os traços característicos de cada um, em geral diferenças nos
trejeitos e posturas corporais. Falam, durante o transe mediúnico, uma mistura de
português com uma língua ininteligível ao observador externo e ao índio não-entendido,
uma espécie de glossolália que é, entretanto, tomada como a língua dos antepassados - o
gentio brabio ou os caboco dos tronco véio -, língua que os kiriri, de fato, não puderam
conservar e em torno da qual sustentam um imaginário nostálgico de uma época perdida
de pureza cultural e fartura edênica.
Voltando à seqüência do ritual, após algum tempo a brincar na roda, já enramados,
isto é, com as mestras já em estado de transe, e após a breve dança solo entre as fileiras
masculina e feminina, os encantados são conduzidos à camarinha, na área construída
do terreiro, chamada também, por metonímia, de ciência. Esta é de acesso livre
apenas aos entendidos na ciência, sendo que os demais índios ali entram apenas
brevemente para se consultarem com os encantados, em busca de aconselhamento,
proteção e cura de diversos tipos de doenças e males, quando então são-lhes prescritas
certas obrigações e tratamentos: defumações, chás, banhos de folhas, ou simples
conselhos. Ali também aconselham decisões que afetam a comunidade como um todo, e
admoestam os kiriri a manter a força da aldeia, isto é, a união em torno do cacique e
dos conselheiros.
Cerca de sete ou oito horas decorridas do início da cerimônia, pouco antes do
amanhecer, quando os encantos já baixaram, foram consultados, deram seus conselhos
em sua língua dos antepassados sempre traduzida e interpretada pelos entendidos, e
foram embora para o seu reino, realiza-se a Sereia, ato de encerramento do trabalho,
o qual apresenta um caráter de solenidade devota que contrasta com a brincadeira do
início da cerimônia, marcada pela descontração e alegria. Uma cruz é delineada com
algumas dezenas de velas, dispostas em fila dupla sobre o chão batido do terreiro. Na
intersecção dos braços maior e menor, dispõe-se um cruzeiro de madeira de cerca de
trinta centímetros de altura. Em torno desse centro sentam-se algumas crianças pequenas.
Envolvendo-as, os homens sentados, alguns em pé também, porém imóveis, e por fim as
mulheres a dançar, girando ao redor de todos. Todos cantam as linhas de encerramento
com destaque para a da Sereia, que vem por último, e que fecha o trabalho. Quem
está sentado põe-se de joelhos e uma oração cristã é pronunciada com as mãos em sinal
de prece. Finda a prece, está encerrado o toré.
É preciso ressaltar a importância da jurema no toré. Como dissemos antes, no decurso
da cerimônia, a intervalos, os participantes ingerem essa beberagem, também chamada
de vinho da jurema. Esse vinho, que, entretanto, não é uma bebida fermentada,
3
possui propriedades psicoativas (Lima, 1946), sendo feito da entrecasca da raíz da árvore
da jurema ou juremeira (Mimosa nigra, Hub.; Acacia hostilis, Mart.; Mimosa hostilis, Mart.),
uma pequena árvore típica do sertão nordestino, que é macerada em uma bacia com água
tore.p65 38 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
39
fria, resultando em um líquido espumoso que após retirada a borra resulta vermelho bem
escuro e de gosto adstringente. Embora não o único, o vinho da Jurema é o principal
elemento comum a todas as formas rituais do toré disseminadas pelas populações indígenas
do nordeste e a primeira referência conhecida de seu uso pelos índios da região data do
século XVIII (cf. Cascudo 1969:37). Observamos em outro lugar (Nascimento, 1994)
que tais formas diversificadas de torés indígenas podem ser vistas como variantes, por
sua vez, do que chamamos de complexo ritual da Jurema, categoria classificatória com que
procuramos abarcar toda a região e cuja difusão abrange inclusive formas rituais não
diretamente ligadas a reivindicações étnicas indígenas, embora em todas elas a bebida
feita a partir da planta jurema esteja ligada a alguma representação do índio, não obstante
as diferentes formas de preparo, utilizando-se de partes diferentes da planta, como as
folhas, por exemplo, em contextos mais distantes do propriamente indígena. Esta inclusão
do toré no complexo ritual da jurema e deste, por sua vez, no contexto dos demais cultos
mediúnicos brasileiros, será importante para o entendimento da análise a seguir.
Outro ítem que é preciso referir como fundamental no toré é o uso intensivo do
tabaco. É geralmente fumado em cachimbos tubulares, de madeira, designados pelos
kiriri pelo termo paú, e cercados de grande respeito. Na camarinha kiriri, um pequeno
recinto de pau a pique e chão de terra batida, mobiliado apenas com um ou outro banco
rústico de madeira, a um canto encontra-se uma bacia contendo o vinho da jurema e ao
redor dela são dispostos no chão os paús, o conjunto formando uma espécie de altar,
foco de toda reverência. Cada paú está associado a um determinado encantado, ao qual
pertence e que o solicita sempre que está presente enramado em uma mestra. Sua guarda
é confiada a um entendido na ciência, constituindo-se esta posse em um signo de especial
distinção. Os respectivos cachimbos são solicitados pelos encantos no momento das
consultas onde são utilizados para defumar os consulentes. Sopram-no então invertido,
isto é, com o orifício da brasa voltado para a boca, de modo que a fumaça saia bem
direcionada através da extremidade mais estreita. O jato é orientado na direção do
consulente, da cabeça para os pés em movimentos que delineiam cruzes, buscando-se
com isso maior proteção e alivio para todo tipo de males. O fumo é chamado pelos kiriri
de Badzé, que é uma das poucas palavras do léxico da antiga língua Kiriri que persistiram
e designava, no passado, uma das principais entidades espirituais veneradas em tempos
pré-contato (Ferrari,1957:68).
Algumas observações devem ser feitas a respeito dos agentes que desempenham
funções de destaque durante o ritual, os entendidos. Não parece haver um rito específico
que marque sua iniciação. Sem dúvida que há um processo de aprendizagem, de aquisição
da ciência pelos que se candidatam. Ouvimos relatar casos em que há uma história
prévia de doença tida como incurável por qualquer método que não a submissão à vontade
dos encantos, que com esse sinal pretendem forçar o indivíduo a enfrentar o trabalho,
isto é, assumir obrigações rituais. Porém, nem todos os entendidos passam por esse
tore.p65 39 17/05/2000, 09:05
TORÉ
40
processo, sendo que os mesmos são vistos como possuindo graus diversos de
entendimento da ciência do índio. Entre os trabalhos que competem aos
entendidos está o particular, uma cerimônia que ocorre todas as quartas ou sextas-
feiras lá no mato, em um local secreto, ou na casa da ciência, ou junto a um pé de
Jurema, de participação restrita a eles, em torno do qual se procura instilar uma aura de
mistério para os demais índios, mas sobretudo para os não-índios, sendo terminantemente
vedada a sua participação, ao contrário do que ocorre com a dança do toré no terreiro.
Quanto a se tornar pajé, sabemos que, pelo menos em um caso que nos foi relatado,
houve uma disputa de conhecimentos entre três candidatos ante a presença dos encantos,
que formulavam diversas perguntas, terminando por escolher um deles como o mais
entendido na ciência, e apto para preencher o cargo de pajé. Por ouro lado, é patente
que razões políticas costumam interferir na escolha. Em verdade, na referida disputa, os
três candidatos já cumpriam de fato as funções rituais inerentes ao cargo, em diferentes
terreiros existentes na área, disputando entre si o título e suas implicações políticas, em
um episódio que, como já foi dito, está relacionado com o processo de reorganização
política do grupo, mas que resultou no atual faccionalismo que o divide em duas estruturas
políticas rivais. De qualquer forma, é preciso não só ao pajé, mas a qualquer entendido
ter vidência, a qual é compreendida como uma graça de Deus, pois não são todos
que, mesmo sendo índios, e ingerindo o vinho da jurema, podem estabelecer contato
com o plano de realidade no qual se vêem os encantos que povoam as águas e as matas,
o reino da jurema, ou juremá.
Uma outra categoria nativa, a de mestre ou mestra, apresenta certa ambiguidade.
Os encantos são mestres encantados, e alguns entendidos são também chamados
de mestres, poucos, é verdade. As mulheres que manifestam também são chamadas,
na situação de transe, de mestras. Assim, o termo parece ser um sinal de distinção que
se concede àquelas pessoas profundamente conhecedoras dos segredos da ciência,
pessoas de quem se diz que já nasceram com a ciência, estando predestinadas a praticá-
la, e cujo poder mágico parece se nutrir da sabedoria dos próprios encantados, com os
quais têm contato muito próximo desde cedo.
É preciso referir que para além da parte mais cênica do ritual, a dança propriamente
dita - a qual se faz questão de mostrar para os não-índios, principalmente pessoas
consideradas importantes para a sua luta, numa performance por eles chamada de
representação, e que exclui a parte das incorporações e da ciência que transcorrem
na camarinha do toré -, tudo o mais se apresenta envolto em mistério, conhecimento
esotérico, restrito aos índios, particularmente aos entendidos. Trata-se afinal da sua
ciência, por oposição à dos brancos, de tal forma que é muito difícil conversar
explicitamente sobre esse assunto com os mesmos. Assim, de fato, o toré, como um todo,
funciona como um sinal diacrítico, na qualidade de um ritual indigena - todavia reduzido,
na representação, a uma dança -, que se apresenta aos não-índios, os quais costumam
tore.p65 40 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
41
exigir de índios que estes apresentem seus rituais tradicionais, de acordo com seu próprio
imaginário do que deva ser um índio. Tal análise, com efeito, leva em conta o aspecto
mais exterior do toré, isto é, a própria dança - subconjunto de elementos do toré destacado
de seu todo pelos próprios nativos -, atentando para aquilo que ela comunica para os
observadores de fora, os não-índios. Entretanto, o toré como um todo não é apenas um
sinal diacrítico, ou um pequeno conjunto de sinais desarticulados, tais como dança coletiva,
cachimbos, chocalhos, penas, etc., insistentemente realçados pelos kiriri em sua tentativa
de obter o reconhecimento externo de sua alteridade étnica. O toré, de fato, é isso para
fora apenas, isto é, no que comunica nesta direção. Para dentro, podemos dizer que é uma
rica linguagem étnico-religiosa.
Se atentarmos para a etnografia acima, veremos que as crenças e práticas envolvidas
no toré guardam muitos pontos de semelhança com aquelas que se pode encontrar nos
chamados candomblés de caboclo (Santos, 1992), nos cultos de jurema dos xangôs
pernambucanos, ou ainda entre os incontáveis praticantes dos chamados catimbós
(Andrade,1983; Cascudo, 1951, 1969; Vandezande, 1975) espalhados por todo o nordeste.
Bem como com os significativos torés que existem em Alagoas e Sergipe (Araújo, 1977;
Dantas, 1988), muito influenciados pelos cultos afro-brasileiros, e praticados por
indivíduos que não reivindicam, aparentemente, qualquer alteridade étnica indígena.
Tais formas rituais têm em comum um conjunto de elementos recorrentes, dos quais
destaco a bebida da jurema por sua centralidade simbólica e recorrência, e que sempre se
faz acompanhada de alguma representação do índio, como já foi referido. Tais semelhanças,
contudo, sugerem a existência de um contexto cultural maior, conectando todas essas
formas rituais. Não estamos, é claro, insinuando uma ligação de causa e efeito entre essas
formas, e as representações nelas contidas, como se, simplesmente, umas tivessem sido
copiadas das outras. Mas, antes, o pertencimento de todas elas, e das representações que
as acompanham, a um contexto cultural mais amplo, nordestino, a abarcar índios e não-
índios: compartilhado porque construído dentro de um processo histórico comum de
incorporação das populações indígenas da região desde os tempos coloniais, e do qual
elementos simbólicos são selecionados para operarem funções distintas conforme o grupo
social envolvido, seja ele um grupo étnico com seu ritual indígena ou apenas uma
comunidade religiosa desvinculada dessa reivindicação de indianidade.
Assim, tentaremos apresentar agora um pouco dessa linguagem étnico-religiosa kiriri,
analisando os termos e as categorias que, pertencendo ao universo simbólico do ritual,
articulam um conjunto de significados ao mesmo tempo étnicos e religiosos. Apenas na
elaboração de seus discursos sobre as suas experiências mágico-religiosas é que
transparecerão mais plenamente os conteúdos significativos que informam a
autocompreensão da sua alteridade étnica. Os termos e as categorias forjados no âmbito
de sua experiência religiosa são, basicamente, aqueles com os quais elaboram a
caracterização do que há de específico e diferente em ser índio, sempre lembrando que
tore.p65 41 17/05/2000, 09:05
TORÉ
42
tais categorias têm seu sentido definido a partir de uma oposição ao que é próprio do ser
branco - ou, como dizem também, civilizado -, cuja caracterização é, e só o poderia
ser, simultaneamente construida pelos nativos, levando-se em conta que estamos diante
4
do que pode ser chamado de uma cultura de contraste . O que faremos, a seguir, será, em
parte, uma montagem, por nós organizada, de alguns fragmentos desses discursos que
mostram as relações entre o que é do índio e o que é do branco. Vejamos, então, o
5
relato que fez o pajé Augusto sobre suas primeiras experiências com o mundo dos
encantados, e de como ele se sente, desde o nascimento, predestinado a ocupar as
funções de pajé.
- Aí, agora, eu, ..., quando eu tinha quatro semanas de nascido, aí meu pai pegou uma
perturbação nele. Ele tinha uma budega aí no Araçá [localidade vizinha, dentro da
atual área indígena, habitada por posseiros], ele vendia, era um tempo de fim de festa
de Natal, ele fazia festa, então pegou uma atrapalhação nele e ficou o homem todo doido.
Aí, ele procurou matar a minha mãe dizendo que aquele filho que ele tinha tido não era
dele, era dos camarada daí, dizia ele. ... ele ía matar ela e o filho, então eu fui começando
a ter a perturbação.
A etiologia dessa atrapalhação é tomada, sem dúvida, como sobrenatural, e, embora
diga respeito ao pai do futuro entendido na ciência, Augusto pretende sugerir que
ele próprio era o alvo por trás da atrapalhação do pai.
- aí, tinha um índio que fazia, assim..., uma experiência, aí fez lá, deu um remédio, ele
sem ver nada [o pai inconsciente]. Aí, agora, fez o remédio, ele se banhou, aí melhorou,
então ele voltou de lá com uns três dias [da casa do índio]...
P.: O remédio foi o banho que ele tomou? De folha?
- Foi o banho. Foi. Aí voltou, chegou [viu a mãe doente por ter quebrado o resguardo]
(...) pediu perdão, que ele não viu. Se ele tinha dito aquelas coisa ele num tinha visto
nada que ele falou. Ele num tava no pensamento dele que ele falou.(...) Passou-se. Aí, eu
fui crescendo, crescendo, aí, eu era muito traquina.(...) Agradeço a Deus, embaixo de
Deus esse trabalho [a ciência do toré] que eu peguei, [senão] num sei como era não,
que eu era muito traquina ...
A experiência relatada foi uma consulta a entidades espirituais. A categoria
trabalho, com efeito, precede o toré. É a própria continuidade dessa categoria, comum
a vários tipos de cultos mediúnicos e ao complexo ritual da jurema, que irá servir de base
para que se estabeleça a oposição trabalho do índio / trabalho do branco. Mas,
certamente, o que se faz nos trabalhos, hoje em dia, ganhou novos significados, é algo
tore.p65 42 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
43
diferente dos antigos trabalhos. No trabalho do toré é que se faz a experiência com
a jurema, que antes não sabiam utilizar - não sabiam mais, como diriam. Vemos, então,
que a diferença supõe uma semelhança de gênero, e os tipos de traços que irão operar a
diferenciação devem poder se opor a outros do mesmo tipo.
Em geral, a primeira vez que os kiriri experimentam a visagem dos cabocos,
gentios ou dos encantos, a mesma é descrita como sendo um momento de medo, ao
qual se segue, com as sucessivas visagens, um período de resistência, às vezes prolongado,
quando os encantos provocam perturbações ou atrapalhos constantes. Ao cabo desse
período, os futuros ajudantes, pajés ou manifestantes se dão por vencidos e acatam a
missão que lhes impõem os encantados, isto é, enfrentar o trabalho. Experimentar as
visagens é o sinal de que o indivíduo obteve, pelas graças de Deus, o poder de enxergar
na experiência com a jurema. Essa capacidade constitui o próprio núcleo da experiência
religiosa própria ao toré, e é experimentada por muito poucos índios, de modo que não
basta a ingestão da jurema, apesar de sua possível ação psicoativa, para ter o que eles
significativamente chamam também de experiência. É preciso desenvolver uma
sensibilidade especial para que ela promova o efeito esperado. Continuemos com o relato:
- Depois disso, aí fiquei, fiquei sonhando, vendo aquelas coisa, e caindo doente. Tinha
dia que passava três dias e doente. Aí quando foi o negócio apertando pra mim. Apertando,
nas função eu num podia, num forró eu num podia ir mais.
P.: Como assim não podia?
- Porque era só ir, eu caía doente.
Toda vez que, em vez de ir ao toré, Augusto ía a uma festa de civilizado, ele tinha
alguma perturbação. Certa feita, foi convidado para ajudar numa despaia de milho. Já
no retorno, o grupo começou a beber cachaça e cantar:
- Aí, começaram a tocar. Venha, Augusto, você sabe cantar uma serenata, (...), que eu
gostava muito de reis. Que eu sempre acompanhava os reisado. Também porque tinha
um cunhado meu que ele gostava de cantar reis. (...) Achava bonito aquelas toada, eles
cantando aqueles reis, a serenata. Cantemo. Vamo embora, vamo descer na estrada (...)
batendo cavaquinho, pandeiro. Quando chegou no meio do caminho, eu vi que um negócio,
assim ..., atacou a minha voz. Perto de casa, eu vi que um negócio me cobriu de areia.
Conheci quando caí, mas num vi quando levantei. (...) Meus pais me disse que eu entrei
em casa e disse que eu me despedi dos outros mas eu num vi. (...) Fui dar por de si no
outro dia, já era cinco da tarde ...
P.: Você dormiu?
Fiquei dormindo [enramado, i.é., incorporado] e falando para os meus pais que era
pra eu deixar, pra não fazer aquilo mais não, era pra aconselhar eu que eu num fizesse,
tore.p65 43 17/05/2000, 09:05
TORÉ
44
se ele [Augusto] quizesse ter vida. Porque ele já tava encarnado. (...) Quando acordei
todo mijado, oh vergonha!... Meus pais deram conselho que era pra eu num fazer mais
aquilo. Aí contaram tudo [que ele havia dito, aliás, os encantados, enquanto dormia].
Que isso aí já era função de branco, não era de índio. Isso é função de branco, isso daí já
pertencia a gente branco. (...) A função dos índios era o Toré. O que o índio tinha que
pensar era canto de Toré, não era canto de branco, não, de reisado, né, não.
Augusto continua relatando, em seguida, toda uma sequência de episódios similares em
sua trajetória até ser escolhido como pajé. Todos com a mesma estrutura, isto é, a prática de
alguma função de branco, uma consequente perturbação, e as reprimendas e ameaças
dos encantos. Podemos observar aqui um paralelismo entre dois esforços. De um lado, o
esforço, por parte das lideranças políticas, de retomar o controle sobre um conjunto de
relações sociais desassociativas da organização política do grupo: falamos da tentativa de
evitar a venda do dia de trabalho aos fazendeiros ou o aluguel de pasto para o gado dos
brancos por parte dos índios - antes chamando a si, enquanto lideranças, uma decisão nesse
sentido, quando julgassem conveniente -, ou, ainda, o controle sobre a entrada e saída de
índios da área. De outro lado, o esforço claro dessas mesmas lideranças, contido no discurso
religioso que justificou a implantação do toré, de que, enquanto brincadeira, o ritual
deveria substituir a participação dos kiriri nas festas e divertimentos dos povoados de
posseiros. Desse modo, a chegada do toré instaura uma preocupação em estabelecer uma
classificação acerca do que é função de índio e o que é função de branco, estabelecendo
um conjunto de prescrições quanto ao comportamento dos indivíduos com base em um
critério étnico. O que viria a fortalecer a formação de um ethos comunitário diferenciado,
em detrimento da força de valores comportamentais regionais, ficando claro que o que
agora se negava se encontrava introjetado nos indíviduos.
Continuando com a história pessoal de Augusto, o mesmo foi sendo, pouco a pouco,
admoestado pelos mais velhos, principalmente pelos entendidos de então, alguns dos
tradicionais curadores da área, particularmente uma deles:
- Quando foi um dia, Da.Ana me chamou: - Olha, você não vai sair do Toré, você tem
que ficar no Toré, que os encanto tão gostando muito de você (...) Olha, você tá caindo
muito doente, você tá apanhando muito, mas você não entende. Ela disse, você não se
isenta.
Mas o que o convenceu mesmo foi uma história contada, na presença de Da.Ana,
6
pelo velho Josias, antigo capitão-de-aldeia , que o teria comovido
- Mas menino, acho bom você escutar o conselho de Da.Ana (...) porque aqui teve um
tempo, a aldeia aqui nossa, eu alcancei meus avô falando, essa aldeia [era] muito
tore.p65 44 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
45
sabida [o mesmo que entendida] (...), então, eu vou lhe pedir pelo bem da sua mãe e pelo
leite que você mamou na sua mãe. Aquilo ali me sentiu, eu achei que doeu quando ele
falou aquilo pedindo a eu. (...) Que esse trabalho [continua Josias] não é ruim, que é
um trabalho que é dos antigo, é do nosso costume, é dos nosso avô, só que teve aí, os povo
deixaram, foram crescendo, não aprendia, não sei se era os mais véio que não queria
ensinar, ou era os mais novo que não queria aprender, então foram esquecendo. Agora,
como veio esses ensinamento [o Toré], vocês se segura. Então, como os encanto tão querendo
você e tão dando ordem, e você não quer obedecer, obedeça!. Obedeça Da. Ana que ela é
uma pessoa sabida, que ela trabalha, ela traz muito benefício pra qui pra gente e pra o
povo aí, pegando saúde. E você, por que não escuta, você tão novo, não precisa você tá
7
saindo pra São Paulo[ ] e pensando noutra coisa. Deixe estar que Deus ajuda você. Se
for sua sina, você vai viver com essa sina mesmo, com essa sorte que Deus lhe deu. Aí,
fiquei ali, pensando, de cabeça baixa.
Vê-se claramente aqui que a participação de Da. Ana, enquanto uma curadora que
até então tinha um trabalho diferente do toré, foi fundamental no processo de
implantação do novo ritual, transferindo para ele todo o seu prestígio de principal curadora
do grupo. Ela soube, pouco a pouco, substituir os entendidos tuxá que vieram ensinar o
toré, e que logo depois entrariam em atrito com as lideranças e ela própria, sem deixar
que os mesmos arranhassem seu prestígio pessoal, assim preparando a transição para um
8
toré propriamente kiriri . Reelaborando-o, com a juda de outros índios mais velhos, em
conexão com a memória das crenças locais, e também das práticas de cura. Essa curadora
cumpriu, assim, perfeitamente seu papel de colaboração com o projeto político das
lideranças.
Uma vez identificado o toré às suas próprias tradições, dá-se início a todo um processo
de associações subordinadas àquela primeira associação, entre alguns elementos do ritual
e de sua memória coletiva. O principal, sem dúvida é a própria jurema, de acordo com as
informações de Bandeira (Ib.). Outro exemplo, já mencionado, é o da lingua falada
pelos encantados no momento do transe, em que um palavreado inintelígível, pelo menos
para o observador externo, mas também para a maioria dos índios, exceto os entendidos,
é asssociado à já inoperante lígua kiriri - que se opõe à língua que falam e que reconhecem,
a contragosto, ser a língua do civilizado - preservando, simbolicamente, uma distinção
que consideram fundamental. Assim, ao mesmo tempo que os identifica ao seu passado,
essa associação os opõe aos regionais. Outro elemento é a roupa do índio, já mencionada,
só usada no ritual, que os kiriri associam às vestes que seus antepassados usavam, e que
também cumpre uma função de diferenciá-los simbólicamente.
Mas é no próprio trabalho, em como o mesmo é concebido, mais que na brincadeira
- isto é, a parte externa, em que cantam e dançam girando em espiral no terreiro, vestidos
com a roupa do índio -, que vamos discernir os principais elementos com que é feita a
tore.p65 45 17/05/2000, 09:05
TORÉ
46
diferenciação entre índios e não-índios, e também entre entendidos e aqueles sem
entendimento. O trabalho, é onde se labuta com os encantados e suas exigências, bem
como com os atrapalhos ou perturbações. No trabalho se dá a comunicação com os
encantados e o plano de realidade em que subsistem, plano no qual os entendidos
conseguem identificar também outros seres sobrenaturais tidos como maléficos e
causadores daqueles atrapalhos. Nesse plano, os encantados se opõem a entidades
associadas a trabalhos que não são trabalho de índio: nangôs, marinheiros e, mais
recorrentemente, espíritos de morto, todos tidos como os coisas ruim. Desse modo,
faz-se a transferência para esse plano sobrenatural da oposição entre o toré e outros rituais,
onde se acentua a oposição entre encantado (vivo) / espírito de morto com a conotação
correlata de bem / mal, cujo significado para a etnicidade fica evidente.
A comunicação com tal plano de realidade assume duas formas no trabalho: a primeira,
mais direta e visível para todos, se dá através da incorporação dos encantados nas
manifestantes e, muito raramente, no pajé. Quando incorporadas ou enramadas, essas
entidades podem falar diretamente ao consulente, e prescrevem tratamentos sem precisar
da mediação de um entendido, exceto quando o encanto esteja falando na língua dos
antepassados. De modo correlato, mas fora do espaço protegido do terreiro, os coisa
ruim também podem acorrentar o espírito de um índio, tomar seu corpo e levá-lo a
comportamentos auto-destrutivos como beber demasiadamente cachaça, gastar todos
seus recursos em roupas ou cigarros, parar de trabalhar, largar a família ou, mais
gravemente, deixá-lo completamente alheio, estirado numa rede sem apetite ou sede, ou
ainda levá-lo desesperadamente a embrenhar-se no mato, ferindo-se e mesmo morrendo,
sem socorro. Em ambos os casos, tanto no que diz respeito aos encantados como aos
coisa ruim, estamos diante de uma intervenção do plano sobrenatural sobre o plano
ordinário, embora só o primeiro, é claro, seja intencional e provocado.
A segunda forma de comunicação, só possível a alguns, se dá no sentido contrário.
Trata-se da experiência, entendida como uma exploração e pesquisa acerca do que acontece
no plano espiritual, em que os que tiverem entendimento poderão enxergar, ao invés
de incorporar, tanto os encantados quanto os coisa ruim. Este trabalho é feito durante o
toré, na camarinha, ou numa cerimônia menor, separada do Toré, que chamam de
particular. A palavra particular talvez decorra do fato de se tratar de um atendimento
em separado, para casos mais difíceis de se tratar, e não coletivo, como no toré, onde se
atendem casos menos complicados e se busca a saúde de todos, ou da aldeia, portanto
a saúde coletiva, cuja principal manifestação é a força, a união e a satisfação dos
encantados, os irmãos de luz. Particular tem também a conotação de algo restrito aos
índios, o particular dos índios. Ele é feito às quartas ou sextas-feiras, como já dissemos,
numa casa lá no mato, que ninguém, exceto os índios, pode saber onde é, mas que,
parece certo, no mais das vezes é realizado na própria camarinha do terreiro do toré. É
reservado aos entendidos, isto é, não é necessária a brincadeira no terreiro por parte dos
tore.p65 46 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
47
demais índios para estabelecer a comunicação com os encantados, pois os entendidos se
encarregam eles próprios de abrir e fechar o trabalho, cumprindo todas as
obrigações exigidas pelos encantados para auxiliá-los. Em ambos, contudo, no toré e
no particular, o conteúdo do trabalho é, basicamente, o mesmo.
O pajé não entra em transe durante o toré, mas pode fazê-lo no particular. Contudo,
aqui também, o pajé tem as manifestantes ao seu dispor, e sua função maior é enxergar
a experiência com a jurema, quando a bebida é colocada numa bacia e defumada
constantemente com o paú em movimentos de cruz para assim decidir o que é que está
entendendo, ou seja, o que é que está enxergando ali na fumaça, ao fitar a bacia com
a jurema coberta por uma película de fumo. Assim, a experiência é uma espécie de oráculo
que deve ser fitado, acompanhado de cantos e orações, e a constante ingestão da jurema
e do fumo (Badzé), em que o pajé, ou alguma outra pessoa de grande entendimento,
atinge um estado de transe que, contudo, não é um transe de possessão, permanecendo
ele consciente, embora à sua volta possam estar manifestantes enramadas para auxiliá-lo.
Aqui, na experiência, é que o pajé realizará a pesquisa através da qual poderá
diagnosticar o mal que aflige o índio doente e discernirá as entidades maléficas e as
manipulações mágicas que estes efetuaram de modo a prejudicar o paciente. Identificará
onde está e como foi acorrentado o espírito dele e realizará, por sua vez, as operações
necessárias para libertá-lo e trazê-lo de volta a seu corpo. Tais operações incluem
defumações, acender velas e, principalmente, proferir orações adequadas, não excluídas
outras operações que não nos foram relatadas. A experiência permite também prever a
vinda de estranhos, identificar-lhes boas ou más intensões, ou saber das articulações dos
posseiros da área. Com ela também podem saber se um indivíduo cometeu alguma falta
para com os encantados, e muitas outras coisas, pois, como dizem os índios, com ela
podem saber tudo, inclusive acontecimentos passados e futuros.
Assim, há dois tipos de transe: um de possessão, em que o médium (a manifestante
ou o pajé) fica dormindo (inconsciente) e seu corpo é enramado pelo encanto; e outro,
9
mais próximos do que normalmente se entende por xamanismo , em que o pajé, ou outra
pessoa de mais entendimento - p.e. uma mestra enxerga (conscientemente) um outro
10
plano de realidade e, talvez, chegue mesmo a abandonar o próprio corpo , agindo nesse
mundo paralelo, invisível à grande maioria. Podemos supor, como o fez Hohenthal (1954),
analizando o caso Xukuru, que a possessão não seja um elemento originalmente indígena,
como forma nativa de interpretação do transe. Embora isso não seja tão seguro assim,
por outro lado, sabemos que o toré Tuxá, de onde procede o Kiriri, configurou-se em
estreita comunicação com outros cultos mediúnicos, dos quais pode ter-lhe advindo a
assimilação desse elemento, como o sugere a presença de diversas categorias comuns a
esses cultos. A experiência, por seu lado, tem toda a aparência de uma forma persistente de
uma tradição propriamente indígena. Mas ainda aí, parece ter havido uma substancial
alteração na interpretação conferida ao transe, na medida em que é muito tímida, senão
tore.p65 47 17/05/2000, 09:05
TORÉ
48
ausente, a idéia de uma viagem da alma do xamã, isto é, o abandono consciente de seu
corpo pelo próprio espírito. Esta idéia parece ter cedido lugar a outra - talvez menos complexa
e/ou dependente de um contexto cultural que não fosse tão interpenetrado por influências
não-indígenas -, isto é, à idéia mais simples de apenas enxergar uma realidade sobrenatural,
paralela à da experiência ordinária, ou, mais simplesmente ainda, divisar o que acontece
nessa mesma realidade ordinária, apenas transcendendo tempo e espaço, coisa que não
implica, em tese, em um imaginário culturalmente mais elaborado e diverso como ocorre
com outros povos indígenas menos expostos ao contato com a sociedade envolvente.
Por outro lado, a experiência, feita por sobre a bacia com jurema, encontra um
paralelo em formas de oráculos muito comuns no sertão nordestino, como a que os kiriri
chamam de mesa branca, onde, ao invés, é um copo com água em cima de uma toalha
branca que se presta a esse fim, aliás o mesmo trabalho que fazia anteriormente Da.
Ana. Assim, os referentes bacia com jurema / copo com água se prestariam à efetuação
da oposição trabalho de índio / trabalho de não-índio.
Durante o toré, a função do pajé é mais supervisora: observando se tudo está sendo
feito como é devido, se estão sendo cumpridas todas as obrigações. Supervisiona tanto o
que ocorre dentro da camarinha, onde estão os entendidos, nesse momento denominados
de seus ajudantes; como o que ocorre fora, onde estão dançando as manifestantes até a
incorporação, quando são levadas para a camarinha, os puxadores de linha, com suas
maracás e roupa de índio, e os demais kiriris que, num bom toré, um toré forte, podem
chegar a mais de uma centena de pessoas. No particular, ao contrário, a função do pajé
parece ser mais exclusivamente a de um curador, um cumpridor de certas outras obrigações
para com os encantados, que não se pode especificar melhor devido à barreira do segredo.
Isso, na verdade, varia entre os dois torés que existem na área, correspondentes às duas
facções políticas rivais, pois em um deles a principal curadora é uma mestra, Da. Ana, e
a função do pajé nele se resume praticamente a uma supervisão mais formal.
É aqui que estamos lidando com o que se faz, principalmente, no trabalho: curar. E
é aqui que se faz presente outra distinção fundamental para tudo o que estamos discutindo:
aquela entre doença de índio e doença de branco. Não podemos dizer que chegamos
a entender plenamemente como caracterizam a etiologia e sintomatologia de uma e outra,
mas não há dúvida que a doença de índio está ligada a problemas espirituais, e que, por
isso mesmo, só a ajuda dos encantados as pode curar, pois só eles se encontram nesse
plano espiritual. Tais doenças são basicamente os atrapalhos ou perturbações, como os
do relato precedente, mas que podem se traduzir em feridas, dores, desmaios, febres,
etc.. As doenças de branco são aquelas tratadas pelos médicos, geralmente na cidade próxima
de Ribeira do Pombal. Mas como os doentes kiriri vão antes ao trabalho, quem decide qual
é o tipo da doença em questão é o pajé ou as manifestantes, isto é, os encantados. Todavia,
quando é possível também tratam com seus próprios remédios as doenças de branco.
Assim, igualmente fazem a diferença correlata entre remédio de índio / remédio
tore.p65 48 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
49
de farmácia. O primeiro é feito a partir das plantas e, por isso, também é chamado
remédio do mato. O conhecimento dessas plantas e de seus usos é também, claramente,
um importante elemento a diferenciá-los dos civilizados em seu próprio entendimento.
Eles afirmam conhecer com precisão a utilidade de cada planta, e que os civilizados não
conseguem sequer distinguir a maioria das plantas entre si, quanto mais ter conhecimento
de seus usos. Sem dúvida, sua etnobotânica é muito mais rica que a dos regionais. A
preservação desses conhecimentos transmitidos pela tradição oral, preservados a despeito
da perda de tantos outros, pode ter uma explicação simples: suas dificuldades materiais
e seu isolamento na roça lhes deixam, de fato, poucas alternativas de tratamento de
doenças. Se, por outro lado, todos os índios têm, em geral, um bom conhecimento da
variedade das plantas, com elas tratando pequenas enfermidades, somente os principais
curadores sabem acrescentar a seu uso uma série manipulações simbólicas, como rezas,
banhos e defumações, concebidos como indispensáveis para o tratamento, sobretudo,
das doenças de índio, isto é, aquelas cuja etiologia é espiritual, causada pelos coisa ruim.
De fato, as plantas estão igualmente sob o segredo, e um informante chegou mesmo
a nos dizer que essas folhas sagradas foram deixadas por Nosso Senhor pros índios se
curar, de modo que esse segredo assume ao mesmo tempo um significado étnico e
sagrado. Quando perguntávamos por plantas, faziam silêncio, mudavam de assunto, e
11
raramente davam informações . Um informante, entendido, num breve relaxamento
na disposição enérgica com que defendem o segredo, chegou a afirmar que cada um
linho [cantos] desses é um remédio, mas não ficou para responder outra pergunta, deu
as costas e foi-se para outro lado. Também por isso, pensamos, pouco se permitem dizer
sobre o que significa cada canto. Assim, cremos que as linhas, ou algumas delas, estão
também associadas a plantas e não só a encantados. À propósito, outro informante nos
disse que aqueles cantos são como uma oração, e que o estribilho heina, heina hoa/
heina, heina hoá, repetido sempre entre um linho e outro, é mesmo que o sinal da
cruz, o nosso conhecido, e deles também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, amém. Trata-se de uma comparação que, ao mesmo tempo que reconhece uma
semelhança, estabelece uma distinção. Nesta mesma direção de estabelecer homologias
com o catolicismo para efeito de marcar a sacralidade dos elementos de suas crenças, a
mais ilustrativa diz respeito à própria jurema, na comparação feita por Da. Ana - mestra
de maior prestígio e ciência que há nos Kiriri - entre o vinho da jurema, símbolo mais
sagrado do toré, e o sangue de cristo, numa clara referência à eucaristia. Assim, sobre
o mesmo referente vinho, opera-se ao mesmo tempo uma oposição entre a Jurema e o
Sangue de Cristo, paralela à oposição ritual de índio/ritual de branco, e uma correlação
12
quanto a seus caráteres igualmente sagrados .
Voltando às doenças, os tratamentos feitos pelos seus métodos, até onde pudemos
perceber, consistem basicamente em receitar plantas, manipuladas de várias formas e
combinações, e rezar não só o doente, como o remédio preparado, acompanhado-se essas
tore.p65 49 17/05/2000, 09:05
TORÉ
50
rezas com defumações feitas com o paú, seu cachimbo. Assim, podemos entrever um
sistema de relações simbólicas entre encantos / linhas / remédios do mato / e rezas. Dizemos
entrever porque, obviamente, o segredo paira sobre tudo isso. É esse o conhecimento
que só os entendidos têm, uns mais que outros, essa é a sua ciência, e é sobre isso que não
podem falar. Com efeito, o segredo em si, independentemente de seu conteúdo, vem a
ser o mais importante elemento diacrítico contido no toré, representando o espaço
simbólico reservado exclusivamente aos índios, espaço que, se trangredido por não-índios,
implicaria no borramento da útima fronteira que adscreve sua indianidade em uma
situação de contato prolongado que reduziu ao mínimo os elementos culturais que
desenham tais fronteiras.
Arriscamo-nos a afirmar, contudo, que a etnicidade kiriri ainda preserva um
componente etnobotânico mais profundo e, com toda probabilidade, anterior à introdução
do próprio toré, que lhe teria então trazido acréscimos e ressignificações, associando
linhas a plantas e encantados. O conhecimento da utilidade das plantas é, com efeito, um
patrimônio social concreto - além de simbólico - daquela população em face dos regionais.
Como dizem, é nossa riqueza, visto que com ela minoram sua dependência da medicina
dos civilizados e dos quase sempre inacessíveis remédios de farmácia. Sentem-se como
se praticamente tudo o mais lhes fora totalmente, ou quase, subtraído ou perdido em seu
processo histórico de progressiva subordinação à sociedade envolvente. Como dizem,
já demos tudo, não podemos dar mais, referindo-se aos remédios do mato.
Devemos entender que o trabalho realizado no toré ou no particular, de fato, cura.
Como dizem as lideranças para os demais índios, quando percebem um fraco
comparecimento deles ao toré : esse trabalho do toré agente tem que cuidar, que ele é
que dá a saúde dagente, como forma de incitá-los a comparecerem. A saúde em
questão, assim, não é apenas a individual, mas também a coletiva, pois a busca daquela
promove a congregação de todos. Este é um dos mais importantes focos do poder de
atração e congregação em torno do toré, em que uma necessidade elementar de toda essa
população é relativamente satisfeita. Este é também, por isso mesmo, o capital político
do toré, a moeda que circula entre todos na área, lideranças e liderados, entendidos e
tolos, um benefício individual que só pode ser alcansado com a participação de todos.
Por isso, também, o toré teria que se assentar sobre os trabalhos que existiam na área
anteriormente, trazendo para seu interior os antigos curadores, pois, também do ponto
de vista de sua eficácia política, não poderia sofrer qualquer concorrência. Sua chegada,
de fato, implicou na submissão ou no expurgo de curadores independentes. Tais trabalhos
que existiam anteriormente não eram rituais coletivos e, nesse sentido, não competiam
com o toré, mas, a permanecerem na área, preencheriam uma de suas principais funções,
isto é, o atendimento dessa demanda por saúde.
Temos que dizer também que em todo esse empreendimento étnico-político
representado pelo toré foi Da. Ana, principalmente, quem forneceu o capital simbólico
tore.p65 50 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
51
inicial, sua habilidade como curadora e seu prestígio como aconselhadora, sabendo
adaptar-se a o toré trazido pelos índios tuxá. Visto que seu antigo trabalho era diferente,
aos poucos igualmente foi introduzindo no que foi trazido elementos que acabaram por
dar-lhe uma feição propriamente kiriri. Essa dinâmica deve transparecer no relato que se
segue. Ele conta a história de uma cura. Não uma qualquer, mas a de um curador por
outro curador. Cura não só de uma doença, mas a cura do trabalho antigo pelo trabalho
do toré. De um trabalho que não era de índio, mas classificado por eles, hoje, de mesa
branca, por um que o era, o trabalho da ciência dos índios. Trata-se da cura de uma
doença que acometeu Da. Cícera pelo pajé Augusto.
Da. Cícera tinha um trabalho na área, antes da chegada do toré, no núcleo da Baixa
da Cangalha. Ao contrário de Da.Ana, que tomou dianteira no processo de implantação
do novo ritual - o qual começou na Lagoa Grande, pois foi um projeto concebido,
inicialmente, pelas lideranças desse núcleo e onde residia esta última -, Da. Cícera o fez
muito depois, a reboque dos demais e a contragosto. Antes da chegada do toré, seu
trabalho concorria com o de Da. Ana, disputando com ela quem tinha mais prestígio
na área. Naturalmente, resistiu à implantação do toré que, além de interferir em seu
trabalho, subtraindo-lhe clientes à medida que o novo ritual ganhava força, implicava
em subordinar-se, em certa medida, à ascendência de Da. Ana, pois era esta que estava
articulada com o foco de poder a partir do qual se iniciou a reorganização política do
grupo. Sua adesão ao toré estava, assim, bloqueada, exceto se o fizesse em uma posição
subordinada. Por outro lado, seu trabalho estava fortemente associado a práticas tidas
como de negro, se bem que não fosse muito diferente do trabalho anterior de Da. Ana,
sendo ela própria é casada com um homem negro de fora da área, de modo que sua
posição ficava mais complicada no que tocava a assumir um trabalho de índio. Hoje,
ela está ausente do toré, e, por vezes, insinua-se que continua trabalhando, e que seu
trabalho é coisa de negro, embora as lideranças digam que ela acompanha o toré, em
contradição com outros informantes menos politizados. Entende-se. É uma admissão
politicamente inábil, principalmente diante de pessoas de fora. As lideranças sabem que,
para os de fora, sobretudo, o toré deve ser visto como absoluto, sem quaisquer dissidências.
Possivelmente, Da. Cícera tem se sustentado na área, ao longo desses anos, porque seu
irmão é um importante conselheiro, dados que muitos indivíduos que se recusaram a
acompanhar o toré acabaram sendo expulsos da área num processo que chamaram
significativamente de coador.
O relato que se segue, pois, é parte da história contada por Augusto sobre o que
aconteceu no toré em que foi escolhido pelos encantos para ser o pajé único. Ali, os
encantos teriam sabatinado os candidatos ao cargo, perguntando a eles por suas
ferramentas, já que todo trabalhador tem suas ferramentas, ítem no qual Augusto
teria, segundo ele mesmo, se saído melhor. O que definiu os encantos em favor de Augusto,
entretanto, foram as provas que ele deu de que tinha feito importantes curas. Ele relatou
tore.p65 51 17/05/2000, 09:05
TORÉ
52
três, mas a mais importante, em sua própria opinião, e de nosso ponto de vista também,
foi a de Da. Cícera.
que isso, mais uma coisa que deixou na história pra mim, que eu me sinto ainda, aquilo
depois que eu fiz, eu fico assim reparando, como afoi que eu fiz, só Deus mesmo. Só deus
mesmo que pode dar as força pra me ajudar eu. E eu num tenho essas força. Aí só Deus.
Eu disse o que foi [os encantos haviam perguntado]. Eu disse olhe: primeiro (...) Bom,
a Cícera teve por aqui, trabalhou e nada de saúde, e andou por aí tudo, em Ribeira do
Pombal, todo curador, andou em doutor, em médico. Ela tinha doença que num tinha
cura. E ela chegou no meu trabalho, eu sei que o meu trabalho é pouquinha gente que eu
trabalho lá no Cantagalo, às vezes, só com umas pouquinha dezesseis pessoas de tanga.
(...) Mas graças a Deus, meu trabalho é valido, porque, que eu falei, essa Cícera, que
ela estava bem doente, gastando tudo. (...) Uma doença que ela só comendo, nada chegava,
era por vida. Aí, ela tava com os filho, o marido, tava se queixando que num tinha mais
condição, né?, pra comprar. Que todo dia diz que era, dia de sábado era cinco quilo de
carne, dez quilo, que na feira de Pombal comprava carne e ovo pra comer e tinha
bolacha. E o café era por vida, é mingau de milho, (...) num parava de comer (...) E
num faltava, era bem de vida eles, num era? Tinha gado [a família tinha um bem
raro]. Já tinha entrado gado, tudo, ela comendo do jeito de uma doença também, né?.
Aí, ela veio, eu trabalhando sozinho, na hora lá que eu termino o trabalho, então, tem
umas certa hora, eu faço umas pergunta pras pessoa, quem ali tá doente, pra eu passá
algum remédio. É só eu mesmo, nos meus assunto, eu passá alguns remédio [Augusto
quer dizer que nessa hora é só ele mesmo que receita, e não os encantos, através das
manifestantes]. Aí (...), chega as pessoas doente, olhe, tou sentindo assim, umas doenças,
né? Tá. Eu incensei, que a gente tem o paú, né?, incenso, é o cachimbo. (...) incensa a
pessoa e passa o remédio. (...) Aí, tem dois ajudante, né?, aí disse: olha, Augusto (...) a
Cícera tá aí. Como é que ela vem aqui? Quando eles falaram assim, aí fiquei todo pateto
[desconcertado].
Mas, eu disse, eu um trabalho fraco. Ela teve na casa de Ana. E Ana são trabalhadera
mais forte [tem mais pessoas auxiliando]. E ela é trabalhadora forte, mais velha. E já
teve em muitos lugar, muito sabido...[com curadores sabidos]
P.: Ela mesmo trabalha, Cícera?
- Quem?! [silêncio] Trabalha. Mas trabalha um trabalho assim, mais fraco, né? Eu
disse, num deram saúde a ela, e pra eu dar? Aí, num vou fazer não. Mas não desespera
não, é chamar por Deus. Aí, foi o tempo, vamos vestir as tangas. Vestiram as tangas, puxei
a linha em frente. Depois entreguei prá eles, descansei um pouco. Na hora que eu chamei
o povo prá rezar, aí, ela chegou também. Aí Daniel, Daniel era conselheiro [e irmão de
Cícera], disse: é, Augusto, eu vim aqui pedir uma caridade a você, pra você fazer aqui.
Eu disse [para Cícera]: você tem fé em Deus? Embaixo de Deus você tem fé no trabalho?
tore.p65 52 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
53
Que aqui é meu trabalho, que aqui não é [outra] coisa, não. Meu trabalho é desse de
fumaça, é só. Então, se você tiver fé e fumaça, então senta aqui. Mas se num tiver..., pra
fora, vou querer não. Só quero se tiver fé em Deus. E ela comendo! É, sentada ali e
comendo, [?] com milho, que a fome tava matando. Aí, quando eu botei a mão na
cabeça, bati umas três vez, dei uma incensada, dei uma soprada, aí a mulher quando
saiu já foi mais melhor. Quer dizer, saiu mais melhor. Aí, amanheceu o dia, fomo embora.
Depois dessas hora já foi comendo mais menos, na manhã, já foi comendo mais menos,
passei uns remédio, medicamento. Remédio do mato, né?, raiz de pau, defumador. Aí
mandei. Eu disse: olhe, de hoje a três semana eu quero vê você aqui de novo. (...)
- Quando ela veio, dali a três semana, [não é que] já num veio mais comendo?! Num
trouxe mais um monte de caixa. Ali era bolacha, pão, era o café, a massa do milho pra
fazer o mingau ... (...) Aí, falei: como é que tá a mulher? Não, a mulher tá melhor. Eu
disse: tá bom, viva Deus! Passei lá outros remédio (...) Eu disse: de hoje a três semana
eu quero aqui ela presente. Tá certo. Quando ela veio já veio mais melhor, não comeu
mais.
Aí, quando foi no outro dia de manhã reuni com eles, com os filho, (...), o marido dela.
Eu disse: agora você tá melhor, agora eu só quero pedir uma coisa. Se vocês quer
continuar... [que] até agora tá dois caminho: que você trabalha com..., quer ficar no seu
trabalho... Que ela trabalhava assim, de..., que ali a gente têm assim, essas linhas
cruzando, né?, ela trabalhava com morto, né? [Augusto se embaraça ao admitir que
havia outras linhas, i.é, tipos de trabalhos na área]. Bom, o morto dá saúde também,
mas é um morto assim, que quando morre...
P.: O encantado é diferente?
- É. É diferente. Que o morto, quando aquela pessoa morre, então, aquele que tem
uma oraçãozinha, que tem alguma defesa, pode passar, chegar nela e pra ela passar um
remédio pra aquela pessoa. E o encanto é diferente do morto. Aí eu disse, bom: você
trabalha com isso, que a gente chama de mesa branca, né?, você trabalha com mesa
branca. Você quer trabalhar no seu trabalho ou quer trabalhar nesse trabalho do Toré?
Tá pra você escolher. [Diz Cícera]: Não, eu quero ficar no meu. Bom tá certo. Já os
filho: não, eu num quero. Donde ela encontrou a saúde é aqui que eu quero que fique.
Tudo bem, eu disse, eu aceito. Aí o esposo disse: não, nós quer é aqui, atrás do trabalho
desse rapaz, de hoje em diante. Tudo bem. Aí vestiu a tanga [teria aderido ao Toré].
(...) Era assim um coisa ruim que tava judiando dela.
Da. Cícera, hoje, não acompanha, de fato, nenhum dos dois torés existentes na área.
Mas também interrompeu seus trabalhos, pois, segundo nos disse, no quase nada que
conseguimos obter dela, seus caboclos foram acorrentados por Augusto. Este,
evidentemente, não entrou em detalhes sobre tudo o que fez neste trabalho de cura. Mas,
chamemos atenção para as oposições encantado - vivo - bom / coisa ruim - espírito de
tore.p65 53 17/05/2000, 09:05
TORÉ
54
morto - - mal, que devemos correlacionar à oposição primária o que é do índio / o que
é do branco/negro. Bem como toré / mesa branca, que também vale por candomblé,
umbanda, espiritismo, pois, na verdade, aparentemente não parecem se preocupar muito
em distinguir esses trabalhos entre si, usando os termos alternadamente quando se
referem a um determinado trabalho diferente do trabalho do índio. De fato, no meio
rural, todas essas formas se encontram mescladas, e distinções mais claras tornam-se
mais relevantes, é claro, em mercados de bens religiosos mais concorridos (Bourdieu, 1987).
Na área kiriri, o que importa é o trabalho do índio, tudo o mais é lançado numa espécie
de vala comum. Naturalmente, os kiriri elaboram essa oposição básica entre o nosso e o
deles, em um nível mais detalhado, envolvendo elementos além do fumo, a jurema, as
maracás, as tangas, os paús, e outros. Um particularmente ressaltado é o que se dá entre
a bacia com jurema e o copo com água: entre sua experiência, em que as vizagens são
discernidas fitando-se a bacia de barro que contém a jurema, defumada pelo paú, e aquilo
que seria a experiência do branco, semelhante nos propósitos, mas feita fitando-se um
copo com água sobre uma toalha branca, e que denominam de mesa branca. Outro
exemplo de distinção se dá entre trabalhar com a maracá na mão e bater tambor de
nagô, em que são os instrumentos que assumem um significado diacrítico.
Sendo assim, o que é necessário produzir em seus freqüentadores, os índios tolos,
como dizem carinhosamente os entendidos, e mesmo para esses últimos, é o efeito de que
este, e não outro, é o verdadeiro trabalho do índio. Assim, o toré, dentro do qual se
encontra o trabalho, é o espaço social, entre todos os outros de suas relações sociais, em
que os kiriri agem com um sentido inteiramente orientado pelos significados que
reafirmam sua indianidade, e demarcam, ao lado do sentimento de descendência comum,
a sua alteridade étnica. Sua identidade indígena se realiza plenamente apenas no toré, na
realidade que ali se experimenta e vivencia, e que tende a se fragilizar nos outros espaços
em que não podem evitar a convivência próxima com os regionais. De fato, somente em
um plano ritual, isto é, religioso é que poderiam vivenciar plenamente sua condição
indígena, pois é nesse plano que demarcam com maior riquesa e elaboração sua
especificidade cultural. E, uma vez isso assentado, ou seja, continuamente reafirmado
ali, encontrar razões e sentidos para um empreendimento étnico comum.
tore.p65 54 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
55
1 Este trabalho resulta de uma reformulação de dados e análises contidas originalmente
na dissertação de mestrado O tronco da jurema: ritual e etnicidade entre os povos
indígenas do nordeste o caso Kiriri, defendida em 1994 junto ao Mestrado em
Sociologia da UFBa, e desenvolvida no âmbito do PINEB (Programa de Pesquisas
Povos Indígenas do NE Brasileiro), coordenado pelos Profs. Pedro Agostinho da Silva
e Maria Rosário G. Carvalho.
2 Na concepção nativa trata-se de um reaprendizado, pois consideram que eles
retomaram, com a ajuda dos índios Tuxá, uma tradição que seus antepassados não puderam
evitar que fosse interrompida, mas da qual guardavam uma memória parcial. O que se
segue de certo modo corrobora essa reivindicação.
3 Devida à alta concentração de DMT (N,N dimetiltriptamina) em suas raízes. O
potencial psicoativo do DMT contido no vinho da jurema, entretanto, quando consumido
oralmente como é o caso, e sem a adição de beta-carbolinas contidas em outras plantas
que neste caso não são adicionadas ao preparado, parece ser nulo ou mínimo, de modo
que o conteúdo visionário relatado pelos índios pode não ter relação com este potencial
psicoativo da jurema (Ott, 1994). Contudo, o consumo de grandes quantidades do líquido
e o desenvolvimento, com o tempo, de uma sensibilidade maior por parte dos entendidos
na ciência talvez possa produzir esse resultado. Uma alegação ouvida em campo foi a
de que, para ter as visões da jurema é preciso ter sangue de índio reá, mas também ter
sido escolhido pelos encantos. Mas se a pessoa é realmente experiente, uma gotinha
de jurema já é suficiente.
4 Segundo, Cunha (1989:45) [...] não se trata em Roma de falar COMO os
romanos, trata-se no entanto de falar COM os romanos. O que significa que etnicidade
é linguagem não simplesmente no sentido de remeter a algo fora dela, mas no de permitir
a comunicação. Pois enquanto forma de organização política, ela só existe em um meio
mais amplo (daí, aliás, seu exacerbamento em situações de contato mais intenso com
outros grupos), e é esse meio mais amplo que fornece os quadros e as categorias dessa
linguagem. A cultura original de um grupo étnico, na diáspora ou em situações de contato,
não se perde ou se funde simplesmente, mas adquire uma nova função, essencial e que se
tore.p65 55 17/05/2000, 09:05
TORÉ
56
acresce às outras, enquanto se torna CULTURA DE CONTRASTE: este novo princípio
que a subentende, o do contraste, determina vários processos. A cultura tende ao mesmo
tempo a se acentuar, reduzindo-se a um número menor de traços diacríticos.
5 Os nomes próprios foram substituídos por nomes fictícios.
6 Termo que era usado antes dos anos setenta pelo antigo SPI para designar a liderança
maior de um povo, representante dos seus interesses junto ao órgão, em geral por ele
cooptada, e que mais tarde caiu em desuso, substituído pelo termo cacique, em um
novo contexto político de maior autonomia organizacional.
7 Como todos os trabalhadores rurais nordestinos, alguns kiriri, principalmente em
tempos de seca prolongada, vão sazonalmente à S. Paulo tentar a sorte, em busca de
ingressos monetários. Muitos deles acabam por se fixar na cidade grande. Esse processo,
naturalmente, acaba por enfraquecer os laços intragrupais.
8. É muito difícil, atualmente, entender como se deu esse período de transição em
que a presença de entendidos tuxá era necessária. Podemos supor, todavia, que alguns
entendidos kiriri, particularmente Da. Ana, impuseram, pouco a pouco, sua própria
compreensão religiosa aos ensinamentos trazidos por aqueles, realizando alguma forma
de composição. De fato, estava em jogo seu próprio prestígio. Por outro lado, se pensarmos
no significado político do ritual, fica mais fácil entender que a presença desses agentes
externos não poderia mesmo se consolidar.
9 LEWIS (1977) não julga pertinente a dissociação excessiva, comum na literatura,
entre possessão por espíritos e xamanismo, entendendo que não são excludentes. Ao
contrário, segundo ele, costumam apresentar-se juntas. No caso kiriri, parece ser assim.
10 Sobre isso, na verdade, temos só indícios, como quando o pajé nos relatava um
trabalho: - Eu nunca tinha entrado por a veia dágua, né? / P.: Por a veia dágua, como?
/ É, debaixo do chão. Não quis dar mais detalhes, contudo.
11 BANDEIRA (1972) conseguiu obter, antes da chegada do Toré e do processo de
reorganização e reafirmação étnicas, um rico conjunto de informações sobre o que chamou
de medicina popular dos caboclos de Mirandela. Lá, estão citados muitos remédios
populares, que ela afirma serem conhecidos tanto pelos caboclos, como pelos
portugueses, receitados pelos entendidos, i.é., por aqueles que têm trabalho. O
leitor poderá encontrar ali, em anexo, uma série de informações que dificilmente obterá
dos índios hoje, inclusive relacionando tipos de doenças e seus tratamentos (Ib.:125-32).
O que não podemos saber é se os remédios e tratamentos mudaram muito nos vinte e
cinco anos decorridos entre o seu e o meu trabalho de campo. Possivelmente não muito,
especialmente porque alguns dos entendidos de então são os entendidos do toré hoje.
Teríamos, assim, outro exemplo de que o toré conectou-se bem com o que havia antes,
tanto pela persistência de categorias como trabalho e entendidos, como nos tipos de
práticas terapêuticas.
12 Do mesmo modo, o referencial católico pode ser divisado na cruz delineada sobre
tore.p65 56 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
57
o chão com fileiras de velas, no momento da Sereia, na intercessão das quais se coloca um
cruzeiro de madeira; a postura de prece e a oração que encerra o ritual, em que o sinal da
cruz é executado; a defumação do corpo com o cachimbo em movimentos de cruz, como
quando o padre benze alguém; as várias menções a Deus, Jesus Cristo e a Nossa Senhora
nas linhas - pois até os próprios encantos, ao incorporarem, invocam as divindades católicas
em seu auxílio durante os trabalhos; e, ainda, na própria preparação do vinho da Jurema,
em que o sinal da cruz é feito soprando-se, com o cachimbo também, o fumo sobre a
vasilha que contém a bebida. Nisso tudo podemos encontrar elementos que indicam a
não arbitrariedade dos traços culturais contidos no toré e sua referência a um contexto
cultural envolvente que se presta à imposição de significados étnicos.
tore.p65 57 17/05/2000, 09:05
TORÉ
58
Bibliografia citada
ANDRADE, Mário de
1983(1933) Música de feitiçaria no Brasil. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia; Brasília, INL / Fund.
Pró-Memória.
ARAUJO, Alceu Maynard de
1977(1959) Medicina rústica. São Paulo, Brasiliana.
BANDEIRA, Ma. de Lourdes
1972 Os Kariris de Mirandela: um grupo indígena integrado. Salvador, UFBa, dissertação de
mestrado.
BOURDIEU, Pierre
1987 A economia das trocas simbólicas. São Paulo, Perspectiva, 2a. ed.
CASCUDO,Luís da Câmara
1969 Dicionário do Folclore Brasileiro.Rio de Janeiro, Ed. Ouro.
CUNHA, Manuela C. da
1989 Etnicidade: da cultura residual, mas irredutível. In Identidade étnica, mobilização política
e cidadania. (org.)Ma. Rosário G. Carvalho, Salvador, OEA/UFBa/EGBA.
DANTAS, Beatriz G.
1988 Vovô nagô, papai branco. Rio de Janeiro, Graal.
FERRARI, Alfonso Trujillo
1957 Os Kariri. O crepúsculo de um povo sem história. Publicações avulsas da Revista de
Sociologia, n.3, São Paulo.
HOHENTHAL, W.D., Jr.
1954 Notes on the Shucuru indians of Serra de Ararobá. In: Revista do Museu Paulista, S.
Paulo, n.s., v.VIII.
LEACH, E.
1976 Sistemas políticos de la Alta Birmania. Estudos sobre la estructura social Kachin. Barcelona,
Anagrama.
LEWIS, Ioan M.
1977 Êxtase religioso. Um estudo antropológico da possessão por espírito e xamanismo. São
Paulo, Perspectiva.
tore.p65 58 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
59
LIMA, Oswaldo Gonçalves de
1946 Observações sobre o vinho da Jurema, utilizado pelos índios Pancaru de Tacaratu
(Pernambuco). Recife, Arquivos do I.P.A.,v.4.
NASCIMENTO, Marco Tromboni de S.
1994 O tronco da jurema: ritual e etnicidade entre os povos indígenas do nordeste o caso Kiriri.
Salvador, UFBa, dissertação de mestrado.
NASSER, E.M.C. et NASSER, N.A.S.
1988 Notas sobre as crenças e práticas religiosas dos Tuxá. In O índio na Bahia, rev. Cultura, ano
1, n.1, Salvador, Fund. Cultural do Est. da Bahia.
OTT, Jonathan
1994 Ayahuasca analogues. Pangaean entheogens. Kennewick, Natural products Co..
SANTOS, Joscélio Teles dos
1992 O dono da terra. A presença do caboclo nos candomblés da Bahia. São Paulo, dissertação de
mestrado - USP.
VANDEZANDE, René
1975 Catimbó: pesquisa exploratória sobre uma forma nordestina de religião mediúnica. Recife,
dissertação de mestrado - UFPE.
WOORTMANN, Ellen
1985 Parentesco e reprodução camponesa. In Ciências sociais hoje/ANPOCS. São Paulo, Cortez.
tore.p65 59 17/05/2000, 09:05
TORÉ
60
tore.p65 60 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
61
O TORÉ E A CIÊNCIA TRUKÁ
Mercia R R Batista
Situando os Truká
Podemos então perguntar: quem são hoje os Truká? Resultam de uma população,
provavelmente diferenciada etnicamente e aldeada em fins do século XVII na atual ilha
da Assunção (município de Cabrobó, submédio São Francisco, Estado de Pernambuco).
Essa população enfrentou desafios e novas situações, pois essa região foi marcada pela
presença de diferentes conjuntos humanos que convergiam no uso da língua kariri e que
foram se formatando em torno da condição de aldeados da Assunção, em contraposição
às hordas de índios nômades que causavam desassossego na região, conforme registros
presentes ao longo do século XVIII e XIX. (Galvão, 1897. Hohenthal, 1954 e 1960.
Leite, 1945, Pereira da Costa, 1951)
O processo de aldeamento nessa região se instaura com maior plenitude no final do
século XVII, com a presença dos capuchinhos franceses e dos jesuítas, prosseguindo
com a saída destes e a incorporação de outras ordens religiosas como carmelitas e
oratiorianos. O certo é que 1845 é um marco porque a Província de Pernambuco, através
do seu Presidente, desejoso de saber sobre a situação de cada aldeamento para que se
possa (re) definir a questão patrimonial, o que implica dizer, o quanto de terra cada
aldeamento possui e como está sendo esta administrada.
Com a dissolução da Diretoria de Índios passamos por um período difícil, e que
culmina na venda efetuada pelo Bispo da Diocese de Pesqueira, em 1920, de toda a ilha
da Assunção, a considerando parte do patrimônio da Igreja Católica. A partir dessa
venda nos desdobramos em diversos momentos nos quais essa população vai se
apropriando de instrumentos de luta, produzindo alianças e também, uma identidade
que os torne, face ao Estado, autores legítimos desse direito tão longamente buscado.
Quando começamos o exercício de pesquisa entre os Truká em 1989 (Nota 1), o
nosso foco de pesquisa recaiu sobre o modo pelo qual uma comunidade transformava-se
em um grupo étnico. Durante a década de 80, como resultado de uma luta que vinha se
instaurando desde a década anterior, este grupo vinha passando por uma situação de
compressão territorial, o que se fez acompanhar por uma articulação que impôs o exercício
étnico, inclusive com a produção de fronteiras e sinais diacríticos. Porém, desde os
tore.p65 61 17/05/2000, 09:05
TORÉ
62
primeiros contatos estabelecidos e com a continuação da pesquisa, sempre que algum
Truká era por nós instado a falar sobre a história do grupo indígena ou sobre a situação
vivida naquele momento, éramos confrontados com a referência ao Mestre e Capitão
Acilon, e a indicação de que toda a história do grupo se vinculava de modo indelével pela
história de vida deste, e em especial, ao momento em que se colocou para ele uma missão:
a de levantar a aldeia e recuperar a plenitude da própria saúde. Segundo podemos
perceber essa demanda se configura a partir de meados da década de 1940. Como podemos
ver nos trechos de depoimentos colhidos:
Eu me lembro muito pouco disso porque era muito criança e a gente não liga muito pra
essas coisas. Eu sei que meu pai aleijou e ficou louco. Depois dele foi levado pra ser
tratado no hospital (...) e ali ficou bom. Quando voltou começou a trabalhar com os
encantos e procurou descobrir o nome do tribo (...) ele dizia que aqui era aldeia de
brabios, que foram espancados e mortos. Só ficaram os índios mansos. (Maria de Lurdes,
filha de Acilon)
Quando em 1988 buscamos compreender e explicar o modo pelo qual uma
comunidade transformava-se em um grupo étnico, sempre que algum Truká era instado
a falar sobre a história do grupo ou sobre a situação vivida naquele momento, éramos
confrontados com a referência ao Mestre, ao Capitão Acilon, e a indicação de que toda a
história do grupo passava pela sua história de vida. E, em especial, o momento em que se
colocou para ele uma missão: a de levantar a aldeia e a recuperação da própria saúde.
Nesse contexto os Truká se referiam às dificuldades enfrentadas no presente e traçavam
uma conexão com o passado, como conseqüência das atitudes adotadas por Acilon e o
direito que este possuía de ser o chefe desse grupo indígena. Este direito era percebido
como a conseqüência da missão recebida.
Como se pode perceber a partir dos relatos colhidos e aqui transcritos, a memória
constrói uma genealogia das chefias dentro da história do antigo aldeamento. E o destaque
é dado à missão recebida por Acilon, que impôs o exercício das viagens em busca do
reconhecimento, do apoio, do registro da aldeia. No caso aqui enfocado a forma ritual
expressa uma continuidade que não se faz presente nesse momento social. O Toré e o
Particular são propostos como exercícios em que se produzem uma continuidade entre
uma população primeva (brabios ou bravios), sua primeira descendência (o Mayoral) e
os que estão vivendo nesse momento (os aldeados), que compõem a (in)descendência da
aldeia. Assim, a realização do ritual é percebida tanto pelos Truká como também pelos
não-índios como sendo profundamente contestadora e revolucionária, ao mesmo tempo
em que a mudança que se propõe é a de uma recuperação de um passado. A expressão
que é utilizada para descrever esse momento é desencantamento da aldeia.
Nesse tempo era no Rio de Janeiro, não tinha Funai (Fundação Nacional do Índio),
tore.p65 62 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
63
o Distrito Federal era no Rio de Janeiro. Brasília é nova, quando construíram Brasília foi
que surgiu a Funai, nessa época era o SPI (Serviço de Proteção ao Índio) (...) o finado
Acilom foi pro Rio, com poucos tempos ele morreu (...) Veio (gente) do Rio de Janeiro,
mandar fazer toré (...) o finado Acilon pedia sobre a demarcação de terra, ele só queria
que fosse a ilha toda (...) ele só queria que fosse a ilha toda (..) e o finado pedia posto, o
posto indígena tá com dez anos, ô, com duzentos e dez anos que foi pedido posto aqui
pra dentro, aí quer dizer que já foram outros que pediram, já outra nação pediu e passou
pra ele (Acilon) e agora nós tornamos a pedir. (Docarmo Félix)
Do mesmo modo é muito rico ouvir um contemporâneo ao movimento instaurado
por Acilon e que ainda participa das lides da aldeia, nos explicar o que vem a ser o
chamado trabalho de caboclo, e a partir de quando se pode perceber o agravamento da
situação na aldeia. Observemos que o foco está posto na situação que se instaurou após a
morte de Acilon, que na sua percepção não conduziu a uma reprodução almejada.
Passemos então ao trecho transcrito:
foi, achei esse aqui (refere-se a um pequeno cachimbo de barro), é um guia (quaki), que
é usado pra se fazer uma cienciazinha (está se referindo ao ritual chamado também de
Particular ou Ciência do Caboclo), é uma brincadeirinha. É só pra algumas pessoas
(...) não é todo mundo que tem a capacidade de conversar com os antigos (...) falar com
os antigos é pra as pessoas interessadas, se espera o Mestre da aldeia e isso é um negócio
muito sério e vem da antiguidade (...) Acilon, os antigos foram pra sua cabeça e aí ele
aleijou e depois endoidou e todo mundo passou a ter medo dele. Depois disso os Mestres
vieram ensinar, na sua cabeça, e ele começou a ficar bom e com conhecimento. Aí ficamos
sabendo um pouco e quando ele morreu nós ficamos remendando (...) a situação ficou
ruim assim por conta de Deodato que sempre fez tudo contra nós. Acilon deu um não ao
casamento dele dentro do grupo, e Acilon dizia que nós devia casar só entre nós, e quando
acabou a sua sobrinha Marina foi e casou com Deodato e ele (Acilon) sempre dizia que
ele não daria certo dentro da aldeia. (Pedro Birô, casado com uma sobrinha de Acilon).
Como é possível perceber nos trechos acima, para muitos dos Truká, quando se vem
num exercício de explicação sobre a própria identidade e história, um dos elementos que
se destaca é a história de Acilon que descobriu a existência da aldeia. Nesse contexto, o
processo de descoberta passa pelo exercício do Toré e do Particular, pois assim se torna
possível instaurar um aprendizado que se faz de forma mais coletiva. Aprender a dançar
no Toré, aprender as cantigas, que são chamadas de linha, aprender o modo pelo qual se
pode receber os encantos que se fazem presente de forma mais clara nesses momentos.
Tudo passa pelos rituais que compõem essa esfera. Vamos então nos propor a realizar
uma descrição dos dois rituais, de modo a permitir que possam ser mais bem conhecidos.
tore.p65 63 17/05/2000, 09:05
TORÉ
64
O Toré
O Toré entre os Truká é também chamado de folguedo dos índios, brincadeira dos
caboclos e trabalho de caboclo. Na compreensão desse povo este ritual é encarado
enquanto uma diversão ou festejo típico dos caboclos e consiste numa reunião de um
grupo de dançadores, cantores e assistentes, que se encontram num local aberto, tendo
por objetivo a diversão.
O Toré, numa primeira descrição consiste numa reunião de um grupo que se distribui
em duas fileiras paralelas, que pode se transformar em uma única fileira e que evoluem
ao compasso da batida de maracás e de silvos de apitos.
Em todos os Torés a que tivemos oportunidade de assistir, pelo menos duas pessoas
ficaram sentadas num determinado ponto do terreiro, cantando as cantigas, chamadas de
linhas ou toadas. A primeira pessoa é chamada de Mestre e a segunda é chamada de Contra
Mestre e se constituem em pessoas de destaque dentre os Truká. (Ver o Diagrama 1)
Os participantes podem estar vestidos de forma cotidiana ou envergando o que se chama
de farda do Toré, que consiste numa saia e num peitoral, ambos feitos com fibras de caroá
trançado. A maioria dos participantes, mesmo que não esteja fardados, estará carregando
o maracá, para, enquanto dança, marcar o compasso e alguns estará, também, com apitos.
Na distribuição dos dançadores pode-se perceber que o primeiro de cada uma das
duas fileiras é sempre um homem reconhecido pelo grupo como um bom dançador.
Acontece que ser um bom dançador não implica apenas em qualidade referenciada à
dança. O que podemos perceber é que o chamado bom dançador é sempre um
personagem relacionado ao campo político, o que significa dizer que este atributo
relaciona-se a qualidade de liderança, de desempenho no papel de Ser Truká. Após o
bom dançador, seguem-se os outros, primeiros homens, depois mulheres, e encerrando,
vêm as crianças. Esta distribuição implica que, idealmente, cada vez que as duas fileiras
fiquem frente a frente, sempre se tenha a correspondência, isto é, um homem defronte a
outro homem, uma mulher defronte a outra mulher, e, finalmente, uma criança defronte
a outra criança. Não se percebe uma separação de sexo entre as crianças.
A dança consiste numa coreografia variada, indo da simples marcação de uma batida
com o pé direito e o arrastar do pé esquerdo, deslocando-se o corpo para o lado, até
trocar-se de posição com o parceiro do lado, até operações mais complexas, onde os dois
dançadores se abaixam, se levantam, batem o pé direito e puxam sua fileira até o final da
fila, de forma a se constituir numa evolução sincronizada.
No caso dos cantadores, eles se constituem enquanto o ponto onde se inicia e se
termina cada evolução feita. Para cada linha cantada, acompanha-se com um determinado
tipo de coreografia. As linhas cantadas não obedecem a uma seqüência fixa, com exceção
das primeiras (três a cinco) e das últimas, que devem ser as mesmas e que são ditadas
pela tradição. Quando uma linha termina, os cantadores ou outros participantes, gritam
viva a alguma pessoa ou a alguma coisa, como por exemplo, aos índios aldeados, a nossa
tore.p65 64 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
65
senhora rainha dos anjos, ao capitão Rondon, a mãe dágua, a deus, ao velho u-ká, aos
que estão presentes e aos que estão ausentes. Esses vivas são respondidos pelos demais
participantes com outros vivas.
Todos os Truká partilham da noção de que uma aldeia tem que ter Toré, e que este
deve acontecer em dois dias da semana: as quartas-feiras e os sábados. Contudo, todos
reconhecem também que é muito difícil manter o costume, por essa razão não se brinca
mais como já se brincou antigamente. Quando se tem visitante no interior da aldeia, é
feito o esforço para que se possa apresentar uma representação de índio, isto é, um Toré.
Mesmo que não se indague, a explicação oferecida para a não-realização regular de
torés, passa pelo receio das brigas que surgirão entre os homens, motivadas pela ingestão de
bebidas alcoólicas. Os Truká dizem que quarta-feira é um bom dia para se fazer Toré
porque ninguém costuma beber durante os dias da semana, pois se associa a ingestão da
bebida alcoólica aos dias em que não se trabalha na roça. Porém, a quarta-feira não é um
bom dia quando se pensa que no dia seguinte se tem que trabalhar normalmente e, sefundo
eles, dançar o Toré cansa muito. No sábado tem-se a vantagem de não se ter que trabalhar
no dia seguinte e a enorme desvantagem de ser no dia de sábado que se faz a feira em
Cabrobó, ocasião em que a grande maioria dos homens vai até a cidade e aproveitam para
comprar alimentos e ingerir bebidas alcoólicas. O que significa, segundo os Truká, que a
noite de sábado pode registrar um contingente masculino indígena bastante alcoolizado.
Talvez, ao problematizar a explicação dada pelos índios, e sugerir uma outra
possibilidade de leitura para a situação, possamos incorrer num erro. Porém, achamos
que aquilo que é dito responde apenas a uma explicação parcial. O que pudemos perceber
é que o Toré, como outros momentos sociais, implica na necessidade de reunião entre
pessoas. Isto significa que se tem de dispor de uma rede de solidariedade que nem sempre
está tão sólida. As situações em que se reúnem tem implicado em riscos, de modo que os
Truká tendem a evitá-las, embora idealmente as considerem desejáveis.
Ao mesmo tempo, percebemos que o Toré é um momento privilegiado pelo próprio
grupo, enquanto capaz de (re)definir uma identidade para si em face aos que estão
colocados fora das relações sociais desta comunidade. O Toré sempre foi posto como um
emblema de uma identidade diferencial, tendo a vantagem de ser transportável para
qualquer lugar ou situação. É o que Barth (1969) identifica enquanto um sinal diacrítico.
Desta maneira, ser um participante do Toré implica em se fazer parte de uma determinada
comunidade, versus as outras comunidades, com outros rituais de pertencimento. Alguns
depoimentos confirmam tal perspectiva:
Acilon era um Capitão para aldeia, mas ele podia passar um mês cantando direto e ele
não cantava numa linha para voltar para aquela mesma linha não. Quando mais ele
cantava mais ele aparecia. Podia passar um mês cantando, mas ele não voltava mais
para cantar aquela que ficou na linha. Era assim (...) e, do Rio de Janeiro (vinham
tore.p65 65 17/05/2000, 09:05
TORÉ
66
pessoas) mandavam fazer Toré. A gente fazia Toré (...) lá em Cabrobó (...) a gente foi
dançar lá. (Docarmo Félix)
No decorrer do trabalho de campo, não só passamos pessoalmente por situações que
revelaram tal característica, como nos defrontamos com narrativas similares.
Desta maneira, quando o SPI mandou um inspetor à ilha da Assunção para conhecer
os índios que estavam solicitando proteção, o grupo o recepcionou com um grande Toré.
Nos relatos sempre se enfatiza que, após o Toré, o Inspetor do SPI disse que estava
diante de remanescentes indígenas. Por isso, dançar o Toré é muito mais do que participar
de um simples folguedo, pois enquanto se dança se está afirmando várias coisas, como
por exemplo, uma história comum e diferenciada em face da história dos brancos; ao
mesmo tempo se invoca a proteção das entidades mágico-religiosas do panteão do grupo,
passando pelos santos católicos e pelas entidades indígenas e Truká. É uma ocasião em
que se pode prestar uma homenagem aos visitantes (situação vivida por nós) e que cria
um laço de amizade; como também serve para marcar quem, dentro do grupo, é portador
de uma posição de destaque, desta maneira, apenas algumas pessoas são reconhecidas
como merecedoras do direito de puxar uma linha de trabalho, além de serem os primeiros
dançadores. É o que se pode depreender de uma entrevista, onde se coloca o início desta
prática junto ao grupo, ao mesmo tempo em que se destaca a importância do ritual para
o processo de reivindicação vivida pelos Truká:
Acilon começou a ter sonhos e aprendeu a tirar cantigas, cada uma mais bonita que a
outra. O povo começou a se achegar para ouvir e ele foi ensinando a dançar, dois homens
na frente e o resto fazendo a fileira atrás, fazendo uma roda (...) e aí o povo começou a
ir de magote e cada noite era uma cantiga mais linda que a anterior. Acilon tinha
descoberto a aldeia, dizia que aqui era lugar de caboclo e que uma voz tinha dito que
tinha uns cachimbos de barro enterrado e que tinha uma pedra com toda a história do
tribo. E tudo o que ele falou deu certo(Joaquim Gavião)
Como veremos no próximo item, o Toré não é pensado e vivido de uma forma isolada,
pois sempre que se fala nele faz-se referência ao Particular. Desta maneira, ao nos
referirmos ao lado mais público da esfera ritual dos Truká, não estamos ignorando sua
face mais privada, apenas fazendo um recorte para efeito de descrição. Como sempre é
enfatizado, no Toré o grupo se reúne para brincar e se divertir, enquanto que no Particular,
busca-se o auxílio de suas forças mágico-religiosas, que são cantadas nas linhas tanto no
Toré como no Particular.
Um dos informantes quando solicitado a diferenciar o Toré do Particular, enfatizou
que o primeiro não requer o concurso dos encantos, pois é algo para todos os presentes
buscarem a diversão e a força da tribo, enquanto que o segundo é feito quando se deseja
tore.p65 66 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
67
conversar com os mais antigos. Ora, o que se pode perceber quando se está na Terra
Indígena, é que somente por um esforço enorme, é que se consegue realizar um Toré, e
quando se busca identificar quando foi o último Toré realizado, somos confrontados
com um momento remoto, e indicativa da presença de pessoas externas ao circuito
cotidiano. Quase sempre estamos diante de um Toré produzido para comemorar o dia
do índio, ou diante da visita de algumas autoridades ou pesquisadores.
O Toré se constitui então, num momento em que se torna possível uma forte articulação
interna, no sentido de um sentimento grupal, capaz de garantir a vitória do grupo. O
ritual (tanto o Toré quanto o Particular) coloca-se de forma diferente quando comparamos
com os Tuxá (município de Rodelas na Bahia). Quando observamos os Tuxá, o Toré é
ainda o elemento diacrítico, capaz de ser identificado e identificar o grupo, tanto no nível
regional quanto na relação com as agências governamentais. Já o Particular assume para
os Tuxá função de um espaço exclusivo aos integrantes do grupo, de maneira que só é
possível vivenciá-lo aos que estão sendo identificados enquanto Tuxá.
Pode-se pensar que, em relação aos Truká, a explicação fornecida pelo grupo esbarra
com a realidade, pois assisti a vários torés durante minhas visitas ao grupo e, quase todos,
foram patrocinados pelo cacique, que não só empenhou todos os seus recursos pessoais
(parentesco, compadrio etc.), como também se encarregou de, ao fazer o convite, explicitar
que a moça (nós no caso) veio para ver o grupo e depois falar a nosso favor, e ela vai estar
presente para assistir e fotografar o folguedo do índio da ilha.
Podemos pressupor que o ritual do Toré, quando se tornou mais presente entre os
Truká durante a década de 50 do século passado - se desenvolveu a idéia de que este,
embora carregado de importância, se assemelhava aos outros folguedos também presentes
em outros povos indígenas localizados próximos à ilha da Assunção. A referência parece
ser ao Povo Tuxá, que habitou durante bastante tempo na cidade de Rodelas em território
baiano. Ao mesmo tempo, quando se instaurou a luta em busca do reconhecimento face
o Estado Brasileiro, muitos dos enviados especialmente os Inspetores do SPI - para
examinar a legitimidade desta demanda, solicitavam dos caboclos (os índios) o exercício
do Toré. Desse modo, instaurou-se uma tradição entre os Truká, e não só entre eles, de
receber o visitante com a apresentação de um Toré.
Porém, muitos dos elementos que se fazem presente durante o Toré reaparecem no
ritual do Particular, que embora não seja vedado aos não-índios, não se coloca no mesmo
grau de publicidade que este. O Ritual chamado de Particular é também chamado de
Ciência do Índio, Ciência do Caboclo, Trabalho de Mesa ou mesmo, de Cienciazinha.
Em comum com o ritual do Toré temos alguns dos participantes, o uso do maracá, do
quaki. Contudo, como será visto no próximo item, o Particular não prescinde do uso da
bebida chamada Ajuká agregada ao uso do fumo nos quaki, pois são elementos
fundamentais para que se torne possível a chegada e o diálogo dos índios com os seus
encantos. Quer nos parecer que é possível afirmar que no Toré se está produzindo uma
tore.p65 67 17/05/2000, 09:05
TORÉ
68
diversão, por isso é chamado de folguedo, enquanto no Particular se abre e mantém um
canal privilegiado entre o passado e o futuro da aldeia.
O Particular
Iniciamos com uma descrição do que vem a ser um Particular, também chamado de
Trabalho de Mesa, Ciência ou Cienciazinha dos Índios. Como elemento de maior destaque
encontra-se a juremeira, bebida primordial para este ritual. Ela é obtida através da
efusão da entrecasca da raiz da árvore chamada de Jurema (Mimosa hostilis), que foi
arrancada com antecedência, pelo Juremero e pelo Mestre do trabalho. Este foi o único
momento vedado à observação de pesquisa e assim nos foi descrito: a dupla ora, pede
permissão, sai para a mata e procura um pé de jurema. Lá chegando, escava a raiz,
acende velas brancas, faz orações (padre-nosso, ave-maria), pede permissão ao dono da
jurema e arranca a entrecasca da raiz. Acabando, recobre com a terra a parte descoberta
das raízes e se retira.
Segundo as explicações, existem muitos tipos de jurema, mas só uma árvore de jurema
serve, pois esta traz a força e o conhecimento necessários aos seus seguidores. Este tipo
especial de jurema tem estas qualidades porque ela é o sangue do índio morto. A jurema
que é a indicada se caracteriza pela ausência dos espinhos e pela cor branca das suas flores.
Após a retirada da entrecasca da raiz, se esta for ser utilizada nos próximos dias,
torna-se a enterrá-la, perto do local onde irá ocorrer o Particular, pois segundo eles, na
terra a raiz volta a viver. No caso de se retirar à raiz para ser utilizada em até 24 horas,
não se precisa fazer nada com esta, bastando guardá-la até o momento do uso.
No dia anterior ao do Particular que são os mesmos utilizados para o Toré, isto é,
quartas-feiras e sábados todas as pessoas envolvidas (Mestre, Juremeiro, caboclos e
caboclas), segundo as informações que nos foram prestadas, deverão orar e rogar aos
seus espíritos protetores para que tudo ocorra bem, e que aqueles que lhes desejarem
fazer mal sejam afastados. Algumas horas antes do início do Particular, a raiz da jurema
é batida, até que a casca que recobre esta raiz se solte, e então é esmagada num pilão de
pedra, até que se torne uma massa pastosa. Esta massa é colocada dentro de cascas de
cocos partidos ao meio (são chamados de quengos, quenguinhas) e pouco antes de começar
o Particular, o Mestre e o Juremeiro, sozinhos e recolhidos ao local onde irá se realizar o
ritual, preparam a bebida, misturando água morta, isto é, água que foi retirada do rio
com antecedência mínima de um dia, a massa da jurema e experimentam, até que
consideram que a juremeira está boa. O que significa que não está nem forte nem fraca.
O Particular tem uma duração média de 10 horas ininterruptas, iniciando às 18/19
horas e terminando às 4/5 horas da manhã seguinte. O Particular não necessariamente
ocorre dentro de um recinto fechado, embora a todos os que assistimos ocorreram dentro
de um local fechado, em oposição aos espaços abertos que são característicos do Toré.
Em um dos Particulares que assistimos e que aconteceu numa ilhota chamada de ilha
tore.p65 68 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
69
da Onça, se utilizou uma pequena construção, sem nenhuma divisão de cômodos. Esta
casinha está situada de frente ao cruzeiro, onde todos os participantes, quando chegam
se ajoelham, acendem velas e fazem o sinal da cruz. Essa casinha não possui nenhuma
janela e a única forma de acesso é uma porta. Assistimos também a alguns Particulares
realizados na Ilha da Assunção em duas situações distintas: na primeira assistimos ao
ritual sendo realizado na sala da dona da casa. O único preparativo que registramos foi à
retirada dos móveis que ali se encontravam, como forma de acomodar os participantes.
Além do que, se teve o cuidado de cobrir com um pano um espelho colocado na parede.
Também assistimos a um Particular que se realizou no galpão anexo a casa de um antigo
cacique, e que é utilizado para guardar implementos e produtos agrícolas.
Tirando as diferenças de construções utilizadas para se realizar o Particular, não
percebemos mais nenhuma diferença significativa, de maneira que procederemos a
descrição sem distinguir a localização, a menos que tal coisa tenha um significado.
Antes dos participantes entrarem no local onde ocorrerá o Particular, o Mestre e o
Juremeiro, também chamado de Contra Mestre, consagram o local, através de desenhos
feitos nos quatros cantos do ambiente, pelo uso do fumo e das orações. Num dos cantos
é estendida uma toalha no próprio chão, e é o que se chama de mesa. Esta toalha fica em
cima de uma esteira de palha, e a esteira encobre um desenho feito pelo Mestre. O
desenho é idêntico ao que é conhecido como estrela de Davi, e que é identificada pelo
Mestre como sendo o seis de Salomão (ver o Diagrama 2). Em cada uma das seis
pontas da estrela desenhada se coloca uma cabeça de alho. Sobre esta estrela desenhada
se coloca cuidadosamente a esteira, de forma a que este desenho fique colocado o aribé
(grande panela de barro) com o chamado vinho da jurema (juremeira).
Observando o Diagrama 3 podemos acompanhar a descrição: o que se vê, assim que
se entra no local onde está sendo realizado o Particular, é então uma toalha branca (e a
cor é obrigatória), de tecido bordado com motivos de cruz. No meio da mesa fica o
aribé (1) com a juremeira e bem próximo, no canto esquerdo da juremeira fica um aribé
menor (2) contendo o que é chamado de cura (uma mistura de cachaça com alho e
raspas de diversas cascas de árvore). À direita do aribé da Jurema ficam quatro quengos
de coco, dois grandes e dois pequenos, que são utilizados um grande e um pequeno
para servir a Jurema e a Cura. Estes quengos não devem ser misturados, de forma que a
juremeira não se mistura com a Cura. Nos cantos desta mesa ficam permanentemente
acessas velas brancas (7), e que segundo o Mestre significam que o trabalho está aberto,
implicando na idéia de que o ritual teve seu início e que prossegue.
Sobre os quatro cantos da mesa ficam pequenos montes de fumo (6), misturados com
ervas perfumadas (com alecrim e alfazema). No decorrer do Particular este fumo é
utilizado para encher os quaki(5) (cachimbos feitos com a raiz da jurema, e que são
conhecidos também como guias), que são utilizados durante todo o ritual. Diante do
Mestre fica uma pequena cruz de madeira, que toca no aribé da juremeira. O Mestre
tore.p65 69 17/05/2000, 09:05
TORÉ
70
tem vários quaki, apitos e maracás (4), alinhados a sua frente. Ele permanece sentado,
quase que todo o tempo, sobre uma pequena pedra e puxa quase todas as cantigas
(chamadas de linhas ou toantes), cedendo a primazia apenas quando algum encanto ao
se fazer presente, através de algum dos participantes, pede para cantar. O Mestre também
pode pedir que outro lhe substitua quando está cansado ou concede a algum dos
participantes, enquanto uma distinção.
A divisão espacial em torno da mesa é bem marcada, com a idéia de um círculo a ser
percorrido, sempre da direita para a esquerda, com uma divisão em duas metades, cada
uma delas com um representante masculino (Mestre e Juremeiro).
O Particular é um ritual aparentemente simples e repetitivo. Todos os participantes
ficam ao redor da mesa, sentados no chão ou em pé. Existe um homem (tradicionalmente
e idealmente para o grupo, todos os dois papéis principais se destinam exclusivamente
aos homens) chamado de Mestre, que inicia e encerra o ritual. Outra pessoa, ocupando
o papel chamado de Juremeiro, senta-se diante do Mestre, separados pela mesa, e
encarrega-se de zelar pelo vinho da jurema. Isto significa que todos os que desejarem
beber da juremeira receberão o vinho da sua mão. Com exceção do Mestre e do Juremeiro,
todos os outros participantes irão alternar as posições, para descansar as pernas do esforço
de se ficar sentado no chão, ao redor da mesa e num espaço bastante reduzido. O aribé
com a juremeira, no início do Particular, está cheio e o Mestre e o Juremeiro fazem uma
cruz com a fumaça de seus quakis, que são utilizados ao contrário do que é usual num
cachimbo, com a parte do fumo acesso dentro da boca e a parte da boca livre, exposta ao
outro lado, servindo para soltar a fumaça, que desta forma sai em grossos rolos.
Clarice Mota (1987) na sua tese de doutorado, dentre outros temas, estudou o uso da
Jurema entre os Kariri-Shokó e os Shokó de Alagoas. Na sua discussão se coloca a
importância da árvore da Jurema para os dois povos estudados:
um dos momentos mais significativos acontece quando os índios compartilham o vinho
da Jurema, porque é a bebida que é suprimida para abrir o canal perceptivo com o
mundo oculto e secreto (1987:134)
Da mesma maneira, somos inclinados a ressaltar uma importante diferença entre os
rituais entre os Truká e aqueles que foram relatados por Mota. Enquanto que o Toré é
posto pelos Truká enquanto um signo a ser exibido para todos os que não fazem parte do
grupo, tem qualquer interesse sobre eles; o Particular, mesmo ocorrendo de forma mais
reservada e pressupondo todo um conjunto de regras, mesmo ai, a presença de estranhos
ao grupo não é proibida, destacando-se apenas a necessidade de se participar imbuído de
respeito. Já os Shokó, segundo Mota, construíram o seu ritual do Ouricuri, de modo
semelhante aos Fulniô, marcando o segredo:
tore.p65 70 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
71
O ritual do Ouricuri é assim um processo mágico-religioso de enculturação, onde apenas
os membros do grupo Kariri-Shoko podem participar. O Ouricuri traça os limites entre
membros e não-membros da tribo Kariri-Shoko (op. cit. 129)
Quanto aos Tuxá, estes possuem o Toré e o Particular, e podemos destacar as
semelhanças entre estes e os Truká:
Os encantos são forças desencarnadas. Os seus cantos rituais, como nos cultos afro são
chamados linhas e o indivíduo que serve de suporte à descida de entidades sobrenaturais
é designado aparelho. Os Tuxá não sabem explicar com precisão a origem dos encantados
(...) A localização do reino dos encantados é controvertida. Dois aspectos são claros:
para os encantos só vai a alma de índio e para atingi-lo em vida só há duas vias: o sonho
e o transe. Os dois últimos casos são prerrogativas do pajé, das mestras e de alguns
iniciados. O encantado mais cultuado da aldeia é o Velho Ka-neném, ou Velho Ka.
(Nasser & Nasser, 1988).
Segundo os relatos colhidos, na Jurema está toda a ciência, todo o mistério dos índios,
sendo por isso que o Juremeiro não pode receber nenhum encanto, para não se deixar
distrair. Do mesmo modo, o Juremeiro só pode se retirar da casa onde está sendo
realizado o Particular mediante um pedido de licença feito ao Mestre e deixando um
substituto para tomar conta da juremeira, devendo voltar o mais rápido possível para o
seu posto.
Um dos participantes do Particular, na condição de Juremeiro, nos descreveu a origem
do vinho da Jurema, dizendo que este se encontra ligado à existência do Velho U-ká:
é isso, quando o doutor chegou aqui (...) foi quando ele começou o trabalho, estavam
com as perseguições de branco, para (não) dançar o Toré. Eles diziam que era feitiçaria.
Ele (o doutor do SPI) chegou lá e disse: bom, agora vocês me vão dizer que trabalham
no chão, na invasão do homem Truká. Bom, aí ele disse: para trabalhar aqui agora vou
dizer lá no Rio (de Janeiro) que vocês estão fazendo uma feitiçaria, e a gente sem saber
que a aldeia é mesmo. Aí a gente se tocou mesmo, formou um trabalho do lado de cá do
canto, aí começou a trabalhar. Aí disse: bom, agora sim, aquelas linhas, que aqui a gente
chama tudo de linha. Aquelas linhas mais importantes eu quero levar para o SPI. Tá
bom. Porque esse negócio de tribo, ou essa corrente de aldeia que tinha antes (...) porque
na data que Jesus chegou a descansar no pé de Jurema, aí então ele vai e disse assim:
Senhor, faz uma sombra para nosso descanso, debaixo desse pau, de uns quinhentos
desses, disse o Santo Pedro, e desse pau vai se tirar de tudo, de escada (...) um dia vai ter
uma pessoa para entender que a minha necessidade do homem, de mim para o homem é
sempre se apegar com a raiz desse pau, e esse pau quando nós sair daqui vai ficar
tore.p65 71 17/05/2000, 09:05
TORÉ
72
diferente um dos outros, justamente é a Jurema (...) ai então, quando chegou o tempo,
Pedro veio aqui, aí quando ele chegou aqui disse: nós temos que sair então. A gente
chegando, eles dizem: ah, senhor, lá naquela casa que nós andava tem um homem lá com
o nome de U-Ká, que faz um trabalho maravilhoso, aquele pé de pau que nós plantemo
debaixo dele, ele arrancou a raiz daquele pau e fez uma bebida e botou dentro de um
aribé (....) Na rima diz: Velho U-ká era um homem que morava aqui. Velho U-ká era
meu Mestre. Ao Velho U-ká. (...) Foi quem formou o tribo, era descendente daqui da
terra. (Pedro Aliberto, Juremeiro)
No inicio do ritual são cantadas sempre cinco linhas pré-determinadas pela tradição.
Essas linhas são cânticos religiosos de invocação a Deus, Nossa Senhora Rainha dos
Anjos, ao Velho U-ká, a Jurema e a Mãe Dágua. Findada esta parte, os quaki são acessos
e se começa a beber a juremeira, que é primeira oferecida ao Mestre, sempre pelo
Juremeiro, e vai sendo distribuído da direita para a esquerda, até fechar o círculo.
Enquanto esta distribuição acontece, o Mestre vai puxando outras linhas. Todos os
presentes adultos podem beber dos dois aribés. Nesta primeira distribuição, o vinho da
Jurema é acompanhado pela Cura e pode-se beber dos dois. Caso algum presente não
aceite o quengo com a juremeira ou a Cura, ela é passada ao próximo. A única exceção é
se a recusa a juremeira partir de um participante que esteja no momento com um encanto,
então, o Juremeiro irá até fora do recinto e jogará o conteúdo da quenga para o alto,
oferecendo-a aos outros encantos.
Entre os encantados para os Truká, destacam-se primordialmente o Velho U-Ká,
chamado também de Ká-Neném, e que é identificado enquanto o índio que primeiro
descobriu o poder da árvore/raiz da Jurema, e tudo o que dela se pode obter. Desta
maneira, o Velho U-Ká é considerado o protetor dos índios e do seu vinho. Em conversas
mantidas por nós, ficamos sabendo que um Juremeiro quando prepara o vinho (chamado
também de murum), ele pode ver o rosto do Velho U-Ká dentro do aribé. Dos outros
encantos, podemos destacar a Mãe Dágua, que é considerada como uma das donas do
Rio, não se confundindo com a Janaína, pois esta última é identificada enquanto uma
força dos que trabalham com a esquerda, isto é, com candomblé ou xangô. A Mãe
Dágua vive num castelo invisível no fundo do rio, e possui muitas riquezas, podendo se
agradar de algum mortal e levá-lo (encantá-lo) para junto de si. Três antigos Capitães
(Chefes do antigo Aldeamento da Assunção) são considerados enquanto encanto, sendo
João Duardo e Bernardino reconhecidos enquanto antigos Capitães da ilha da Assunção,
e Zé da Favela ou da Faveleira, que foi Capitão da ilha do mesmo nome, ficando bastante
próxima à ilha da Assunção. Invocados durante o Particular, mas não mais enquanto um
encantado ou encanto, encontram-se divindades católicas, como Deus, Jesus e as
diferentes Nossas Senhoras. Daqueles que são reconhecidos enquanto contemporâneos
ao grupo existe uma controvérsia sobre a possibilidade de terem se tornado encantado.
tore.p65 72 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
73
Quando perguntamos sobre esta possibilidade relacionada a Acilon ou Antonio Cirilo,
dependendo do informante obtivemos resposta positiva ou negativa. Desta maneira
podemos identificar uma fluidez quanto à concepção do mundo mágico-religioso e não
se tem uma mecânica ajustada sobre muitos aspectos. No entanto, devemos ressaltar que
isto não se coloca enquanto um problema para nossos informantes.
Continuando com a nossa descrição, nos foi dito que, quando se recebe a quenga
com uma das duas bebidas, se deve fazer uma oração com fé, fazendo-se então um pedido
e o sinal da cruz sobre a boca. No decorrer do ritual pode-se pedir um pouco de juremeira
ou da Cura, sempre que se desejar.
Depois que todos beberam do vinho da Jurema e da Cura, a um gesto do Mestre,
todos os maracás (são os frutos secos da cabaceira, preparados com sementes e fechados
com um pequeno pedaço de madeira) que são segurados na mão direita, dão um toque.
Isto é, são balançados no mesmo ritmo, dando-se as mesmas paradas, produzindo-se um
som característico e bastante melodioso, e se começa a cantar linhas, sem seqüência pré-
determinada, ficando a critério do Mestre qual linha será cantada, até que os encantos
comecem a chegar.
O encanto através do corpo possuído, saúda os presentes, bebe uma quenga com o
vinho da Jurema, fuma do quaki, balança o maracá e pede licença ao Mestre para puxar
sua linha, de forma a poder realizar sua viagem de volta. Neste momento todos
acompanham com o maracá e também cantando. Apenas alguns encantos quando
chegam irão se dirigir a todos os participantes, ou mesmo se dirigir ao Mestre. Quanto
tal acontece, o encanto fala sobre sua aldeia de origem que não é necessariamente a
Assunção informa o seu nome, pede Jurema para beber, o cachimbo para fuma, um
maracá para balançar e, finalmente, canta sua linha até que parta. Muitos encantos
chegam, estendem a mão, indicam o que deseja e começam a cantar, para em seguida
abandonar o corpo do participante.
No decorrer do Particular acontece de se ter três ou quatro participantes com encantos,
ao mesmo tempo. Não sabemos dizer como um deles consegue monopolizar o direito ao
canto de sua linha, em detrimento dos outros. Todos os encantos são atendidos, quanto
ao pedido de vinho da Jurema, quaki cheio de fumo e maracá para balançar. Segundo a
compreensão dos Truká, estaríamos diante de uma situação muito problemática se um
encanto chegasse e não encontrasse a Jurema preparada, o maracá disponível para ser
usado, além do quaki preparado com fumo. O que se diz é que um encanto se não ficar
satisfeito pode não querer sair, o que implica numa situação desconfortável e perigosa.
Desta maneira, pode-se perceber que a invocação dos espíritos dos antigos, dos que
viveram na Ilha da Assunção ou fora dela, implica numa operação extremamente complexa
e arriscada, pois um encanto pode não desejar sair do corpo que se encontra no momento
da possessão. Ao mesmo tempo, se este encanto é bem recebido, isto é, se encontra tudo
o que lhe dá prazer e conforto, não tem motivos para não ser, igualmente, gentil, se
tore.p65 73 17/05/2000, 09:05
TORÉ
74
retirando daquele local e esperando uma próxima ocasião, isto é, outro Particular, para
voltar e encontrar aquelas pessoas gentis.
É relevante especificar que durante a realização do Particular, é possível que apareça
uma entidade que não é identificada pelos truká enquanto um encanto (pois um espírito
de um morto não é encanto, já que durante a vida este deve ter sido um índio ligado a
uma aldeia), fazendo solicitações que são recusadas, como por exemplo, algum espírito
que não aceite beber o vinho da Jurema e solicitando cachaça para ingerir.
O importante é destacar que, na sucessão vertiginosa de encantos subindo e descendo,
alguns deles falam ao grupo, aconselhando atitudes, enfatizando comportamentos e
criticando companheiros presentes e ausentes. Outros encantos, na hora em que se
anunciam, são consultados individualmente, sendo que o Mestre se preocupa em cantar
num tom de voz mais alto e balançando o maracá com mais força, de forma a que se
torne impossível qualquer um dos presentes ouvir o que se está conversando. Após o
encerramento de cada Particular aproveitamos para perguntar a algumas pessoas o que
se consulta com um encanto e ouvimos como respostas que abrem um campo mais
vasto de possibilidades: saúde, com prescrição de tratamento; problemas familiares;
decisões sobre negócios; pedidos de ajuda; aconselhamentos amorosos.
Como se pode perceber, o papel do Mestre é possuidor de grande autoridade e que se
constrói para fora da situação do próprio ritual. No comentário feito acima podemos
destacar como esta pessoa permite que alguns dos participantes possam ter acesso a
determinados encantos e os preciosos conselhos que daí advém. Da mesma forma,
ouvimos de um Mestre, de que em Particular que ele realiza somente alguns encantos
podem aparecer. Esta afirmação nos motivou a um pedido de explicação, que foi
parcialmente atendido. O Mestre nos disse que pelo balanço do maracá, pela linha que
se escolhe puxar e pelo uso do apito, aliado a capacidade que um bom Mestre deve
possuir, torna-o capaz de sentir quais são os encantos que estão próximos, de modo que
se é capaz de chamar ou impedir a aproximação destes encantos. Da mesma maneira,
esse Mestre nos disse que se um encanto ou mesmo um espírito tentar forçar a entrada
no ritual, ou comportar-se de maneira inconveniente, ele é capaz de mandar os seus
espíritos protetores pegarem este elemento e o prender bem no meio do rio, dentro de
uma pedra, de modo que ele não vai mais poder chegar no meu trabalho. Ser um Mestre
é, dessa maneira, ser possuidor de um conhecimento que se traduz em poder, tanto dentro
do espaço ritual, como também fora dele, pois esses chamados espíritos protetores são
extremamente fiéis e habilitados a cumprirem com os desejos do seu dono. Esta questão
é abordada com bastante descrição por muitos dos Truká, já que se tem presente um
temor de se estar indo contra alguém que é reconhecido enquanto uma pessoa poderosa.
A única maneira de se lutar contra tal situação é armando-se com as mesmas armas, isto
é, aprendendo-se os segredos do Particular.
No primeiro Particular a que assistimos tinha um grupo de, aproximadamente, 70
tore.p65 74 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
75
pessoas, entre participantes e expectadores, sendo que a diferença entre estes dois papéis
é tênue, pois com exceção das crianças, a que se permite a tudo olhar, mas são instados a
manter uma distância da mesa, todos os outros podem balançar o maracá, acompanhar
as linhas, beber da juremeira e da Cura, além de fazer uso dos quaki. A participação no
Particular não implica na obrigação de se receber o encanto, pois se considera isto como
um dom, que não pode ser obtido, resultando de nascimento. O que a prática traz é
apenas um controle maior sobre seu próprio corpo e a intimidade com alguns encantos,
que terminam funcionando enquanto um defensor, pronto a lutar contra forças maléficas
que podem tentar tomar e prejudicar o aparelho.
Um Mestre do Particular nos disse que todas as vezes que um encanto vem, a pessoa
que está cedendo o seu corpo, ao abandoná-lo ao encanto, se retira e vai para o reino
dos encantados. Normalmente, ao retornar ao corpo, é pouco provável que se guarde
uma lembrança dessa experiência no reino dos encantados. E mesmo quando tal coisa
acontece, é recomendado que não se conte para ninguém aquilo que foi experimentado.
O que nós ouvimos de diversos participantes, em conversas informais e discretas, nos
permitem dizer que muitos lembram da experiência e são capazes de descrever o reino
dos encantados, que é situado no fundo do rio e possuem tudo aquilo que o mundo
cotidiano possui, com a grande diferença dada pela riqueza e pela permanência. De
modo que ouvimos descrições de castelos de ouro, de riquezas e farturas. E da presença
dos encantos, que são senhores desses domínios e onde o tempo não passa.
Dos muitos relatos ouvidos e perguntas respondidas, pode-se perceber que a adesão
ao trabalho de caboclo (denominação também usada pelos Truká para se referir ao
Particular) advém de alguma dor extremamente forte, que não é curável através dos
recursos tradicionais e que pode levar até a loucura. Este sofrimento pode desembocar
na visão, levando a pessoa a irradiar, o que significa que esta adquire a possibilidade
de entrar em contato com os encantos, que se apossam da cabeça e do corpo da pessoa.
Todos os relatos ouvidos têm em comum um momento em que se foi obrigado a buscar
a ajuda de outros iniciados no ritual, de maneira que só se obtém o bem estar físico pela
adesão ao ritual.
Os Truká acreditam que a Jurema torna-se mais forte e mais perigosa conforme se
esteja mais próximo da caatinga, pois é aí que se encontra o coração da força da Jurema.
Nesse sentido, coloca-se a ilha (qualquer que seja) como um local escolhido e necessário
para se fazer o Particular, pois desta forma a junção de terra e água favorece as correntes
da água, que são as protetoras do grupo Truká. Em última instância, nos foi dito que
desde o primeiro Capitão da Assunção (em tempos imemoriais) até o Capitão Acilon,
toda a força deste grupo se encontrou nas correntes da água. Em oposição ao grupo
Atikum, por exemplo, que é da Serra Umã (município de Carnaubeira da Penha,
Pernambuco) que encontra a sua força nas correntes da mata.
Um dos Mestres nos disse que não gosta de mexer com as correntes da mata, nem
tore.p65 75 17/05/2000, 09:05
TORÉ
76
fazer trabalho na caatinga, pois tem que se saber o que se está fazendo, senão pode-se
perder o controle, chegando até a se ter morte, com um participante sendo levado para o
lugar dos encantos. Transcrevemos um trecho da conversa:
Os que moram no fundo do rito são a Mãe Dágua e todos os seus (...) eu não falo do
bicho dágua porque muita gente iria dizer que era mentira (...) o fumo é usado porque
serve para tirar e levar tudo de ruim que possa estar presente, por isso eu uso o quaki
para jogar fumaça do ombro até a mão, de jeito que o que estiver de ruim arrodiando o
lugar é carregado. Eu sei que tem luar onde se está trabalhando contra, mandando
correntes de esquerda para esculhambar com você e com o seu trabalho. (...) Só que
minha força está no meu maracá e com ele ninguém pode e (..) não é a semente que eu
coloco que dá a força, a minha força está em outro lugar, e é por isso que ele soa assim.
(...) a diferença entre o Particular e o Xangô é que nós fazemos um trabalho de caboclo,
onde a força sai da Jurema e tudo é pela direita, e eles não, só trabalham com a esquerda,
com as linhas do calomblé (candomblé), só fazendo o mal sempre, enquanto que nós
não.(Mestre Antônio Chico)
Os papéis de Mestre e Juremeiro sempre foram alvo de profundas disputas, e até
hoje entre os Truká tal questão se coloca. Talvez por isso, ainda hoje tenhamos o
conhecimento mais ou menos socializado quanto ao Toré, bem menos socializado quanto
ao Particular, embora não se pratique nenhum dos dois com muita constância e com
muita publicidade. Acilon é pensado por muitos como o primeiro Mestre nesta história
mais recente entre os Truká. Do mesmo modo, é também Acilon associado ao papel de
Capitão e de Grande Chefe. Entre seus aliados e seguidores, apenas alguns foram iniciados
nas mais íntimas práticas rituais, e dentre estes, alguns terminaram se tornando Mestre
ou Juremeiro. Esta possibilidade concretizada implicou e implica necessariamente na
presença de seguidores, não só no ritual. Desta maneira, os filhos de Hermenegildo
(filho adotivo de Acilon) tiveram um papel de destaque na vida ritual e política dos
Truká. Um grande Mestre, que já foi Cacique, é filiado a família de Acilon, pois foi
casado com uma sobrinha deste. Os seguidores de Antonio Cirilo (antigo Contra-Mestre
de Acilon) escolheram junto aos mais próximos e fiéis ao falecido líder àqueles que
poderiam continuar o ritual. De modo que, quando nos debruçamos na vida dos Truká
e procuramos compreender o significado do Toré e do Particular nos defrontamos com
um campo onde se exercita um tipo de conhecimento que se transmite ao exercício dos
cargos de autoridade. Além do que, não parece possível aos Truká contar sua história,
suas especificidades, sem que se conte o processo pelo qual eles puderam recuperar o
conhecimento e a prática do Toré e do Particular.
tore.p65 76 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
77
Nota do autor - O presente texto é uma revisão do capítulo 4 da nossa dissertação de mestrado
(ver Batista 1992) com modificações. Como é possível perceber ao se observar a bibliografia
mantivemos laços de pesquisa com o Povo Truká ao longo dos últimos anos, o que nos permite
manter a descrição realizada em 1990. Durante o curso de mestrado realizado no PPGAS/MN/
UFRJ contamos com bolsa da CAPES e dois auxílios financeiros que permitiram a execução de
parte do trabalho de campo).
tore.p65 77 17/05/2000, 09:05
TORÉ
78
Bibliografia
AGOSTINHO, Pedro (org.)
(1988) O índio na Bahia. Em: Revista Cultural. Nº 1. Salvador: Fundação Cultural do Estado da
Bahia.
BARTH, Fredrik
(1969) Los grupos étnicos y sus fronteras. México: Fondo de Cultura Econômica, 1976.
BATISTA, Mércia Rejane Rangel
(1990a) Os Turká da Ilha da Assunção. Projeto de solicitação de bolsa para a redação da dissertação
de Mestrado. PPGAS/ MN/UFRJ.
(1990b) Turká da Ilha de Assunção. Da aldeia encantada ao desencantamento da aldeia. Relatório das
atividades desenvolvidas no decorrer da viagem a área indígena Truká, nos meses de dezembro
de 1989 a janeiro/fevereiro de 1990. Fundação Ford/PPGAS. Mimeo.
(1992) De caboclos da Assunção a índios Truká: estudo sobre a emergência da identidade étnica Truká.
Dissertação de Mestrado, PPGAS/MN/ UFRJ.
(1996) De Capitães e Aldeias apontamentos sobre os Tuxá e os Turká In Cadernos de Ciências
Sociais. UFPB. Nº 05, julho/dezembro de 1996. (17-24).
(1996) Vídeo Cienciazinha dos Turká. 11 minutos. (em parceira com Rachel Rocha).
(1997a) Vídeo The Turkas Women Feelings. 14 minutos. (Em parceira com Rachel Rocha).
(2000) O desencantamento da aldeia. Relatório Circunstanciado de identificação e delimitação
da Terra Indígena Truká GT Portaria Nº 065/ORES/FUNAI/99. Mimeo.
GALVÃO, Sebastião de Vasconcellos
(1897) Diccionario chorografico, historico e estatistico de Pernambuco. Recife.
HOHENTHAL Jr., William D.
(1954) Notes on the Shucurú indians of Serra de Ararobá, Pernambuco, Brazil. Revista do Mus.
Paulista, v. VIII, N. S., São Paulo, 1954.
(1960) As tribos indígenas do médio e baixo São Francisco. Em: Revista do Museu Paulista.
(Nova Série, vol. XII). São Paulo.
LEITE, Serafim. OSB
(1945) História da Companhia de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro. 10
Tomos .
tore.p65 78 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
79
MOTA, Clarice Novaes da
(1987) As Jurema Told Us: Kariri-Shoko and Shoko mode of utilization of medicinal plants in the context
of modern northeastern Brazil. Ph. D. thesis. The University of Texas at Austin, may.
NASSER, Elizabeth & NASSER, Nássaro.
(1988) Tuxá. Em: AGOSTINHO, Pedro (org.) O índio na Bahia. Em: Revista Cultural. Nº 1.
Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia.
PEREIRA DA COSTA, Francisco A
(1951-54) Anais Pernambucanos. Recife: Arquivo Público Estadual/ Secretaria do Interior e Justiça.
10 volumes.
PETI Projeto Estudo sobre Terras Indígenas no Brasil
(1993) Atlas das terras indígenas do Nordeste. Rio de Janeiro: PETI/ PPGAS/ Museu Nacional/
UFRJ.
PIERSON, Donald
(1972) O homem no vale do São Francisco. Com colaboradores. Rio de Janeiro. Gráfica do IBGE.
3 tomos.
tore.p65 79 17/05/2000, 09:05
TORÉ
80
tore.p65 80 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
81
MORALITAS CABOCLA
Ugo Maia Andrade
O ponto
Uma das propriedades comuns às etnografias de sociedades indígenas com longa
data de contato e interação com segmentos de sociedades nacionais é a análise de suas
formações ou reformulações enquanto coletivos produzidos por identidades
particulares geridas dentro de quadros de onde emergem fronteiras socio-políticas. No
passado histórico ou no presente etnográfico. As etnografias sobre etnogêneses, no entanto,
não são do terreno exclusivo da etnologia de grupos misturados ou com prolongada
história de contato e despontam como caminhos possíveis de análise de processos
contínuos de produção de identidades por sociedades ameríndias face a novos contextos
históricos, o que inclui grupos da Amazônia legal recém contatados pelo órgão tutor
oficial. Tal paisagem sociológica, que está longe da aridez das concepções substancialistas,
desponta com maior viço quando aceitamos que: a) sociedades ameríndias são sistemas
de e em interação e b) a natureza da cultura é a invenção (Wagner, 1981[1975]), na
mesma ordem que a antropologia inventa (e reinventa) a cultura como seu domínio
naturalmente constituinte. No Brasil e alhures, a produção destas etnografias vem
contemplando o elemento étnico como o marcador constitutivo principal (ou um dos
principais) de identidades e continua uma tradição que, dentro da disciplina, tem sido o
baluarte de linhagens dedicadas a estudos de situações de contato, processos sociais e
contextos interétnicos de interação e de disputas políticas e simbólicas.
Uma leva significativa e, de certo modo, heterogênea de estudos desta natureza
tem sido desenvolvida com grupos do Nordeste do Brasil e, não obstante sua
heterogeneidade, compete marcar que o foco nos processos sociais vem se mostrando
eficaz tanto na elucidação de formas locais de agência política quanto na comparação
entre modelos de etnopolítica, o que possibilita, dentre outras coisas, uma melhor
visibilidade da multiplicidade e diferença internas a estes grupos. A melhoria na
visibilidade de tais unidades sociais que se constituem como formas históricas deve-se,
sobremaneira, ao acento que se atribui ao político (entendido como uma instância
articuladora da vida social e, portanto, não apartada da cosmologia, das crenças ou das
idéias) enquanto fator estruturante. Desta forma, a baliza localiza-se nas fronteiras externas
tore.p65 81 17/05/2000, 09:05
TORÉ
82
e nos processos relativos à sua manutenção conforme o receituário proposto por Barth
(1969) sem, entretanto, haver necessariamente o descuido com a cultura. Não cabe
aqui nenhuma revisão desses estudos, com os quais minha própria etnografia sobre os
Tumbalalá do norte da Bahia está perfilhada de certa forma (Andrade, 2002).
1
Foi a partir do trabalho etnográfico com este grupo do rio São Francisco que procurei
direcionar a atenção para os modos internamente distintos deles conceberem sua presença
em um mundo social específico e, assim, sua pertença a uma identidade em devir. O
ponto deste artigo é, pois, as variações de presença e pertença entre os Tumbalalá, ou os
modos deles estarem e se situarem em um mundo que tanto emerge de relações quanto
as cria. A idéia de presença é de lavra fenomenológica e o acento que procuro a fim de
entender qual o peso e o papel das moralidades tumbalalá na formação de possíveis
contextos de produção de uma visão única de sua identidade, e uma visão idêntica da
sua unidade (Bourdieu, 1998[1989]: 117) desloca o fator constitutivo da alteridade
do étnico para o ético. Não é meu desejo (nem aspiração), entretanto, formular adaptações
para um roteiro antropológico de filosofias humanistas que concebem o movimento para
a alteridade (oposto radical da ipseidade) como fundamento do social, ou a ética como
2
filosofia primeira.
Minha idéia, penso, é simples (o que não lhe garante, é claro, automaticamente
viabilidade) e pretende-se etnograficamente amparada: os Tumbalalá dispõem de distintas
moralidades que gravitam em torno de regimes de toré e elas são produtos das formas
como indivíduos e famílias que compõem o grupo vêm participando historicamente da
rede regional de diálogo interétnico e avaliando tais participações. Tais premissas
conduzem a uma noção plenamente histórica de presença e permitem visualizar a dimensão
vivida e aplicada das moralidades. Parto de dois pontos que abordarei melhor adiante: 1)
valores morais são um dos aparatos cognitivos disponíveis à classificação e ordenação do
social e 2) como o signo lingüístico, sua natureza é diacrítica e o que determina uma
moralidade face a outra não é seu conteúdo, mas as relações estabelecidas entre os valores
nela presentes. Em relação ao primeiro ponto, a exposição a seguir sobre a natureza
cognitiva do valor resume o que tenho em vista:
O problema filosófico sobre o valor enfoca três aspectos conectados: primeiro, sobre
qual o tipo de propriedade ou característica de algo que tenha valor ou seja de valor;
segundo, sobre se ter valor é um assunto objetivo ou subjetivo, se o valor repousa no
objeto ou se é uma questão de como nos sentimos em relação a ele; e terceiro, tentando
dizer que coisas têm valor, são avaliáveis. Este aproxima-se da questão da natureza
do bem. Em relação ao primeiro aspecto, o valor de uma coisa é claramente não uma
propriedade desta que pode ser discernido pelos sentidos ou por instrumentos científicos
de mensuração. Isso pode ser porque o valor é uma propriedade sui generes, requerendo
um tipo especial de percepção ou processo de pensamento para detectá-lo. Ou pode ser
tore.p65 82 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
83
uma propriedade relacional de coisas, tão quanto elas reúnem necessidades humanas
(Honderich, 1995: 895).
As variantes de combinações de valores morais idênticos e compartilhados
coletivamente cuja matriz principal é o catolicismo popular regional emergem nos
regimes de toré apresentados pelos Tumbalalá e são instruídas por experiências históricas
diferentes dentro da rede regional de intercâmbios rituais e políticos. A consequência
primeira que advém de tal afirmação é que, no cenário etnográfico de demanda por
interlocução com o Estado e de disputas internas pelo poder de enunciar (para fora e
para dentro) a história tumbalalá, os valores morais não se consomem em seu uso
programático. A conclusão pelo esgotamento, de estilo imediatista, deriva mais da análise
do conteúdo e uso dos valores que de suas relações internas em regimes de moralidade
historicamente constituídos. Como indiquei há pouco, é a história de experiências vividas
por famílias e indivíduos na rede de comunicação interétnica regional que instrui as
escolhas de combinações de valores que, no conteúdo, são os mesmos, permitindo a
decantação de distintas moralidades visíveis no toré e ativadas para marcarem diferenças
3
entre núcleos político-rituais concorrentes. Mais adiante utilizo a etnografia para
demonstrar como isso ocorre.
Minha escolha, portanto, é pelo entendimento das moralidades enquanto produtos
contextuais, relativos e históricos decorrentes de processos contínuos de diferenciação
que tem no político seu veículo potencial e no ritual a sua linguagem. Compartilho o
princípio defendido por Overing (1985; 1995) e Cardoso de Oliveira (1996; 1998),
dentre outros, de que a antropologia deve também ocupar-se de temas tratados pela
filosofia como metafísica, ontologia, ética, lógica, estética e teoria do conhecimento
delegando para si alguma autoridade a fim de abordá-los enquanto produtos sociais que
devem ser vistos à luz de epistemologias locais (e portanto, alternativas mas não por
isso menos verdadeiras às nossas). Uma questão que decorre desta posição diz respeito
à boa diplomacia acadêmica: adentrar em assuntos tradicionalmente abordados pela
filosofia não seria quebra de etiqueta ou invasão do pátio alheio? A segunda remete ao
nosso campo disciplinar: pode a antropologia tratar de temas filosóficos da mesma forma
como trata do parentesco, do ritual e das redes de intercâmbio?
Um mal-estar interdisciplinar poderia se instalar a partir de respostas, respectivamente,
negativa e afirmativa a essas questões se a própria filosofia contemporânea não admitisse
a relatividade de princípios subjacentes aos seus temas. Um caminho de meandros, idas,
vindas e atalhos paralelos dentro da história da filosofia e de sua relação com a etnografia
que Overing (1995) mapeou com destreza, salientando em outro trabalho (1985) que o
problema da moralidade e dos valores - um campo proeminentemente filosófico - não
está apartado da racionalidade nem é inatingível pelo conhecimento empírico, mas
perpassa os contextos em que as etnografias são desenvolvidas.
tore.p65 83 17/05/2000, 09:05
TORÉ
84
Contra pontos
Para Cardoso de Oliveira, os valores e a moralidade já ocuparam um lugar na agenda
da antropologia e foram exilados pelo espectro do relativismo como a condição para o
firmamento do cânone disciplinar:
O tema da moralidade é frequentemente tratado no âmbito da filosofia e muito raramente
ele tem sido abordado pelos antropólogos. Estes parece haverem delegado o problema moral
para aqueles (talvez os filósofos) que se sintam mais à vontade para enfrentá-lo, sobretudo
quando o desenvolvimento do tema pode conduzir o antropólogo para caminhos imprevistos
e de difícil saída no âmbito de nossa disciplina. Refiro-me especificamente à questão do
valor e, consequentemente, do juízo de valor - desde que a moral sempre o pressupõe -, tão
ameaçador para quem (certamente, e acima de tudo, o antropólogo) foi treinado para
exorcizar o fantasma do preconceito em qualquer de suas manifestações [...] É curioso
verificar que, apesar da moralidade, como conceito, estar presente nos primórdios da
antropologia, sua exclusão parece ter sido senão a condição, pelo menos umas das condições
que ensejaram a criação de nossa disciplina [...] (ib.: 1996: 52-53).
O relativismo não deve ir para a fogueira por isso. Por certo, deve-se aos relativismos
fundamentalistas que já estiveram presentes na disciplina, e nos prontuários do fazer
antropológico, como sua medula boa parte da responsabilidade pela diáspora da
moralidade, assim como por garantir que ficássemos refratários a esse tema e a outros
(alguns hoje sob a guarida da filosofia ou das ciências biológicas). Isto porque toda
sombra universalista deveria ser atacada com virulência exemplar (ofensiva que revelava,
no partido dos beligerantes, posições pró essencialismos em busca de coerências internas
às culturas). A retomada dos valores como tema da antropologia só é possível quando
reconhecemos que, em relação ao espectro de relativismos fundamentalistas, só nos
cabe exorcizá-lo, viabilizando aquelas questões (de moral e ética) como sendo passíveis
de reflexão e de investigação antropológica (Cardoso de Oliveira, 1998: 170).
Tal esforço tem sido feito por este antropólogo brasileiro que nomeou o diálogo com
a ética do discurso de J. Habermas e Karl-Otto Apel (com tonalidades diferentes para o
assunto) como caminho possível de recuperação da moralidade enquanto objeto de reflexão
antropológica. Inspirada em tópicos da filosofia kantiana e na hermenêutica, a ética do
discurso crê na possibilidade de se alcançar o consenso lastreado pela racionalidade
humana e pela competência comunicativa que expõe o homem à relação dialógica
(Habermas, 1996[1983]). Mesmo demonstrando etnograficamente encontros bem
sucedidos entre campos semântico-culturais distintos mediados pela argumentação e
racionalidade condutoras de consenso caso do abandono do infanticídio pelos Tapirapé,
nos últimos anos 50, que foram convencidos por missionárias que atuavam entre eles
Cardoso de Oliveira reconhece as limitações da ética do discurso para a antropologia por
tore.p65 84 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
85
deixar um resíduo de incompreensão na relação dialógica quando a interlocução envolve
membros de culturas absolutamente diferentes (ib.: 1998: 190). Em tais circunstâncias,
a possibilidade de se ter uma autêntica comunidade de argumentação e comunicação
termos propostos por Apel (1994[1990]) depende da observância do princípio de
simetria entre os argumentadores. Esta é a condição a priori da ética habermasiana e que
motivou a crítica à hermenêutica de Hans Gadamer.
À primeira vista interessante para se pensar situações limites de choque entre
moralidades em cenários interétnicos, o uso da ética discursiva desliza, entretanto, para a
polarização e totalização em universos semântico-culturais daquilo que se apresenta
como socialmente diverso quando dirigimos a atenção para os sujeitos e suas experiências.
Por outro lado, o pressuposto da racionalidade argumentativa humana (elemento
universal) inibe o reconhecimento de éticas locais, não obstante o reconhecimento de
diversas moralidades que, a rigor, compõem campos semânticos diferentes. Em termos
mais sintéticos, para a ética do discurso a diversidade moral não conduz à relatividade
4
ética , o que, caso contrário, seria reconhecer que não há meios racionais possíveis de
decisão entre diferentes julgamentos morais e a distinção entre verdadeiro e falso não se
aplica propriamente a eles (Ginsberg, 1962 [1956]: 100).
A presença comum da moralidade nas sociedades não deve ser confundida com
um universalismo moral, pois a única maneira de se conceber que a moralidade é
universal é em seu sentido formal de que em todo lugar encontramos regras de conduta
prescrevendo o que é para ser feito ou não [...] Atrás de tal similaridade de forma, há
uma considerável diversidade de conteúdo (ib.: 101). Percebo que somente há sentido
em abordar antropologicamente os fatos morais enquanto duplamente relativos; em
suas condições objetivas de ocorrência (situando os contextos próprios em que se dão
e, de certo modo, condicionam os julgamentos e as ações) e na sua dimensão
subjetiva (contemplando os sujeitos como aqueles que interpretam as situações em
termos de valores). Qual o risco do retorno aos relativismos ortodoxos? Será nulo se
consideramos o valor como da ordem do conhecimento, deixando à parte os juízos que
deles advém. Essa posição vem sendo adota por algumas matrizes filosóficas
contemporâneas que, utilizando o relativismo, consideram a necessidade de não se
fazer da moralidade uma metafísica dos valores:
[...] os relativistas tradicionalmente se vêem como oponentes ao absolutismo.Talvez
sem exceções, os relativistas repudiem a idéia de que existem verdades morais absolutas.
Eles negam que haja padrões universais de valores morais verdadeiros para toda
humanidade ou princípios universais de dever e obrigações morais que se apliquem a
todos. Podem concordar que alguns padrões e princípios podem ser rejeitados com base na
razão, mas negam que haja qualquer contexto deles que, legitimamente, determine como
todos os seres humanos devem agir (Arrington, 1989: 192-193).
tore.p65 85 17/05/2000, 09:05
TORÉ
86
Com tal postura, o perigo metodológico do insulamento dos valores em universos
morais incomensuráveis (já que não há verdades comparáveis...) estará afastado e o
espectro de relativismos fundamentalistas mantido à distância. A exposição de tal anatomia
implica a aceitação de que o domínio da moralidade nada tem de transcendente às
dinâmicas societárias e que os valores são produzidos na interação cotidiana, ratificados
e institucionalizados como qualquer outro produto social (Andrade, 2002: 160). Ademais,
estão abertos às novas investidas de sentidos pelos sujeitos históricos, qualidade que os
definem como elementos que guiam as ações humanas porque, antes, classificam e
ordenam relações em esquemas ideais e não porque, a priori, permitem uma avaliação
destas mesmas ações.
Sugiro que a função primária da moralidade é criar e recriar valores que funcionam
diacriticamente entre si a fim de produzirem classificações para ações, condutas e
procedimentos relativos a determinados assuntos da vida social. Os julgamentos como
atos morais são conseqüências destas classificações e não produtos de uma razão
transcendental encapsulada nos sujeitos (ib.: id). É tomando este partido que pretendo
construir meus argumentos sobre as moralitas vigentes entre os tumbalalá situando-as
enquanto produtos de um devir histórico associados aos diferentes modos que eles
manifestam de viverem e perceberem relações de diálogo interétnico e de trocas rituais.
Eles
A porção do rio São Francisco que faz a divisa entre os estados da Bahia e de
Pernambuco experimentou no passado uma grande concentração de aldeias missionárias
comandadas, sobretudo, por capuchinos e franciscanos. A expansão do projeto missionário
na região foi de certo modo promissora considerando-se o número de missões
estabelecidas com razoável longevidade porque havia muitos índios a catequizar e a
estratégia adotada conseguiu ser pertinente com o ambiente social e geográfico nos quais
eles viviam. Nas relações intergrupos, o destaque é para as redes de aliança e de
comunicação interétnica vigentes nesse sertão e cuja existência histórica pode ser
documentalmente inferida dos acervos de arquivos públicos e eclesiásticos e de escritos
5
de missionários . As informações a este respeito tornam-se mais contundentes quando
os temas conduzidos são a mobilidade desses grupos durante as fugas das reduções
missionárias ou as formações de alianças que visavam investidas contra os currais de
bois, missões ou povoados de colonos. Imperativo, ou não, de um espaço físico onde os
nichos ecológicos dispersam-se em ilhas ao longo do São Francisco (também locais de
instalação das missões), os missionários capuchinhos adotaram estratégias de catequese
que visavam a produção de uma contigüidade entre as aldeias insulares da região através
da criação de centros missionários (técnica administrativa) e de espetáculos litúrgicos
dominicais assistidos por missionários e índios de outras aldeias a fim de impressionar os
autóctones e persuadi-los da superioridade da fé cristã (Andrade, 2002).
tore.p65 86 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
87
O resultado da longa coexistência entre índios e missionários é hoje uma extensa
malha regional onde se articulam heranças e identidades ligadas aos antigos grupos kariri
reduzidos às missões das ilhas e margens na porção mais ao norte do rio. É nesse tecido
histórico que estão os Tumbalalá, voltados para um passado que os liga à aldeia do Pambú,
estabelecida na ilha da Assunção durante os séculos XVII e XVIII. Para boa parte deles,
o momento da autoconsciência de uma alteridade indígena está cristalizado na invenção
do terreiro de toré do São Miguel (por volta de 1948), impulsionada, então, pelas relações
interétnicas com os Truká, Atikum, Tuxá e outros índios do sertão próximo ao rio São
Francisco; este também seria o momento em que as noções de um território e uma história
indígena passariam a ser conjuntamente tematizadas.
Separadas por mais de 200 anos de hiatos históricos, essas redes indígenas de
intercâmbios relatadas pelos missionários e as contemporâneas que produziram os
Tumbalalá são equiparáveis apenas na forma e demonstram que relações regionais
interétnicas cruzam a história com muito mais fôlego que tradições ou pacotes culturais.
Isto é percebido ao se cotejar as alianças formadas entre grupos distintos presentes nas
missões ao longo do rio São Francisco visando as fugas das reduções indígenas ou
ataques a inimigos comuns e aquelas que, tomando lugar a partir do segundo quartel
do século XX, permitiram a formação de uma rede indígena de apoio que suportou as
etnogêneses truká e tumbalalá; em ambos os casos, não obstante a fragmentação e
recombinação cultural das unidades sociais incentivadas pelos ajustes coloniais, mantém-
se os arranjos multiétnicos como agentes políticos transformadores da história regional.
Isto não implica, entretanto, no automatismo do tipo, ao mudarem os padrões das relações
intergrupos, mudam suas culturas (ou vice-versa); nem na anuência da separação entre
6
cultura e sociologia. Tal constatação, que não é mera advertência protocolar, revela uma
suspeita sobre o tipo de contigüidade possível entre os grupos sociais do São Francisco
que participavam das redes interétnicas do passado e os que hoje vêm sendo alvo das
etnografias produzidas sobre a região.
Hoje há aproximadamente 200 famílias auto-reconhecidas e reconhecidas como
Tumbalalá situadas em uma única aldeia ainda não homologada, na margem direita do
curso sub-médio do rio São Francisco, entre os municípios baianos de Curaçá e Abaré.
o o
O povoado de Pambú (S 08 33 W 039 21), sede simbólica da aldeia e antigo centro
missionário capuchinho, é a principal referência histórica e geográfica, além da ilha da
Assunção (território dos índios Truká) defronte a ele. Entre essas famílias há expressivas
distinções relativas às relações que mantém com as histórias indígenas local e regional
diferenças anunciadas principalmente no modo de representarem e viverem o universo
7
do toré e dos encantados determinando a forma como elas elaboram sua pertença ao
grupo. Tal heterogeneidade pode ser parcialmente atribuída às diferenças nas trajetórias
dessas famílias, o que não impede que famílias cujos ascendentes são provenientes de
outros lugares esforcem-se mais para afirmarem-se enquanto Tumbalalá, ao passo que
tore.p65 87 17/05/2000, 09:05
TORÉ
88
outras com ascendência reconhecidamente local esquivem-se à identidade.
. .
o
08 TI Tumbalalá
Paulo Afonso
Juazeiro
o
10
BAHIA
.
o
12
Salvador
o
14
o
16
o
18
o o o o o
46 44 42 40 38
Localização da TI Tumbalalá
Desde as primeiras ações visando uma articulação política que conduzisse ao diálogo
com a FUNAI, com lideranças de outros grupos da região e com agentes de apoio da
causa indígena, divergências internas de projetos começaram a se manifestar,
impulsionando as clivagens políticas. Esses projetos distinguem-se não tanto em relação
aos fins que visam (o futuro), mas aos meios que utilizam, já que as diferenças estão
radicadas nas formas de concepção do passado do grupo. Tais desacordos resultaram na
8
constituição de dois núcleos com discursos distintos; rituais, voltados para o toré, e
político, relativos ao processo de levantamento da aldeia tumbalalá. O gradual
envolvimento das famílias nesses domínios (ritual e político) então orientados por um
projeto étnico, ocorreu em grande medida através da adesão a um ou a outro núcleo e,
aparentemente, foi guiado pelo parentesco; com o correr do tempo percebi evidências
etnográficas de que tais escolhas não repercutiam apenas uma solidariedade entre parentes,
mas assinalavam o modo como as pessoas lidavam com suas experiências e como as
utilizavam em momentos densos.
Para elas, o que estava em jogo não era apenas uma escolha pragmática, uma filiação
política, mas aquilo que acreditam ser a história tumbalalá, mediada por suas próprias
experiências nas redes de diálogo interétnico e de intercâmbios rituais. Em resumo, a
opção formal por um ou outro núcleo representava a adesão a um projeto de história
articulado em um discurso ritual e político. Se essas escolhas nem sempre manifestas
9
como uma preferência clara passavam de alguma forma pelo parentesco , já que os
núcleos político-rituais do São Miguel e da Missão Velha coincidem, grosso modo, com
a aglutinação de famílias próximas, é porque elas expressam por meio desta linguagem
tore.p65 88 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
89
modos análogos de viverem a história das relações interétnicas. Acredito que é a junção
de tais experiências nos respectivos núcleos político-rituais que possibilitam as distintas
moralidades assumidas por eles e que, por sua vez, lastreiam as diferenças entre regimes
de toré.
Nós e os outros
Situo moralidade (ou moralitas) em oposição a sistemas morais (ou ethos) que denote
o compartilhamento entre indivíduos de uma mesma coletividade de um elenco de valores
relativos ao dever ser, entendendo que os valores que guiam as ações dos núcleos político-
rituais são o rebatimento no plano moral de significados derivados de experiências densas
e portanto, são expressões de um estar no mundo e de um modo correto de alcançar o
bem viver. Penso que o toré e os regimes de toré são os modos de se alcançar estas
comunidades morais cuja composição, lastreada em boa parte no parentesco, revela
que parentes são aqueles que dividem não apenas informações biológicas e substâncias,
mas principalmente experiências históricas que, para os tumbalalá, estão referidas aos
modos de participação na rede regional de diálogo interétnico. Melhor ainda, um tipo
de parentesco é constituído a posteriori aos laços efetivos e entendido como um compartilhar
10
de presença no mundo. Assim, é possível a constituição de um parentesco afetivo (não
coincidente com o parentesco efetivo) com base em tais experiências, traduzível em
expressões do tipo aqui é tudo parente ou índio é tudo primo utilizadas
invariavelmente para se justificar laços difusos entre as pessoas, mas plenamente
reconhecível pelas populações indígenas do Nordeste.
Na outra ponta está o que os tumbalalá chamam de regime ou regime de índio, uma
série de procedimentos e observâncias que visam transformar em práticas um corpo de
conhecimentos específicos e exclusivos substancializados no toré e dirigidos aos encantados
e ao coletivo. Arriscaria dizer que a noção de regime para os tumbalalá encadeia elementos
relativos a modos ideais de dever ser e de bem viver, manifestando a ocupação de marcar
planos internos relativos aos valores e seus usos, aproximando-se da noção exposta
11
anteriormente para moralidade. Desta maneira é que um índio regimado não é,
necessariamente, um exímio conhecedor de procedimentos rituais, mas aquele que
compreende a relevância que tem o toré na constituição e manutenção de uma comunidade
indígena e por isso o pratica seguindo as observâncias pronunciadas pelos Mestres e
Mestras, os oficiantes principais. É nesse ponto que a noção de regime de índio se aproxima
de uma moralidade, pois, para os Tumbalalá, o regime está radicado em uma série de
dicotomias envolvendo certos tipos de categorias presentes no complexo ritual do toré
(como toré/xangô, bem/mal, catolicismo/anti-catolicismo).
É preciso recuperar a etnografia para seguirmos adiante, advertindo que, a despeito
da suscetibilidade do assunto abordado daqui para frente, o tema das acusações rituais é
de domínio relativamente público entre os Tumbalalá e está referido em outras etnografias
tore.p65 89 17/05/2000, 09:05
TORÉ
90
sobre outros grupos do Nordeste. Para um Mestre tumbalalá, o maior insulto dirigido
contra sua competência ritual é a incriminação de que ele é um xangozeiro, ou adepto
12
do candomblé de caboclo. Embora os discursos de acusação (e de defesa) reforcem a
oposição entre toré e os desempenhos rituais afro-brasileiros em geral, ambos apresentam
significativas variações internas decorrentes da intervenção performática dos oficiantes
no contexto da comunicação ritual (Barth, 1987), o que autoriza-nos falar de toré ou
xangô, abstraindo as tais variações, apenas como categorias rituais ideais. Conquanto
sujeito à proximidade perigosa com cultos afro-brasileiros que utilizam a jurema e invocam
os encantados, o toré mantém a sua competência para marcar oposição e produzir fronteiras
simbólicas em relação a eles, o que lhe permite conservar o estatuto de ritual indígena e
permanecer incólume ao fato de, na sua própria composição interna (considerando suas
variações), haver uma forte presença de traços oriundos de matrizes exógenas, notadamente
de origem afro-brasileira, mas também católica. Isto é possível porque esses elementos
são constantemente indianizados (ou reindianizados, em se tratando de vestígios de uma
cultura autóctone regional apropriados por outras matrizes) durante a comunicação ritual
entre os oficiantes e a audiência, suspendendo, no espaço e no tempo rituais, a condição
13
liminar e sua dupla pertença semântica.
14
Nos núcleos do São Miguel e da Missão Velha a interseção do toré com repertórios
simbólicos do catolicismo popular do Nordeste não só é evidente como é manifesta
publicamente, reservando-se, entretanto, a função da antítese para o xangô; na ótica dos
Mestres, os elementos atribuídos aos xangôs estão lastreados em valores antônimos aos
do toré verdadeiro e relacionados a um anti-catolicismo, permitindo a comparação
diacrítica entre eles como se fossem análogos excludentes (e não radicados na dupla
pertença citada anteriormente). Desta maneira, além de não gerar tensão no campo
simbólico do toré, os valores atribuídos ao catolicismo popular regional fornecem os
parâmetros que orientam a antítese entre este ritual e o xangô. Essas antíteses são
eloqüentemente visíveis durante uma mesa de toré.
Neste espaço coexistem símbolos cristãos, como o cruzeiro e os santos católicos
evocados sistematicamente nas linhas entoadas durante o ritual, e símbolos de referência
indígena a jurema, os encantados e o cachimbo feito de sua raiz, o quaqui, por exemplo.
A disposição central do cruzeiro e do vinho da jurema sobre a toalha estendida no chão
e que contém os artefatos rituais é propositiva e revela a importância que ambos assumem
no conjunto cosmológico tumbalalá, como certa vez me indicou um dos irmãos Fatum
responsável pela condução do toré no São Miguel. Sem o cruzeiro ou a jurema não há,
em nenhuma hipótese, o toré. Também ao centro, embora um pouco mais deslocado,
está um composto de cachaça, raspa de cedro e alho (chamado de cura) que é queimado
15
antes de ser servido à audiência. Todos estes elementos estão objetivamente representados
em comunhão e complementaridade, no espaço físico do ritual, em sua simbólica e no
16
conteúdo revelado pelas linhas de toré entoadas. O receituário ritual do toré verdadeiro
tore.p65 90 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
91
se encarrega de, previamente, identificar os atos rituais contrários que, se colocados em
prática, podem conduzir a outro campo de eficácia simbólica; o xangô. Estes são, dentre
outros, o ponto (cantar a mesma linha na chegada e partida de um encantado ou uma
única vela acessa ao centro da mesa), em contraste com as correntes da jurema (uma
sequência de linhas de toré e de velas que insinua a comunicação sobrenatural positiva);
os encantados que não são de luz; a cachaça pura (opondo-se à cura, cachaça queimada
e tornada composto terapêutico) e a seqüência ritual incorreta. Todos são análogos a
elementos do toré verdadeiro porque compõem um desempenho ritual cujo veículo
é a jurema (preta) e os destinatários são os encantados (da escuridão) mas excludentes,
pois radicados em um outro domínio valorativo (o anti-catolicismo). Tudo se passa como
17
se as forças originárias evocadas fossem por si só perigosas e indomáveis, mas neutras
em rendimento e abertas à aplicação de propósitos múltiplos conforme a investida
simbólica e o processo de domesticação empregados durante o ritual. A presença ostensiva
de referências cristãs no toré certamente está associada aos efeitos da permanência
missionária e sua empresa evangelizadora entre os índios do sertão do São Francisco ao
longo de quase trezentos anos, mas deve ser contemplada a possibilidade de o próprio
toré ser produto desse encontro intercultural mais o segmento africano.
No domínio das disputas intra grupo, as acusações de improbidade ritual possuem
diferentes qualidades conforme a direção; do São Miguel para a Missão Velha, ou vice-
versa. Penso que isto decorre da forma como as pessoas em cada núcleo mas,
tore.p65 91 17/05/2000, 09:05
TORÉ
92
fundamentalmente os oficiantes do toré representam suas próprias experiências (e as
dos outros) de participação na rede regional de diálogo interétnico. As categorias de
acusação levantadas pelo núcleo São Miguel contra as práticas de toré adotadas na Missão
Velha estão mais dirigidas pelos binarismos que opõem conceitos excludentes radicados
na distinção valorativa entre catolicismo popular e anti-catolicismo (xangô). Assim, acusa-
se o toré na Missão Velha de operar com encantados que não são de luz ou de entoar
linhas propiciatórias de feitiço, típicas de terreiros de umbanda, ou ainda de utilizar,
durante o toré, a jurema preta em conjunto com a malaga (cachaça).
A despeito do fato de ser a acusação da mistura com o xangô a principal forma de
desqualificar ritualmente um trabalho de toré, há sutilezas que permitem o reconhecimento
de que um bom Mestre ou uma boa Mestra de toré sabe utilizar o xangô a fim de se
defender e defender os outros dos perigos que este ritual carrega. Essas ameaças
apresentam-se na forma de agressões sobrenaturais que, encomendadas por alguém
durante um xangô e dirigidas a algum desafeto, produzem doenças, loucura ou
perturbações:
Ele [Acilon Ciriaco da Luz ex-liderança Truká] não trabalhava, ele não trabalhava
nisso [xangô] não. Ele é que dizia, quando estivesse tudo regimado, a aldeia tivesse bem
prosperada, tivesse com todo... podia ser, não era? Aí o índio podia trabalhar no outro
trabalho pra se defender.
(Sr. Aprígio Fatum. Março de 2000)
Diferentemente do que ocorre no núcleo político-ritual opositor, as acusações dirigidas
pelos oficiantes e lideranças da Missão Velha ao São Miguel orientam-se por uma versão
para a fundação do terreiro de toré deste núcleo que atribui aos Truká sua criação no
final dos anos 40 do último século. Tal acusação utiliza o mesmo elemento que, a rigor,
justificaria a excelência ritual do núcleo São Miguel; a participação ativa da família Fatum
principal fornecedora de oficiantes de toré deste núcleo na rede regional de
intercâmbios políticos e rituais (composta, principalmente pelos Truká, Tuxá e Atikum)
durante os últimos anos 40 e 50. Assim, embora reconheçam que os trabalhos rituais dos
Fatuns (e, por extensão, do núcleo do São Miguel) são antigos e distantes do xangô, os
oficiantes e lideranças da Missão Velha atribuem a eles uma natureza truká com base nas
históricas alianças rituais entre, de um lado, as famílias Fatum, Pandé e Santana e, do
outro, as famílias de Acilon Ciriaco da Luz e de Berto Cirilo.
A versão sustentada pelo núcleo da Missão Velha informa que foi somente com o
auspício de Acilon Ciriaco que então procurava um local seguro para celebrar os
encantados após sofrer duras perseguições por parte dos poderosos posseiros da ilha da
Assunção que o terreiro de toré do São Miguel teria sido fundado, por João de Silivina
Fatum, com o claro intuito de ser uma espécie de matriz ritual da ilha da Assunção,
tore.p65 92 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
93
qualidade que teria sido mantida até pouco tempo atrás. Embora um núcleo impute ao
outro atributos desqualificadores diferentes, ambos ocupam-se em por em questão as
práticas rituais do toré oposto; enquanto do São Miguel partem acusações de se trabalhar
com xangô na Missão Velha, este núcleo retribui afirmando que as linhas de abertura
cantadas no toré contrário são truká, além de interrogar sobre a existência do desempenho
de um trabalho verdadeiramente tumbalalá no terreiro do São Miguel.
Qual a importância do triângulo simbólico toré, catolicismo popular e xangô para o
enten-dimento das clivagens políticas entre os núcleos do São Miguel e da Missão Velha?
De que maneira as diferenças políticas são orientadas por diferenças entre moralidades
ou entre concepções sobre o regime de índio?
Que fique satisfatoriamente claro que o referido
triângulo simbólico não paira como um substrato
imóvel a alimentar os valores operados no toré e
que, no limite, eles servem para classificar suas
variantes em um gradiente que vai da pureza à
impureza ritual. Isto porque ele está aberto ao
complexo jogo de atribuições de significados que
toma lugar nas disputas políticas empreendidas
pelos núcleos. Mas aqui o dado peculiar é que as
diferenças entre os núcleos, alegadas nos discursos
políticos, não estão nos conteúdos dos projetos
que, a rigor, concordam com a promoção de
dádivas coletivas mas no toré desempenhado em
cada terreiro e nas histórias para aldeia tumbalalá
nas quais eles se amparam.
Assim, as diferenças rituais entre as lideranças
dos núcleos do São Miguel e da Missão Velha
estão embasadas também em critérios morais
porque denotam matizes de valores reivindicados
em cada núcleo como formadores de seus projetos,
ao passo que são reservadas aos opositores
acusações de caráter privativo (que vão de adoção
de comportamentos condenáveis até o
compartilhamento de idéias prejudiciais à
coletividade) dirigidas a probidade das práticas
rituais do toré. Não é necessário, nem ético,
estabelecer uma tipologia destas acusações,
cabendo guardar que seus conteúdos são variáveis
conforme o contexto (embora geralmente radicais)
tore.p65 93 17/05/2000, 09:05
TORÉ
94
e qualificam os oponentes diacriticamente, ou seja, em oposição àquilo que se deseja
contrastar como um traço moral positivo que é uma propriedade do enunciador e, por
extensão, de seus pares.
Regime de índio
Qual é o regime do caboclo?
O regime? O regime do caboclo é ... quer dizer que é trabalhar pra se regimar e com
ciência, trabalhar pra se regimar, pra receber a ciência, pra saber trabalhar de mais a
mais, não é?
O regime é no trabalho (atividade ritual)?
No trabalho. O índio tem que trabalhar pra se regimar [...] O regime é o nosso mesmo
do trabalho. Se o caboclo entra no trabalho e não sabe, ele tem que regimar.
(Sr. Luís Fatum. Março de 2000).
Os Mestres do núcleo do São Miguel acreditam que o regime de índio se realiza na
plena observância de obrigações rituais relacionadas ao toré e da qual dependem a união
e a solidariedade coletivas. Para ser regimado é preciso trabalhar corretamente dentro
18
dos rigores rituais; oferecer diariamente fumaça do quaqui aos encantados, freqüentar
o toré com disciplina e isso inclui não fazer uso clandestino de cachaça logo antes ou
durante o ritual e não adotar as práticas relacionadas ao xangô. Já na Missão Velha a
ênfase sobre o regime tumbalalá vem das relações interpessoais, embora passem igualmente
pelo toré, esboçando uma ética da solidariedade expressa no ideal do bem comum.
[...] Puxou o ritual dele e eu fiquei com o ritual (do encantado Mestre Manoel
Ramos). E daí por diante comecei a ficar com o ritual de índio, ficou e ficou e fui
trabalhando, trabalhando até que levei pro terreiro. Quando foi no tempo de eu levar
pro terreiro eles [os encantos] disseram: De hoje em diante você vai trabalhar num
terreiro pra beneficiar a quem precisa, fazer caridade a quem precisa.
(Sr. Antônio Lourenço, sobre a contrapartida exigida pelos encantos pela revelação da
aldeia tumbalalá. Março de 2001).
Diferenças à parte, apenas recentemente começou a despontar uma discordância entre
as pessoas que hoje compõem os dois núcleos político-rituais. Com a crescente participação
das lideranças desses núcleos no circuito regional de apoio indigenista, começaram a
surgir contendas entre elas sobre a forma correta de conduzirem o processo de
levantamento da aldeia tumbalalá, impasse que gravitava em torno da formulação de
uma história comum que operasse como a memória da aldeia. Nesse ponto, o núcleo do
São Miguel, em função da antiguidade de seu toré e de sua inserção histórica na rede
regional de diálogo interétnico, estava mais habilitado a ampliar para todos a sua própria
tore.p65 94 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
95
história. Não só foram surgindo os pontos de divergência entre os dois núcleos como
foram sendo criados os elementos que balizariam e balizam as diferenças entre eles e seus
regimes de moralidade. Isto demonstra que as diferenças entre moralitas não estão
substancializadas em representações previamente dadas, mas emergiram ao cabo da
construção dos projetos para, então, servirem como seus validadores.
A fim de clarificar meus argumentos, consideremos algumas trajetórias rituais. Sr.
Antônio Lourenço, da família Barbalho, desenvolveu suas habilidades e conhecimentos
no toré de maneira independente dos Mestres do São Miguel, sendo acolhido e escolhido
diretamente pelos encantos que lhe deram a tarefa de utilizar o toré para fazer o bem à
sua gente (veja narrativa anterior). Sua trajetória ritual não pôde contar com o background
de parentes mais velhos, pois seu pai, o Velho Lourencinho, fervoroso adepto da penitência
e das rezas de São Sebastião, desconhecia o toré, assim como sua mãe, Da. Vitória. Os
avós, idem e seus tios Barbalhos ocupavam-se com seus criatórios de bois.
Sr. Luís e Sr. Aprígio Fatum, ao contrário, viveram um tempo em que sua família
através do pai de ambos, João de Silivina Fatum e outras famílias próximas a eles
(como os Carros e os Pandés) participavam de uma rica comunicação ritual que envolvia,
além de Acilon Ciriaco e outras famílias truká, os Tuxá de Rodelas, os Atikum de Serra
do Umã e outras porções de comunidades indígenas da região. O toré do São Miguel é
parte de um patrimônio ritual oriundo de um diálogo interétnico regional que, na memória
de seus oficiantes, já existia antes dessa época, mas que se intensificou no período de
Acilon Ciriaco. Na Missão Velha, o surgimento do toré é atribuído ao resultado de um
empenho individual e de uma missão delegada ao Sr. Antônio Lourenço pelo encanto da
aldeia tumbalalá, embora a implantação dos trabalhos lá tenha se beneficiado dos
conhecimentos que ele pôde colher freqüentando o toré de seu sogro, então fiel aliado
ritual dos Fatuns.
E são as trajetórias diferentes pelas quais os torés da Missão Velha e do São Miguel se
constituíram que respondem, em última instância, pela susceptibilidade do primeiro em
ser acusado de xangô e pelo prestígio do segundo que congregou e congrega os mais
respeitados Mestres tumbalalá, embora a Missão Velha conte também com grandes
Mestres e Mestras de toré. Penso que estas diferenças determinam, ao menos parcialmente,
a natureza das acusações que cada núcleo, através de suas lideranças rituais, adota contra
o outro, pois, como foi recomendado antes, os regimes de moralidade são constituídos a
partir de variantes interpretativas de valores genéricos idealizados que cada um dos núcleos
entende que faltam no grupo oposto e que podem ser auto-atribuídos como traços
distintivos que sinalizam a superioridade de seus projetos políticos.
Essas variantes são ensejadas pelas experiências diversas que os oficiantes tiveram
com o toré e pela maneira pelas quais elas são revisitadas e avaliadas durante a performance
pública do ritual para (e em parceria com) uma audiência que completa a práxis da
comunicação ritual (Barth, 1987: 85). As moralidades adotadas pelas lideranças da Missão
tore.p65 95 17/05/2000, 09:05
TORÉ
96
Velha e do São Miguel denotam uma disputa pelo poder de enunciar, para uma platéia
interna e externa, a história tumbalalá e utilizam valores como peças importantes de um
arsenal simbólico. Esta contenda desenvolve-se em um espaço não completamente público,
dado a natureza das acusações, e é assimétrica, já que o capital político do núcleo São
Miguel onde está o cacique, oficialmente reconhecido, do grupo, Cícero Marinheiro
é bem maior e agrega a este núcleo mais eficácia política frente a comunidade tumbalalá
em geral e no campo social do qual fazem parte. Seguindo Bourdieu:
A eficácia do discurso performativo que pretende fazer sobrevir o que ele enuncia no
próprio ato de o enunciar é proporcional à autoridade daquele que o enuncia: a fórmula
eu autorizo-vos a partir só é eo ipso uma autorização se aquele que pronuncia está
autorizado a autorizar, tem autoridade para autorizar. Mas o efeito de conhecimento
que o fato da objetivação no discurso exerce não depende apenas do reconhecimento
consentido àquele que o detém: ele depende também do grau em que o discurso, que
anuncia ao grupo a sua identidade, está fundamentado na objetividade do grupo a que
ele se dirige [...] (ib., 1998[1989]: 116-117).
Em resumo, as lideranças dos núcleos político-rituais do São Miguel e da Missão
Velha sustentam diferenças entre seus projetos de levantamento da aldeia tumbalalá
através do uso programático de valores que estão presentes no toré, mas cujos significados
são produzidos e refeitos pelos indivíduos em um contexto de disputa pelo poder de
enuncia-los mais eficazmente a uma ampla audiência que, extrapolando os limites da
própria comunidade tumbalalá, inclui os agentes e agências de apoio e o órgão tutor. São
as experiências rituais de outrora que as lideranças tiveram com o toré que embasam as
expressões significativas para os valores que o ritual encerra e que, a cada sessão pública,
são comunicados na forma de um conhecimento especializado que habilita os oficiantes
que o detém a atuação política em favor de seus projetos de levantamento da aldeia
19
tumbalalá.
Os regimes de moralidade sustentados pelas lideranças visam, como já disse, a
objetivação de distinções nos projetos de ambos os núcleos; o espaço público do toré e do
diálogo com a FUNAI e demais agentes são o ambiente em que a disputa se desenvolve,
mas é no plano não-público que os argumentos referentes aos valores são enunciados na
forma de categorias de acusação. Todas as formulações a cerca do uso programático dos
valores pelos tumbalalá estão fundamentadas, lembro, não na idéia de um ethos coletivo,
mas nas formas distintas de se relacionarem com os conteúdos simbólicos passíveis de
valoração e guardados, sobretudo, no e pelo toré.
Retomemos o regime. Um dos principais produtos gerados pelos desvios e excessos
em relação às observâncias rituais (que, a rigor, visam o bem viver na aldeia) são as
doenças. A etiologia tumbalalá estabelece que uma doença qualquer (física ou psíquica)
tore.p65 96 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
97
poderá ser o resultado de uma agressão sobrenatural quanto mais afastada do regime
estiver a pessoa atingida. As origens de tais assaltos podem ser, como comentei mais
atrás, tanto um feitiço produzido e enviado durante uma sessão de xangô, quanto os
próprios encantados que lançam pequenas vinganças na forma de males a fim de lembrar
aos enfermos o cumprimento de suas prestações rituais. De um modo ou de outro as
doenças são possibilitadas pelo afastamento do regime e, portanto, são da responsabilidade
do próprio doente, já que, ao incorrer nessa inadimplência, abre-se a guarda afastando-
se dos encantados que têm o controle sobre as substâncias e objetos causadores dos males.
Entretanto, não se atribui logo em primeiro plano a causa de uma doença ou de alguma
perturbação física ou mental a um feitiço encomendado no xangô; antes, é preciso que se
tenha em vista algum poderoso inimigo que seja adepto destas práticas e que possua
algum motivo para a agressão ritual ou ter a consciência de que houve um afastamento
das obrigações rituais.
Da etiologia tumbalalá extrai-se o seguinte: toré (representado pelo regime) e xangô
formam um macro sistema de forças antitéticas em tensão permanente cujo equilíbrio
positivo (a favor do toré) é rompido quando o regime deixa de ser corretamente observado.
Indo mais adiante, é possível dizer que o próprio toré é este macro sistema ritual a medida
em que todo toré mantém em si esta tensão devido à sua polissemia. O equilíbrio positivo
tore.p65 97 17/05/2000, 09:05
TORÉ
98
ou negativo deste sistema é resolvido, portanto, no plano das interpretações simbólicas,
porque toré e xangô são derivados de massas homólogas de símbolos. É em função dessa
proximidade latente e não exatamente devido à sua propriedade de desfazer feitiços,
algo possível também com o toré que o xangô pode ter seus índices de impureza e
periculosidade amenizados ou relativizados.
E o trabalho de xangô, mexe com o quê?
O trabalho de xangô? O trabalho de xangô [...] as correntes dele, é diferente... é pra...
tratar de feitiçaria, né? De retirar espírito do mal...Por acaso, um cabra joga um feitiço
em outro, o cabra corre pra lá, não é? Aí lá, ele
retira. É porque nós dizemos que ele [o xangô]
é mais forte. Aqui, nós também retiramos. Se
encostar, porque a gente está sujeito, é sujeito,
num trabalho desse [toré] chegar e baixar um
desses daí [entidade de xangô] [...]
(Sr. Aprígio Fatum. Fevereiro de 2000)
Porque as práticas rituais não são apenas um
conjunto inerte e estruturado de procedimentos é
que as interpretações e atribuições de significados
referentes a elas, efetuadas principalmente pelos
Mestres de toré, dependem de um background de
experiências pessoais. Sr. Aprígio Fatum, notório
Mestre de toré do São Miguel, teve sua esposa
curada de feitiço no xangô, ou numa sessão ritual
análoga, e flexibiliza certas propriedades que, em
outros contextos, seriam essenciais desse ritual e
marcariam uma diferença inequívoca com o toré
verdadeiro. Outros dois Mestres do toré do São
Miguel, Sr. Luís Fatum e sua esposa, Da. Santa, são
capazes de avaliar de maneira bastante diferente a
natureza potencialmente curadora do trabalho de
xangô a partir de suas experiências pessoais,
destacadamente uma oposição mais veemente e
sistemática em relação ao toré da Missão Velha e aos
seus principais oficiantes. Mas isto não os impede de
reconhecer que o uso do xangô por Mestres de toré e
para fins terapêuticos é legítimo desde que eles não
tore.p65 98 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
99
abandonem a prática do verdadeiro toré e que tenham perícia ritual suficiente para
domesticar as forças perigosas imanentes ao xangô.
Isto é possível porque nem sempre há uma linha nítida que separe o toré do xangô; os
oficiantes do São Miguel destacam certos procedimentos rituais que marcam a diferença
entre ambos os trabalhos, mas há uma série de encantados, ou seres análogos, para os
quais não há uma classificação precisa que os ordene em um ou em outro ritual.
Comumente o eixo de diferenciação possui bem e mal como pólos ordenadores principais,
sendo possível neutralizar, em dadas circunstâncias, ordenadores secundários que,
sozinhos, possuiria um sinal oposto ao do ordenar maior ao qual ele foi associado. Dito
de outra forma, seres liminares dependem de atribuições de significados para serem,
contextualmente, ordenados no toré (bem) ou no xangô (mal), comprovando que uma
classificação essencialista para os encantos de toré não funciona.
Final
A existência de projetos políticos rivais entre os tumbalalá (amparados por diferentes
regimes ou moralidades) decorre do fato de não haver, para eles, uma história da aldeia
compartilhada por todos, devido, sobretudo mas não apenas, às diferenças nas trajetórias
das famílias. Diria que o núcleo do São Miguel sustenta um projeto voltado para fora,
apoiado nas trocas simbólicas com grupos vizinhos e na inserção de suas famílias na rede
regional de diálogo interétnico; por seu turno, o projeto adotado pelo núcleo da Missão
Velha está voltado para dentro, pois se apega à autoctonia das famílias Barbalho e
Maurício (duas das principais famílias desse núcleo) e às trocas matrimoniais entre os
membros dessas famílias, cuja finalidade é reivindicar para eles a qualidade de tronco-
velho da aldeia tumbalalá. A etnogênese tumbalalá não consegue unificar ambos os
projetos porque ela é história e é de seu próprio meio que emergem as diferenças internas,
já que esses projetos encontram fôlego nas diversas maneiras que os tumbalalá possuem
de se relacionar com a história regional da comunicação interétnica. Vejamos como essa
multiplicidade interna ressoa nas narrativas sobre o contexto de revelação da aldeia
tumbalalá fornecidas por ambos os núcleos político-rituais.
No núcleo da Missão Velha os atores coadjuvantes da revelação que conduzem Sr.
Antônio Lourenço até os segredos dos encantos são um pai de santo e sua assistente,
então procurados para explicarem o assédio que ele vinha sofrendo dos encantados
(Andrade, 2002: 232-234). Após receber as instruções rituais, ele concentra-se por oito
anos num trabalho intenso e supostamente forte (pois realizado na caatinga), mas isolado
e não compartilhado, como fora a própria experiência com o encantado Manoel Ramos,
patrono da aldeia tumbalalá. Este lhe faculta o ritual da aldeia num encontro direto e lhe
instrui a fundar um terreiro de toré com o claro objetivo dele fazer caridade a quem
precisa, auxiliando enfermos durante os rituais. A revelação assemelha-se a concessão
de um dom que estipula a distribuição da graça através da obrigação da generosidade, o
tore.p65 99 17/05/2000, 09:05
TORÉ
100
que, de resto, representa sua principal credencial política.
Olhando para o São Miguel, há a presença significativa de atores indígenas nas cenas
relacionadas à revelação, pelo mesmo encanto, mas oniricamente ocorrida (e não num
encontro direto durante um trabalho ritual intenso) (ib.: 234-236). O segredo do encanto
recebido por Sr. Luís Fatum é compartilhado com Acilon Ciriaco (ex-liderança Truká,
lembremos) que o decifra e é ele mesmo quem lhe informa sobre a concessão (que
acompanha o segredo) de fundar um terreiro tumbalalá e continuar a praticar o toré, do
modo como os Fatuns e outras famílias já faziam. De fato, todo o ritual relacionado ao
toré executado no São Miguel não foi ensinado ou dado no momento em que a existência
da aldeia tumbalalá - através da localização de seu antigo posto - foi transmitida pelo
encanto. Aplica-se ao toré o valor de uma herança dos ancestrais que marca a continuidade
com um determinado passado e é este continuum que permite o contato com o encanto e
a revelação do segredo. Na Missão Velha, ao contrário, o liame com o passado não é o
toré nem agentes peritos no ritual, mas pessoas que o conhecem transversalmente porque
sua simbólica faz parte também do universo de alguns cultos afro-brasileiros.
Concatenando estas versões com os argumentos sustentados por ambos os núcleos
político-rituais a fim de definirem seus projetos, revela-se que a dinâmica de produção
de valores entre eles está associada ao compartilhamento de repertórios de memória que
remetem a modos diferentes de presença na rede regional de dialogo interétnico e às
formas pelas quais as pessoas percebem sua pertença à identidade tumbalalá. A tensão
entre os regimes de moralidade guardados pelos dois núcleos reflete posturas
interpretativas diferentes diante dos mesmos evento-valores porque há uma
heterogeneidade nas trajetórias, histórias de vida e repertórios de memória das lideranças
do São Miguel e da Missão Velha. Por isso, insisto que as moralidades tumbalalá são
relativas, decorrem de contextos e utilizam-se uma linguagem ritual, o toré, para
expressarem clivagens políticas entre os núcleos.
Com base na etnografia tumbalalá apresentada, acredito ser possível refletir sobre a
constituição das coletividades e dos grupos sociais. Como venho tentando marcar, penso
que os Tumbalalá formam um grupo cujas famílias apresentando trajetórias e histórias
diversas e inserção diferenciada na rede de comunicação interétnica regional atribuem
significados diferentes aos mesmos símbolos partilhados local e regionalmente. Não
obstante tal heterogeneidade, as pessoas que se reconhecem como tumbalalá existem
enquanto um coletivo social a partir da interação entre elas que possibilita a formação de
contextos nos quais esses significados e as ações deles decorrentes podem convergir.
Seguindo as pistas de Barth (1992), é preciso estar atento para o fato de que o
reconhecimento da realidade social e das múltiplas vozes apenas invalida qualquer
explicação da sociedade como um cenário compartilhado de idéias representadas por
uma população (ib.: 32).
Apoiado na etnografia e em uma visão não monolítica das representações sociais,
tore.p65 100 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
101
penso que os Tumbalalá formam uma comunidade de identidade indígena,
contextualmente ordenada em bases étnicas, que compartilha certos elementos simbólicos
referentes à origem, mas apresenta matizes de significados para eles. Isto decorre das
diferenças entre os indivíduos e famílias, suas experiências, trajetórias, idiossincrasias e
biografias (Andrade, 2002: 39). Entretanto, como tentei demonstrar ao longo desse
artigo, a etnicidade é apenas uma das formas pelas quais categorias de identidade podem
ser ordenadas, já que os grupos sociais possuem natureza multiforme devido à sua
composição heterogênea. Tal realidade conduz à determinação de formas de pertença
social a partir de experiências de presença no mundo das relações, como ocorre quando
as moralidades comunicadas pelos núcleos político-rituais do São Miguel e da Missão
Velha configuram-se como uma categoria de identidade possível em contextos de disputas
internas de ordem ritual e política, sobrepondo-se (e não opondo-se) às categorias étnicas
de identidade que emergem em cenários propícios a elas.
Por fim, acredito que uma análise congruente com a composição dos grupos indígenas
do Nordeste deva avaliar a dinâmica da sociabilidade a partir da diversidade dos sujeitos,
considerando as interações entre eles como o momento quando significados são
formulados, revistos e ampliados, mas partindo de repertórios prévios e de experiências
de presença no mundo das relações. Com tal postura recomendada por Strathern (1998)
e sintetizada em seu conceito de sociality que contempla as relações sociais intrínsecas aos
indivíduos vistos como pessoas é possível entender o toré (e o ritual) como um espaço
de relações densas onde as experiências de famílias e indivíduos com a rede regional de
diálogo interétnico (local onde são geridas as etnogêneses no Nordeste indígena enquanto
processos históricos de trocas simbólicas) assumem o comando sobre a formação de
categorias de identidade, voltadas para o ético e não apenas para o étnico.
* Algumas das idéias apresentadas constam do capítulo 4 de minha dissertação de mestrado
(Andrade, 2002), sendo aqui revisitadas.
** Doutorando em antropologia pelo PPGAS-USP e bolsista do CNPq. Vinculado ao NHII/
USP e ao PINEB/UFBA.
tore.p65 101 17/05/2000, 09:05
TORÉ
102
1 O trabalho de campo com os Tumbalalá iniciou-se ainda na minha graduação, mas a maior
parte foi realizada durante o mestrado (entre 1999 e 2001, com o aporte financeiro da FAPESP
mediante concessão de bolsa durante este período) e durou cerca de 4 meses, distribuídos em 4
etapas que visaram cobrir atividades distintas.
2 Destaque para os trabalhos produzidos por Emmanuel Lévinas (1980; 1991) e
Enrique Dussel (1987).
3 Uso a nomenclatura núcleo político-ritual para opor à definição conceitual de
facção, comumente utilizada nos estudos de antropologia política inspirados pela escola
inglesa, já que tal conceito não se aplica satisfatoriamente aos Tumbalalá.
4 É útil entendermos a diferença entre moral e ética: [...] se a moralidade envolve
o bem viver, em seu sentido de vida justa e proba no mundo da vida, a eticidade envolve
o dever, como o valor mais alto de uma pessoa, portanto de um ser social (Cardoso de
Oliveira, 1996: 60).
5 Notadamente os acervos dos arquivos públicos estaduais da Bahia, Pernambuco e
da Biblioteca Nacional; os arquivos capuchinhos da Penha (PE) e da Piedade (BA) e
fontes que trazem documentos dos séculos XVII e XVIII, como Nantes (2001[1702]),
Nantes (1979 [1706]), Willeke (1954; 1977), Regni (1988) e Faria (1965).
6 Trata-se de uma abordagem cujo foco é a história das formas de relações interétnicas,
mas que não pretende, assim, marcar posição contra a existência das formas fora do
panorama das produções da história. Penso que não há, no momento, dados etnográficos
para o desenvolvimento de uma segunda posição, notadamente porque ela não foi
desenvolvida nos estudos de etnologia indígena no Nordeste.
7 Seres sobrenaturais aos quais se dirige boa parte dos procedimentos rituais, nos
contextos específicos do rito (toré ou mesa de toré) ou no cotidiano. Curas, doenças e
sortilégios podem ser facilmente atribuídos a eles, de modo que as relações com os
encantados são melindrosas e exigem cuidados.
8 Chamo-os de núcleos político-rituais do São Miguel e da Missão Velha, aludindo
aos sítios onde estão os dois principais terreiros de toré em atividade. Há ainda os terreiros
de toré do Pé da Areia e da Cruzinha, ritualmente ligados à Missão Velha e aos Truká.
tore.p65 102 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
103
9 Defendi que não havia elemento estruturador privilegiado na tomada de decisão
por um ou outro núcleo (Andrade, 2002: 167-168), mas acredito que o parentesco é o
mais forte deles pelos motivos expostos neste artigo.
10 A intenção aqui não é dialogar com as formulações correntes para o valor do
parentesco ameríndio das terras baixas sul americanas enquanto ideal do viver bem que
revela uma economia social centrada na produção de pessoas. Trabalhos fantásticos estão
sendo desenvolvidos nesse sentido, mas acredito que o material etnográfico para o
Nordeste é, por hora, insuficiente para se pensar em algo parecido, resguardando-se
também os limites de comparação entre as áreas etnográficas.
11 Esta noção de regime voltada para a manutenção das vidas diárias em harmonia
com o sobrenatural e de modo a proporcionar uma vida boa aos membros de uma mesma
comunidade moral não coincide com aquela que atribui ao regime de índio Atikum
uma demanda, formulada pelo SPI, por uma indianidade objetivada nas práticas do toré
(Grünewald, 1999).
12 Xangô é o termo utilizado por oficiantes do toré para se referirem às práticas
rituais afro-brasileiras, comumente acusadas por eles de serem voltadas para a feitiçaria.
13 A jurema e os encantados são os exemplos mais eloqüentes.
14 Durante meu trabalho de campo acompanhei muito mais sessões de toré no São
Miguel, participando de vários rituais abertos e de sessões privativas (mesas de toré). Na
Missão Velha registrei toré público em apenas duas ocasiões e não participei de sessão de
mesa.
15 Os outros ingredientes de uma mesa de toré ficam organizadamente dispostos ao
longo dos lados maiores da toalha e nos cantos; maracás sobressalentes, quaquis,
montículos de fumo de tabaco para o uso durante a sessão, cuias para servir o vinho da
jurema e velas.
16 Uso a expressão da forma como os Mestres tumbalalá a utilizam, evocando uma
oposição inequívoca em relação ao xangô.
17 Essas forças, brutas e originárias, representam a ancestralidade reencontrada
sobrenaturalmente no toré; o gentio o índio brabo, mas ingênuo o caboclo-índio que
andava nu e comia caça ou simplesmente aqueles que existiam antes dos portugueses.
18 Cachimbo feito da raiz da jurema. Depois de batizado, durante sessão de toré, é
colocado sob o auspício de um encantado, para o qual deve-se ofertar fumaça regulamente.
19 Embora o grupo esteja oficialmente reconhecido desde dezembro de 2001 e com
seu território em fase de demarcação, os projetos de levantamento da aldeia tumbalalá
não terminaram com a conquista desses direitos e voltam-se hoje tanto para a instauração
de benfeitorias quanto para a conquista da união entre os núcleos político-rituais e a
exclusão dos trabalhos de xangô dentro da aldeia.
tore.p65 103 17/05/2000, 09:05
TORÉ
104
Referências Bibliográficas
ANDRADE, Ugo Maia. 2002. Um rio de histórias: a formação da alteridade tumbalalá e a rede de
trocas do sub-médio São Francisco. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. São Paulo:
PPGAS/FFLCH-USP.
APEL, Karl-Otto. 1994. O a priori da Comunidade de comunicação e os fundamentos da ética:
o problema de uma fundamentação racional na era da ciência. In: __ .Estudos de Moral Moderna.
Petrópolis: Ed. Vozes.
ARRINGTON, Robert L. 1989. Rationalism, realism and relativism: perspectives in contemporary
moral epistemology. Ithaca: Cornell University Press.
BARTH, Fredrik. 1969. Introduction. In: _. (Org.) Ethnic Groups and Boundaries. Boston:
The Little, Brown Series in Anthropology.
__. 1987. Cosmologies in the making: a generative approach to cultural variation in inner New Guinea.
Cambridge: Cambridge University Press.
__. 1992. Towards greater naturalism in conceptualizing societies. In: KUPER, Adam. (ed).
Conceptualizing Society. New York: Routledge.
BOURDIEU, Pierre. 1998 [1989]. Le mort saisit le vif. As relações entre a história reificada e
a história incorporada. In: __ O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 1996. Antropologia e moralidade. In: CARDOSO
DE OLIVEIRA, Roberto & CARDOSO DE OLIVEIRA, Luís R. Ensaios antropológicos sobre
moral e ética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
__. 1998. O Trabalho do Antropólogo. Brasília: Paralelo 15; São Paulo: Ed. UNESP.
DUSSEL, Enrique. 1987. Ética Comunitária. Petrópolis: Vozes.
FARIA, Francisco Leite de. 1965. O Padre Bernardo de Nantes e as missões dos capuchinhos
franceses na região do rio S. Francisco. In: Atas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-
Brasileiros. Coimbra, vol II, pp. 251-295.
GINSBERG, Morris. 1962 [1956]. On the diversity of morals. London: Mercury Books.
GRÜNEWALD, Rodrigo de Azeredo. 1999. Etnogênese e regime de índio na Serra do Umã.
In: OLIVEIRA, João P. de (org.) A viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no
Nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria.
tore.p65 104 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
105
HABERMAS, Jürgen. 1996 [1983]. Morale et Communication. Paris: Les Éditions du Cerf.
HONDERICH, Ted (ed.). 1995. The Oxford Companion to Philosophy. Oxford/New York: Oxford
University Press.
LÉVINAS, Emmanuel. 1980. Totalité et infini. Paris: Martinus Nijhoff.
__. 1991. Entre nous. Essais sur le penser-à-lautre. Paris: Grasset.
NANTES, Frei Bernard de. O. F. M. 2001[1702]. Relato da missão dos índios Kariris do Brasil,
situados no grande rio São Francisco do lado sul a 7° (graus) da linha do Equinócio. 12 de Setembro de
1702. Manuscrito inédito. Biblioteca privada do Sr. José Midlin, São Paulo. Traduzido do original
em Francês por Gustavo Vergetti a partir da leitura diplomática feita por Pedro Puntoni. dig.-
NANTES, Frei Martin de. O. F. M. 1979 [1706]. Relação de uma missão no rio São Francisco:
relação sucinta e sincera da missão do padre Martinho de Nantes, pregador capuchinho, missionário apostólico
no Brasil entre os índios chamados cariris. São Paulo: Ed. Nacional; Brasília: INL (Série Brasiliana,
v. 368).
OVERING, Joanna. 1985. Introduction. In: __. (ed) Reason and Morality. ASA Monograph
24. London: Tavistock.
__. 1995. O mito como história: um problema de tempo, realidade e outras questões. In: Mana,
1(1), pp. 107-140.
REGNI, Pietro Vittorino. 1988. Os Capuchinhos na Bahia. Salvador: s/e.
STRATHERN, Marilyn. 1998. The concept of society is theoretically obsolete For the motion
(1). In: INGOLD, Tim (ed.) Key Debates in Anthropology. London/New York: Routledge.
WAGNER, Roy. 1981 [1975]. The invention of culture. Chicago: The University of Chicago
Press.
WILLEKE, Frei Venâncio. O. F. M. 1954. As nossas missões entre os índios. In: Santo Antônio,
12:2, pp. 81-101.
__. 1977. Missões e missionários da província de Santo Antônio. In: Revista de História, vol 56,
n. 111, ano 28, pp. 85-100.
tore.p65 105 17/05/2000, 09:05
TORÉ
106
tore.p65 106 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
107
IDENTIDADE, RITO E PERFORMANCE
NO
1
TORÉ XUKURU
Rita de Cássia Maria Neves
O Toré, enquanto manifestação comum entre os povos indígenas na Região Nordeste
do Brasil, é freqüentemente tratado por especialistas como sinal diacrítico que confere
identidade étnica e legitimidade a esses grupos. Dessa forma, o Toré é visto como fator
de coesão social, tendo como resultado, o fortalecimento do grupo social em questão.
Há, no entanto, outras dimensões pouco consideradas que também conferem sentido e
significado ao ritual do Toré. Estas possuem raízes nas emoções, sentimentos,
proporcionando mudança no comportamento do indivíduo e delimitando fronteiras intra-
étnicas. O objetivo desse texto é realizar um confronto entre as diversas dimensões do
Toré, a partir de observações realizadas na área indígena Xukuru, em Pesqueira,
Pernambuco, entre 2002 e 2003.
Esse texto se insere nos estudos sobre simbolismo, ritual e performance. Inicialmente,
farei uma pequena discussão sobre os estudos clássicos realizados pela antropologia
simbólica no trato com os rituais, bem como a inserção da performance nesses estudos.
Em seguida, trarei à tona o Toré Xukuru em situações específicas. Por fim, discutirei a
contribuição que os estudos sobre Toré, podem significar para consolidação de pesquisas
sobre os índios do Nordeste.
Abordagens com ênfase nos Rituais e Performances
Não pretendo nesse momento fazer um resumo cronológico dos diversos autores que
se dedicaram aos estudos dos ritos. Apenas apresentarei alguns caminhos teóricos que
proporcionaram formas diferentes de abordar a questão.
Uma grande parte da obra de Durkheim, principalmente As formas elementares da
vida religiosa, influenciou profundamente o estudo dos ritos na antropologia. Nesse livro,
Durkheim afirma que crenças e ritos são categorias do fenômeno religioso e que os ritos
são maneiras de agir que só surgem no interior de grupos coordenados e se destinam a
suscitar, manter ou refazer alguns estados mentais desses grupos. (2000: XVI). Esse
tratamento dado aos ritos sugere uma tendência a vê-los como úteis para manter a ordem
na sociedade. Os ritos se apresentam assim como símbolo de união e de legitimação de
um grupo social, tornando a vida em sociedade mais importante que o indivíduo.
tore.p65 107 17/05/2000, 09:05
TORÉ
108
Mesmo sem questionar o rito como fator de coesão social, Marcel Mauss, sobrinho
e discípulo de Durkheim, insere o indivíduo na discussão sobre ritual. Para Mauss, além
de o ritual criar mundos, ele cria também experiências. O rito, embora seja coletivo,
modifica o corpo além de modificar a experiência. (MAUSS, 1974: 48).
Uma ampla contribuição para o estudo dos rituais também é dada pelo trabalho de
Edmund Leach sobre os Kachin. Leach em Sistemas Políticos da Alta Birmânia (1996),
redimensionou a discussão sobre ritos. Para ele, não há distinção entre comportamentos
verbais e não verbais, sendo, portanto, o ritual um complexo integrado de palavras e
ações. O ritual é uma declaração simbólica que profere alguma coisa dos que estão
envolvidos na ação e serve para expressar o status do indivíduo no grupo em que está
inserido, contribuindo, dessa forma, para perceber o ritual como uma linguagem que
possui várias interpretações interligadas pelo mesmo conjunto de símbolos. Dessa forma,
ao perceber que o ritual possui várias interpretações, Leach considera, como conseqüência,
que mudança social e conflito são elementos que se encontram naturalmente presentes
em todo grupo social, deixando de tratá-los simplesmente como anomia (Durkheim).
Ao se conferir importância a fatores que produzem mudança social e conflito, retira-
se a noção de sociedades sempre estáveis, prontas para serem observadas e analisadas em
sua totalidade. Em seu lugar, colocam-se grupos sociais que estão sempre em
transformação.
Nessa perspectiva de mudança social e conflito, o ritual também é objeto de interesse
do antropólogo Victor Turner. Nos seus estudos sobre os Ndembu, ele afirma que os
ritos representam aspectos inconscientes, normas e estados sociais, e procura resgatar a
dimensão da experiência nos rituais. O ritual é um momento importante de reflexividade
do grupo, pois durante o ato performático o sujeito é capaz de refletir sobre si e sobre o
mundo. Portanto, o ritual é uma performance transformadora, em que se revelam importantes
classificações, categorias e contradições do processo cultural. (1987: 75).
Embora Turner tenha se preocupado inicialmente com os ritos, em seus últimos
trabalhos, ele adota a noção de performance cultural. Performance é um conceito
2
interdisciplinar que serve não apenas para o estudo de sociedades ditas complexas,
mas também para as chamadas tradicionais. Isso acontece porque na performance o
comportamento é intensificado e exposto publicamente, substituindo eventos reais. A
performance contém aspectos ritualizados, caracterizados por repetição e ritmo que
apontam para aspectos reais da vida como a violência, a sexualidade, etc.
O rito, quando visto através da performance, adquire um aspecto afetivo e, portanto,
é preciso procurar nele todos os sentidos presentes: os sons, a fala, o cheiro, etc. Ou seja,
o rito deixa de ser apenas cognição, na qual se ressalta a mensagem, para tornar-se uma
experiência multidimensional e multivocal.
As pesquisas sobre rituais muitas vezes procuram o significado dos símbolos presentes
nessas ocasiões. Os pesquisadores estão interessados em saber como esses símbolos são
tore.p65 108 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
109
comunicados (mensagem) e de que forma executam as transformações sociais (eficácia
dos símbolos rituais). Outras abordagens se interessam pela dimensão não discursiva do
ritual. Procuram compreender através da performance os meios pelos quais os elementos
rituais atuam e não apenas a sua eficácia (SCHIEFFELIN, 1985).
O ritual do Toré
A região Nordeste, primeira colonizada no território nacional, acarreta especificidades
para a história indígena. Os índios dessa região foram os primeiros a serem alvo de todo
o processo de luta e conquista territorial que se realizou no Brasil. O Diretório Pombalino
(1757) , a Lei de Terras (1850), ou a própria criação do SPI (Serviço de Proteção ao
Índio), em 1910, acaba provocando um apagamento dos povos e culturas indígenas na
região. Havia o interesse de transformar esses indígenas em simples descendentes,
remanescentes, integrando-os à população local.
As populações indígenas que hoje compõem o cenário nordestino, resultaram,
portanto, de diferentes fluxos e tradições culturais. Por sua vez, esses fluxos e tradições
são frutos das relações mantidas com a Igreja e o Estado através de suas várias
determinações imperiais e governamentais. Mas como reconhecer essas ditas populações
indígenas? As representações culturais que as pessoas normalmente têm dos índios, quase
sempre os apresenta com traços fenótipos diferenciados da população local. Para ser
considerado índio, o cabelo deve ser liso e a pele avermelhada. No entanto, isso não
ocorre com os índios da região nordeste, pois estes já não possuem o corpo diferenciado,
seus traços físicos são idênticos ao do sertanejo.
No caso desses índios, a necessidade de um território se constitui como o primeiro
passo para consolidação da identidade étnica. É a luta política consolidada na luta pela
terra, que acendeu nos grupos a noção de comunidade política e esta, segundo Weber, é
fundamental para a construção de uma identidade étnica:
Por outro lado, é a comunidade política que costuma despertar, em primeiro lugar, por
toda parte, mesmo quando apresenta estruturas muito artificiais, a crença na comunhão
étnica, sobrevivendo esta geralmente à decadência daquela, a não ser que as diferenças
drásticas de costumes e de hábito ou, particularmente, de idioma o impeçam. (2000:
270).
A partir da luta pela terra, são criadas outras fronteiras simbólicas que exercem a
função de distinguir os índios dos não-índios. O ritual, no formato do Toré, também
exerce o papel que a luta pela terra desempenha. Ou seja, o Toré concede distintividade
3
e serve como sinal diacrítico, religando o caboclo à sua origem indígena .
Mesmo corroborando com esse papel que o Toré exerce, tratando-se de índios do
Nordeste, acredito que há outras dimensões que precisam ser observadas e que contribuem
tore.p65 109 17/05/2000, 09:05
TORÉ
110
para a compreensão da atuação dos elementos rituais do Toré nos grupos. Para isso,
passarei a abordar especificamente o Toré dos índios Xukuru, em Pernambuco.
O Toré Xukuru
Como foi dito anteriormente, os grupos indígenas que se encontravam na região
nordestina tiveram desde a colonização brasileira até o século XX, a sua condição
etnicamente diferenciada diluída através das missões e leis favoráveis à miscigenação.
Os índios Xukuru também sofreram o processo de ter sua condição étnica questionada,
porém, na década de 50, graças aos relatos etnográficos de antropólogos como Hohental (1958),
bem como à luta do próprio grupo, os Xukuru foram reconhecidos oficialmente como índios.
Apesar de todos esses esforços, o processo de garantia de seu território se iniciou
apenas em 1989, quando se deu o processo de regularização fundiária, com as etapas de
identificação e delimitação. Em 1992, foi declarada a posse permanente e, posteriormente,
em 1995, a terra Xukuru teve sua demarcação física realizada. Apenas em 2001 foi
publicado o decreto de homologação. Atualmente, a Terra Indígena (TI) Xukuru está
sendo desintrusada, com a indenização dos posseiros e a conseqüente reintegração da
área aos índios.
Durante todo esse processo de regularização fundiária da TI Xukuru, houve o
4
fortalecimento da identidade étnica do grupo e o conseqüente crescimento populacional.
Os Xukuru se organizaram não apenas administrativamente, mas também tiveram suas
manifestações religiosas fortalecidas.
É comum entre os Xukuru a afirmação de que antes de 1989 não podiam dançar o
Toré publicamente, exceto em determinadas ocasiões como as festas de São João e de
Nossa Senhora das Montanhas, chamada por esses de Mãe Tamain, padroeira da Vila de
Cimbres. Além dessas festas, que acolhiam os rituais sob a aura de festas populares,
eles só podiam dançar o Toré escondidos na mata. O Toré era, então, considerado como
xangô (SOUZA, 1998: 81).
Formato, instrumentos e personagens
O Toré Xukuru é dançado em fila indiana, formando um círculo. Um pequeno grupo
5
de seis homens coloca-se à frente do círculo espiralado. O Bacurau que faz parte
desse pequeno grupo, é responsável pelo início de cada canção do Toré. Outros
puxadores o acompanham com o maracá, instrumento de percussão chocalhante, que
ajuda a ritmar as músicas. Os demais, tanto homens, como mulheres ou crianças,
acompanham esse primeiro grupo.
O ritmo cadenciado do Toré é marcado pela pisada mais forte de um dos pés, bem
como pelas batidas dos Jupagos no chão. O Jupago é um pau comprido, com uma espécie
de raiz em formato de bola em sua base. Só os homens Xukuru portam os Jupagos
durante o Toré, mesmo assim, atualmente só uns poucos possuem essa arma/
tore.p65 110 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
111
instrumento, a maioria utiliza a borduna, um tipo de arma de madeira que tem seu
tronco esculpido, formando uma escama de peixe.
O Toré Xukuru possui um misto de suavidade e força. A suavidade fica por conta do
som delicado da Gaita e pelo formato sempre arredondado que o Toré apresenta, enquanto
a força é marcada pelo som duro da batida do Jupago no chão. Se junta à batida, os gritos
que de vez em quando se ouve de algum homem Xukuru que está na roda.
A Gaita é também chamada de mibim. Feita de cano plástico (PVC), é considerada
o instrumento musical mais importante dos rituais. Atualmente só existe um Mestre de
Gaita Xukuru, seu Antônio Medalha. Seu Antônio e dona Eliete, sua esposa, comentam
o significado de tocar este instrumento nos rituais:
Dona Eliete:
- Tocar a flauta é uma coisa muito importante. É o instrumento de Nossa Senhora. Eu
tenho pra mim que a pessoa que toca essa flauta, ela não toca por ela. Quando Antônio foi
aprender a tocar flauta sofreu tanto pra aprender a tocar e tocava uma peça só. Ai eu
falei: Antônio, eu vou te dar uma dica: você só vai tocar gaita se você mudar seu
pensamento pra um Mestre de Gaita. Ou Tio ventura, ou Tio Sebastião. Se você mudar,
você aprende.
Sr. Antônio:
- A gente quando vai fazer uma coisa, a gente tem que pensar primeiramente em Deus,
segundo em nossa Mãe e terceiro nos antepassados, naqueles mestres velhos, porque se a
gente tocar pensando neles, eles ajudam. Olhe, eu tenho aquela responsabilidade todo
ano. Eu posso ir pro fim do mundo, mas chegou aquele dia, eu venho. É uma tradição
minha que eu tenho prazer em cumprir ela até não sei quando, porque quando eu morrer
6
eu também vou tá lá. Ainda que eu morra, eu vou estar no Conselho . Ninguém me vê,
mas eu vejo os outros.
Em várias ocasiões na Vila de Cimbres, sempre que presenciei uma roda de Toré, a gaita
7
se encontrava em pé, dentro do peji . Estava em destaque, como um objeto sagrado. O ritual,
na maioria das vezes, é iniciado com o toque da gaita e só depois os maracás são acionados.
Cada canção escolhida para o Toré é repetida insistentemente. Após cada canção há
entusiásticas louvações à Mãe Tamain, ao Senhor São João, ao Pai Tupã e ao cacique
8
Chicão , respectivamente. Por fim, dão vivas às lideranças e a Marquinhos (Marcos
Luidson), atual cacique Xukuru e filho do cacique Chicão. Qualquer pessoa não - índia
pode entrar e dançar junto com os Xukuru, o que acontece com freqüência.
Os Xukuru sempre dirigem os seus louvores ao Pai Tupã, que segundo dizem, é o
Mestre Rei. Através do Toré louvam a Tupã que é o sol e a Tamain que é a lua (Professores
Xukuru, 1997: 44).
Além do Bacurau e do Mestre de Gaita, estão também presentes em algumas ocasiões
tore.p65 111 17/05/2000, 09:05
TORÉ
112
o pajé, o cacique e algumas lideranças que acompanham o Toré. Várias pessoas entram em
transe, incorporam antigos ancestrais ou encantados que se apresentam na roda de Toré.
Situações etnográficas: Festa de Reis, Mãe Tamain e Toré na Vila de Cimbres
Passo, portanto, a descrever algumas situações específicas nas quais observei o Toré
em 2003. O Toré na Festa de Reis, em janeiro; o Toré na Festa de Mãe Tamain, em julho
e o Toré na Vila de Cimbres, em agosto. Não cabe aqui fazer uma etnografia das festas ou
de cada momento onde ocorreu uma roda de Toré. Relatarei apenas esses Torés
supracitados e os elementos rituais que atuaram nessas ocasiões.
Tive a oportunidade de assistir muitos outros momentos de Toré, mas a escolha dessas
ocasiões se deu porque no dia 07 de fevereiro de 2003, houve um atentado ao cacique
Marcos, no qual morreram dois índios que estavam com o cacique, o índio Josenilson
José dos Santos (Atikum) e o índio José Admilson Barbosa da Silva (Xukuru). O
significado do Toré adquiriu dimensões diferentes depois do ocorrido e são justamente
essas diferenças que pretendo tratar nesse momento. São situações emblemáticas e
representativas da dimensão que esse ritual possui para os Xukuru.
A Festa de Reis acontece no dia 06 de janeiro, na aldeia Pedra Dágua
tore.p65 112 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
113
Nesse ano de 2003, dois caminhões fizeram o trajeto que vai da aldeia SantAna até a
Pedra Dágua. Um terceiro caminhão já estava lotado com pessoas que vinham da Vila
de Cimbres. A estrada até Pedra Dágua é íngreme, de barro e fica a uns 9 km de SantAna.
Segui no segundo caminhão, todos falando pouco, até chegar próximo ao terreiro onde
um grupo já dançava o Toré.
O terreiro onde se dança o Toré é uma espécie de clareira com chão em barro
batido. Muitas árvores altas, com troncos de espessura fina ficam em torno da clareira e
fazem parte do cenário. No centro da área, há um trapiche, também chamado de peji,
que é uma espécie de cabana arredondada, feita de palha de coqueiro, onde se depositam
os elementos sagrados do ritual. Estava enfeitada com muitas flores, e tinha muitas velas
9
acesas. Além disso, fazia parte do ambiente, o vinho da jurema , que se encontrava
em uma panela de barro e algumas bordunas.
Ao redor do Peji, inicia-se uma roda de Toré, tendo sempre à frente o bacurau com
o maracá. Três ou quatro homens, também portando maracá auxiliam o bacurau. Atrás
desse grupo de homens, seguem em fila, homens, mulheres e crianças, em sua maioria
vestida com o fardamento (Tacó).
Os participantes, absorvidos pela música compartilhada, entram e saem da roda de
Toré. Ao centro do Toré, uma mulher se encontrava manifestada, com os encantos de
luz. Além dela, à frente do peji, estavam algumas lideranças: Seu João Jorge (aldeia
Sucupira), Seu Chico Jorge (aldeia Cimbres), Agnaldo (professor Xukuru), Marcos
(cacique) e Seu Zequinha (pajé).
Esse pequeno grupo ficava sempre à frente do Peji, e quando chegavam lideranças de
outras aldeias, eles sempre apertavam as mãos, erguiam o braço ao alto, ainda com as
mãos apertadas. Vendo de longe, é como se nesse momento eles estivessem dizendo que
chegaram para compartilhar a mesma experiência e a mesma história.
Além das lideranças, outros homens e mulheres Xukuru durante toda a manhã, entravam
no centro do Toré para apertar a mão do cacique Marcos, muitas vezes levando crianças
para que ele falasse com elas. Todos vinham vagarosamente cumprimentar o cacique.
Marcos tem seu rosto pintado, com um traçado que vai do nariz à orelha. Todo o
rosto abaixo desse traçado é pintado na cor marrom avermelhada. Notei que essa pintura,
antes usada apenas por ele desde que assumiu o cacicado, começa a ser copiada pelos
jovens, bem como pelas próprias lideranças. Vi muitos índios com essa mesma pintura
no Toré. Alguns inclusive pintavam-se olhando para Marquinhos.
Por volta das 12h30, cessou o Toré e as lideranças chamaram aqueles que estavam
com o Tacó, para em fila subirem a Pedra do Rei, seguidos de todas as outras pessoas que
estavam presentes.
No alto da Pedra do Rei ou Pedra do Reino, encontramos um outro Peji, em formato
de gruta, desta vez feito de pedras, mas também enfeitado de flores. Próximo a esse Peji,
10
em uma clareira próxima, encontra-se enterrado o cacique Chicão. Ele foi o primeiro,
tore.p65 113 17/05/2000, 09:05
TORÉ
114
mas posteriormente outras lideranças também foram enterradas ali, o que tornou esse
mais um espaço simbólico importante para os Xukuru.
Quem comandou os rituais nesse Peji foi Seu Zequinha, que chamou pelos encantados:
Rei Jericó, Rei do Ororubá. Em seguida rezou um credo, uma salve rainha e terminou
louvando Mãe Tamain, Pai Tupã e São João. Muitos fogos de artifício foram estourados,
e então uma mulher incorporou um espírito. Caiu no meio do povo, soltou os cabelos,
gritou e com os olhos fechados, seu corpo foi ficando tenso e curvado. Aos poucos outras
pessoas também se manifestaram, começaram a gritar, apitavam, rodopiavam
freneticamente, se envergavam e se contorciam.
Uma mulher avisa que aqueles que não estão recebendo nenhuma entidade, mas que
se encontram iluminados, devem permanecer em seus lugares. Esses, mais afastados
do Peji se comovem. Vi um homem que ao longe, olhava para o céu e chorava
silenciosamente. O tempo parece não passar e as pessoas vão aos poucos saindo do transe.
O cachimbo, usado por seu Zequinha e pelo próprio Marcos ajuda as pessoas a voltarem
a si. Por fim, seu Zequinha, que nesse momento encontrava-se também iluminado,
fala emocionado, e depois convoca todos os Xukuru a descerem a serra novamente. As
pessoas saem em silêncio e quando chegam na clareira, há um descanso de uns 30 minutos,
antes da realização de um batizado, um casamento e, por fim, mais uma roda de Toré.
O cacique Marcos quase sempre permaneceu em silêncio desde o início do dia. Esteve
a maior parte do tempo à frente do Peji, mas até aquele momento não fez nenhum
pronunciamento público. Isso parecia não importar, pois ele estava à frente dos rituais e
as pessoas esperavam ansiosas pelo discurso final. Ao fim da tarde, antes de encerrar o
dia de Reis, ele pediu a palavra e fez um discurso inflamado, centrado na divergência
interna que eles vivenciaram dentro do próprio grupo.
Chama a atenção o fato de Marcos iniciar seu discurso em um tom de alegria, afirmando
que estava feliz por considerar esse dia como seu aniversário. Foi em um dia de Reis que ele
assumiu a luta do povo Xukuru. Logo em seguida houve uma mudança de tom, com ar de
seriedade ele enfatiza as dificuldades enfrentadas, trata dos inimigos que, segundo afirma,
estão entre os próprios Xukuru. Marcos conclui seu discurso de braços abertos, afirmando
que dá o peito à própria morte pelo seu povo. As pessoas aplaudem, choram, dão vivas ao
cacique e dessa forma se encerram as atividades por volta das 17 horas.
Todo esse Dia de Reis, de 2003, estava voltado para as divergências internas dos
Xukuru. Os olhares e as falas daqueles que se encontravam iluminados ou
incorporados, traziam à tona os problemas que precisavam ser enfrentados. Falavam
de traidores ao mesmo tempo em que pediam união.
Na volta a aldeia SantAna, percebi que as pessoas que estavam no caminhão brincavam
umas com as outras, algumas até mesmo cantavam. Ou seja, o estado emocional estava
diametralmente oposto ao da ida.
tore.p65 114 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
115
A festa de Mãe Tamain ocorre no dia 02 de julho, na Vila de Cimbres
Nesse ano de 2003, a situação na área indígena estava muito tensa por causa das
mortes dos índios ocorrida no dia 07 de fevereiro, um mês após o Dia de Reis. Ao ver os
corpos dos rapazes mortos, na estrada, os Xukuru se revoltaram e subiram a Serra até a
Vila de Cimbres com o intuito de expulsar as pessoas que estavam ligadas a Louro Frazão,
índio que atirou em um dos rapazes e que estava sendo considerado responsável pelas
mortes. Casas foram incendiadas e famílias que pertenciam ao grupo dissidente foram
expulsas da área indígena, pois eram considerados pela comunidade como responsáveis
pelas mortes, seja de forma direta ou indireta.
Assim, no mês de julho havia muita cautela por parte das pessoas com relação à festa.
Inicialmente, os Xukuru se reuniram no Salão São Miguel e ensaiaram uma Roda de
Toré. Bacamarteiros anunciaram a festa de Mãe Tamain com tiros ensurdecedores.
Os Bacamarteiros são responsáveis pela recepção dos Xukuru. São formados por
Xukuru e não-índios. Além de anunciarem a chegada dos Xukuru na Vila, eles fazem as
honras à Mãe Tamain através dos tiros.
Os Xukuru seguiram em fila indiana para a Igreja. Lá, alguns Xukuru se colocaram
em pé, no altar, e outros ocuparam o corredor e as laterais da Igreja. Iniciou-se então a
tradicional missa de Nossa Senhora das Montanhas, que é a forma como Mãe Tamain é
conhecida pela comunidade não indígena. No final da celebração, o padre pediu vivas
a Nossa Senhora das Montanhas e passou a palavra ao cacique Marcos. Ele falou do
atentado, das pessoas que tentaram tirar sua vida e concluiu dizendo novamente que
pelos Xukuru ele dava o peito à própria morte.
Só então Mãe Tamain é retirada do altar pelo cacique. Ele a ergueu no ar e os aplausos
da comunidade ressoaram por toda a Igreja. Nesse momento os Xukuru se retiraram da
Igreja e na calçada iniciaram o Toré. Esse Toré possui um caráter diferente dos demais.
O seu formato é em zigue-zague, subindo o aclive da calçada da Igreja. Nele, o único
instrumento musical utilizado é a gaita. O cadenciamento é marcado pelo passo curto e
firme, o que exige uma atenção redobrada de quem participa do Toré. Isso se confirma
através dos constantes apelos de Seu João Jorge (liderança de Sucupira) para a batida
correta do pé no chão. O passo curto, porém firme, aliado ao som da gaita confere a esse
Toré um ritmo mais lento e dramático. Através do comando de Seu João Jorge, os Xukuru
retornam à Igreja. O Toré então é dançado ao redor dos bancos. Homens à frente, seguido
das mulheres e crianças. Ouve-se de vez em quando gritos, sempre no ritmo da Gaita.
No altar, o mestre de gaita toca o mibim, tendo o cacique Marcos ao seu lado.
Ao terminar esse momento, os Xukuru seguiram para o salão São Miguel, que fica
ao lado da Igreja e continuaram a dançar o Toré nesse espaço. Seu formato é o mesmo já
descrito no início desse texto. A especificidade fica por conta de um revezamento entre
os puxadores das canções, a partir das diversas aldeias. Disso decorre uma peculiaridade.
Dependendo de quem fica no comando do ritual, o Toré adquire uma batida mais forte
tore.p65 115 17/05/2000, 09:05
TORÉ
116
ou mais suave. Quando o puxador era da Vila de Cimbres, as toadas eram mais brandas
e a batida menos vigorosa. Cada bacurau possui uma forma de cantar e isso leva a roda
de Toré a se tornar mais pesada ou mais leve. Notei também que tinham muitos
jovens no comando do Toré, o que também contribuía para o seu formato. Nesse momento
do Toré no salão, não se vê mais a presença do cacique Marcos. Ele só reaparece quando
se inicia a procissão de Mãe Tamain, por volta das três horas da tarde.
Na procissão, apenas os Xukuru carregam o andor. O cacique segue à frente entre
os mastros. A procissão é nitidamente dividida em duas partes: na primeira parte fica
o padre cantando músicas sacras e na segunda parte, fica o andor de Mãe Tamain,
carregado apenas pelos Xukuru. O Mestre de Gaita vai à frente do andor tocando a
flauta.
A procissão dá a volta na Vila e termina em frente à Igreja. Nesse dia de 2003, o
discurso do padre concentrou-se em dois temas. O primeiro foi a concentração de terras
por parte de latifundiários. O padre ressaltou que por causa da concentração de terras
entre os fazendeiros, a fome se abateu sobre a população indígena. O segundo tema
abordado pelo padre foi a paz: queremos ser construtores da paz. O seu discurso se
pronuncia lentamente. Ele pensa bastante antes de se expressar e conclui com uma
pergunta dirigida aos Xukuru: queriam eles ser construtores da guerra ou da paz? O
próprio padre responde que a opção correta é a via da paz.
Logo em seguida o cacique Marcos assume o microfone. O tom do discurso é mais
intenso. Fala do orgulho de participar da festa de Mãe Tamain. Mas o motivo principal
da sua fala é a desintrusão do território indígena. Afirma que muito em breve eles vão ter
o controle total dos 27.555 hectares demarcados. Tudo isso, no entanto, foi graças a Mãe
Tamain, a Tupã e principalmente à luta do povo Xukuru. Na conclusão de seu discurso
o cacique Marcos afirma ser um defensor do povo Xukuru até a morte:
Porque eu digo pra vocês: eu nasci para ser o defensor do povo Xukuru e vou morrer
sendo o defensor do povo Xukuru, porque jamais eu vou recuar dessa luta. Meu pai se
foi, levaram ele. Chico Quelé se foi, tentaram incriminar nossas lideranças, nem por
conta disso nós recuamos dessa luta. Fomos em frente e vamos mostrar os verdadeiros
assassinos dos nossos companheiros que por ai tombaram nessa luta. E digo pra vocês, se
um dia eu me for nessa luta, novos guerreiros estão surgindo. Como dizemos, nossos
guerreiros são plantados, para que deles surgem novas sementes e novos guerreiros.
Durante a fala do cacique muitas flores foram jogadas da torre da Igreja. Muitas
pessoas choravam incessantemente. Uma mulher ao meu lado disse que era como se
Chicão estivesse ali, e que Marcos era um iluminado. Ele nem mesmo precisava pedir
que qualquer um ali daria a vida por ele. Ela repetia que apesar dele ser um menino, era
mais forte que muito homem feito.
tore.p65 116 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
117
A festa de Mãe Tamain sempre teve um caráter de apregoar a coragem dos índios.
Como era considerada uma festa caracteristicamente católica cristã, os Xukuru sempre
vivenciaram muitos conflitos com os não-índios nessa ocasião. Durante muito tempo,
ficar em pé no altar atrás do padre foi motivo de conflito. Muitas vezes, dançar o Toré
em torno dos bancos foi tratado com desprezo pelos não índios. Hoje, somente os Xukuru
tocam em Mãe Tamain. Eles dançam ao redor dos bancos da Igreja alegando tradição,
mas o significado do gesto é mais amplo. Além de louvor, o Toré dançado dentro da
Igreja é uma demonstração de força e poder. Os Xukuru acreditam que Mãe Tamain
pertence única e exclusivamente a eles. Todos os seus atos são comandados por Ela. No
fim da missa perguntei a um Xukuru o que ele achou do discurso do cacique. Na sua
resposta, esse Xukuru fala de Mãe Tamain e do Toré, como se o discurso do cacique
fosse apenas uma decorrência do ritual e da própria Mãe Tamain:
O ritual une a gente. A gente sai feliz depois dele. Nós trabalha com Deus, com Mãe
Tamain. Se for baixar a cabeça é pior. Mãe Tamain é que leva a gente pra luta. Com a
força de Mãe Tamain, ninguém pára a gente não. Mesmo quando nós era mais perseguido
nossa Mãe sempre protegeu nossos ritual aqui na Vila. O Toré é tudo o que nossa Mãe
quer!
O Toré na Vila de Cimbres ocorre todo domingo à tarde
11
Com a conquista de Pedra DÁgua , os Xukuru adquiriram um terreiro propício
para dançar o Toré. Depois Seu João Jorge e outros indígenas construíram um terreiro
em Sucupira. Os Xukuru que moram na Vila de Cimbres passaram, então, a ir todo
sábado à tarde para Sucupira, pois esta é mais próxima do que Pedra Dágua. O Toré que
acontece na Vila de Cimbres é mais recente, ocorre há uns dois anos. Com a indenização
e a conseqüente retirada de alguns fazendeiros da Vila de Cimbres, foi construído um
novo terreiro onde os Xukuru dançam Toré todo domingo.
Tive oportunidade de assistir algumas vezes ao Toré na Vila de Cimbres. Porém vou
relatar um dos últimos que assisti, em setembro de 2003.
O local na Vila onde se dança o Toré é uma clareira parecida com o terreiro de Sucupira
e de Pedra Dágua, já descritos anteriormente. A diferença é que o espaço é menor e tem
pedras ao redor, em formato de laje, onde as pessoas se sentam para assistir ou descansar
quando não estão dançando o Toré.
Ao centro da clareira, como em Pedra Dágua, foi construído um Peji, onde são
colocadas velas, a Jurema e alguns símbolos Xukuru, como a Gaita, novamente colocada
em lugar de destaque. O Toré na Vila de Cimbres começa com Seu Antônio Medalha,
Mestre de gaita Xukuru. Após a peça de abertura, a Gaita é colocada dentro do Peji e,
com o maracá, inicia-se uma toada. A roda de Toré é formada. As pessoas entram e saem
na medida em que vão cansando.
tore.p65 117 17/05/2000, 09:05
TORÉ
118
12 13
Nesse Toré do domingo, nem todos os Xukuru trouxeram a barretina ou o tacó .
Muitos dançavam com suas roupas do dia a dia. Mesmo assim, todos fazem questão de
estar presentes no ritual. No início o grupo é pequeno, mas aos poucos a clareira vai
ficando lotada, e as pessoas vão se revezando no Toré.
Seu Chico, liderança da Vila de Cimbres é responsável por cuidar daqueles que
entram em transe durante o Toré. Um rapaz de uns 18 anos incorporou e saiu da roda de
Toré, ficando no centro, próximo ao Peji. Ele nada falava, apenas emitia um som, como
se fosse um apito fino. Ficou um bom tempo ajoelhado de frente para o Peji. Acompanhado
por Seu Chico Jorge, o rapaz saiu do transe. Cansado e um pouco desorientado, veio
sentar-se na laje. Em seguida uma mulher e um senhor de uns 60 anos também receberam
os encantos de luz. O mestre de gaita puxava as canções de Toré, Seu Chico acompanha
a toada com o maracá. Ao final, tomaram a Jurema que estava em uma panela de barro,
encostada no Peji.
Alguns sentaram, outros ficaram em pé, para ouvir então Seu Chico falar. Ele falou
pouco, apenas disse que era importante que todos viessem sempre ao Toré, porque além
de cumprir uma obrigação para com os encantados, o Toré também é o momento no qual
as notícias são repassadas e assim todos saberiam do que estava acontecendo na Vila e nas
outras aldeias. Seu Chico falou ainda da situação do cacique Marcos. Algumas pessoas
14
comentaram que com a saída dos Cabral a Vila estava mais leve.
Naquele momento era peculiarmente interessante olhar para as pessoas. Elas
aparentavam muita tranqüilidade. Saíram do ritual sorrindo e conversando alto.
Poder e simbolismo
Os Xukuru dançam o Toré nas festas (Reis, São João, Tamain, casamentos, etc.), em
15
atos públicos, mortes, retomadas , ou todo final de semana, nas aldeias. Cada ocasião
de Toré envolve motivos comuns, que expressam declarações e comunicações específicas.
Mas também envolve motivações individuais para a realização do ritual.
Cada sessão de Toré pode ser apreciada por um estranho sem que se perceba a natureza
das motivações coletivas, e menos ainda as individuais. Os Xukuru chamam o Toré de
ritual, e sempre dizem que vão brincar um torezinho. No entanto, essa expressão é
carregada de compromisso:
Aí fizemos esse terreiro, aqui em Cimbres. A gente brinca o Toré, faz o ritual e quando
é de tardezinha vai embora. Todo domingo, todo domingo. Começa duas horas, às vezes
termina quatro e meia, cinco horas. Todo domingo nós temos que dançar. (D. Angelina)
O Toré enquanto expressão étnica coletiva orienta e organiza a estrutura social dos
Xukuru. Conversando com Seu Chico Jorge, liderança de Vila de Cimbres, perguntei se
as lideranças das aldeias eram escolhidas pelo Cacique ou pelo Pajé. Ele me disse que
tore.p65 118 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
119
não era tão simples assim:
Não é só a gente escolher e pronto. Primeiro vamos pro terreiro, pra mata e no ritual,
no Toré, os encantos de luz indicam aquelas pessoas que devem ser lideranças. Com esse
nome, o cacique e o pajé confirmam a pessoa e, por fim, o povo também abençoa. Mas
primeiro é a mata que fala. Não adianta a pessoa querer estar à frente se os encantos não
aceitam!.
Também é importante ressaltar que as pessoas vêm para o Toré com propósitos
variáveis. Isso quer dizer que nem todos vão ao Toré pelo mesmo motivo, embora cumpram
o ritual da mesma maneira e tenham que a gente tem de cumprir. (D. Maria de Romão)
É preciso que os atores sociais primeiro compartilhem a dança, o som, o cheiro e tudo
o mais que a experiência coletiva pode comunicar. Só depois é que transformam em
discurso aquilo que vivenciaram. Cada pessoa dança o Toré pensando e desejando algo
diferente, o que faz com que essa pessoa saia modificada através de sua própria experiência.
Conversando sobre o Toré com alguns isso como compromisso, tradição e
obrigação: É um compromisso, uma obrigação Xukuru, eles me diziam que o Toré era
obrigação, tradição, brincadeira, união, ao mesmo tempo era motivo de grande
satisfação: No Toré cada um tem uma função, mas todas são muito importantes; eu sempre me
emociono no Toré.
Esse talvez seja o motivo pelo qual o discurso das lideranças sempre acontece ao fim
do ritual. A pessoa que fala procura canalizar as emoções individuais, afloradas durante
o Toré, em ações do grupo: Vocês são a segurança que eu preciso para continuar a luta
(Cacique Marcos).
A intenção evidente é o fortalecimento do grupo. Cabe aqui, no entanto, uma distinção.
Num primeiro momento, cada indivíduo é tocado de forma diferente pelo discurso.
Somente em seguida é que acontece a instrumentalização pelo discurso. Mary Douglas
afirma em Pureza e Perigo (1980), que no ritual sempre há dois tipos de eficácia: uma
instrumental e outra experimental. A eficácia instrumental tem como propósito mudar o
mundo, enquanto a experimental procura mudar o indivíduo no nível psicossomático.
Em cada roda de Toré, antes do discurso final, identifico aquilo que Bateson (1998)
chama de orientação psicológica, na qual as diretrizes para o entendimento da mensagem
são estabelecidas (frame), porém o discurso só tem sentido porque as pessoas se envolvem
no ritual. Qualquer pessoa, seja jovem, idoso, homem ou mulher pode receber os
encantados. Nesse momento essa pessoa adquire um status diferenciado, sendo
reverenciada pelos outros Xukuru. Ouvi vários comentários de como era diferente e
bonito o encanto que um rapaz incorporou nesse Toré da Vila de Cimbres.
Portanto, não podemos afirmar que toda comunicação através do discurso se realize
num nível consciente. Ao contrário, a maior parte das ações não podem ser reconhecidas
tore.p65 119 17/05/2000, 09:05
TORÉ
120
nem mesmo por quem as pratica, pois caso fosse, seria apenas um jogo, uma manipulação
que as pessoas logo perceberiam. O poder para ser estabelecido deve usar mais do que a
força simplesmente. No ritual do Toré, o poder é compartilhado e exposto publicamente.
Não tem poder apenas aquele que tem a palavra ao final do Toré, mas um conjunto de
pessoas que participam do ritual de maneira diferente: aqueles que recebem os encantados
- colocados destacadamente no centro da roda aquele que toca a gaita, aqueles que
fumam o cachimbo, ou simplesmente aqueles que se sentem chamados a dançar o Toré.
Em 1997, acompanhei os Xukuru na Vila de Cimbres. Seu Antônio Medalha já era
mestre de gaita, conversando com ele percebi a preocupação de que não havia ninguém
para aprender a tocar a gaita. Como ele era muito tímido, não falava muito sobre isso
com as outras lideranças indígenas. Algum tempo depois, ao voltar na área indígena, em
2002, não encontrei ninguém aprendendo as peças de gaita, mas Seu Antônio havia
adquirido uma outra posição dentro do grupo. Seu Antônio agora era tratado com muita
reverência. No Toré, na Vila de Cimbres, sua gaita estava dentro do Peji, em local de
destaque, como símbolo sagrado Xukuru.
O Toré é o espaço onde poderes são estabelecidos. O mestre de gaita é reverenciado
ao final de cada canção de Toré, com Vivas ao nosso Mestre de Gaita. Em minhas
visitas recentes também notei uma reverência explícita pela figura do bacurau, quando
jovens procuram exercer essa função. Os Xukuru que entram em transe durante o Toré
também adquirem status especial. E ainda os próprios representantes das aldeias são
respeitados a ponto de conduzirem os rituais no lugar do pajé. Todos esses momentos
constituem sentido e significado a uma roda de Toré, expressando assim aquilo que Cohen
afirma sobre rituais:
As pessoas participam de rituais e cerimônias para conseguir conforto, para cumprir
obrigações sociais, para se divertir, para descobrir suas identidades, para passar o tempo
ou estar com outras pessoas. Entretanto, independentemente desses propósitos, tais padrões
de comportamento afetam e são afetados por relações de poder existentes entre grupos e
indivíduos, sendo que a maior parte do envolvimento da ação simbólica na relação de
poder é desconhecida daqueles que a fazem.(1978: 168).
Em 2003, os Xukuru vivenciaram momentos de tensão e conflito de grande amplitude.
Na festa de Reis, Marcos já alertava para os possíveis problemas futuros. Falou
rapidamente que estava sofrendo ameaças, mas que essas ameaças não vinham dos
latifundiários, mas de membros do próprio grupo. No caso, havia um processo de
divergência interna instaurado nos Xukuru, que segundo o cacique, era fomentado pelos
próprios fazendeiros que estavam deixando o território indígena.
Um mês depois, no dia 07 de fevereiro de 2003, como já foi relatado anteriormente, ele,
seu sobrinho e mais dois índios são parados na estrada que leva à Vila de Cimbres e dois
tore.p65 120 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
121
índios são mortos nessa ocasião. Como conseqüência, os Xukuru revoltados seguem para a
16
Vila e expulsam as famílias Xukuru que acreditavam estar envolvidas com o atentado .
A partir desse dia, todos aqueles que apoiaram o grupo expulso pela população também
saíram da área. Por esse motivo, não apenas as festas tradicionais, mas também assembléias
e reuniões no ano de 2003 passaram a ser realizadas na Vila de Cimbres. Essa aldeia sempre
foi considerada um importante patrimônio simbólico dos Xukuru, principalmente por ter
se originado de um aldeamento, nela se desenvolveu um dos principais centros de tradição
religiosa Xukuru. O controle da Vila de Cimbres significa mais do que controlar uma
aldeia, significa controlar bens simbólicos que fazem parte da constituição dos Xukuru
como um todo e, como conseqüência, apropriar-se da condição de autênticos Xukuru.
Em conseqüência do conflito acima citado, o Toré em Pedra Dágua, Sucupira e na
Vila de Cimbres passou a ser tratado pelos Xukuru - que permaneceram na terra indígena
- como legítimo, enquanto que um outro Toré, criado há um ano pelo grupo expulso -
que era realizado em Cajueiro (área próxima a Sucupira) - era tratado pelos primeiros
como um Toré destituído de propósito ritual, cuja única função era legitimar o grupo
dissidente. Afirmavam que esse Toré era de mentira, pois não tem origem nos
tradicionais Torés das festas: faz um ano que Biá inventou o ritual dele lá no Cajueiro.
Nunca existiu esse Toré do Cajueiro, é de mentira só pra poder dividir a área!.
Ora, existe uma situação ambígua a ser considerada quando me refiro ao Toré Xukuru.
Primeiro é preciso considerá-lo como um sinal diacrítico, legitimador da identidade étnica
dos Xukuru em relação à sociedade envolvente. O Toré concede legitimidade aos Xukuru
diante da população da cidade de Pesqueira, dos órgãos públicos e das outras etnias. No
entanto, depois de todos esses conflitos vivenciados pelos Xukuru em 2003 e,
principalmente, após a expulsão do grupo dissidente, o Toré Xukuru adquiriu mais uma
conotação: fortalecimento interno do grupo. Os Xukuru não duvidam de sua própria
identidade étnica, mas dançar o Toré os insere como membros autênticos de uma
comunidade, legitimando-os diante do grupo dissidente.
O Toré serve para fortalecimento intra-étnico, ou seja, é preciso dançar o Toré para
ser considerado índio dentro do próprio grupo. Conversando com Seu João Jorge, na
antiga fazenda de Dr. Paulo Petribu, recentemente retomada pelos Xukuru, ele me disse
que todas aquelas crianças que estavam ali na minha frente sabiam quem eram:
Todos que estão aqui [na fazenda] já tem rama. Pode perguntar a qualquer criança
aqui quem eles são, que eles vão saber contar sua história, vão saber porque estão aqui e
a importância do Toré. A memória do cacique Chicão não se esquece. Essa aldeia estava
quase extinta e Chicão perdeu a vida tentando botar ela de pé. Portanto, pra ser índio
tem que participar das coisas, tem que saber a importância do ritual, do Toré. Não é
porque nasceu na Vila de Cimbres que é índio. Se fosse assim, Marco Maciel era índio.
E não adianta inventar como uns andaram fazendo por ai.
tore.p65 121 17/05/2000, 09:05
TORÉ
122
A identidade étnica daqueles que foram expulsos do território indígena nunca foi
questionada pelos que ficaram. No entanto, para quem ficou, é preciso que haja distinção
clara entre esses e os que saíram. Essa distintividade é dada através da participação no
Toré comandado pelos que apóiam o cacique. Dançar o Toré, tocar gaita, receber
encantados é símbolo de distintividade perante o grupo dissidente. A performance no
ritual, constrói um estado em que os participantes experimentam significados simbólicos
como parte do processo pelos quais eles estão passando, o que os distingue dos outros
Xukuru.
A maioria dos povos indígenas no Nordeste está começando a viver em um outro
momento de sua história. Antes o grande objeto de luta era o reconhecimento oficial
como indígena e o Toré era o meio encontrado para obter legitimidade diante da população
não-india. Agora percebo além disso, uma ênfase na consolidação das relações entre as
pessoas. No caso Xukuru, o território está sendo entregue aos índios de forma gradativa.
Atualmente 80% do território é posse indígena e o Toré confere aos indivíduos identidade
não apenas perante a sociedade envolvente, mas também entre os próprios Xukuru. A
linguagem simbólica vivida no ritual, traduzida em atos performáticos, pode, portanto,
contribuir para uma melhor compreensão do local de cada pessoa na comunidade.
Diante de tudo isso, entendemos que os estudos referentes a eventos festivos e rituais
indígenas, como o Toré, são importantes porque através deles podemos perceber que
esses rituais se estruturam através de antagonismos ou afiliação, como uma proposta
alternativa e de negociação realizadas pelos atores locais, através dos quais reorientam os
modelos hegemônicos. Os rituais são ocasiões onde, dependendo do resultado das
performances efetuadas, se administram a crença pública, os interesses competitivos e os
sentimentos em direção a um continuado reconhecimento de influência, liderança e poder,
em suas variadas dimensões.
Por fim, devemos ressaltar que festas e rituais também nos permitem repensar os
vínculos entre cultura e poder. A mediação das festas e rituais, para gerir conflitos, dá a
estas formas um lugar privilegiado ao desenvolvimento político, bem como ações efetivas
de intervenção nas estruturas materiais e organizativas das sociedades. Por outro lado,
também se revelam como momentos de tensão e conflito, onde podem ocorrer
exacerbações de facções opostas que se encontram inseridas no próprio grupo.
tore.p65 122 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
123
1 Mestre em Antropologia pela UFPE e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social da UFSC, sob orientação da professora doutora Esther Jean Matteson
Langdon. Bolsista CAPES.
2 Cf. Victor Turner (1987; 1992).
3 Para uma melhor compreensão do significado do Toré como distintividade para os índios do
Nordeste, temos vários trabalhos que tocam nessa questão. Eis alguns: REESINK, E. O segredo
do Sagrado: O Toré entre os índios no Nordeste. Trabalho apresentado na reunião da ANPOCS
regional, João Pessoa, maio 1995; ARRUTI, José Maurício Andion. A árvore Pankararu: fluxos
e metáforas da emergência étnica no sertão do São Francisco. In: OLIVEIRA, João Pacheco
(org.). A Viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no Nordeste indígena. Rio
de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1999. Pp.229 -277. GRUNEWALD, Rodrigo. Regime de
Índio e faccionalismo: os Atikum da Serra do Umã. Rio de Janeiro: PPGAS - Museu Nacional
UFRJ. 1993 (Mestrado); ARCANJO, Jozelito Alves. Toré e identidade étnica: os Pipipã de
Kambixuru (Índios da Serra Negra). Recife: PPGA UFPE. 2003. (Mestrado).
4 Para melhor compreender o processo de consolidação da identidade étnica dos Xukuru a partir
da luta pela terra, é importante ver a dissertação de Mestrado de Vânia Rocha Fialho de Paiva e
Souza, que se encontra publicada pela editora Massangana. (1998).
5 Bacurau é o nome adotado pelos Xukuru para o responsável pela escolha de cada canção de
toré executada. Este sempre fica à frente da roda de toré com o maracá marcando o ritmo.
6 Estar no Conselho significa participar de um ritual realizado à meia noite do dia 23 de junho, na
Pedra do Conselho. Esta pedra é achatada e lisa, também chamada de laje, e fica por trás da rua
principal, na Vila de Cimbres, próximo ao cemitério. Os Xukuru dançam o Toré sobre essa pedra
e recebem conselhos das lideranças, dos encantados e dos antepassados já falecidos que ali se
encontram presentes.
7 Peji é uma espécie de altar que é montado no terreiro sagrado onde se dança o toré. O nome
peji é de origem africana e é um santuário do candomblé baiano. Nos Xukuru, porém, seu formato
é normalmente o de uma cabana arredondada, feita de palha de coco ou uma gruta feita de pedras.
8 O Cacique Chicão (Francisco de Assis Araújo) foi assassinado em maio de 1998.
9 Árvore da família das leguminosas, há três espécies sendo usadas pelos indígenas nordestinos
tore.p65 123 17/05/2000, 09:05
TORÉ
124
(Mimosa Tenriflora, Mimosa Verrucosa e a Vitex Agnus-castus). Planta considerada sagrada e
mágica, com a sua casca, raízes ou folhas é fabricada uma bebida com propriedades alucinógenas.
Embora não se negue o efeito farmacológico decorrente da ingestão do vinho da Jurema, para
que esta funcione é necessário que seja compartilhada, induzida culturalmente, possuindo assim,
um forte componente simbólico. Para melhor aprofundar esse tema ver as referências bibliográficas
finais de Clarice Novaes da Mota (1996; 1997); Clélia Moreira Pinto (1995) e Edwin Reesink
(s/d).
10 Os Xukuru dizem que os índios que morrem (tombam) na luta, não são enterrados, são
plantados, para que de seu sangue nasçam novos guerreiros Xukuru.
11 A aldeia Pedra Dágua foi uma das primeiras áreas a serem retomadas pelos Xukuru. Em 05/
02/90 os Xukuru ocuparam Pedra Dágua e em fevereiro de 1991, os índios foram autorizados
oficialmente a permanecer na área. Pedra Dágua sempre foi considerado um lugar sagrado pelos
Xukuru. Lá se encontra a pedra do rei, considerada sagrada. É também o local onde se realiza a
festa de reis, ritual Xukuru, que ocorre em 06/01. Por fim, foi lá que o cacique Chicão foi enterrado.
12 A barretina é um adorno para a cabeça, feito de palha de coco, enfeitada com flores, que os
Xukuru utilizam nos seus rituais.
13 Tacó é a vestimenta tradicional. É confeccionada de palha de milho e composta de saiote, gola,
braçadeiras para ambos os braços e tornozeleleira para as pernas. Atualmente só uns poucos Xukuru
usam a palha de milho, a maioria confecciona sua roupa de palha de coco, sem a gola e as braçadeiras.
14 A família Cabral é uma das principais famílias expulsas da área indígena por causa das mortes
de 07 de fevereiro.
15 Retomadas são as fazendas que estão na área indígena em que os Xukuru entram à força, para
fazer com que os fazendeiros aceitem o pagamento da indenização oferecida pela FUNAI. Chamam
de retomadas por considerarem áreas que pertenciam aos índios e que foram tomadas pelos
fazendeiros da região.
16 Para os Xukuru que foram expulsos do território indígena, não houve atentado, mas um caso
particular de discussão entre Marquinhos e Louro Frazão, que teve como conseqüência a morte
de dois índios.
tore.p65 124 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
125
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARCANJO, Jozelito Alves. Toré e identidade étnica: os Pipipã de Kambixuru (Índios da Serra
Negra). Recife: PPGA UFPE. 2003. (Mestrado)
ARRUTI, José Maurício Andion. A árvore Pankararu: fluxos e metáforas da emergência étnica
no sertão do São Francisco. In: OLIVEIRA, João Pacheco. (org.) A viagem da volta: etnicidade,
política e reelaboração cultural no nordeste indígena. Rio de Janeiro, Contra Capa. 1999. Pp. 229
277.
BALANDIER. Georges. O Contorno: poder e modernidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
1997. 278p.
BARBOSA, Wallace. Os Índios Kambiwá de Pernambuco: Arte e Identidade Étnica. Dissertação
de Mestrado em Antropologia da Arte, Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.1991.
BARRETO FILHO, Henyo Trindade. Invenção ou renascimento? Gênese de uma sociedade
indígena contemporânea no Nordeste. In: OLIVEIRA, João Pacheco. (org.) A viagem da volta:
etnicidade, política e reelaboração cultural no nordeste indígena. Rio de Janeiro, Contra Capa.
1999. Pp. 91 136.
BATESON, Gregory. Uma teoria sobre brincadeira e fantasia. In: RIBEIRO, B. T. & GARCEZ,
P. M. (org.). Sociolingüística Interacional: Antropologia, Lingüística e Sociologia em Análise do
Discurso. Porto Alegre: Editora Age. 1998. Pp. 57 69.
BRASILEIRO, Sheila Povo Indígena Kiriri: emergência étnica, conquista territorial e
faccionalismo. In: OLIVEIRA, João Pacheco. (org.) A viagem da volta: etnicidade, política e
reelaboração cultural no nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contra Capa. 1999. Pp. 173 196.
COHEN, Abner. O Homem Bidimensional. Rio de Janeiro: Editora Zahar. 1978.
DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. São Paulo: Perspectiva. 1980.
DURKHEIM, E. As Formas Elementares da Vida Religiosa: o sistema totêmico na Austrália. São
Paulo: Martins Fontes, 2000. 623p.
FIAM/CEHM. Livro da Criação da Vila de Cimbres: 1762-1867. Prefeitura Municipal de
Pesqueira: Recife, Pernambuco. 1985.289p.
GRUNEWALD, Rodrigo. Regime de Índio e faccionalismo: os Atikum da Serra do Umã. Rio de
Janeiro, 1993. Dissertação (Mestrado em Antropologia) - PPGAS - Museu Nacional UFRJ.
tore.p65 125 17/05/2000, 09:05
TORÉ
126
______. Os índios do Descobrimento: tradição e turismo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria,
2001. 211p.
GUSS, D. Variations on a Venezuelan Quartet. In: The Festive State. Race, Ethnicity, and
Nationalism as Cultural Performance. University of California Press. 1999. Pp. 1-23.
HOBSBAWM, Eric. Introdução: A Invenção das Tradições. In: HOBSBAWM, E. &
RANGER, T. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1984. 316p. (Coleção
Pensamento crítico; v. 55).
HOHENTHAL. W. Notes on the Shucurú Indians of Serra de ARAROBÁ, Pernambuco, Brazil.
Revista do Museu Paulista. N. S. São Paulo, V. 8. 1958. Pp.93 166.
JACKSON, Michael. Introduction. In: Paths Toward a clearing: Radical Empiricism and
Ethnographic Inquiry Bloomington, Indiana University Press. 1989.
LANGDON, E. J. Performance e preocupações pós-modernas em antropologia. Antropologia em
Primeira Mão; nº 11. Santa Catarina, UFSC PPGAS. 1996.
LEACH, E. R. Sistemas Políticos da Alta Birmânia. Um estudo da estrutura social Kachin. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996 [1964]. 373p. (Clássicos 6).
MAUSS, Marcel. Um esboço de uma teoria geral da magia. In: Sociologia e Antropologia.Volume
I. São Paulo: EPU/ EDUSP, 1974. Pp 39 175.
MOTA, Clarice Novaes da. Sob as ordens da Jurema: o xamã Kariri-Xocó. In: Xamanismo no
Brasil: Novas Perspectivas. LANGDON, E. J. M. (org.). Florianópolis: Ed. da UFSC, 1996.
368p.
______. Juremas Children in the Forest of Spirits. Healing and ritual among two Brazilian
indigenous groups. It. Studies in indigenous knowledge and development. Intermediate
Technology publications. 1997. 133p.
NEVES, Rita de Cássia Maria. Festas e Mitos: Identidades na Vila de Cimbres PE. Recife,
1999. 181p. Dissertação (Mestrado em Antropologia) - Universidade Federal de Pernambuco.
OLIVEIRA, J. P. Uma Etnologia dos Índios Misturados? Situação Colonial, Territorialização
e Fluxos Culturais In: OLIVEIRA, João Pacheco de (Org.). A Viagem da Volta: Etnicidade,
Política e Reelaboração Cultural no Nordeste Indígena. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria.
1999. 351p.
OLIVEIRA JR, Adolfo Neves Faccionalismo Xukuru-kiriri e a atuação da FUNAI. In:
ESPÍRITO SANTO, Marco Antônio (org.). Política indigenista: leste e nordeste brasileiros.
Brasília, FUNAI/DEDOC. 2000.
OLIVEIRA JR, Gerson Augusto de. Torém: : brincadeira de índios velhos. São Paulo: Annablume;
Fortaleza: Secretaria da Cultura e Desportos. 1998.126p.
PEIRANO, Mariza. (org.). O Dito e o Feito: ensaio de antropologia dos rituais. Rio de Janeiro:
Relume Dumará; Núcleo de Antropologia Política/ UFRJ, 2002. 228P. (Coleção Antropologia
da política; 12).
PINTO, Clélia Moreira. Sarava Jurema Sagrada: as várias faces de um culto mediúnico. Recife:
1995. Dissertação (Mestrado em Antropologia) UFPE. 191p.
tore.p65 126 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
127
PROFESSORES XUKURU. Xucuru Filhos da Mãe Natureza; Uma história de resistência e
luta. ALMEIDA, Eliene Amorim de. [org.]. Olinda: Centro de Cultura Luiz Freire / OXFAM.
1997. 76p.
REESINK, E. O segredo do Sagrado: O Toré entre os índios no Nordeste. Trabalho apresentado
na reunião da ANPOCS regional, João Pessoa, maio 1995.
______. A Jurema, enteógeno e ritual na história dos povos indígenas no Nordeste. Departamento
de Antropologia UFBA. s/d.
ROSALDO, Renato. Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis. Boston, Beacon Press.
1993.
SCHECHNER, Richard. The Future of Ritual: Writings on Culture and Performance. New
York, Routledge. 1993.
SCHIEFFELIN, Edward L. Performance and the Cultural Construction of Reality: A New
Guinea Example. In: American Ethnologist. The Journal of the American Ethnological Society.
12(4). 1985.
SEEGER, Anthony; DA MATTA, Roberto; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A Construção
da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. Boletim do Museu Nacional, nº 32. Rio de Janeiro,
RJ. maio de 1979.
SINGER, M. Search for a Great Tradition in Cultural Performances. In: When a Great Tradition
Modernizes: Na Anthropological Approach to Indian Civilization. Chicago, University of Chicago
Press. 1972. Pp. 67-80.
SOUZA, Vânia Rocha Fialho de Paiva e. As Fronteiras do ser Xukuru. Recife: Fundação Joaquim
Nabuco, Editora Massangana, 1998. 152p.
STEWART, J. Patronage and Control in the Trinidad Carnival. In: The anthropology of experience.
Turner, V. W. & Bruner, E. M. (orgs.) University of Illinois Press. Urbana and Chicago. 1986.
Pp. 289-315.
TURNER, Victor. Social Dramas and Ritual Metaphors. In: Dramas, Fields, and Metaphors:
Symbolic action in human society. Cornell University Press. 1975. Pp. 23 59.
_______. O Processo Ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrópolis: Vozes. 1974. 245p.
(Antropologia, 7).
_______. The Anthropology of Performance. In: The Anthropology of Performance. New York,
PAJ Publications. 1987. Pp. 72 98.
_______. Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: an essay in comparative Symbology.
In: From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. PAJ Publications. New York. 1992. Pp.
20 60.
WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos de sociologia compreensiva. 3 ed. Vol. 1 e 2.
Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2000 [1921].
tore.p65 127 17/05/2000, 09:05
TORÉ
128
tore.p65 128 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
129
O TORÉ (E O PRAIÁ) ENTRE OS KAMBIWÁ E OS PIPIPÃ 1
performances, improvisações e disputas culturais
Wallace de Deus Barbosa
No conhecido romance O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, o eternamente
jovem Dorian - personagem principal do livro - dedica-se, durante um certo período de
sua vida atribulada, ao colecionismo diletante como uma forma de sublimação:
Colecionou os instrumentos mais estranhos de todas as partes do mundo. Procurava-os
até nos túmulos de povos desaparecidos, ou então nas raras tribos selvagens que tinham
logrado sobreviver às civilizações ocidentais. Possuía o misterioso jurupari dos índios do
rio Negro, [...] o longo clarim dos mexicanos, o áspero Toré das tribos amazônicas, que
é usado pelas sentinelas que ficam empoleiradas todo o dia no cimo das árvores e que pode
2
ser ouvido, segundo contam, a uma distância de três léguas .
O áspero Toré das tribos amazônicas mencionado nesta passagem é, provavelmente,
o mesmo objeto descrito por Walter Edmund Roth como uma flauta vertical de bambu
muito comum entre os índios do rio Orinoco e ainda encontrado entre os Waiwai do
Pará (Roth 1970: 459-60), chamada de turé na área cultural das Guianas (ibid.: 461).
Lux Vidal me sugeriu a possibilidade de toré ser uma corruptela de turé, espécie de
3
flauta encontrada entre os povos indígenas da região do rio Uaçá (Karipuna, Palikur e
Galibi-Marwono), durante o Seminário Cultura Material, Imagens e Representações,
coordenado por José Antonio Braga Fernandes Dias. O seminário foi realizado em junho
de 1997 no Palácio Rio Negro, Manaus (AM), com os auspícios da Universidade Federal
do Estado do Amazonas e da Universidade de Lisboa. Não tive a oportunidade, desde
então, de perseguir a pista fornecida naquela rara ocasião em que se discutia aspectos
diversos da produção material indígena no Brasil.
Por outro lado, jamais encontrei qualquer registro (audiovisual, oral ou escrito) da
presença do toré, como item de cultura material, em nenhum povo indígena atual do
Nordeste. Hoje, o termo está genericamente associado a uma prática performática muito
comum entre esses povos. Seria portanto interessante retomar o trajeto que levou a flauta
indígena a se transformar em dança emblemática. São possivelmente esparsos os elementos
que permitiriam tal recuperação, mas uma pesquisa nessa direção poderia encontrar
tore.p65 129 17/05/2000, 09:05
TORÉ
130
4
paralelos frutuosos em outros contextos históricos e culturais .
Transformado em performance durante os processos de reafirmação étnica dos povos
indígenas nordestinos, na década de 1970, o toré se difundiu como prática cultural
distintiva em, ao menos, seis estados brasileiros. Algumas referências, no entanto, situam
tal passagem em um momento anterior. Câmara Cascudo (1972) comenta que, além de
nome de uma antiga flauta indígena, toré seria também o nome de uma dança encontrada,
ainda no início do século XX, entre os mestiços indígenas de Cimbres, em Pernambuco.
O dramático episódio do assassinato de um índio Pataxó Hãhãhãe, que ficou
nacionalmente conhecido como Galdino Pataxó, asssassinado na madrugada do dia 20
de abril de 1997, fez com que a opinião pública conhecesse o toré como um meio de
expressão, sobretudo através das reportagens em rede nacional de televisão. Empreendido
na forma de um protesto indignado, a dança denunciava a opressão e o descaso com as
populações indígenas por parte do governo e da sociedade que, impactada, assistia às
cenas de sucessivas imagens que a imprensa, naquela ocasião, chamou de toré.
Em algumas páginas de divulgação da Região do Vale do São Francisco, através da
internet, em Estados do nordeste (Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas), o toré é
referido como manifestação folclórica de origem indígena e descrito como uma
cerimônia, onde os participantes buscam, através da dança e da magia do velho mestre, o
Pajé, expiação para minorar seus males e sofrimentos. Nos ritos são utilizados a defumação
com poções de ervas medicinais, e a dança os conduzem para os espíritos caboclos e
juremados. As cantigas, toadas e danças iniciadas pelo Pajé são acompanhadas por pífanos
5
e trombetas .
Esta é, atualmente, uma das práticas mais difundidas no contexto dos povos indígenas
do Nordeste brasileiro: modalidade ritual que, descrita como uma espécie de iniciação,
envolve, em escalas aproximadas, elementos religiosos, políticos ou simplesmente lúdicos,
6
apresentados de uma forma claramente performática .
7
Entre os Kambiwá , assim como entre os Pipipã, toré designa uma dança, um
folguedo, uma brincadeira, o que se poderia traduzir com a idéia de performance, no
sentido proposto por Turner (1988). Usa-se ocasionalmente, nos atuais toré, um
instrumento de sopro que não tem o nome nem o formato do antigo instrumento
mencionado por Roth. Os itens indefectíveis utilizados na dança do toré são a cateoba
(saiote de fibra caroá), o maracá (também chamado coité) e a gaita: espécie de flauta reta
vertical, confeccionada com tubos de PVC, medindo cerca de trinta centímetros de
comprimento, utilizada para conclamar os participantes do toré ou do praiá, através
de longos silvos, e para fazer marcações rítmicas durante a execução dos toantes (cânticos).
Segundo Victor Turner (1988:91), o termo performance é derivado do inglês arcaico
parfournen, mais tarde tornado parfourmen, que, por sua vez, vem do francês antigo
parfournir, formado pelo prefixo par (cuidadosamente, completamente), mais
fournir (fornecer). Performance, assim, não teria um sentido estruturalista manifesto,
tore.p65 130 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
131
mas conota o processo de completar. Realizar uma performance, mais que praticar
determinado ato ou ação, é completar um processo em curso. Para Turner, as performances
podem ser tidas como um paradigma do processo (ibid.: 8), e são, desse modo, exemplos
vivos do ritual em/como ação.
O toré já foi definido como iniciação que faz parte da ciência indígena (Barbosa,
2003). Entre os Truká da Ilha de Assunção (PE), é por vezes chamado de cienciazinha
(Batista 1992), uma versão domesticada da ciência que, na maior parte dos casos,
circunscreve os limites do segredo. Vera Calheiros da Mata (1989) distingue duas
modalidades: o toré de brincadeira e o toré de búzios. Essa última é definida como
uma espécie de cartão de visitas dos índios para eventuais visitantes desejosos de conhecer
seus costumes.
Marco Tromboni Nascimento, por sua vez, entende o Toré como prática religiosa,
densa de simbolismo pela interveniência de tradições culturais variadas, parte do
complexo ritual da Jurema, e também como dança recorrentemente escolhida pelos
índios nordestinos com a finalidade de mostrá-la publicamente para afirmar sua condição
étnica (Nascimento, M. T. - 1994: 109).
Entre os Kambiwá, os toré por mim observados foram realizados, em sua grande
totalidade, sem a ingestão da jurema (ou enjucá como também é chamado a bebida
preparada com a casca da juremeira-preta), embora sua menção seja muito freqüente nos
toantes ou linhas. A evocação da penitência representada pela ingestão do amargo vinho
da jurema é muito freqüente e a presença conspícua de elementos culturais relacionados
ao complexo da jurema se coloca predominantemente no plano metafórico. Por outro
lado, os registros etnográficos de que se dispõe não apresentam - aos menos até o momento
- elementos minimamente interrelacionados que permitiriam entender a prática do toré,
entre os Kambiwá, como um complexo ritual, tal como propõe Tromboni. Levando-se
em conta o caráter emblemático, contestatório, lúdico e de celebração que motiva e que
está na base da maior parte dos toré realizados pelos Kambiwá (pelo menos os que pude
observar), posso afirmar que a dimensão propriamente ritual dos toré, neste caso, constitui
apenas um de seus aspectos e seguramente não será o principal.
Podemos ainda entender o toré em contraposição ao Praiá, se tomarmos tais práticas
performáticas como reguladas por regimes de visibilidade distintos (Rosaldo, R. - 1992).
De modo geral, o toré tem um caráter menos restritivo que os demais rituais encontrados
entre Kambiwás e Pipipãs, como o praiá e o ouricurí de Serra Negra. Coreograficamente
falando, pode-se contrastar os estilos de pisada que são mais recorrentes nestas
performances em particular, seja no contexto do mesmo grupo ou entre grupos vizinhos.
Entre os Kambiwá, do ponto de vista da simbologia e da liturgia ligada à cada ritual, é
possível contrastar a relativa rigidez do Praiá com a notória versatilidade dos toré, seja
no que se refere ao sistema dancístico ou ao contexto de execução. De fato, estive, durante
algum tempo, tentado a opor estas duas modalidades rituais baseado na relativa
tore.p65 131 17/05/2000, 09:05
TORÉ
132
flexibilidade de execução e dos contextos de encenação dos toré em contraposição ao
rígido calendário lunar e as estritas condições prévias de execução que regulava a realização
dos Praiá (Cf. Barbosa, W.D. -2003). No entanto, não se pode concluir, ainda que com
base em prolongados períodos de observação participante, que quaisquer destas práticas
sejam intrinsicamente estáveis ou rígidas, ao menos em termos absolutos. A flexibilidade
não é prerrogativa dos toré, do mesmo modo que a relativa estabilidade e o pouco mais
de rigidez litúrgica não faz do Praiá um ritual fechado para quaisquer formas de
improvisação. Na verdade, podemos tomar tanto o toré quanto o Praiá como práticas
performáticas distintas, no sentido proposto por Turner (1982).
O toré admite inúmeras variações: já foi definido como dança, rito ou simplesmente
brincadeira e pode ainda ser tomado como modalidade ritual, de caráter iniciático. Algo
semelhante ocorre com uma outra forma de linguagem performática tradicional ou étnica
como a Capoeira, particularmente em sua variante angola.
8
Certa ocasião, juntamente com Carlo Alexandre Teixeira (então aluno do mestrado
em Ciência da Arte - IACS-UFF), desenvolvemos reflexões que indicavam a proximidade
entre dois universos performáticos distintos: o do toré, dos índios do nordeste e o da
capoeira angola, tal como praticada contemporaneamente em Salvador e na cidade do
Rio de Janeiro (Barbosa, W.D. & Teixeira, C.A.-2000). Nestes dois casos em particular,
a vantagem do conceito de performance reside no fato de ser esta noção bastante
abrangente para abarcar as diversas acepções destas práticas multivocais, que vem sendo
muito habilmente manipuladas por uma série de novas identidades do mundo moderno
(Cf. Marcus, G. - 1991). No caso da capoeira angola, o conceito de performance permite
entendê-la simultaneamente como dança, como luta, como rito, como farsa, como drama.
No caso dos toré; como brincadeira, penitência, celebração ou como protesto.
Regina Polo Müller, respaldada por sua extensa experiência de pesquisa entre os
Asuríni do Xingú, também se vale do conceito de performance cultural, formulado
por Singer e Sullivan (Singer, apud Sullivan, 1986), para dar conta da concomitância de
planos e sentidos no ritual xamanístico dos Asuríni, onde o xamã se metamorfoseia em
ser sobrenatural, transformando-se em um deles, ao mesmo tempo em que, de modo
ambivalente, se mantém humano (Müller, R.P.-1996:44,45).
Victor Turner (1982) em um livro que pretende discutir as fronteiras entre os rituais
e o teatro, oportunamente comentou que o entendimento e , de certo modo, o preconceito
segundo o qual todo ritual é marcadamente rígido, estereotipado ou obsessivo é algo
característico do pensamento ocidental e arremata em outra ocasião: qualquer pessoa
que tenha conhecido um ritual africano, balinês, singalês ou ameríndio sabe que essa
particularidade não pode ser generalizada (Turner, V. - 1988: 26). A idéia segundo a
qual as cosmologias indígenas são estruturadas e estáveis tem profundas raízes no
pensamento antropológico e está relacionada à expectativa de que os informantes tenham
sempre uma explicação acabada para suas práticas culturais.
tore.p65 132 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
133
Esta parece ser uma expectativa mais recorrente do que imaginamos. Ao apresentar
os resultados preliminares de minha pesquisa aos colegas de formação, que me
acompanhavam desde o mestrado, mencionei que as máscaras do ´praiá´, confeccionadas
com feixes de fibra de caroá (VIDE FOTO) seriam, entre os Kambiwá, individuais e
intransferíveis. No mesmo momento, um colega me indagou qual era o destino da
máscara após o eventual falecimento de um detentor. Ignorante a esse respeito e
envergonhado com a negligência etnográfica, em meu primeiro retorno à área indígena
fiz essa pergunta ao Sr. Zizi (ex-cacique da área indígena Kambiwá) que, após breve
pausa, elogiou a boa pergunta e se desculpou dizendo que possivelmente ainda
discutiriam o assunto no âmbito do Conselho Indígena, pois a situação de óbito de um
membro da confraria ainda não havia sido vivenciada, na medida em que esta prática
havia sido adotada em um passado relativamente recente, entre as décadas de 1960 e
1970.
Improvisação e abertura são traços gerais dos rituais registrados na área indígena
Kambiwá que devem ser tomados em sua natureza dinâmica, indistintamente. Partidários
do toré e do Praiá convergem nesse ponto, visto que ambos assumem uma certa margem
de heterodoxia, improvisação, como se pode depreender deste depoimento de Dona Maria
das Neves, uma das principais herdeiras da prática ritual no Praiá entre os Kambiwá:
O trabalho indígena é como uma escola. O senhor estuda, estuda e nunca deixa de
estudar. E quanto mais o senhor estuda, mais o senhor vai aprendendo, não é? Essas
crianças tão vendo os avô trabalhando. Nós morre e não deixa de trabalhar, porque
nunca termina: quanto mais o senhor trabalha, tá sempre aprendendo e ensinando pros
filhos (Maria das Neves. Baixa da Alexandra, outubro de 1998).
Minhas primeiras experiências de observação participante em rituais, entre os
Kambiwá, se deram nos meses de junho e julho de 1990, quando Seu Zizi - que havia
sido cacique dos Kambiwá durante quase uma década - convidou-me para freqüentar
seus trabalhos espirituais que ele definia como toré de caboclo e que eu poderia classificar
como uma espécia de toré domiciliar : era sempre feita em casa, em um só cômodo (cerca
de 15 metros quadrados), com a audiência sentada, em sua maioria. O trabalho era
caracterizado pelo uso do maracá como instrumento de marcação sonora; pelos cânticos
(quadras rimadas tematizando a história do grupo, sua diáspora e o reencontro; os seres
do mato e santos de devoção) e o fumo, consumido em cachimbos retos tubulares,
confecionados com a raiz da juremeira preta que, entre os Kambiwá e Pipipã, recebem a
designação alternativa de guia. A pequenez do recinto em que se realizavam os trabalhos
ministrados por Seu Zizi realçava o forte cheiro do tabaco queimado juntamente com o
alecrim de caboclo, erva nativa também muito usada também como incenso para fins
de purificação espiritual do ambiente. Diante de Seu Zizi, repousava uma pequena
toalha de mesa sobre a qual ele dispunha suas guias, algumas pequenas pedras de
dimensões e formatos variados um pequeno cruzeiro e velas, muitas velas. Os toantes
tore.p65 133 17/05/2000, 09:05
TORÉ
134
eram por ele puxados e logo acompanhados pelas mulheres, cujo timbre de voz misturava-
se ao constante chocalhar dos maracás.
Demarcando fronteiras culturais: a pureza como projeto étnico
Até aquele momento, não julgava que os trabalhos por mim assistidos na casa de seu
Zizi poderiam constituir qualquer tipo de constrangimento ou ameaça a quaisquer pessoas,
9
na área indígena Kambiwá. Ainda que bastante heterodoxos em sua concepção e
encaminhamento, os trabalhos-de-mesa de caboclo comandados por Zizi eram tolerados
com bastante resignação pela maior parte dos moradores até o momento em que um
movimento em que a busca do original começou a se configurar como um projeto
étnico (Oliveira, 1993) entre alguns moradores da Aldeia da Baixa da Índia Alexandra,
10
centro administrativo e político da área indígena Kambiwá , onde está localizado o Posto
Indígena.
Em ciências políticas, econômicas e sociais, tornou-se moeda corrente falar no
fenômeno da globalização. A chamada pós-modernidade empresta um pouco de seu
sentido ao que alguns chamam de cultura global, momento pós-colonial ou, mais
estreitamente, capitalismo tardio. Nesse contexto particular, o que se assevera é o
rompimento de concepções estabelecidas e a diluição de fronteiras, entendidas em sentido
amplo: espaciais, étnicas, disciplinares e culturais.
Assim, pode parecer inusitado falar de fronteiras culturais. No presente caso,
entretanto, trata-se de apresentar um aspecto da concepção nativa de cultura que não está
em conformidade com as posições pós-modernas, na qual os chamados empréstimos
culturais são negativizados e há clara oposição entre formas ´autênticas´ da cultura e
outras, consideradas ilegítimas.
Entre os Kambiwá, desde o início da década de 90, vinha se configurando um
movimento que perpassava as discussões sobre cultura e tradição, entendidas como
categorias nativas. Uma tensão evidente se fazia notar e não seria exagero falar em um
fundamentalismo autóctone que concorria com uma outra posição, relativamente mais
flexível, heterodoxa ou híbrida. Essa última perspectiva seria mais permeável à
incorporação de elementos externos, enquanto para a primeira a importação de práticas
culturais exógenas, ainda que indígenas, não seria desejável.
No final dos anos noventa, o ritual do Praiá, originário dos Pankararú de Brejo dos
Padres (PE), começou a ser combatido por um grupo de famílias lideradas pelo então
Pajé Kambiwá, Expedito Rozeno, por se tratar de prática cultural importada de um
outro grupo indígena. Seus praticantes freqüentemente eram alvo de críticas por se valerem
de algo que pertenceria a uma outra tradição. Ainda que indígena, tratava-se de uma
outra cultura. Este movimento fundamentalista culminou com uma disputa política
envolvendo as funções de cacique e pajé na área indígena Kambiwá que foi intermediada
pela Funai (Fundação Nacional do Índio) através da realização de uma eleição, a pedido
tore.p65 134 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
135
do grupo, onde o grupo de Expedito, ao se ver derrotado na disputa, solicita anulação do
processo alegando a presença, do lado vencedor, de votantes não-índios e de crianças.
No dia seguinte ao ocorrido, no mês de agosto de 1998, um grupo de famílias lideradas
por Expedito se desloca para o lugar conhecido como Travessão do Ouro e funda a
nova aldeia dos Pipipã de Kambixurú, etnônimo adotado como uma forma de distinção
do grupo original. O fato é que este movimento que gerou a etnogênese Pipipã se pautou
grandemente em uma discussão sobre cultura, entendida em termos nativos. Os
partidários de Expedito defendiam o argumento de que os antigos de Serra Negra,
dos quais se consideravam descendentes, desconheciam o Praiá e praticavam apenas o
toré, segundo consta das lembranças dos períodos de perseguição ou dos relatos dos
mais velhos. Para eles, a tradição indígena é o toré e a disputa ocorrida foi tomada como
um embate de culturas, uma disputa - que seria arbitrada pelo representante da Funai
- entre o torée o Praiá (Cf. Barbosa, W. D. - 2003:49-98).
Utilizo aqui a designação fundamentalista para qualificar uma concepção de cultura
que se vale de princípios limitados, entendidos como suficientes e necessários para orientar
as condutas humanas, em dada visão de mundo. Entre os Kambiwá, produziu-se uma
política fundamentalista no trabalho das lideranças durante o processo de regulamentação
das práticas culturais legitimadas como pertencentes ao grupo. Na regulamentação dessas
práticas, empreendida inicialmente pelos membros do Conselho Indígena e,
posteriormente, pelo pajé Expedito, a cultura Kambiwá foi concebida de modo
´fundamentalista no sentido proposto por Canclini, ou seja, a partir da idealização
dogmática de um patrimônio cultural como sendo constituído por um repertório fixo de
práticas e objetos valiosos (Canclini 1997: 162).
Muito embora em alguns casos a regulamentação de práticas culturais e condutas
sociais não se restrinja a aspectos religiosos, na maior parte dos casos a noção de
fundamentalismo é aplicada ao campo das religiões. Há formas específicas de
fundamentalismo, tal como a que opera entre kambiwás e pipipãs, que se poderia
11
apropriadamente chamar de fundamentalismo cultural (Keddie, N. R. -1998)
Em decorrência dessa tendência, do mesmo modo que o ritual do Praiá é criticado
por ser prática cultural importada, exógena ao grupo, determinadas perfomances públicas
também são vistas com grande reserva e, em determinados contextos, ocultadas ou
12 13
reprimidas . A eventual ocorrência de manifestos entre participantes de um Toré ou de
referências conspícuas à entidades associadas aos cultos afro-brasileiros (tidas como
14
estranhas ao que seria estrito ou específico da tradição indígena) é considerada
indesejável.
Essa visão é compartilhada pela maior parte dos informantes. Para entender essa
perspectiva, recuemos até o momento em que o pajé Pankararú aceita auxiliar o grupo a
se preparar para a visita oficial dos representantes do governo, a partir de meados da
d~ecada de 1960. Passando a visitá-los quinzenalmente, treinava as passadas das linhas,
tore.p65 135 17/05/2000, 09:05
TORÉ
136
que depois seriam repassadas. Anísio, morador da Serra do Periquito especialmente
chamado para liderar a retomada da tradição, teve de declinar dessa missão e indicou
15
outro especialista para substituí-lo. Seu nome era Zé Índio , e a aceitação de sua forma
de conduzir os trabalhos foi problemática:
Naquele dia em que João esteve aqui eles aprenderam e ficaram cantando. O velho
João, antes de sair, deixou o Toré pra eles ficarem cantando todo dia de sábado e dia
santo. Aí voltou pra Tacaratú e só vinha aqui de 15 em 15 dias, de três em três semanas,
e deixou o ponto com Anísio para resolver. Mas Anísio, cheio de ocupação, trouxe Zé
Índio, um xangozeiro. Aí eu fiquei como fiscal. Eu fiquei como xerimbabo. Aí seu João
me perguntava: E aí, seu Luís?. Eu respondia: Seu João, é muito diferente!.
Diferente como?. Eu dizia: Quando o senhor chega aqui, nós canta a noite toda,
canta o dia e não cai ninguém! Ninguém vê um manifesto! E quando o homem de
Anísio se apresentou aí, o povo só falta torar o pescoço! Ele pula no meio do terreiro, ele
joga terra pra riba! Ele açoita, ele roda, e o povo só vê é gente descangotado. Aí ele
respondeu: E o senhor acha que tem diferença?. E eu respondi: Eu acho que tem,
né? (Luís Pereira. Alexandra, junho de 1998).
Surge aqui um elemento bastante recorrente na busca da especifidade do que são
práticas indígenas, freqüentemente acionado na delimitação e reificação de uma suposta
fronteira cultural: a possessão ou o manifesto. De acordo com essa concepção, não existe
16
possessão no trabalho indígena, sendo esse um traço característico da tradição branca :
João podia trabalhar quatro ou cinco dias que ninguém manifestava, porque nós trabalhava
era com a força do Ouricurí, a força da corrente, da natureza, declara dona Maria das
Neves.
João Tomaz resolveu aparecer na próxima ocasião em que Zé Índio comandasse os
trabalhos no terreiro. No confronto, protagonizou uma discussão dentro da ciência:
segundo ele, Zé Índio havia amarrado a força das matas no pé do cruzeiro e, assim
fazendo, ficava tudo nas linhas dele. Imediatamente desfez o que julgava estar
bloqueando a visita dos encantos:
Zé Índio amarrou o dono do mato no pé do cruzeiro. Assim a gente chamava as
forças das matas e não vinha porque tava amarrada! E não tinha como fazer as visitas.
Porque em nossos trabalhos a gente vê as visitas, né? A gente tem a prestação de ver. Se
dois ou três não vê, mas um ou dois vê... mas daquele jeito trancou tudo! Só dava o outro
lado: dos manifestos e da confusão. E assim, ele apanhou lá, trouxe o homem e quando
soltou perguntou: Quem amarrou um velho aqui no pé do cruzeiro?. Zé Índio
respondeu: Eu. João perguntou: Por quê?. Zé Índio respondeu: Porque ele tem
uma chegada mais diferente que os meus. João diz: A gente vai ver isso, mas ele vai ser
solto agora. E aí João saiu pro pé do cruzeiro, defumaram, fizeram o manejo dele e
soltaram. Então ele falou: Vamos tirar a experiência. Foi quando ele foi lá pro meio do
terreiro onde todo o procedimento, toda a experiência foi puxada dentro da sala dele. Os
tore.p65 136 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
137
que Zé Índio puxou eram todos abrindo os portões do inferno! (Risos) Olha, pelo amor
de Deus, puxaram Lucifer com toda a família! E o velho João era sempre com a mãe de
Deus e os capitão do Ouricurí (Luís Pereira. Alexandra, junho de 1998).
O desfecho do confronto foi o afastamento de Zé Índio de Alexandra, que ficaria, até
a chegada da primeira equipe de pesquisa da Funai, assistida pelo pajé João Tomaz.
Considerações Finais
De certo modo, essa busca de especificidade ou pureza das práticas culturais indígenas
pode ser equiparada ao conhecido movimento em torno da chamada pureza nagô nos
terreiros de candomblé da Bahia e de Sergipe, estudados por Dantas (1982), entre outros.
Os clássicos estudos sobre o candomblé, de Nina Rodrigues a Roger Bastide, percebiam
no culto aos caboclos uma impureza associada ao sincretismo afro-ameríndio e
identificavam nos candomblés nagô verdadeiros modelos de culto. Os terreiros com
maior influência banto seriam os mais pobres em termos míticos e rituais e, portanto,
mais expostos à influências exógenas (Bastide 1989).
Nos últimos tempos, no entanto, sobretudo a partir do artigo pioneiro de Dantas, a
busca da chamada pureza nagô passou a ser bastante questionada. Essa autora mostrou
como são relativos os traços tidos como puros (associados a uma origem africana) dos
grandes terreiros baianos. A partir de um estudo em Sergipe, observou que a pureza
nagô local pouco ou nada tinha a ver com a mesma noção utilizada na Bahia. O que era
considerado puro na Bahia era tido como misturado em Sergipe, e vice-versa. Além
disso, a influência dos candomblés baianos era considerada pelos colegas de Sergipe
como nefasta e responsável pela proliferação dos torés, tidos como deturpadores da
verdadeira herança africana. Ao mesmo tempo, em alguns candomblés a influência
indígena era claramente assumida, e a figura do caboclo, bastante celebrada.
Da mesma forma, entre os povos indígenas em processo de reinvenção de suas
tradições, o que é negativizado entre uns pode ser tratado como componente legítimo da
cultura por outros. Em março de 1999, acompanhando Rodrigo Grünewald em uma
visita à aldeia Pataxó de Barra Velha, ouvi de alguns de seus informantes que a possessão
não é interditada em seus rituais. Ao contrário, parece ser um fenômeno bastante freqüente,
17
para o qual existe inclusive um termo específico para o mesmo .
Entre os povos indígenas atuais, o projeto étnico (Oliveira 1993) de reelaboração
de tradições específicas comporta diversas concepções nativas de cultura e tradição, com
variados graus de compatibilidade entre si. Entre os Kambiwá, essa batalha simbólica
em torno de aspectos relacionados a variados aspectos de suas práticas culturais veicula
disputas faccionais pretéritas ligadas à ocupação da terra e à organização social.
Paralelamente, a busca de especifidade cultural contrastiva pode estar sendo usada como
forma de exorcizar as categorias de acusação acionadas contra o grupo, como as de
catimbozeiros e xangozeiros.
tore.p65 137 17/05/2000, 09:05
TORÉ
138
Entendidas como variantes de um mesmo projeto étnico (Oliveira, op.cit.), as formas
de objetificação cultural fundamentalistas pretendem circunscrever seus respectivos
universos culturais a um número limitado de práticas e representações que lhes seriam
específicas, rejeitando os empréstimos. Por sua vez, a perspectiva híbrida está mais
propensa à incorporação de novos elementos e à ampliação do repertório de práticas e
representações culturais. Ambas as tendências configuram-se como projetos étnicos
particulares, inscritos em um plano ideal que não necessariamente corresponde ao
comportamento ordinário dos membros do grupo que, ao rejeitar determinados
18
empréstimos culturais e aceitar outros , revela um pouco de sua história.
tore.p65 138 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
139
1 - Professor do Bacharelado em Produção Cultural e do Mestrado em Ciência da Arte, da
Universidade Federal Fluminense - UFF.
2 - Oscar Wilde, O retrato de Dorian Gray. The Portrait of Dorian Gray / Tradução de Lígia
Junqueira. Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 2003.
3 - Localizada no extremo-norte do Estado do Amapá, a bacia do rio Uaçá, compreende dois
afluentes, o Curipi e o Urucauá. Das cabeceiras dos três rios até próximo ao curso médio a
vegetação é de terra firme mas, a partir do curso médio seguindo em direção à foz, a vegetação
muda e é tomada por campos alagados, entrecortados por terras mais elevadas que permitem a
ocupação humana.
4 Refiro-me, entre outros contextos, ao complexo dancístico indígena existente em alguns estados
mexicanos, circunscritos em universos etnográficos bem definidos (Jáuregui & Bonfiglioli 1996),
genericamente chamado las danzas de conquista, em que os índios encenam a saga da conquista do
México-Tenochtitlan por Cortez, reinterpretada dramaticamente a partir de uma série de eventos
históricos. Tive a oportunidade de acompanhar a execução de extensos trechos de uma dessas
danças pelos índios Amusgo do povoado Tlachoachistlahuaca, na costa oeste mexicana, a convite
do antropólogo Carlo Bonfiglioli, da UNAM. Sobre esse caso em especial, cf. a competente
etnografia de Bonfiglioli (1998).
5 - http://www.valedosaofrancisco.com.br.
6 - Ao utilizar a expressão performática estou me referindo à linguagem própria das performances,
no sentido também conferido pela arte contemporânea, que é a da ruptura com a idéia da
representação e que valoriza o sentido da atuação como forma de expressão. A este respeito,
conferir Cohen, R. (2002).
7 - Pesquisei os Kambiwá de 1990 a 1999, quando o grupo veio a cindir e fundar uma nova
aldeia dentro dos limites da T. I. KAMBIWÁ, mas adotando distintivamente o etnônimo Pipipã.
Os dados etnográficos aqui apresentados dizem respeito a esta experiância de campo. Para uma
análise do processo de cisão dos Kambiwá e da etnogênese Pipipã, conferir Barbosa, W. D. (
2003).
8 - Capoeirista, performer e mestre em Ciência da Arte - PPGCArte - IACS - UFF.
9 - A variedade de seres e personagens sobrenaturais evocados durante os trabalhos-de-mesa de
tore.p65 139 17/05/2000, 09:05
TORÉ
140
Seu Zizi, assinalava uma grande absorção de elementos dos cultos afro-brasileiros. Não raro os
encantados que constituíam o principal contingente do panteão local (caboclo andorinha, seu
beija-fulô, entre outros) se viam ladeados por pombas-giras e zé pelintras.
10 - A T. I. Kambiwá abrange as aldeias de Alexandra, Pereiro, Tear, Faveleira e Serra do Periquito,
entre os municípios de Ibimirim, Inajá e Floresta (PE), com um contingente populacional estimado
em torno de 2700 indivíduos. Para uma conextualização da disposição espacial e política destas
aldeias, conferir nosso Pedra do Encanto. Dilemas Culturais e Disputas Políticas entre os Kambiwá e os
Pipipã.
11 Mark Juergensmeyer (apud Keddie 1998) entende que a noção de fundamentalismo vem se
transformando em arma política, do mesmo modo que ocorreu com o termo comunismo, no
Ocidente, e com o termo nazismo, na Índia. Informações e análises sobre diversos movimentos
sociais fundamentalistas são encontradas nos cinco volumes editados por Marty e Appleby (1991,
1992, 1993, 1994, 1995). Mesmo consideradas as objeções contra o uso generalizado desse termo,
sua utilização no presente caso é oportuna
12 Em várias ocasiões foi solicitada a interrupção dos registros visuais (vídeo ou fotografia)
durante determinados estados de transe, avaliados pelo pajé Expedito ou por algum membro do
Conselho como alheios à tradição indígena.
13 Palavra nativa usada para designar genericamente toda e qualquer manifestação espetacular
ou pública de transe mediúnico.
14 Sobre a afirmação de uma especifidade das práticas indígenas pautada particularmente na
adoção do Toré entre os Kiriri (BA), cf. o trabalho de Brasileiro (1999: 209-18).
15 Algum tempo depois, Zé Índio participou ativamente do levantamento da aldeia de Kapinawá.
16 Na visão nativa, esse é um traço característico do catimbó e do xangô. Câmara Cascudo, no
entanto, distingue formas variadas de manifesto, recorrentes no catimbó, no xangô e no
candomblé. O primeiro tipo de possessão é marcado apenas pela mudança no timbre de voz do
médium, não havendo a espetaculosidade sugestiva da caída do santo num terreiro de candomblé
(Cascudo 1951: 39).
17 Encaboclar, que pode ser tomado como o equivalente do verbo manifestar, utilizado
pelos Kambiwá para se referir à ação de entrar em transe mediúnico. Para uma maior
contextualização da etnografia dos Pataxó, cf. Grünewald (2001).
18 É importante notar que, no campo religioso, os moradores de ambas as aldeias não fazem
restrição ao culto de uma série de santos católicos reconhecidos e alguns outros, consagrados
regionalmente como milagrosos, como padre Cícero e frei Damião. Nas paredes internas das
casas de ambas as aldeias, os retratos de santos são encontrados em profusão, sendo os mais
comuns Santa Luzia, São Francisco, São José, Santo Expedito e Santa Bárbara.
tore.p65 140 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
141
BIBLIOGRAFIA
BARBOSA, Wallace de Deus
(2003) - Pedra do Encanto. Dilemas culturais e disputas políticas entre os Kambiwá e os Pipipã.
Rio de Janeiro: Contracapa/LACED.
BARBOSA, Wallace de Deus & TEIXEIRA, Carlo Alexandre
(2000) - O ritual como linguagem performática: tempo, improvisação e regimes de visibilidade,
In Poiésis. Estudos de Ciência da Arte. Niterói: Madgráfica/PPGCArte/IACS-UFF, ano 2, n.2.
BASTIDE, Roger
(1989) As religiões africanas no Brasil. São Paulo: Pioneira.
BATISTA, Mércia Rejane Rangel
(1992) De caboclos de Assunção a índios Truká: estudo sobre a emergência da identidade
étnica Turká. Dissertação de mestrado em Antropologia Social. Rio de Janeiro, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional.
BRASILEIRO, Sheila
(1999) O Toré é coisa só de índio: mudança religiosa e conflito entre os Kiriri. Em: BACELAR,
J. & CAROSO, C. (org.). Brasil, um país de negros? Rio de Janeiro: Pallas / Ceao (Ba).
BONFIGLIOLI, Carlo
(1998) La epopeya de Cuauhtemoc en Tlacoachistlahuaca: un estudio de contexto e sistema em
la antropologia de la danza. Tese de doutoramento em Antropologia. México, UAM.
CÂMARA CASCUDO, Luís da
(1951) Meleagro. Depoimento e pesquisa sobre a magia branca no Brasil. Rio de Janeiro: Livraria
Agir Editora.
(1972) Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro: Ediouro.
CANCLINI, Nestor Garcia
(1997) Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: EdUSP.
COHEN, Renato
(2002) Performance como linguagem. Criação de um tempo-espaço de experimentação. São
Paulo, Editora Perspectiva.
DANTAS, Beatriz G.
(1982) Repensando a pureza Nagô. =Religião e Sociedade, n. 8. Rio de Janeiro.
tore.p65 141 17/05/2000, 09:05
TORÉ
142
GRÜNEWALD, Rodrigo de A.
(2001) Os índios do Descobrimento: tradição e turismo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria.
JÁUREGUI, Jesus & BONFIGLIOLI, Carlo (org.)
(1996) Las danzas de conquista, vol. 1: México contemporáneo. México: Fondo de Cultura
Económica.
KEDDIE, Nikki R.
(1998) The new religious politics: where, when, and why do fundamentalism appear?.
Comparative Studies in Society and History. An International Quartely, vol. 40, n. 4 Cambridge.
MARCUS, George E.
(1991) - Past, present and emergent identities: Requirements for ethnographies of late 20th
century modern worldwide. IN: Anais da 17a Reunião da ABA. Florianópolis.
MARTY, Martin E. & APPLEBY, R. Scott
(1991) Fundamentalisms observed. Chicago: Chicago UP.
(1992) Fundamentalisms and society. Chicago: Chicago UP.
(1993) Fundamentalisms and the State. Chicago: Chicago UP.
(1994) Fundamentalisms comprehended. Chicago: Chicago UP.
(1995) Accouting for fundamentalisms. Chicago: Chicago UP.
MATA, Vera Calheiros da
(1989) A semente da terra: identidade e conquista territorial por um grupo integrado. Tese
de doutoramento em Antropologia Social. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional.
MÜLLER, Regina Polo
(1996) Ritual e performance artística contemporânea. Em: TEIXEIRA, J. G. (org).
Performáticos, performance e sociedade. Brasília: UnB Editora.
NASCIMENTO, Marco Tromboni de S.
(1994) O tronco da Jurema: ritual e etnicidade entre os povos indígenas do nordeste: o caso
Kiriri. Dissertação de mestrado em Antropologia. Salvador, Universidade Federal da Bahia.
OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de
(1993) A viagem de volta: reelaboração cultural e horizonte político dos povos indígenas no
Nordeste. Atlas das Terras Indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: PETI/MN-UFRJ.
ROSALDO, Renato
(1992) Ideology, place and people without culture. Cultural Anthropology: 77-87.
(1993) Culture & truth: the remaking of social analysis. Boston: Beacon Press.
ROTH, Walter E.
(1970) - The arts, crafts, and customs of the Guiana Indians. New York: US Bureau of American
Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution.
TURNER, Victor
(1982) From ritual to theatre: the human seriousness of play. New York: Paj.
(1988) The anthropology of performance. New York: Paj.
tore.p65 142 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
143
PERFORMANCE E SIGNIFICAÇÕES DO 1
TORÉ
o caso dos Xocó e Kariri-xocó
Clarice Novaes da Mota
Introdução
Neste trabalho, exploro e penso sobre as diversas modalidades e significações do toré
indígena, através das concepções e usos do toré como performance ritualizada dentro do
contexto histórico de duas comunidades indígenas nordestinas: os Xocó de Sergipe e os
Kariri-Xocó de Alagoas. O processo analítico resulta de trabalho de campo realizado em
diversas ocasiões compreendendo épocas diferentes na vida destas comunidades, pois
estive entre eles de 1983 a 1985 e mais tarde do ano 2000 em diante, sendo que entre os
Xocó minhas visitas terminaram em 2002.
Ambas comunidades passaram por um processo de retomada do território que eles
consideravam ancestral por volta dos anos 70 e 80 do século XX. O caso dos Xocó foi
mais dramático porque eles tinham sido dados como apenas fazendo parte da aldeia
Kariri, em Porto Real do Colégio, e, mesmo lá, ainda assim como integrados (Ribeiro,
1977). Além do que, pela Lei da Terra de 1850, vários antigos territórios tribais foram
declarados sem dono por seus ocupantes não mais serem considerados como índios,
que foi o caso dos Xocó. Ou seja, os Xocó de Sergipe tinham desaparecido. Desde o fim
do século XIX, portanto, passaram por um movimento de dispersão a partir de suas
terras em volta da Ilha de São Pedro, médio São Francisco, quando se embrenharam
pelos sertões. Um grupo se juntou aos Kariri do baixo São Francisco, no lado de Alagoas,
formando a comunidade Kariri-Xocó. Ao invadirem a Ilha de São Pedro, reclamando a
sua posse ancestral, em fins dos anos 70, os Xocó também estavam reclamando e
reestruturando sua vida enquanto índios, como um grupo étnico diferenciado.
O toré é uma forma de dança e cânticos que estas comunidades apresentam tanto
como uma performance religiosa quanto como folguedo, ou brincadeira. Neste trabalho
eu passo a pensar o toré como invenção grupal, como uma forma de essas sociedades se
contemplarem a si mesmas e se reformularem, autenticando sua existência pela fé, não
necessariamente religiosa, mas fé no grupo enquanto uma comunidade étnica oriunda
das tribos pré-colonização. Percebo o toré, ao interpretar os textos nativos sobre o mesmo
e suas performances, como uma tomada de consciência do grupo como algo separado,
imutável e indestrutível, que é legitimado por tais performances que acreditam ter sido
tore.p65 143 17/05/2000, 09:05
TORÉ
144
uma herança dos antepassados. Advogam, portanto, a existência de um ser anterior
uma comunidade perenemente sacralizada pela memória que sobrevive à catástrofe da
colonização, que se representa e se re-apresenta cheia de beleza artística e pompa ritual.
Quando dançam o toré estas comunidades se concebem como singulares, ou seja, como
verdadeiramente tradicionais.
Há dois momentos, por vezes separados e outras vezes sincrônicos, para a apresentação
de um toré: durante a obrigação religiosa do Ouricuri, e como brincadeira, ou folguedo.
Esta segunda versão é a que se pode apresentar aos não-indígenas. Estas diferentes
modalidades de toré contêm e apresentam as concepções que os índios têm sobre sua
vida, tanto religiosa como profana, mas mais ainda sobre o que significa tradição
indígena, pois o toré faz parte deste corpo de tradição. No entanto, as experiências do
tempo da colonização e a história recente destas duas comunidades têm sido diferentes e
conseqüentemente sua dinâmica de conservação ou restauração de seu acervo tradicional
também difere, em intensidade, direcionamento e nos significados das performances
contemporâneas.
O que era brincadeira tornou-se sério e vice-versa
Do ponto de vista dos Xocó, o toré de brincadeira é praticamente inexistente nos dias
de hoje, desde que começaram a buscar suas raízes e suas tradições através das cerimônias
vinculadas ao Ouricuri. Ao reinstalarem a experiência do ritual religioso indígena no
corpo de suas atividades comunitárias, o toré voltou a resignificar um acervo de crenças
misteriosas, esotéricas e, portanto, de cunho iniciático. Neste conjunto de tradições, a
bebida sagrada conhecida como Jurema também foi integrada, e junto com ela a
necessidade de tornar as tradições religiosas inaccessíveis aos não-indígenas. Nesta
trajetória em que os Xocó procuram reinventar suas tradições, dá-se uma inversão
significativa: o que era aberto tornou-se oculto, incluindo a performance dos torés, que
deixam de ser de brincadeira para passar a ilustrar a verdade do que é ser índio Xocó
atualmente. Como sabemos, tradição é algo do qual as sociedades que se consideram
indígenas acreditam ter, pois,
A tradição...torna as regras passíveis de serem vivenciadas, abrigadas e possuídas
pelo que grupo que as inventou e adotou, de tal modo que, numa sociedade humana,
seus membros acabam por perceber sua tradição como algo inventado especialmente para
eles, como uma coisas que lhes pertence...Que está dentro e fora do grupo; que pertence aos
ancestrais e espíritos; que a legitimam e a nós mesmos ... (da Matta, 1983: 49-50)
Mãezinha era uma velha índia Xocó que foi de volta para a ilha de São Pedro com
quase cem anos de idade, quando a tribo dela voltou a se considerar tribo e por isto
mesmo reivindicou, com sucesso, voltar à terra dos antepassados. Magra e encurvada,
tore.p65 144 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
145
ela me fez alguns depoimentos fundamentais para que se começasse a traçar aquilo que
2
permitia àquele grupo de trabalhadores rurais sem terra , um amálgama de negros, cafuzos
e galegos, a se autodenominarem índios Xocó. Sua narrativa é usada aqui como
depoimento, visto que a narrativa oral é um hábito popular que serve não só para entreter,
como para honrar e manter vivos os relatos de feitos ou experiências, transmitindo
ensinamentos ou preceitos morais. O tempo da narrativa é um espaço feito de significações
em busca de seus signos, no qual o narrador não só estimula a memória do que lhe foi
descrito, mas do que ficou impresso em seu arsenal de signos para ser decodificado mais
adiante. Indagada sobre o toré indígena, em 1983, ela relembrou sobre o tempo das
missões:
Frei Dorotheo tinha tanta mágica como qualquer velho pajé índio, disse-me ela uma
tarde, debaixo de um pé de tamarindo, tomando a fresca pós-almoço, recontando o que
seus avós falavam sobre os tempos da missão e do poderio do velho padre no fim do século
3
XIX , porque os padres têm sua mágica também. Eles sabem controlar as almas e as
pessoas. Foi por conta dessa mágica que Frei Dorotheo conseguiu destruir nosso Ouricuri
e nossos torés. Os meus velhos me contavam essas estórias pra mor de eu saber que era
índia, mas a gente não podia contar nada pra mais ninguém, nem mesmo pros vizinhos,
porque podiam matar a gente se a gente dissesse que era índio. Enquanto Frei Dorotheo
viveu nós não tinha direito de fazer o Ouricuri dos nossos avós, mas nossos avós se
esconfiam dentro da mata do segredo onde eles tinham os torés e os cantos em honra dos
nossos troncos.
Portanto, o Ouricuri virou um segredo, está claro. Ninguém mais poderia saber
sobre o ritual secreto, pois só aos índios era permitido entrar no local. Mãezinha continuou:
Nossos avós botavam sentinela na entrada do Ouricuri pra ver quem se aproximava
da área. Eles também botavam o ouvido no chão, de vez em quando, para ouvir se
alguém vinha vindo de longe. Pois bem, uma noite Frei Dorotheo usou sua mágica pra
chegar na nossa mata sem que ninguém ouvisse seus passos. De repente ele apareceu e
pegou todo mundo de surpresa. Ele ficou muito brabo mesmo com o povo dizendo que eles
estavam fazendo uma festa de pagão. Mandou todo mundo de volta pra aldeia aos
berros. Lá ele botou todo mundo de castigo, humilhando os chefes da festa e mais a nossa
4
Rainha do Terreiro . Forçou os caboclos a recitar as rezas dos Católicos em frente da
igreja e ser batizado ali mesmo na frente de todo mundo, jurando se afastar do diabo e
esquecer as festas dos pagão. Dali por diante, ele ficou de olho em cima dos índios e o
Ouricuri nunca mais foi feito na nossa mata. Foi o fim do Ouricuri pra nós! Adepois,
5
quando o Frei morreu e João Britto tomou conta de tudo, bom, aí é que não restou mais
nada da nossa festa. A única coisa que o frei deixava fazer era dançar nossos toré, mas
tore.p65 145 17/05/2000, 09:05
TORÉ
146
os de brincadeira, só para se divertir o povo, mas nunca mais aqueles de adoração de
nossos avós. Mas nossas avó, quando as muié terminava de fechar uma lagoa de arroz,
elas dançavam um toré, mas era tudo. Frei Dorotheo tinha vez que era bem ruim. Nós
tinha medo dele!.
A presença de Frei Dorotheo entre os índios foi marcada pela ambigüidade que
caracterizava o trabalho missionário da época. Por um lado, os índios que viviam na
missão lá permaneciam como índios, enquanto ele estava lá por causa da proteção que ele
lhes proporcionava. Por outro, no entanto, ele apressou o fim dos próprios índios que ele
protegia, ao reprimir as manifestações culturais dos Xocó, assim como seu sistema de
crenças e o uso continuado de uma língua nativa. Ele se colocava entre as forças
colonizadoras em prol da perda da cultura tradicional e destribalização. Ele se tornou
responsável por tornar o que tinha de sagrado nas performances religiosas em simples
danças e cânticos de folguedo as chamadas brincadeiras ao tirar delas o seu significado
anterior de trabalho ou obrigação. Ele também acabou com o espaço sagrado reservado
para as cerimônias do Ouricuri, assim deixando aquele e outros territórios tribais
totalmente abertos para a invasão dos colonizadores.
Na narrativa de Mãezinha fica claro que o toré ficou como uma sobra das lembranças
de um tempo imemorial, como o que restou do passado indígena, sendo cultivado como
tal. Ou talvez também como uma forma inocente, além de prática exatamente por não
conter nenhuns riscos visíveis de punição, de brincar com a idéia de que houvera um
passado nobre e farto para ser celebrado, um passado de independência e alegria. Portanto,
ficou conhecido entre os peões da fazenda Caiçara, em Sergipe, e posteriores redivivos
Xocó, como toré de brincadeira, pois as pessoas se divertiam como num folguedo
qualquer e também brincavam com a idéia de serem como seus avós: nativos donos da
terra. Só que este era um brinquedo sério, com conseqüências importantes. O toré se
apresenta, portanto, como mobilizador dos sentimentos de nativo e catalizador das idéias
de retomada da identidade entre os Xocó da ilha de São Pedro.
Durante aqueles primeiros anos, na década de 70 do século XX, da reorganização
das famílias que pleiteavam o território e o status de índio Xocó, era comum para os
membros da comunidade dançarem seus torés tradicionais abertamente para quem quer
que estivesse presente ver. O dançar toré era considerado, inclusive, uma das formas de
demonstrar a sua autenticidade enquanto herdeiros da tradição, enquanto descendentes
dos nativos. Era possivelmente pouco em termos do que se podia chamar de tradição,
mas também era muito quando se levantava a questão da memória ancestral, pois a
reverência que se demonstrava para com o conhecimento sobre os torés era impressionante.
Saber um toré era se declarar índio, era marcar seu território espacial e simbólico naquela
terra que lhes fora usurpada no século anterior. No entanto, por se caracterizar como
folguedo tradicional e não como parte de um sistema de crenças, os não-indígenas
tore.p65 146 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
147
podíamos participar do mesmo. Inúmeras foram as vezes em que eu, como pesquisadora,
e outros não-indígenas que visitavam a ilha de São Pedro, éramos brindados com exibições
espontâneas e concorridas dos torés, que eram apresentados no pátio encima das ruínas
do antigo convento da missão católica, ou em qualquer outra parte no centro da ilha,
entre as casas. Algumas vezes fomos inclusive instados a participar da brincadeira,
entrando na roda, cantando e dançando junto com eles. Daquela maneira os novos Xocó
expressavam seu contentamento por nossa presença, homenageavam os visitantes, além
do que nos mostravam que, por não sabermos ou não podermos dançar e cantar como
eles o faziam, nós realmente não éramos indígenas. Era um marcador de fronteiras, além
de uma maneira de se mostrarem hospitaleiros.
No entanto, não se dançava o toré dentro da Igreja de São Pedro, ainda um resquício
do tempo de Frei Dorotheo, pois a Igreja constituía uma fronteira em si própria, entre o
ser e o não-ser índio. Portanto, o interior da Igreja Católica era considerado um espaço
sagrado, e, sendo o toré de antigamente pertencente à categoria de profano, apresentá-lo
naquele espaço era um sacrilégio. Mesmo que fosse considerado sagrado, de acordo com
a liturgia indígena, não o seria pela ordem das hierarquias religiosas advindas do
catolicismo, pois não se concebia entrar no recinto da igreja com uma apresentação do
toré. Esta ordem foi rompida em 1984, durante um encontro das tribos indígenas do
nordeste que se deu na Ilha de São Pedro, quando, por ocasião de um enterro, o líder dos
Pataxó guiou a roda de toré sendo feita em homenagem ao morto para dentro da Igreja
de São Pedro, para alarme do pajé Xocó, que a princípio tinha sido contra inclusive que
se dançasse e cantasse toré, pois, segundo ele, a morte e o ritual do enterro do morto
tinham que ser respeitados através do silêncio, um princípio proveniente da cultura
religiosa dos Católicos. Quando se deu esta ruptura, imediatamente ela repercutiu dentro
da organização dos Xocó que buscavam seu modo de ser indígena. O toré passou a ser
reincorporado a qualquer manifestação que estivesse ligada à corrente de pensamento
que buscava restaurar os rituais indígenas de celebração da natureza, baseado em um
6
misticismo telúrico e uma liturgia da terra .
Daí por diante, os Xocó passaram a procurar as bases teóricas e práticas do Ouricuri
enquanto ritual indígena, incluindo torés considerados sagrados, e não abertos ao
conhecimento dos não-indígenas. Neste mesmo ano, o Pajé Raimundo Xocó foi convidado
7
a participar de um Ouricuri dos Kariri-Xocó . Lá ele certamente aprendeu os torés
dançados durante a grande festa de iniciação e de afirmação da fé indígena,
conseqüentemente de sua identidade enquanto da terra.
A partir deste momento, os Xocó deram início a uma verdadeira revolução no seu
sistema de crenças, pois o Ouricuri voltou a reger grande parte de suas vidas, embora
nunca abandonassem sua fé Católica, nem muito menos a devoção ao santo tido como
padroeiro da terra onde habitam: São Pedro, conhecido entre eles carinhosamente como
São Pedrinho. Uma cantiga Xocó contemporânea que é sempre entoada nos atos
tore.p65 147 17/05/2000, 09:05
TORÉ
148
devocionais dentro da igreja, celebrando a existência do santo na vida dos Xocó e o
respeito que eles lhe dedicam, tem a seguinte lírica:
Olhe São Pedro, seu querido povo,
nós tendo São Pedro, temos um mundo novo
(...)
Olhe São Pedro, o senhor não está só,
vive arroadeado pelo povo Xocó
Atualmente, esta cantiga dá início a uma exaltação da etnia e de seu sistema de crenças
resultante do catolicismo e do culto nativo, que é seguida por uma realização da roda do
toré, em que, dentro do recinto da igreja, os Xocó entoam cânticos até recentemente por
eles mesmos considerados inapropriados para aquele lugar, notadamente os oriundos da
adoração a seres da floresta tais como a Jurema, mas que integram perfeitamente os
símbolos tanto do cristianismo como dos ancestrais indígenas. O que é cantado
regularmente tem a seguinte estrofe:
Lá no pé do cruzeiro, ó Jurema,
eu venho com o maracá na mão,
pedindo a Jesus Cristo,
contigo no meu coração.
Fica bem claro que não há contradição nenhuma entre ter Cristo e Jurema no coração
da religiosidade dos Xocó atuais. No entanto, ao levar o toré primeiro para dentro da
igreja e depois para o Ouricuri indígena, os Xocó resignificaram o toré. Este passou do
lazer para a retomada de uma consciência divinizada, na busca de um caminho coletivo
que teria de ser realizado sem o concurso daqueles que ainda poderiam ter o poder de
tirar-lhes as novas conquistas. A busca não era apenas pela autoridade tribal perdida,
mas pela fé mesmo, sendo, portanto, um caminho místico. Isto nos leva a pensar a
comunidade Xocó como realmente é: um grupo de pessoas embuídas de uma autoridade
única, singular, trazida pelos ventos passados da tradição, alimentada pela capacidade de
criar, de imaginar, e de crer, tanto em si mesmos como em uma coletividade de seres
espirituais que existem para eles, não para os outros, os estrangeiros.
A esses estrangeiros não mais se lhes pode dar acesso a sua forma de misticismo, a
suas crenças derivadas e atadas à natureza, já que se percebem como parte dessa natureza
privada de seu território através da qual encontram o sentido de sua posse sobre a terra e
etnia. Nas festas atuais da ilha só se dança o toré abertamente, ou seja, para um público
onde possam estar presentes pessoas de fora da comunidade, dentro da igreja durante a
missa católica, já que esta faz parte da tradição não-indígena. No entanto, os torés sagrados
tore.p65 148 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
149
e que pertencem ao ritual do Ouricuri não mais são entoados e dançados abertamente, pois
fazem parte do que percebem como seu segredo, ou o que precisam manter fora do
alcance e do controle, portanto dos não-índios. Os Xocó atualmente mantém um
território sagrado, fora da ilha, adentrando a terra conhecida como Caiçara, que eles
mesmos chamam de interior. Neste lugar, reúnem-se a cada 15 dias, aos sábados a noite,
onde não só realizam seu culto indígena mas também reuniões comunitárias, quando tomam
decisões sobre tudo o que diga respeito à vida do grupo. Quem dirige este espaço e alimenta
a fé no ritual é o pajé, que diz receber suas instruções através de espíritos da mata.
O toré de brincadeira é aquele que podem apresentar ao mundo de fora, aos turistas
e estrangeiros, porque não implica em perda do seu direito a um segredo tribal. Quando
se apresentam em festas públicas as quais são convidados, dentro ou fora de seu território,
os Xocó voltam a cantar e dançar os torés de seu tempo de degredo, seu tempo fora do
tempo considerado ancestral, místico e de uma tradição criada só para seu uso. São os
torés que se confundem com sambas de coco, e que, às vezes, podem ser invadidos pelos
espectadores não-índios. Assim mesmo, tais aparições públicas têm rareado, talvez porque
as reuniões secretas têm tomado tal importância que já não lhes sobra tempo para divertir
os outros com suas tradições. O tempo da brincadeira passou, junto à dinastia dos
missionários e antigos colonizadores. Agora se trata de reconstruir o tempo do sagrado e
do futuro, portanto.
O toré entre os Kariri-Xocó: do sagrado e secreto ao profano e aberto
Sabemos que a história dos Kariri-Xocó difere em muitos aspectos da dos Xocó (ver
Mata, 1989; Mota, 1989, 1997) mas principalmente no que se refere à questão da vida
ritual-religiosa. Os Kariri-Xocó de Alagoas nunca deixaram de ter seu território sagrado,
e portanto nem sua festa do Ouricuri, mesmo enquanto viviam em Porto Real do Colégio,
na chamada Rua dos Caboclos, fora do que tinham sido suas terras. Quando os Xocó
vieram se juntar a eles no fim do século XIX e começo do século XX, a comunidade
indígena só fez incorporar o segredo tribal dos Xocó que tinha sido trazido da ilha de
São Pedro, colocando o conjunto de objetos que formavam seu altar tradicional dentro
do local considerado como secreto e sagrado pelos Kariri.
O Ouricuri era uma festa de obrigação, quando os pertencentes ao grupo tinham que
venerar seus ancestrais, ao mesmo tempo em que se arrependiam de seus erros, ouvindo
as mensagens trazidas pelos ancestrais pela boca dos mais velhos, assim como através da
árvore mítica e divindade conhecida como Jurema. O Ouricuri era uma espécie de aliança
feita entre os ancestrais e seus descendentes. Neste sentido, o Ouricuri é uma obrigação
religiosa que lhes assegura reproduzir-se enquanto grupo indígena em todos os níveis:
biológico, econômico e ideológico.
O ritual envolve o renascimento de uma nação, uma comemoração muito especial do
círculo da vida, quando a morte é ultrapassada com o retorno e a benção dos antepassados.
tore.p65 149 17/05/2000, 09:05
TORÉ
150
Idealmente, a celebração deveria ter lugar sob a proteção das plantas mágicas, assim
estando relacionada com os ritos e símbolos de renovação, sem dúvida a hierofonia
vegetal a qual Mircea Eliade (1973) se refere. Deve ser realizada, portanto, dentro dos
limites do espaço sacralizado pela tradição, ou seja, é o ritual que sacraliza o espaço e não
o contrário. Tal espaço torna-se um espaço estruturado e significado: tem forma e poder,
sendo o único espaço real, ou ainda melhor, o único espaço merecedor de vida porque
vida sem ele não seria possível. Recentemente, um dos membros do grupo Kariri-Xocó
nos falou o seguinte:
O Ouricuri é o nosso paraíso. Aqui estamos bem, sem problemas, sem brigas.
O Ouricuri, portanto, era e continua sendo o centro do universo, o lugar onde todas
as coisas e criaturas ganham forma e significado. Naquela época, no fim dos anos 80, o
pajé Francisco Suíra também me disse o seguinte: O Ouricuri é a língua dos Kariri, que
também é uma língua secreta. Assim sendo, todas as formas de comunicação e de
interpretação do mundo estão encapsuladas e preservadas dentro do Ouricuri, que dá
aos participantes um código para poder interpretar suas falas quotidianas ao
compartilharem uma linguagem e um universo de significados.
Na época do Ouricuri, todos os Kariri-Xocó deixam a aldeia da Sementeira, onde
vivem suas vidas quotidianas, e vão para o território seu espaço sacralizado. No
entanto, o Ouricuri é sagrado não só porque os encantos naturais ali vivem, mas
predominantemente por ser considerado como um território genuinamente indígena,
ocupado pela presença dos nativos de séculos e séculos passados. Torna-se, portanto, o
lugar mais próximo ao lugar que se encontra após a morte do corpo físico. O espaço
torna possível também que um verdadeiro canal de comunicação se abra entre os poderes
espirituais dos encantados e o povo na terra. As estruturas físicas são de natureza simbólica
e não arquitetural, sendo qualificadas como pertencentes a um tempo fixo e imutável,
transcendendo medidas e limitações temporais.
É nesse espaço sacralizado onde as performances do toré têm lugar, embora a
comunidade também apresente em circunstâncias não religiosas o toré que não pertence
à esfera do segredo tribal. Sobre os diferentes tipos de toré dos Kariri-Xocó, no trabalho
desenvolvido por Mata (1989) há uma descrição analítica que não pode deixar de ser
citada, pois contém a informação básica sobre o assunto. Escreve a autora:
Existem duas modalidades de toré. O chamado ´toré de roupa´, simples forma de
lazer, que recebe este nome porque os dançarinos não têm de usar qualquer
indumentária especial, podendo participar da ´brincadeira´ em trajes comuns.
(Mata, op.cit., 204)
tore.p65 150 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
151
Este tipo de toré, portanto, corresponde ao que os Xocó também chamam de
brincadeira´, do qual podem participar pessoas não-índias como parte de um folguedo,
um passatempo divertido. No entanto, os Xocó pouco o praticam atualmente. Os Kariri,
entretanto, têm atentido mais e mais, ao longo dos últimos anos, aos apelos da sociedade
nacional envolvente ao apresentar performances deste toré aberto, que não está proibido
para os não-índios, inclusive usando roupagem indígena, caracterizando-se como índios,
ou seja, servindo ao imaginário não-indígena com o propósito de mostrar a cultura
tradicional indígena e até mesmo para ganhar dinheiro. Este toré que apresentam em
festas não-indígenas é o chamado toré de búzios, sobre o qual nos fala Mata:
Entretanto, há também um toré mais ritualizado, que precede o Ouricuri, mas que
ao contrário deste, não é secreto. Como nos foi dito diversas vezes, o ´toré de búzios´,
como é chamada esta forma mais elaborada de dançar, ´faz parte do segredo, mas não é
o segredo: quando dança o toré, a gente lembra do Ouricuri´. Por ser, ainda, uma dança
em que as pessoas se apresentam ´travestidas´ de índios, de acordo com o modelo criado
e legitimado pela sociedade nacional, tornou-se um dos símbolos étnicos acionados
pelo grupo quando este necessita reforçar sua identidade índia, ou quando precisa ser
´índio para branco ver´... (Mata, id., 205)
Este toré de búzios é, portanto, o que poderíamos classificar de um ´toré de transição´,
pois é dançado com o traje considerado evocatório da identidade indígena, mas não é
oculto. No entanto, não é algo espontâneo, do qual não-índios possam participar. Constitui,
portanto, uma performance mais organizada e mais direcionada à vontade de se identificar
como índio ao mesmo tempo em que se mostra esta identidade, reforçando-a, aos não-
índios. Inclusive, tem se tornado veramente um espetáculo interessante e de rara beleza
para os ´brancos´ que querem ver ´índio de verdade´ apresentando suas tradições. Nas
performances que jovens Kariri têm realizado em Aracaju, as quais tivemos a oportunidade
de ver, este toré é dançado por um par de homens que dançam com os braços entrelaçados,
8
tocando uma trompa que os índios denominam de buzo , evocatório do que conhecemos
das danças do Jurupari entre grupos amazônicos. Mata continua sua análise de forma
bastante pertinente colocando que o toré de búzios,
É assim, a parte revelada do ´segredo´, pois, apesar do uso político que possui hoje, ao
dançá-lo os componentes evocam o Ouricuri, ao mesmo tempo que deixam a sociedade
nacional apenas vislumbrar uma pequena parte de seu segredo inviolável. Aos olhos
da comunidade indígena, esta estratégia reforça a sua condição de ´índio
verdadeiro´, face à sociedade não índia, a partir de padrões inculcados por esta
última. (Mata, ibid, 206).
tore.p65 151 17/05/2000, 09:05
TORÉ
152
Além deste, há evidentemente o toré que é dançado durante o Ouricuri, quando os
não-índios estão ausentes, quando, portanto, a auto-afirmação frente ao estrangeiro não
se faz necessária. Este é o toré que não pode ser revelado, certamente, pois isto levaria
toda a comunidade a um perigo, por eles considerado como de ordem cosmológica. Um
perigo que envolve a possível perda da identidade, sendo, portanto, de ordem política e
social. O toré secreto, portanto, seria o grau mais alto dentro da hierarquia do
conhecimento, hierarquia que se explicita através da conduta dos índios em relação aos
de fora, assim como entre si, no tocante aos que são considerados mestres do toré.
O toré pós-moderno: vivências e experiências com o secreto.
Já nos últimos anos, alguns dos jovens Kariri-Xocó começaram a participar de um
circuito de vivências, atendendo aos apelos de uma parcela da sociedade nacional que
anda em busca de experiências esotéricas e de um alardeado misticismo indígena. Este
tem sido um meio que os índios encontraram de conseguir recursos monetários, de
viajarem e de se afirmarem enquanto representantes de um tipo de índio que a sociedade
nacional tem sede de conhecer. Este índio mítico e também genérico tem sido construído
e se deixado colonizar em base da nova ideologia mística e urbana que cresce entre as
camadas economicamente mais altas tanto no Brasil como no exterior.
9
Os homens que são conhecidos na tribo como mestres de toré têm tido a
oportunidade de organizar performances de toré, do tipo da brincadeira e de transição
ao toré secreto, nas vivências para as quais são convidados por grupos urbanos e semi-
urbanos em várias partes do país, sendo remunerados para tanto. Este toré, portanto, que
se consolida como sendo o ritual indígena por excelência, é o que diferencia o índio do
não-índio fora das aldeias, mas, mais ainda, é o que simboliza o que se tem como sendo
o poder mágico-religioso dos índios que o dançam. Em conseqüência deste movimento
para fora das aldeias e do território sagrado, o toré tem se tornado mais popularizado e
mais aberto para o estrangeiro, deixando de ser privilégio dos que podem visitar as aldeias.
Enquanto entre os Kariri-Xocó o movimento da performance e da significação do
toré é para ampliar-se, voltando-se ao mundo de for a, assim distanciando-se do território
ancestral e sagrado, entre os Xocó da ilha de São Pedro a tendência é inversa. Embora
ainda dancem o seu toré de brincadeira em performances públicas, os Xocó não
adquiriram ainda o toré de búzios, ou toré de transição, e, caso tenham adquirido o
toré sagrado e secreto, a realização do mesmo só tem lugar entre eles durante seu encontro
no novo território secreto do Ouricuri. Quando se apresentam no mundo de for a o
toré apresentado é aquele que , segundo eles, não pertence ao segredo.
Isto se dá exatamente de acordo com as necessidades da afirmação étnica de um
grupo e do outro, que diferem de acordo com suas experiências históricas do contacto.
Cada grupo, dependendo de seu momento histórico e contexto cultural, escolheu a sua
forma de envolvimento com a sociedade nacional. Os participantes do toré indígena,
portanto, escolhem sua forma de apresentação de acordo com o lugar, o tempo e o contexto.
tore.p65 152 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
153
O que lhes acontecerá no futuro próximo ficará para contar, dependente da perene história
do contacto com o poder político externo e as diversas formas de colonização a que
estarão sujeitos.
1 Ph.D. pela University of Texas at Austin
2 Na época conhecidos como peões.
3 No fim do século XIX tinha sido instalada uma missão de frades Capuchinhos na Ilha de São
Pedro com o objetivo de administrar a aldeia indígena ali localizada.
4 No contexto do ritual sagrado havia sempre uma mulher que dirigia parte dos trabalhos, embora
abaixo do poder do pajé, conhecida como Rainha do Terreiro.
5 Referindo-se a João Fernandes Britto que na época arrendava três parcelas do território indígena,
e que se tornou dono das terras tribais incluindo Caiçara, Belém e Ilha de São Pedro, enquanto os
índios ainda habitavam nelas.
6 Da terra no sentido de estar ligado a uma liturgia de adoração a elementos da natureza, em
especial a uma entidade conhecida como Mãe Terra (a mesma Pacha Mama dos indígenas
andinos), e não somente como algo nativo ou regional.
7 No entanto, ele foi por iniciativa da produção de um filme sobre os Xocó, dirigido por Renato
Newman, para o Mudeu do Índio, do Rio de Janeiro. Não sabemos, portanto, se o pajé teria ido
parar no meio dos Kariri-Xocó naquele ano, mais tarde, ou se em alguma ocasião.
8 O que conseqüentemente dá o nome da dança como sendo de buzo ou de búzios.
9 Por vezes, alguns que não são tidos na tribo como mestres de toré apresentam-se fora da
aldeia como tal.
tore.p65 153 17/05/2000, 09:05
TORÉ
154
Bibliografia
Eliade, Mercea. Lo sagrado y lo profano. Ed. Guadarrma: Madrid, 1973.
Mata, Vera Lúcia Calheiros. A semente da terra: identidade e conquista territorial por um
grupo indígena integrado. Tese de Doutorado, Museu Nacional/PPGAS: Rio de Janeiro,
1989.
Matta, Roberto. Relativizando: uma introdução à Antropologia Social. Ed. Vozes:
Petrópolis, 1983.
Mota, Clarice Novaes. As Jurema told us: Kariri-Shoko and Shoko mode of utilization
of medicinal plants in the context of modern northeast Brazil. Ph.D.
Dissertation, University Microfilms: Ann Arbor, Michigan, 1987.
Mota, Clarice Novaes. Jurema´s children in the Forest of spirits: healing and ritual
among two Brazilian indigenous groups. Intermediate Technology
Publications: Londres, 1997.
Ribeiro, Darcy. Os índios e a civilização. Editora Vozes: Petrópolis, 1977.
tore.p65 154 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
155
TODOS OS PÁSSAROS 1DO CEÚ
o toré Potiguara
Estêvão Martins Palitot
Fernando Barbosa de Souza Júnior
Em memória do cacique Domingos Barbosa
O toré é a expressão mais emblemática da etnicidade, da cultura e da religiosidade
dos povos indígenas no Nordeste. Conjunto ritual composto por música, dança, ingestão
1
de bebidas (geralmente a jurema ) e contato com os antepassados e outros seres espirituais
através de transe mediúnico, é difundido desde o litoral do Ceará (Tapeba e Jenipapo-
Kanindé) até o interior de Minas Gerais (Xakriabá e Xukuru-Kariri) e do litoral da
Paraíba (Potiguara) até o Sertão do Rio São Francisco, em cujas ilhas e margens (Tuxá,
Tumbalalá, Xokó, Truká, Kariri-Xokó), brejos (Pankararé, Pankararu, Jeripankó, Kiriri,
Kaimbé) e serras (Atikum, Xukuru, Kapinawá, Kambiwá, Pipipã) concentram-se a maior
tore.p65 155 17/05/2000, 09:05
TORÉ
156
parte da população indígena da região. Apesar desta vasta área de abrangência, cada
grupo étnico possui um toré próprio e singular, irredutível ao de qualquer outro povo,
mas, ainda assim, capaz de permitir o diálogo e a troca de experiências entre os membros
de grupos distintos.
Na literatura antropológica sobre os povos indígenas da região destacam-se, nas
últimas décadas, duas fases consecutivas de análise. Num primeiro período, vencendo o
desconhecimento e as idéias recorrentes de uma etnologia das perdas culturais (Oliveira Fº,
1999) realizaram-se estudos sobre os processos políticos e sociais de construção dos grupos
étnicos. Nestes trabalhos, as referências ao toré são predominantemente direcionadas
para o papel político que o ritual desempenha nos processos de emergência das
comunidades indígenas, das redes de trocas rituais à constituição de sistemas políticos
próprios e clivagens faccionais (Arruti, 1995, 1999; Barretto Fº, 1997; Brasileiro, 1999;
Carvalho, 1984, 1994; Grünewald, 1993; Souza, 1998; Valle, 1999;). As formas,
significados e motivos de realização do toré para os povos indígenas são iluminados a
partir da premência das discussões sobre a construção das fronteiras étnicas e dos grupos
políticos. Os aspectos mais propriamente culturais e religiosos do ritual são vistos sempre
a partir da política, à exceção do trabalho de Nascimento (1994) onde levanta indícios
sobre a existência de um complexo cultural da jurema na região. Numa segunda fase, num
desdobramento recente dos trabalhos anteriores, as investigações propõem uma certa
rotação de perspectivas, onde a política passa ser compreendida a partir da cultura,
lançando-se novos olhares sobre os processos de invenção das tradições e de correntes e
circularidades culturais (Andrade, 2002; Barbosa, 2003; Grünewald, 1997, 2001; Neves
1999). Contudo, devemos acrescentar a inevitabilidade de abordarmos estes dois universos
política e cultura de forma separada. Cada um está intimamente relacionado com o
outro, assim como com o parentesco, as redes de solidariedade, trabalho, a etnicidade e a
religião.
No caso dos Potiguara, a literatura disponível sobre o grupo (Amorim, 1970; Azevedo,
1986; Moonen & Maia, 1992 e Vieira, 2001) não tomou o toré como preocupação central
de suas investigações, preferindo tratar da economia, dos processos políticos de demarcação
das terras, da aculturação e das concepções nativas de história, contato e mistura. Essa
ausência, em alguns casos, deve-se ao fato de, na época da realização das pesquisas, o toré
ser uma prática pouco realizada (como veremos adiante), em outros casos, deve-se à
própria orientação teórica e recorte metodológico utilizados para a investigação de temas
mais urgentes nos momentos investigados. Assim, os estudos a respeito das relações
entre a interação social, a construção das fronteiras étnicas e a produção cultural foram
sendo adiados, constituindo-se numa lacuna a ser preenchida por novas pesquisas.
Nossa intenção neste artigo é lançar um pouco de luz sobre o toré Potiguara,
destacando as posições e opiniões dos próprios indígenas. Nossa percepção do toré só
poderá ser bem compreendida caso nos reportemos aos contextos de realização do ritual,
tore.p65 156 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
157
aos grupos que o fazem e à própria dinâmica histórica do campo intersocietário no qual
os Potiguara se inserem. Portanto, nossa exposição seguirá três momentos: no primeiro,
uma recuperação histórica dos Potiguara e de seu quadro de relações sociais e culturais;
no segundo; uma descrição do toré, diacrônica, revelando seus primeiros registros
etnográficos e as origens da brincadeira dos índios, e sincrônica, a respeito das suas formas
e conteúdos atuais; por fim, reportaremos o toré aos seus contextos de realização, por
diferentes segmentos do povo indígena e em distintas situações de observação. Advertimos
que não é nossa intenção apresentar um quadro exaustivo da cultura potiguara e sim
levantar temas para novos estudos, uma vez que as investigações sobre o toré desse povo
apenas se iniciam e, de antemão, já podemos assegurar que, em vários contextos, trata-se
de um processo de construção cultural recente apontando ora para movimentos políticos
muito próximos de emergências étnicas, ora para perspectivas de resgate cultural muito
influenciadas pelas dinâmicas da educação escolar e do turismo.
Os Potiguara da Baía da Traição e de Monte-Mór.
Sou Tupã, sou Tupã, sou Potiguara.
Sou Potiguara nesta terra de Tupã,
Tenho arara, caraúna e xexéu.
Todos os pássaros do céu,
Quem me deu foi Tupã,
Foi tupã, sou tupã, sou Potiguara.
Os índios Potiguara habitam os municípios de Baía da Traição, Marcação e Rio
Tinto, no litoral norte da Paraíba. Sua população de 9.606 pessoas (dados da Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA) é formada por grupos de famílias extensas que se
2
distribuem entre 26 aldeias e as sedes dos municípios. Suas principais atividades
econômicas são a pesca (mar e mangue), a agricultura de subsistência, o assalariamento
rural e urbano, o funcionalismo público e as aposentadorias dos idosos.
As atuais famílias Potiguara consideram-se como descendência contínua das
populações indígenas que foram historicamente referidas no litoral da Paraíba desde
1501, ocupando um território que se estendia no vale do rio Mamanguape, da Baía da
Traição até a serra da Cupaoba (atual Serra da Raiz). Desde o século XVI a Baía da
Traição é referida como o coração do território Potiguara, sendo conhecida também pelo
nome indígena de Acajutibiró, ou terra do caju azedo (cf. Baumann, 1981 e Moonen &
Maia, 1992).
Os séculos XVII e XVIII marcam a conquista definitiva do território Potiguara pela
Coroa Lusitana. Vencidos pelos portugueses em sucessivas guerras, quando se aliaram a
franceses e holandeses, os Potiguara foram reduzidos, na Paraíba, em dois aldeamentos
missionários na região do Mamanguape: o de São Miguel da Baía da Traição e o da
tore.p65 157 17/05/2000, 09:05
TORÉ
158
Preguiça, mais para o interior. Mais tarde, no século XVIII, ambos foram elevados à
categoria de vilas, ficando o da Preguiça com o nome de Vila de Nossa Senhora dos
Prazeres de Monte-Mór (Idem).
Na segunda metade do século XIX, as famílias de caboclos dos aldeamentos de Monte-
Mór e Baía da Traição estavam submetidas à diretoria dos índios e cada aldeia possuía
um regente, um índio que servia de intermediário entre os poderes públicos e privados e
a mão-de-obra representada pelos aldeados. Entre 1864 e 1868 o engenheiro Antônio
Gonçalves da Justa Araújo, em cumprimento de ordens imperiais e dando prosseguimento
ao processo de regularização fundiária iniciada pela lei de terras de 1850, demarca as
terras dos dois aldeamentos e divide o de Monte-Mór em 150 lotes entregues aos índios
casados. Justa Araújo, no entanto, não concluiu o trabalho de loteamento das terras de
São Miguel (Ibidem).
No começo do século XX as terras de Monte-Mor são alvo da instalação da
Companhia de Tecidos Rio Tinto CTRT, de propriedade da família Lundgren, que
funda a cidade de Rio Tinto, com todo o seu parque industrial dentro das terras do
tore.p65 158 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
159
aldeamento. No mesmo período, as terras da Baía da Traição passam a ficar sob
administração do Serviço de Proteção aos Índios SPI. A partir deste momento, instaura-
se um conjunto de relações tensas entre índios, CTRT e SPI que geram inúmeras situações
de violência, dominação, conflitos, perseguições e disputas.
Com o decorrer do tempo, o quadro político na área da Baía da Traição tendeu a se
acomodar na situação que Oliveira Fº (1988) chamou de indianidade, com o predomínio
da atuação tutelar da agência indigenista sobre os grupos familiares e a constituição de
um campo político onde esta tutela desempenha um papel central no controle da
distribuição de recursos para índios e não-índios , dos papéis políticos e de uma visão
muito própria do que deveria ser a cultura indígena. Apesar da antiguidade da Vila São
Miguel como sede do antigo aldeamento, é a aldeia São Francisco que se destaca, na
Baía da Traição, como a mais populosa e de maior peso político, sendo vista pelos seus
próprios habitantes e pelos índios das outras aldeias como a mais tradicional, onde vivem
os índios menos misturados e a guardiã da tradição do toré.
Já na área de Monte-Mór, a Companhia Rio Tinto exercia o seu controle com mão
de ferro ou, no dizer dos índios, ela casava e batizava. O processo de esbulho das terras
indígenas foi muito violento, gerando um clima de terror e perseguições, com incêndios
de casas, prisões, torturas, assassinatos e fugas de famílias inteiras no que poderíamos
chamar de diáspora Potiguara. Curiosamente, muitas das famílias indígenas que foram
expulsas das terras de Monte-Mór terminaram por voltar ao seu antigo território como
empregados recrutados em outras regiões do estado pelos agentes da própria Companhia,
porém, negando qualquer ligação com os caboclos velhos.
No decorrer das últimas décadas o campo intersocietário onde os Potiguara se inserem
sofreu profundas transformações, com o surgimento de novos atores sociais e a criação
de circunscrições administrativas oriundas tanto do processo de regularização das terras
3
indígenas quanto da emancipação dos municípios de Rio Tinto, Baía da Traição e
Marcação.
Datam do começo da década de 1980 os movimentos indígenas pela regularização
fundiária das terras dos dois antigos aldeamentos e esta luta vêm se fazendo através de
longos períodos de conflitos, negociações, acomodações e etapas que ainda não se
venceram. Das três terras indígenas, duas (Potiguara e Jacaré de São Domingos) estão
homologadas, mas ocupadas por uma grande população de pequenos agricultores e por
usineiros e a Terra Indígena Potiguara de Monte-Mór ainda encontra-se em processo
de regularização fundiária, razão de vários conflitos e mobilizações por parte dos índios
contra as usinas de álcool que ocupam as terras da antiga sesmaria.
Com a falência da CTRT, em meados dos anos 80, a cidade de Rio Tinto passou a
experimentar um período de estagnação econômica. As terras expropriadas dos índios
foram vendidas a usinas de álcool e açúcar. Enquanto a Baía da Traição experimentou
um crescimento vertiginoso com o incentivo ao turismo de fim de semana, veraneio e
tore.p65 159 17/05/2000, 09:05
TORÉ
160
carnaval nas suas praias, incluindo-se a especulação imobiliária que sempre acompanha
tais balneários. Já Marcação cresceu a partir de um pequeno entreposto de comercialização
de caranguejo, estagnado pelo desaparecimento dessa espécie dos mangues do rio
Mamanguape. Hoje, é uma ilha de casas em meio ao mar sufocante dos canaviais.
Somando-se a esses processos deve-se notar também o afluxo constante de pequenos
agricultores em direção as terras indígenas, com o intuito de conseguir um pedaço de chão
para trabalhar, geralmente através de casamentos ou relações de compadrio com os índios.
É nessa situação de multiplicidade de atores e de diferentes graus de autonomia política
e econômica das aldeias, de conflito fundiário na maior parte do território indígena e de
complexificação crescente do campo indigenista local que serve de pano de fundo às
nossas considerações sobre o toré Potiguara. Nos inspiramos nas análises de Gluckman
(1987), que propõe considerarmos o campo onde as situações sociais se desenrolam como
uma única unidade, onde nativos e agentes coloniais interagem de forma
interdependente. Assim, compreendemos que não existe nenhuma ação desencadeada
pelos Potiguara que não leve em consideração o movimento dos outros atores no campo
e a sua própria noção de grupo é construída a partir da relação com a sociedade envolvente.
Essa organização processual do campo intersocietário é que vai fornecer as balizas para
a construção das fronteiras étnicas e para a orientação das ações sociais, sejam elas
econômicas, políticas ou culturais.
O toré Potiguara. Os primeiros registros
Os primeiros registros sobre as práticas culturais dos Potiguara foram feitos em 1913,
por Alípio Bandeira, um funcionário do Serviço de Proteção aos Índios - SPI. De modo
passageiro e sem entrar em detalhes Bandeira discorre sobre os descendentes dos Potyguaras,
hoje reduzidos a uma centena de famílias espalhadas pelas margens dos riachos da região, sobre
a sua estada no povoado de São Francisco e sobre as atividades de agricultura e pesca.
Fala também sobre a figura do regente, dos contratos de trabalho que este intermediava e
do seu papel na realização das festas do padroeiro São Miguel. (Bandeira, 1913, in
Moonen & Maia, 1992, p. 184)
Dando continuidade ao seu relatório Bandeira ressalta o nível de integração dos
Potiguara à vida regional, mas, faz questão de frisar o caráter arredio e indiferente do
modo como se comportam, localizando justamente neste ponto a sua especificidade étnica:
Quatro séculos de civilização ocidental passaram por esses índios (...) e, todavia, são
índios puros, índios ásperos, índios selvagens, com sua sociedade à parte e tão alheia à
nossa quanto lhes é possível dentro da aproximação em que se encontram. (...) Nas suas
festas domésticas é que, sobretudo, se apanha o apego dos Potiguaras aos seus hábitos
ancestrais. Eles dançam e cantam como índios. Usam instrumentos de música, mas
instrumentos indígenas... o zambê e o puita são os acompanhamentos prediletos de
tore.p65 160 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
161
suas canções e dos seus sambas. (...) Com essa música elementaríssima folgam noites
inteiras, dando a quem os contempla, a impressão de um rito bárbaro em plena
selva.(idem, pp. 185-6).
É interessante a associação que Bandeira faz entre a etnicidade e as festas cotidianas
dos Potiguara, embora isso se deva muito mais a sua percepção da realização da música
e da dança do que dos dados que apresenta. Infelizmente, seu relato não nos dá subsídios
para maiores suposições: não nomeia a dança, não a descreve em pormenores e os
instrumentos que cita são utilizados mais no coco que no toré atualmente.
Após essa narrativa episódica de Alípio Bandeira, novos registros serão feitos em
1938 pela Missão de Pesquisas Folclóricas do Departamento Municipal de Cultura de
São Paulo. Sob idealização e orientação de Mário de Andrade, então diretor do
Departamento, uma equipe de técnicos recebeu treinamento etnográfico e se deslocou
para os estados do Norte e Nordeste do Brasil a fim de coletar o maior número possível
4
de manifestações folclóricas . O estado em que a Missão mais se demorou foi a Paraíba,
ficando de março a maio de 1938, e percorrendo dezoito cidades, do litoral ao sertão.
Em seus registros consta que nos dias 10 e 13 de maio a equipe esteve em Rio Tinto, São
Francisco, Baía da Traição e Mamanguape, tendo passado os dias 11 e 12 registrando o
coco e o toré em São Francisco. Esses registros foram feitos através de vários recursos
tais como anotações de campo, fotografias, filme e registro em discos. É a primeira vez
em que foram feitos múltiplos registros do toré dos Potiguara, e também é a primeira vez
que essa expressão aparece relacionada a uma prática do grupo. No catálogo dos registros
da Missão o toré aparece sempre categorizado como dança indígena, indicando a sua
especificidade e a ligação com um tipo particular de grupo humano (cf. Acervo de
Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade, p.30-31).
Há um documentário em vídeo realizado pelo Centro Cultural São Paulo que recupera
algumas partes dos registros filmados da Missão e onde aparecem imagens do toré, do
coco e do trabalho de uma casa de farinha em São Francisco e Baía da Traição. Além das
imagens o vídeo traz uma relação dos nomes dos participantes do toré e uma das músicas
pode ser claramente identificada: Cana, cana, oh canavial/ Vamos folgar na alegria do mar,
ainda hoje executada durante o toré. Quanto aos instrumentos, a Missão registra um
conjunto composto por zabumba, caixa, reco-reco e uma flauta reta de quatro furos,
chamada gaita ou privona, (cf. Mário de Andrade e os Primeiros Vídeos Etnográficos).
Após esse registro da Missão, cujos dados sobre a Baía da Traição continuam inéditos,
vamos encontrar rápidas citações sobre o toré Potiguara nos trabalhos de Frans Moonen.
Especialmente naqueles condensados na obra Etnohistória dos Índios Potiguara, organizada
em 1992, junto com o procurador Luciano Mariz Maia. Neste livro, Moonen se refere
ao toré dos Potiguara num trecho bastante curto além de apresentar uma transcrição das
5
músicas realizada em 23 de julho de 1969 .
tore.p65 161 17/05/2000, 09:05
TORÉ
162
Moonen apresenta uma visão bastante pessimista sobre a cultura Potiguara. Inspirado
nas teorias da aculturação descreve o toré como
O único elemento que ainda lembrava a sua ascendência indígena (...), que executavam
às vezes em cidades próximas, para dar mais brilho a festas folclóricas ou a comemorações
de datas nacionais como, por exemplo, a Semana do Índio.(Moonen & Maia, 1992,
p.111-2)
Sempre preocupado em encontrar uma pureza cultural, acrescenta ainda que não
havia concordância quanto ao texto, o ritmo e a coreografia do toré e que os aspectos
musicais e poéticos estavam fortemente influenciados pela música popular da região como
o coco e a ciranda. Os instrumentos citados são a gaita, a zabumba e o maracá.
Mesmo que de forma negativa Moonen aponta, no começo da década de 1980, para
um processo de retomada do toré influenciado pela atuação dos missionários do Conselho
Indigenista Missionário (CIMI). O CIMI possibilitou aos Potiguara o contato com
outros povos em Reuniões Regionais de Lideranças Indígenas, onde
aprenderam que índio precisa ter cultura indígena, precisa exibir símbolos de indianidade
e assim o toré passou a ser uma exibição pública de indianidade, em encontros, festas e
outros eventos que contam com a presença de pessoas estranhas à comunidade potiguara.
(Idem, p.112).
Infelizmente, Moonen não chega a dar importância maior a esse processo de
valorização do toré entre os Potiguara, principalmente no que diz respeito a sua função
enquanto demarcador de fronteiras étnicas e atestado público e interacional de indianidade.
Esse registro é muito importante para a compreensão atual do toré, pois, é nesse momento
de luta pela terra, que vai assumir a sua configuração atual com roupas de palha e cocares
de penas, reforçando para os índios e os não-índios a imagem da comunidade como
possuidora de uma tradição indígena específica, fonte de orgulho e honra. Claramente
um processo de invenção de tradições (Hobsbawn e Ranger, 1984) o incremento na
realização do toré nas últimas décadas vem se mostrando como uma das dimensões mais
dinâmicas da vida Potiguara, mobilizando indivíduos e grupos em torno de distintos
projetos étnicos.
O caráter de invenção cultural não desmerece a antiguidade e o valor afetivo do toré
entre os Potiguara. Pelo contrário, reforça os seus significados e as lealdades étnicas ao
atribuir continuamente novos significados a práticas antigas. Na sua conceituação de
invenção de tradições Hobsbawn e Ranger afirmam que esse processo se dá através da
escolha e adaptação de elementos culturais anteriores existentes no repertório da memória
do grupo (1984, p. 14). Citando Lévi-Strauss, Manuela Carneiro da Cunha também
tore.p65 162 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
163
afirma que os traços culturais selecionados por um grupo ou fração de uma sociedade não são
arbitrários, embora sejam, no entanto imprevisíveis(1979, p.37).
Apesar das narrativas episódicas e pouco detalhadas os registros que coligimos
aqui são suficientes para afirmarmos o reconhecimento de longa data dos Potiguara
como uma população etnicamente diferenciada e, ainda que não se possa afirmar
com certeza as formas e os conteúdos do toré, há indícios de uma relação entre a
identidade indígena e uma prática cultural envolvendo canto e dança. Se os registros
feitos por funcionários do SPI, pela Missão de Pesquisas Folclóricas e por Frans
Moonen não nos apresentam mais informações do que as aqui sumariadas, partamos
para o que os próprios Potiguara nos informaram em entrevistas feitas entre agosto
6
de 2002 e setembro de 2003 .
As origens o toré como herdeiro da cultura dos aldeamentos
Caboquinha da Jurema
Eu dancei em seu toré.
Para me livrar das flechas
Dos Tapuios Canindé.
Reis Canindé, oh, Reis Canindé!
Palmas de Jurema,
Pra Reis Canindé.
Em todas as entrevistas que fizemos, os Potiguara foram categóricos ao afirmar a
antiguidade do toré. Seja em São Francisco, seja na Vila Monte-Mór todas as falas
aludiram a imemorialidade desta prática. Obviamente, também se referiram a períodos
em que a brincadeira entrou em desuso e foi pouco realizada, com os motivos a depender
das circunstâncias de cada local. Sobre Monte-Mór pesou a repressão da Companhia de
Tecidos Rio Tinto, enquanto em São Francisco, o ritual foi mantido, mesmo enfrentando
períodos de desinteresse. Durante as festas do padroeiro na Vila São Miguel os caboclos
velhos vinham de São Francisco e dançavam o toré nas nove noites de novena, sob a
centenária gameleira em frente à igreja.
Em ambas aldeias o toré aparece ligado tanto à devoção católica aos santos padroeiros
São Miguel para a área da Baía da Traição e Nossa Senhora dos Prazeres para a Vila
Monte-Mór bem como à ancestralidade indígena e aos seres espirituais que povoam a
mata e se aproximam dos seus protegidos quando estes formam a roda do toré. Essas
afirmações aludem a uma cultura de contato herdeira da tradição do catolicismo dos
aldeamentos. Aquele catolicismo que, no dizer de Ronaldo Vainfas (1995), ao tentar
traduzir para as línguas indígenas os deuses e conceitos cristãos, permitiram que, no
sentido inverso, os índios traduzissem seus mitos e heróis para o catolicismo. Assim, o
tore.p65 163 17/05/2000, 09:05
TORÉ
164
toré se constituiu como celebração cristã de uma indianidade que jamais se esqueceu dos
seus antepassados das matas.
Nas recentes pesquisas historiográficas sobre os povos indígenas no Brasil destacam-
se os estudos sobre a vida nos aldeamentos e as estratégias de resistência cotidiana dos
índios (Vainfas, 1995; Barros, 1998). Sob o nome de idolatrias, heresias e abusões
desvendam-se processos de adaptação e reelaboração cultural que ocorriam nas situações
de catequese, onde os índios contrafaziam os ritos e dogmas católicos a partir de suas
referências culturais anteriores, fazendo surgir elementos de cultura e rituais marcados
pela mistura e pelo trânsito entre o público e o privado. As estratégias de catequese
baseavam-se na demonização das tradições nativas e na elaboração de teatros e danças da
conversão, declamados nas línguas indígenas. As portas que os padres imaginavam abrir
nos corações dos índios para a fé em Cristo, também serviam para que os índios
introduzissem dentro da Igreja suas práticas espirituais disfarçadas enquanto celebrações
aos santos padroeiros.
Desse modo, em cada aldeamento desenvolveram-se formas de celebração aos santos
católicos onde se faziam presentes elementos que aludiam às tradições indígenas, criando
um sentido de unidade entre as famílias nativas, o santo padroeiro, o território do
aldeamento e os protetores espirituais dos índios. Essas práticas, quando realizadas em
espaços públicos, eram mostras eloqüentes do sucesso do empreendimento colonial, que
transformava índios selvagens em súditos cristãos e servia para ilustrar os limites de
uma categoria étnica dentro do mundo colonial, a dos caboclos civilizados. Por outro
lado, nas relações familiares, essas práticas conviviam com a crença, o contato e o recurso
aos espíritos das matas, servindo como lastro afetivo que contrabalançava as tendências
de adesão e diluição do grupo na sociedade mais ampla. Na Paraíba, podemos encontrar
o desenvolvimento dessa cultura da catequese entre as populações dos antigos aldeamentos
do litoral Alhandra, Conde, Monte-Mor e Baía da Traição, atualizada como o culto da
Jurema Sagrada ou o Toré dos índios Potiguara.
Os Potiguara não reconhecem nenhuma aproximação histórica entre o seu toré e os
cultos da jurema que se enraízam nos antigos aldeamentos do litoral sul da Paraíba
(Alhandra e Conde), e são pejorativamente denominados de catimbó. Contudo, devemos
lembrar que na década de 1970 a pesquisa de René Vandezande (1975) localizou, nesta
região, rituais mediúnicos denominados de toré dos caboclos e toré dos mestres, onde se
invocavam espíritos de índios, mestres, caboclos e canindés, associados à ingestão do
vinho da jurema. Tais rituais aproximam-se bastante de outros torés localizados no
Nordeste, como já havia notado Nascimento (1994). Essas referências apenas reforçam
as nossas impressões acerca da origem do toré enquanto produto da cultura dos antigos
aldeamentos missionários.
tore.p65 164 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
165
Músicas, coreografias e instrumentos
Atualmente, o toré é realizado ao som de dois bombos (zabumbas) - um de som mais
grave e o outro mais agudo - ganzá, maracás e uma gaita. Os instrumentistas e os puxadores
das músicas colocam-se ao centro do círculo, envoltos por um círculo composto pelas
crianças e de outro ainda maior pelos adultos. No espaço entre o círculo dos adultos e o
círculo das crianças posiciona-se o cacique geral, numa atitude de observação e guarda.
A pajé e os caciques das aldeias ora posicionam-se no círculo maior, ora evoluem junto
com o cacique entre os círculos. Os maracás são portados por várias pessoas, independente
do sexo e da idade, enquanto as músicas ora são puxadas por homens, ora por mulheres,
respeitando-se sempre a linha melódica ditada pela execução da gaita.
A sonoridade e a originalidade da música é dada pelo toque da gaita que confere
leveza e harmonia a base percussiva e orienta a entonação das músicas. Infelizmente,
apenas um senhor, já idoso, sabe executar as músicas do toré na gaita, seu José Bitu,
residente na aldeia Cumaru. Existem sensíveis diferenças entre o toré executado ao som
da gaita e aquele que é feito apenas ao som dos bombos e das vozes nuas, como o que é
realizado pelos índios de Monte-Mór.
Assim que a roda do toré é formada, e antes que qualquer música seja iniciada, todos
se ajoelham e em silêncio fazem suas orações, entregando-se á proteção de Deus e dos
seus antepassados. Essas orações devem ser feitas em silêncio, podendo ser um Pai-
Nosso, uma Ave Maria, ou simplesmente uma concentração do pensamento em alguma
tore.p65 165 17/05/2000, 09:05
TORÉ
166
idéia ou pessoa. Todos os nossos entrevistados foram unânimes ao salientar essa forma de
iniciarem o ritual do toré, condenando que sejam feitas orações em voz alta. Estas orações
duram em torno de um minuto e findam-se quando o cacique sacode o seu maracá e os
zabumbeiros rufam nos bombos.
A coreografia da dança segue alguns passos básicos. Girando sempre em sentido
anti-horário, ou no dizer dos índios para as direitas cada pessoa vira-se para um seu
vizinho e, fazendo uma flexão com o tronco, o cumprimenta, voltando-se imediatamente
para o outro lado e cumprimentando o outro vizinho da mesma forma, e daí repetindo o
movimento. Algumas alterações nesse passo são feitas quando num ritmo de marcha
executada pela gaita, sem acompanhamento de vozes, caminham em fila, às vezes dando
saltinhos levantando o pé que vai à frente, às vezes de forma mais lenta e compassada,
sempre obedecendo ao ritmo imposto pelo instrumento de sopro. Nessa cadência de
marcha são entoadas algumas músicas que se referem á Caboquinha da Jurema e ao Rei dos
Índios. Outras vezes, essas mais raras, quando cantam os caboclos lá no mar, cessando areia
modificam completamente o passo, voltando-se todos para o centro da roda, dando rápidos
pulinhos para a direita com o tronco curvado e os braços estendidos imitam o movimento
de quem está trabalhando peneirando a areia da praia em busca de mariscos.
Os passos acima descritos são encontrados com maior freqüência quando os índios
de São Francisco realizam o toré, principalmente se algumas mulheres mais idosas
estiverem presentes. Nas outras aldeias, em especial Monte-Mór, onde passaram a realizar
o toré com mais intensidade nos últimos dois anos, a música e os passos são ligeiramente
diferentes deste padrão que é tido pelos Potiguara como o tradicional. Em Monte-Mór,
durante a música de encerramento, que é a do Pássaro Rei Cuã, segue-se um movimento
coreográfico diferente que acompanha a movimentação indicada no verso vai em cima,
vai em baixo. Os índios esticam os braços para cima, juntando as mãos e os abaixam
rapidamente para um lado, levantando-os e os abaixando para o outro lado, logo depois.
7
As músicas do toré são provenientes tanto de um acervo tradicional da memória coletiva ,
como de composições mais recentes realizadas pro alguns Potiguara, o que inclui também
algumas traduções para o Tupi. As músicas do toré são consideradas como um poderoso
meio de se entrar em contato com os antepassados, cada uma possui o seu dono, não mais
vivo e que tem a faculdade de atraí-los para próximo de quem está cantando.
As músicas que são compostas atualmente refletem a experiência vivida na luta pela
terra e valorizam o ser indígena, associando à natureza e a atributos positivos. Alguns
índios se destacam nessas composições, como Neguinho, de Monte-Mór e as irmãs,
Zuleide, Ieda e Leza que moram na Baía da Traição. Geralmente estas músicas lhes são
reveladas através de sonhos onde entram em contato com os seus antepassados.
Quanto às letras das músicas, estas vão apresentar variações de lugar para lugar e de
pessoa para pessoa. Como o modo de transmiti-las e guardá-las é através da oralidade
estas variações não constituem obstáculo para nossa análise, uma vez que é própria dos
tore.p65 166 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
167
sistemas de transmissão oral uma maleabilidade nesse aspecto. Infelizmente, não temos
espaço nas transcrições para contemplar todas as variações de cada música, o que só
poderá ser feito quando elas se repetirem nos registros de lugares diferentes.
Contudo, se para nós a variação é algo próprio ao toré, enquanto oralidade, alguns
índios insistem em afirmar que o verdadeiro toré é realizado de outra forma e que os
antepassados só se aproximam quando o ritual é realizado de forma correta. O que envolve
tanto a forma de tocar, cantar e pronunciar as palavras, como a ordem de execução das
músicas durante o ritual.
Símbolos e significados.
Eu tava sentado na Pedra Fina
O Rei dos Índios, eu mandei chamar.
Caboca Índia, Índia Guerreira,
Caboca Índia do Juremá.
Com meu bodoque eu sacudo flecha,
Com meu bodoque eu vou atirar.
Caboca Índia, Índia Guerreira,
Caboca Índia do Juremá.
A ordem de execução das músicas é imprescindível para que o toré possa estabelecer
o contato com os ancestrais indígenas de forma adequada, abrindo e fechando os canais
de comunicação na hora e da maneira corretas, sem deixar brechas para a desordem no
contato entre os dois mundos. Apesar de algumas opiniões divergentes sobre a ordem
correta de execução das músicas, em todos os torés que assistimos até os realizados em
João Pessoa, para um público não-índio as primeiras músicas executadas após a oração
inicial foram:
Quem pintou a louça fina,
Foi a Flor da Maravilha.
Pai e Filho e Espírito Santo,
Filho da Virgem Maria.
Eu estava em minha casa,
E mandaram me chamar.
No dia de Santo Rei,
Na casa de João Pascal.
O sol entra pela porta,
E a lua pelo oitão.
Viva o dono da casa,
Com suas obrigação.
tore.p65 167 17/05/2000, 09:05
TORÉ
168
A primeira música revela que o toré é uma brincadeira cristã, feita com as bênçãos e
a proteção de Deus, quando todos os índios fazem o sinal da cruz invocando a proteção
divina. Já a segunda e a terceira músicas são uma forma de saudação aos presentes
anunciando a chegada do grupo e o respeito mútuo que deve haver entre os que dançam
e os que assistem.
A relação entre o sobrenatural e a ancestralidade indígena é tão forte que o próprio São
Miguel é tido como um índio de carne e osso que faleceu, foi enterrado e alguns dias
depois sua cova rachou, aparecendo a imagem do santo. Essa imagem original era viva, não
sendo feita de nenhum material inerte, como gesso ou madeira. Tanto que, segundo nos
8
relatou seu Tonhô , uma índia muito curiosa, e duvidando da vida da imagem, espetou São
Miguel com uma agulha fazendo com que o sangue começasse a escorrer. Também nos foi
narrado que a imagem atualmente guardada na igreja da aldeia São Francisco, pois o antigo
templo da Vila São Miguel ruiu há uns vinte anos, não é o santo original e sim uma imagem
similar mandada de Roma, onde estaria localizado o verdadeiro São Miguel.
O campo religioso entre os Potiguara vem se modificando rapidamente nos últimos
anos com a penetração de missionários evangélicos e carismáticos. Prova disso são as
inúmeras igrejas protestantes fundadas dentro das aldeias e os grupos de jovens católicos
que passaram a comandar os festejos de São Miguel. Entre os evangélicos destacam-se
as igrejas do Betel, a Batista e a Assembléia de Deus. Muitos dos jovens que passaram a
freqüentar os grupos carismáticos da Igreja Católica vêm atualmente ordenando-se como
irmãos leigos das missões com sede em João Pessoa e que atuam nas aldeias. Inclusive, já
existe um Potiguara da aldeia Camurupim ordenado padre há poucos anos. Estas
denominações religiosas possuem posições distintas quanto ao toré: os carismáticos são
mais tolerantes com a sua prática, embora não se empolguem com a sua realização; já os
evangélicos são abertamente contrários, alguns pastores chegam a pregar contra o ritual
indígena, apesar dos índios evangélicos por nós entrevistados portarem-se de um modo
mais simpático, alegando que não dançam, mas respeitam e acham o toré importante.
9
Já em meio aos poucos índios umbandistas e juremeiros encontramos uma grande
receptividade ao toré. O que não pode ser dito em relação à percepção generalizada que os
índios têm destes cultos considerados como catimbó, feitiço ou macumba. Para boa parte
da comunidade estes ritos são próximos ao toré, mas bastante perigosos e negativos, já que
não trabalham do mesmo modo que os índios. A proximidade entre os cultos é realizada
através da mediunidade que determinadas pessoas têm. Uma vez que toré e umbanda são
formas de estabelecer contato com o mundo espiritual, qualquer médium que esteja presente
a esses rituais pode sentir as forças espirituais se aproximando. Todavia, afirmam, as forças
10
que se manifestam no toré são mais sutis e poderosas que aquelas da Umbanda .
Por ser uma prática de contato espiritual o toré pode se intercambiar com outras
formas de cultos mediúnicos seja através dos médiuns, seja através das entidades invocadas,
e principalmente, com torés de outros povos indígenas. As práticas mediúnicas e de
tore.p65 168 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
169
terapias com orações são bastante reservadas entre os Potiguara. Basicamente, cada família
possui seus especialistas no contato com o mundo espiritual que cuidam da saúde física,
mental e espiritual de seus parentes, curando mau-olhados e outras doenças. Estes
especialistas podem seguir práticas da umbanda ou adotarem o catolicismo tradicional,
já que suas atividades são realizadas no seio da família e não são alvo de repreensões, mas
antes de procura.
Ainda no tocante ao contato espiritual propiciado pelo toré, vários dos nossos
entrevistados nos informaram que as músicas que são cantadas possuem seus donos
espirituais, os índios antigos que as compuseram. Quando essas músicas são cantadas
eles se aproximam da roda dos dançadores e buscam se comunicar com os médiuns
presentes, essa proximidade faz alguns índios começarem a sentir fortes emoções e em
casos mais extremos chegam a se manifestar, isto é, incorporar esses espíritos. Essa
capacidade mediúnica faz algumas pessoas se afastem do toré, mesmo sendo índios, pois
têm medo da exibição pública e da vergonha que isso possa causar.
É justamente por estabelecer o contato com os antepassados indígenas que o toré não
pode ser confundido com o coco e a ciranda, brincadeiras populares em forma de dança
de roda que os índios conhecem e apreciam de longa data. O toré é invocado como
expressão do ser indígena, patrimônio espiritual exclusivo dos Potiguara, em oposição ao
coco e a ciranda, que mesmo conhecidos e apreciados pelos cabocos, são compartilhados
por índios e não-índios, não constituindo em elementos diferenciadores de identidades e
direitos. O coco e a ciranda são expressões da cultura popular da região, seus ritmos e
letras são conhecidos de norte a sul, variando pouco em sua forma de execução e nas
datas que acontecem, geralmente os meses de maio a julho, com maior intensidade nos
festejos juninos. O banho de São João, à meia-noite de 23 para 24 de junho, é o seu ritual
mais tradicional, seja para os índios, pescadores ou comunidades negras (cf. Ayala &
Ayala, 2000, p. 30-31).
Toré e etnicidade
Seguindo nessa direção, o toré se expressa como a maior marca da etnicidade Potiguara
e um importante recurso simbólico nas relações políticas com os órgãos oficiais. Num
contexto de competição por recursos com os segmentos não-indígenas que convivem nas
terras indígenas, é importante construírem e exibirem as marcas de indianidade para
demarcar os espaços sociais e a sua legitimidade na disputa por recursos. Assim, se referem
às representações oficias do toré em João Pessoa e Brasília como fatores de suma
importância nos processos de negociação política que envolvem as demandas por recursos
sociais, tais como material de construção, sementes, ferramentas, remédios, construção
de postos de saúde e escolas, entre outros. Mais adiante, trataremos do dia do índio
como um desses momentos privilegiados de negociação política onde o toré e a
apresentação de uma cultura indígena são estratégias simbólicas muito importantes.
tore.p65 169 17/05/2000, 09:05
TORÉ
170
É ainda no terreno da etnicidade que vamos encontrar um processo de invenção das
tradições que vem se fazendo desde o começo da década de 1980, com a luta pela terra e
a atuação de missionários católicos. Nessa elaboração de tradições destacamos três
movimentos, o primeiro relacionado à retomada do toré em Monte-Mór e a ocupação de
algumas glebas de terra em Marcação; o segundo como resultado das políticas de educação
escolar indígena diferenciada, cujas demandas originaram-se fora das aldeias, seja em
organizações não-governamentais, seja na Universidade Federal da Paraíba, seja no
Governo do Estado e que hoje estão sendo apropriados de múltiplas formas pelos
segmentos Potiguara; o terceiro movimento, o aumento do fluxo turístico na Baía da
Traição, também é oriundo de grupos externos, mas não vinculados diretamente a
nenhuma instituição, apesar do interesse que empresas e os governos municipais e estadual
possuem. A seguir, trataremos desses dois últimos processos, deixando o caso do toré de
Monte-Mór para ser abordado mais detalhadamente no próximo item.
As dinâmicas impostas aos Potiguara por agências políticas externas e pelo turismo se
entrecruzam nas diversas formas como os grupos indígenas vêm criando novos
significados e elementos culturais para a representação em amplas arenas de interação
social e política. O aprendizado da língua tupi com o professor Eduardo Navarro da
Universidade de São Paulo representa muito bem essa intersecção entre as discussões
sobre educação escolar indígena e a existência de uma cultura Potiguara diferenciada e a
contínua curiosidade dos turistas e estudantes que visitam as aldeias a respeito da língua,
tradição e costumes indígenas originais.
Os principais incentivadores do resgate da língua tupi entre os Potiguara são os
professores indígenas Nel, Pedro e Josafá, que aprenderam a língua num curso de
formação na Baía da Traição, ministrado pelo próprio Eduardo Navarro. Esses
professores, que também são lideranças, não só traduziram para o tupi as músicas do
toré, como compuseram novas músicas, passaram a adotar nomes em tupi e escreveram
livros e cartilhas que foram publicados pela secretaria estadual de educação e estão sendo
utilizados nas escolas. Sempre que há uma apresentação oficial do toré pelo menos um
deles está presente para cantar ou declamar frases em tupi. Constantemente, quando se
encontram conversam entre si em tupi, deixando claro para os que os observam o seu
domínio na língua indígena.
Assim como os Pataxó do litoral sul da Bahia analisados por Grünewald (2001) os
Potiguara começaram a trabalhar em cima do seu repertório cultural não só para se
posicionar em meio às arenas de interação turística que na Baía da Traição apenas
ensaiam seus primeiros passos, mas para reorganizarem a sua própria maneira de se
colocar no mundo. Alguns grupos locais passaram a elaborar os seus torés pensando
apenas em se reunirem para melhorar as condições de vida das suas aldeias. Podemos
11
citar como exemplo o grupo de jovens da aldeia do Forte , que após o grande ritual que
marcou a posse do novo cacique geral, em março de 2002, sentiram-se motivados a
tore.p65 170 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
171
iniciar pela primeira vez a prática regular do toré no Forte, além de passarem a estudar o
tupi e aprender a fazer artesanato em osso e sementes.
Outro grupo de toré já havia sido formado na Vila Monte-Mór e, no Galego, durante
um tempo houve um toré só de crianças, organizado pela professora Iolanda, pelo cacique
Raké e por sua mãe, Dona Joana. Na escola indígena inaugurada na aldeia São Francisco,
em maio de 2003, os alunos passaram a ter aulas de cultura e história Potiguara ministrados
por professores indígenas, o que fez alguns jovens se interessarem em dançar o toré pela
primeira vez. No ano passado, também, todos os índios que participaram da abertura do
novenário de São Miguel na aldeia São Francisco o fizeram vestidos com as saias de
palha, mesmo os grupos de jovens do movimento carismático.
Todos esses pequenos movimentos localizados em cada aldeia constituem o quadro
atual em que os Potiguara passaram a repensar a sua interação com a sociedade envolvente
e, neste processo, a sua própria cultura, decidindo-se firmemente na elaboração de projetos
coletivos que resgatem as suas tradições. A positividade dessas reorganizações dos
símbolos da tradição indígena é advinda do fato de serem produções conscientes emanadas
de decisões tomadas pelas próprias famílias Potiguara em seu dia-a-dia, e não a busca de
meras respostas para a insatisfação da sociedade mais geral em não encontrarem mais
índios puros nas aldeias do litoral paraibano.
Os grupos de toré
Para finalizarmos, gostaríamos de descrever o toré em pelo menos dois de seus
contextos de realização: o primeiro seria o toré oficial do dia do índio, exibição pública
da unidade indígena, mas vetor interno de disputas e faccionalismos, e o outro, o toré
realizado em Monte-Mór, também eloqüente na exibição pública e nos faccionalismos,
mas que aponta para processos históricos e campos de interação diferenciados, muito
mais próximos de uma etnogênese do que dos quadros da indianidade que marcam o
toré no dia do índio.
O toré no dia do índio
Todos os anos, desde de meados da década de 1970, no dia 19 de abril - dia do índio,
os Potiguara costumam se reunir e dançar o toré numa exibição pública e oficial para a
Fundação Nacional do Índio FUNAI, as prefeituras, órgãos de governo, organizações
não-governamentais, partidos políticos, igrejas, a imprensa e excursões de estudantes e
turistas que afluem para a região. Nesse momento, a fronteira étnica é demarcada e
atualizada para as agências oficiais com quem se relacionam. São comuns a presença de
autoridades e uma arrecadação prévia de mantimentos com a FUNAI e políticos da
região.
As comemorações do dia do índio costumam ser realizadas ou na Vila São Miguel,
ou na aldeia São Francisco, onde há um imenso terreiro, sombreado por várias árvores.
tore.p65 171 17/05/2000, 09:05
TORÉ
172
Este terreiro fica próximo as furnas, pequenas formações no terreno, envoltas por
histórias de perseguições aos índios, que usavam as saliências como esconderijo.
Ultimamente, alguns índios vêm chamando este terreiro de Ouricuri, como alguns outros
povos indígenas denominam os seus espaços de culto.
A festa do dia do índio é o momento privilegiado para a construção das alianças
políticas, tanto externas como internas ao grupo, e também o vetor de separação entre as
facções políticas e grupos de interesse. O importante é que essa data não pode deixar de
ser festejada, principalmente como atualização das relações entre os Potiguara e a sociedade
mais geral, momento onde se diferenciam enquanto grupo étnico portador de uma
especificidade cultural e sujeitos políticos numa relação que, a depender do interlocutor,
pode ser de dependência, clientelismo, patronagem, barganha ou oposição.
12
O toré em Monte-Mór
A Vila de Monte-Mór, ou Vila Regina, é uma vila operária, uma área urbana próxima
à sede do município de Rio Tinto, onde estão os restos de uma das fábricas da Companhia
de Tecidos Rio Tinto e a antiga igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. Lá residem muitas
famílias indígenas, constantemente ameaçadas de despejo pela Companhia, que vem
cobrando judicialmente os aluguéis das casas. Para demonstrar que são índios, os Potiguara
de Monte-Mór dançam o toré a cada quinze dias, sempre nos sábados, no quintal de
uma casa em frente a uma das praças da Vila.
O toré que registramos na Vila de Monte-Mór exterioriza a identidade dos Potiguara
que vivem lá; e não só dos moradores, mas da própria terra, como algo indissociável da
unidade étnica que formam. A relação identidade/território e o processo de mobilização
pela demarcação das terras são reforçados nas músicas cantadas durante o toré. A
13
experiência da luta pela terra se expressa justamente através do toré . O que está em
jogo em Monte-Mór é a própria identidade Potiguara, negada pelos poderosos do lugar,
que lhes roubaram as terras, poluem os rios, soltam o gado nas roças, não lhes dão trabalho
e ainda cobram aluguel das casas, ameaçando-os de despejo.
A realização pública do toré num espaço historicamente marcado pelo controle da
Companhia Rio Tinto assume para os índios o significado de um grande desabafo. É
motivo de orgulho e prazer dançar o toré em praça pública. Alguns chegam a afirmar,
num tom emocionado, que ao dançar o toré hoje podem ser livres, por eles próprios e por
seus antepassados que foram perseguidos e obrigados a negar sua identidade. Observando
a roda do toré em Monte-Mór lembramo-nos de que A cultura aparece aqui como a antítese
de um projeto colonialista de estabilização, uma vez que os povos a utilizam não apenas para
marcar sua identidade, como para retomar o controle do próprio destino (Sahlins, 1997, p. 46).
Tanto é uma retomada de controle de seu próprio destino que em setembro de 2003
14
os índios de Monte-Mór, Jaraguá, Marcação, Nova Brasília e Lagoa Grande retomaram
uma faixa de terras de canaviais ocupada pela Usina Japungu e iniciaram a construção
tore.p65 172 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
173
de uma nova aldeia, Três Rios. No local em que os índios acamparam mais de dois meses
existiam as casas de um antigo grupo familiar que fora expulso pela cana para a periferia
de Marcação, e que agora começam a voltar para o seu antigo lugar de morada e trabalho,
desta vez junta com outras famílias indígenas residentes na cidade. Durante todo o período
dois meses em que a posse das terras de Três Rios estava ameaçada de ser perdida de
volta para a usina os índios reuniram-se no acampamento e vararam dias e noites rezando
terços, fazendo procissões, tocando bombo, dançando toré, coco e ciranda e dormindo
em precários abrigos de lona e palha seca de cana.
Considerações finais
Ao falar sobre as características mais gerais da etnicidade, João Pacheco de Oliveira
afirmou que esta
...supõe necessariamente uma trajetória (que é histórica e determinada por múltiplos
fatores) e uma origem (que é uma experiência primária, individual, mas que também
está traduzida em saberes e narrativas aos quais vem se acoplar). O que seria próprio
das identidades étnicas é que nelas a atualização histórica não anula o sentimento de
referência à origem, mas até mesmo o reforça. É da resolução simbólica e coletiva dessa
contradição que decorre a força política e emocional da etnicidade. (1999, p. 30)
Entre os Potiguara todos os símbolos atribuídos ao toré e os movimentos
desencadeados ao seu redor apontam exatamente na direção de atualizações históricas do
sentimento de origem étnica e de pertencimento a um grupo e um território específico.
As vidas e as experiências das pessoas envolvidas vão sendo orientadas por uma nova
disposição na busca de autonomia e de um melhor conhecimento de si próprios.
Os processos de invenção de tradições associados ao toré, ao artesanato e ao resgate
da língua tupi apontam de forma resoluta para o futuro, para a melhoria das condições
objetivas de vida e para uma satisfação cada vez maior das experiências intersubjetivas
partilhadas coletivamente. Cada grupo Potiguara investe sobre um determinado traço
cultural selecionado dentro de suas experiências de vida e o atualiza a partir das condições
atuais sob as quais vivem, com o intuito claro e deliberado de modificá-las. Tal forma de
atuar sobre as tradições já havia sido observado no Havaí por Linnekin (1983) e descrito
de modo positivo, como projetos coletivos e conscientes.
As ações e significados que presenciamos se desenrolarem em torno ou a partir do
toré entre os índios de Monte-Mór e da Baía da Traição revelam uma pluralidade de
situações e projetos coletivos se desenvolvendo ao mesmo tempo e sob as influências
mais díspares. A que projeto-síntese os Potiguara irão chegar não sabemos ao certo e só
o tempo poderá dizer. A única certeza é a de que esta síntese se constituirá apenas como
mais um ponto de partida de onde as futuras gerações indígenas da região trabalharão a
tore.p65 173 17/05/2000, 09:05
TORÉ
174
sua identidade e os seus sonhos. Uma herança rica, fruto do papel ativo que os Potiguara
desempenharam em uma história de muito mais de quinhentos anos.
Anexos:
Transcrições.
Anexo 1 - Texto do toré registrado por Frans Moonen em 1969 (Moonen & Maia, 1992, p.238-
9). Note-se que algumas músicas foram transcritas de forma diferente por nós.
Eu estava em minha casa,
E mandaram me chamar. (2x)
No dia de Santo Rei,
Na casa de João Pascal. (2x)
O sol entra pela porta,
E a lua pelo oitão.
Viva o dono da casa,
Com suas obrigação.
Quem pintou a louça fina,
Foi a Flor da Maravilha.
Pai e Filho e Espírito Santo,
Filho da Virgem Maria.
Os caboclos lá da aldeia,
Quando vão ao mar pescar.
Dos cabelos faz os fios,
E dos fios o landuá.
Os caboclos lá no mar,
Cessando areia. (4x)
tore.p65 174 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
175
Guarapirá está na praia,
Está pegando seus peixinhos.
Dando viva a São Miguel,
A Deus pequenininho.
Eu bem disse a laranjeira,
Que não botasse a flor.
Ela passa sem laranja,
Eu também passo sem amor.
Oh minha Tapuia Coronga,
Bebe água no coité.
Para me livrar das flecha,
Dos Tapuio Canindé.
O Galo Preto, oh manisco,
O que cantou no meu terreiro.
Cantou no pé de Cristo,
Em cima deste madeiro.
Cana, cana, oh canavial.
Vamos folgar na alegria do mar. (4x)
Eu estava no meio da mata
Nos tanquim tirando mel.
Lá chegou meus caboclinhos,
Dos Tapuio Canindé.
A camisa do meu mano,
Não se lava com sabão.
Se lava com ramo verde,
A raiz do coração.
Em cima deste telhado,
Canta pássaro patativo.
Viva o dono da casa,
O dono da casa viva.
Em cima daquela serra,
tore.p65 175 17/05/2000, 09:05
TORÉ
176
Canta um pássaro cantador.
Vai em cima, vai em baixo,
Canta o pássaro canã.
Ponha a laranja no chão tico tico,
Seu Manoel vai e eu não fico. (4x)Anexo II - Transcrição das músicas do Toré realizado na Vila
Monte-Mór durante a visita do procurador da república, em 10 de agosto de 2003. Gravação e
Transcrição realizada por Estêvão Palitot. As músicas marcadas com um asterisco (*) são
composições do índio Marinésio Cardoso, conhecido como Neguinho.
Quem pintou a louça fina,
Foi a Flor da Maravilha.
Pai e Filho, Espírito Santo,
Filho da Virgem Maria.
Eu tava na minha casa
Iraê foi me avisar.
Pega a lança e as flechas
Que o pajé mandou chamar.*
A roupa do meu mano
Não se lava com sabão
Lava com água de cheiro
Da raiz do coração.
Peguei a minha canoa,
Minha rede de pescar.
Fui buscar minha Iraê
Que ficou no alto-mar.*
Bem que disse a laranjeira,
Que ela não botasse flor.
Ela passa sem laranja,
Mas não passa sem amor.
Os caboco das aldeias,
Quando vai pro mar pescar.
E dos cabelos faz o fio,
tore.p65 176 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
177
Do fio faz landuá.
Guarapirá está na praia,
Ta pegando seus peixinhos.
E dando viva a são Miguel,
E a Deus pequenininho.
Eu tava no meio da mata,
Nos toquinho tirando mel.
Lá chegou meus caboquinho,
Da aldeia São Miguel.
Eu tava no meio da mata,
Tava tirando cipó.
Lá chegou meus caboquinho
Da aldeia Monte-Mór.
Os caboco não quer briga.
Os caboco não quer guerra.
E salve, salve a padroeira!
Monte-Mór é nossa terra.*
Salve o sol e salve a lua,
Salve São Sebastião.
Salve São Jorge Guerreiro,
Que é a nossa proteção.
Ai, Caboca de Pena, ai Caboca de Pena,
Tem pena de mim, tem dó.
Ai, Caboca de Pena, ai Caboca de Pena,
Tem pena de mim, tem dó.
Minhas Caboca de Pena,
Eu chamei elas pra vir me ajudar.
Pra ver a força da jurema,
Cadê a força que a jurema dá.
Os caboco quando pisa,
Estremece o chão.
E os passarinho canta,
tore.p65 177 17/05/2000, 09:05
TORÉ
178
Com a sua proteção.
Olha o céu e olha a terra,
Sol, estrelas e luar.
Quem fez o vento, fez a chuva,
Fez o índio, fez o mar.*
Tava na beira do rio,
Fazendo meu landuá.
E já chegou os caboquinho,
Da aldeia Jaraguá.
O caboco potiguara,
Nesta terra ele nasceu.
Ela é santa, ela é mãe,
Ela é do índio, ela é de Deus.*
No pé daquela serra
Tem um pé de mucunã.
Vai em cima, vai em baixo,
Canta o passo Rei Cuã.
tore.p65 178 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
179
* Membro do Grupo de Trabalho Indígena do Setor de Estudos e Assessoria a Movimentos
Populares da Universidade Federal da Paraíba e Mestrando em Sociologia pela mesma Instituição.
Desenvolve pesquisa e ações de extensão entre os Potiguara desde 1999.
* Membro do Grupo de Trabalho Indígena do Setor de Estudos e Assessoria a Movimentos
Populares da Universidade Federal da Paraíba, jornalista e especialista em direitos humanos pela
mesma Instituição. Desenvolve pesquisa e ações de extensão entre os Potiguara desde 1997.
1 O termo Jurema designa, na sinonímia popular e sobretudo na fitoterapia tradicional brasileira,
diferentes espéciess e/ou variedades de Leguminosas, Mimosáceas, ganhando diferentes
sobrenomes de adjetivações, tais como: J. mirim; J. preta; J. de caboclo; J. branca; J; roxa (...)
Além do contexto eminentemente botânico, a palavra Jurema designa ainda pelo menos três outros
significados: a) preparados líquidos à base de elementos do vegetal, de uso medicinal ou místico,
externo e interno, como a bebida sagrada, vinho da Jurema; b) a cerimônia mágico-religiosa,
liderada por pajés, xamãs, curandeiros, rezadeiras, pais de santo, mestras ou mestres juremeiros
que preparam e bebem vinho e/ou dão a beber a iniciados ou a clientes; e c)Jurema sendo
igualmente uma entidade espiritual, uma cabocla ou divindade evocada tanto por indígenas,
como remanescentes, herdeiros diretos em cerimônias do Catimbó, de cultos afro-brasileiros e
mais recentemente na Umbanda. (Andrade, 1999, p. 104)
2 Segundo a organização política dos Potiguara os povoados que são considerados aldeias são os
que possuem um líder ou representante, geralmente chamado de cacique. As aldeias potiguara
são Forte, Galego, Lagoa do Mato, Cumaru, São Francisco, Vila São Miguel, Laranjeira, Santa
Rita, Tracoeira, Bento, Silva, Acajutibiró, Jaraguá, Silva de Belém, Jacaré de São Domingos,
Jacaré de César, Estiva Velha, Lagoa Grande, Grupiúna, Brejinho, Tramataia, Camurupim, Caieira,
Nova Brasília, Vila de Monte-Mór e Três Rios. Além dessas aldeias existem outros povoados que
não possuem representante político e são representados pelo líder da aldeia mais próxima. Monte-
Mór e Três Rios passaram a ser consideradas como aldeias a pouco tempo, Monte-Mór quando
passou a contar com um representante, saindo da esfera da aldeia Jaraguá e Três Rios depois que
os índios de Marcação retomaram uma faixa de canaviais e refundaram o antigo povoado que
havia no local.
3 Terra Indígena (TI) Potiguara (homologada), nos municípios de Baía da Traição, Marcação e
tore.p65 179 17/05/2000, 09:05
TORÉ
180
Rio Tinto; TI Jacaré de São Domingos (homologada), no município de Marcação e TI Potiguara
de Monte-Mór nos municípios de Marcação e Rio Tinto, ainda em fase de estudos. Cf. Atlas das
Terras Indígenas do Nordeste (1993).
4 Essa equipe, que recebeu orientações do próprio Mário de Andrade e de Dina Lévi-Strauss,
era composta por Luís Saia, chefe da expedição, engenheiro-arquiteto, Martin Braunwieser, músico
e maestro, Benedito Pacheco, técnico de gravação e Antônio Ladeira, auxiliar geral.
5 Esta transcrição encontra-se reproduzida em anexo, de modo que se perceba a continuidade
existente no repertório do toré potiguara, quando em comparação com uma outra transcrição
mais recente, que a acompanha no final deste artigo.
6 Fizemos várias entrevistas gravadas ou não na Vila Monte-Mór, Marcação, Baía da Traição,
Forte, São Francisco, Cumaru, Galego e Vila São Miguel. Algumas entrevistas foram realizadas
na forma de rodas de conversas informais, quando não foi possível a utilização do gravador,
outras foram registradas em vídeo durante as atividades do projeto de extensão Programa de Índio:
ação educativa e audiovisual entre os índios Potiguara, realizadas pela equipe do Grupo de Trabalho
Indígena da Universidade Federal da Paraíba. As atividades do projeto consistem na exibição
pública nas aldeias de vídeos sobre os Potiguara e outros povos indígenas, seguidas de debates
gravados em vídeo ou de entrevistas realizadas no dia seguinte com pessoas que se destacaram em
suas falas após a exibição da noite anterior.
7 Esse acervo é bastante semelhante ao toré transcrito por Moonen em 1969 e que apresentamos
em anexo.
8 Seu Tonhô é um dos mestres da zabumba do toré. reside no São Francisco e é tido como um dos
melhores instrumentistas.
9 Com a expressão índios umbandistas e juremeiros queremos identificar aqueles Potiguara que
são vinculados as federações de cultos afro-brasileiros ou a terreiros de Umbanda e Jurema da
região. Pois, quando se afirmam como juremeiros estão ressaltando a sua ligação com estas formas
de cultos afro-brasileiros comuns na Paraíba e que apenas evocam laços espirituais com índios e
caboclos não atualizando aproximações étnicas.
10 Estas afirmações aparecem de forma bastante controversa nas entrevistas. Ao mesmo tempo
que os índios umbandistas, como Sandro, de Monte-Mór, vão afirmar os seus trabalhos como
muito poderosos e especializados, inclusive apontando músicas do toré que são trechos de músicas
da umbanda, como o Galo Preto Rumanisco; outros vão dizer que o índio é que é o verdadeiro
catimbozeiro, como as irmãs Zuleide, Ieda e Leza da Baía da Traição.
11 Este grupo é formado por jovens chefes de família residentes no Forte e aparentados entre si,
basicamente pertencentes às famílias Gomes (Koiné, Dido e Jurandir) e Cassiano (Mazinho e
Manoel).
12 Esta descrição do toré em Monte-Mór encontra-se em uma versão inicial em Albuquerque e
Palitot, 2002. Acessível no endereço www.laced.mn.ufrj.br.
13 Segue em anexo, a transcrição das músicas executadas no toré da Vila Monte-Mór, onde
podemos observar que, ao lado de um repertório mais antigo, encontram-se composições novas
tore.p65 180 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
181
que traduzem a experiência da luta pelas terras.
14 Nessa ação os índios dessas cinco aldeias receberam apoio de famílias das aldeias Grupiúna,
Jacaré de São Domingos e Forte, além de auxílio do CIMI, da Cáritas e da FUNAI.
tore.p65 181 17/05/2000, 09:05
TORÉ
182
Referências
Acervo de pesquisas folclóricas de Mário de Andrade:1935-1938. São Paulo: Centro Cultural
São Paulo, 2000.
ALBUQUERQUE, Marcos Alexandre dos Santos & PALITOT, Estêvão Martins. Relatório
de Viagem: Índios do Nordeste (AL, PE e PB). Relatório apresentado ao Laboratório de
Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento/LACED/Museu Nacional/UFRJ, sob supervisão técnica
do Prof. Dr. Rodrigo de Azeredo Grünewald (UFCG). Campina Grande: digitado, setembro de
2002. 70 pág.
AMORIM, Paulo Marcos. Índios camponeses: os Potiguara de Baía da Traição. Rio de Janeiro.
Mestrado em Antropologia Social - MN-UFRJ. 1970.
ANDRADE, José Maria Tavares e Anthony Ming. Jurema: da festa à guerra, de ontem e de hoje.
In: Vivência. UFRN/CCHLA. Vol. 13, nº 1(jan./jun. 1999). Natal: UFRN. EDUFRN. 1999.
ANDRADE, Ugo Maia. Um rio de histórias: a formação da alteridade Tumbalalá e a rede de
trocas do sub-médio São Francisco. São Paulo. Dissertação de Mestrado, PPGAS/USP. 2002
ARRUTI, José Maurício Andion. Morte e vida do Nordeste indígena: a emergência étnica
como fenômeno histórico regional. In, Revista Estudos Históricos. v. 8, n. 15, p. 57-94, jan./jun.
1995.
______. A árvore Pankararu: fluxos e metáforas da emergência étnica no sertão do São Francisco.
In, OLIVEIRA F.º, João Pacheco de (org.). A viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração
cultural no Nordeste indígena. Rio de Janeiro, Contracapa, 1999. pp. 229-279.
ATLAS das Terras Indígenas do Nordeste. OLIVEIRA Fº, João Pacheco e LEITE, Jurandir
C. F. (orgs.) Rio de Janeiro, PETI/Museu Nacional/UFRJ, 1993.
AYALA, Maria Ignez Novais & AYALA, Marcos (orgs.). Cocos: Alegria e Devoção.
Natal:EDUFRN. 2000.
AZEVEDO, Ana Lúcia Lobato de. A terra somo nossa: uma análise de processos políticos na
construção da terra potiguara. Rio de Janeiro. Mestrado em Antropologia Social - MN-UFRJ.
1986.
BARBOSA, Wallace de Deus. Pedra do Encanto: dilemas culturais e disputas políticas entre os
Kambiwá e os Pipipã. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria/Laced, 2003.
BARRETTO Fº, Henyo T. a invenção multilocalizada da tradição: os Tapebas de Caucaia.
tore.p65 182 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
183
Anuário Antropológico 96. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. pp. 103-112.
BARROS, Paulo Sérgio. Idolatrias, Heresias, Alianças: A Resistência Indígena No Ceará
Colonial in, Ethnos: Revista Brasileira de Etnohistória, ano II, número 2 - janeiro/junho de
1998. http://www.biblio.ufpe.br/libvirt/revistas/ethnos/barros.htm. Acesso em 12 de outubro de
1999.
BAUMANN, Terezinha de Barcellos. Relatório Potiguara. Rio de Janeiro: Fundação Nacional
do Índio. 1981.
BRASILEIRO, Sheila. Povo indígena Kiriri: emergência étnica, conquista territorial e
faccionalismo. In, OLIVEIRA F.º, João Pacheco de (org.). A viagem da volta: etnicidade, política
e reelaboração cultural no Nordeste indígena. Rio de Janeiro, Contracapa, 1999. pp. 173-197.
CARVALHO, Ma Rosário G. A identidade dos povos indígenas no Nordeste. Anuário
Antropológico. Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro, 1984. pp. 169-88.
______. De Índios Misturados a Índios Regimados Trabalho apresentado na XIX Reunião
da ABA. Niterói, 1994.
CUNHA, Manuela Carneiro da. CUNHA, Manuela Carneiro da. Etnicidade: da cultura
residual mas irredutível. Revista de Cultura e Política, Agosto 1979, pp. 35-39.
GLUCKMAN, Max. Análise de uma situação social na Zululândia moderna. In, Feldman-
Bianco, B. (org.) Antropologia das sociedades contemporâneas. São Paulo: Global, 1987.
GRÜNEWALD, Rodrigo. Regime de Índio e faccionalismo: os Atikum da Serra do Umã. Rio
de Janeiro: PPGAS-Museu Nacional-UFRJ. Dissertação de mestrado. 1993.
______.A tradição como pedra de toque da etnicidade. Anuário Antropológico 96. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997. pp. 113-125.
______. Os Índios do Descobrimento: tradição e turismo.Rio de Janeiro, Contracapa, 2001.
HOBSBAWN, Eric e RANGER, Terence (org.) Introdução. In, A invenção das Tradições.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.
LINNEKIN, Jocelyn S. Defining tradition: variations on the Hawaiian identity. American
Ethnologist 10 (2): 241-252.
Mário de Andrade e os Primeiros Vídeos Etnográficos. VHS, 30 Min. São Paulo: Centro Cultural
São Paulo, 1998.
MOONEN, Frans & MAIA, Luciano Mariz. Etnohistória dos Índios Potiguara: Ensaios,
Relatórios e Documentos. João Pessoa: PR/PB-SEC/PB. 1992.
NASCIMENTO, Marco Tromboni do. O tronco da Jurema Ritual e etnicidade entre os
povos indígenas do Nordeste - o caso Kiriri. Salvador. Dissertação de Mestrado, PPGS/UFBA,
1994.
NEVES, Rita de Cássia Maria. Festas e Mitos: Identidades na Vila de Cimbres - PE. Recife.
Dissertação de Mestrado, PPGA/UFPE, 1999.
OLIVEIRA F.º, João Pacheco de (org.). O nosso governo: os Ticuna e o regime tutelar. São
Paulo, Marco Zero; Brasília, MCT/CNPq, 1988.
______. Uma etnologia dos índios misturados: situação colonial, territorialização e fluxos
tore.p65 183 17/05/2000, 09:05
TORÉ
184
culturais. In, OLIVEIRA F.º, João Pacheco de (org.). A viagem da volta: etnicidade, política e
reelaboração cultural no Nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contracapa. 1999. pp. 11-41.
SAHLINS, Marshall. O pessimismo sentimental e a experiência etnográfica: por que a cultura
não é um objeto em vias de extinção (parte I). Mana. Rio de Janeiro, 3 (1). 1997.
SOUZA, Vânia R. F. de Paiva e. As fronteiras do ser Xukuru. Recife: editora Massangana,
Fundação Joaquim Nabuco, 1998.
VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios; catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo:
Companhia da Letras, 1995.
VALLE, Carlos Guilherme O. do. Experiência e semântica entre os Tremembé do Ceará in,
OLIVEIRA F.º, João Pacheco de (org.). A viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração
cultural no Nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contracapa. 1999. pp. 279-338.
VANDEZANDE, René. Catimbó. Pesquisa exploratória sobre uma forma nordestina de culto
mediúnico. Dissertação de mestrado (P.I.M.E.S. do I.F.C.H. da UFPE); Recife, 1975.
VIEIRA, José Glebson. A (im)pureza do sangue e o perigo da mistura: uma etnografia do grupo
indígena Potyguara da Paraíba. Curitiba. Dissertação de Mestrado. PPGAS/UFPR. 2001.
tore.p65 184 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
185
TORÉM/TORÉ
tradições e invenção no quadro de multiplicidade étnica
do Ceará contemporâneo
Carlos Gulherme Octaviano do Valle
Na década de 1980, a questão indígena passou a chamar a atenção da imprensa, de
entidades e órgãos governamentais no Ceará. A emergência de povos indígenas,
envolvendo interesses e objetivos comuns, sobretudo o direito à terra, suscitava questões
sociais, culturais e políticas que tinham especial relevância. O Ceará era um dos poucos
estados brasileiros que oficialmente não tinha presença indígena. Nesse contexto, os
Tremembé de Itarema foram um dos primeiros grupos étnicos, junto dos Tapeba de
Caucaia, a aparecer com mais destaque. Um dos elementos que mais se destacava era a
organização dos Tremembé em torno de uma dança, o torém, enquanto os Tapeba
mobilizavam-se etnicamente sem manterem, naquela época, nenhuma manifestação
cultural diacrítica. Em 2002, encontrei uma situação bem diferente. Os Tremembé
continuavam dançando o torém, enquanto os Tapeba exibiam publicamente o toré, além
de outras expressões culturais e rituais. Os Tremembé e os Tapeba apresentavam também
suas danças junto de outros povos indígenas em contextos variados. De fato, o quadro
étnico era, então, de multiplicidade. Mais de dez povos indígenas afirmavam-se
1
etnicamente diante da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) e de outras autoridades .
Nesse artigo, pretendo discutir o torém a partir dos vários significados e práticas que
lhe constituíram enquanto fenômeno cultural. Espero mostrar a historicidade da
organização da dança, abordando como ela tem sido construída e representada. Assim,
aponto para os aspectos sociais e culturais que configuraram o torém, tanto como uma
tradição e como um ritual, que tem se caracterizado mais e mais por uma natureza política,
inclusive para os seus produtores originais, os toremzeiros Tremembé de Almofala.
Se privilegio o caso dos Tremembé, o que discuto pode suscitar questões mais gerais
sobre os processos de construção da etnicidade, envolvendo os demais povos indígenas
no Ceará, embora não pretenda e nem possa considerar todos os contextos de produção
cultural e ritual a eles pertinentes. Espero, porém, considerar as correlações culturais e
políticas do torém com o toré, o que permitiria uma perspectiva abrangente. O problema
da comparação e da generalização está no horizonte analítico do artigo. Enfim, todos os
povos indígenas do Ceará fazem parte de um quadro atual de multiplicidade étnica, cuja
participação e articulação mútua tem provocado efeitos culturais, simbólicos e políticos
tore.p65 185 17/05/2000, 09:05
TORÉ
186
de ampla dimensão.
Em outras palavras, este artigo coloca a seguinte questão: pode-se afirmar que o
torém é uma tradição? Se é uma tradição, então como defini-la teoricamente? Menos do
que um conceito, talvez uma noção bastante poderosa, a idéia de tradição é antiga na
Antropologia. Referindo-se, sobretudo, a manifestações culturais objetivadas que tem
continuidade histórica, tal como na forma de danças, canções, vestimenta e cultura
material, as tradições parecem envolver muito mais ambigüidade e razoável confusão
conceitual.
Uma das mais conhecidas abordagens sobre o tema foi realizada por Robert Redfield,
que pesquisou comunidades camponesas. Segundo ele, tais comunidades têm uma
estrutura cultural compósita, caracterizando-se pelo sincretismo de esferas diferenciadas
de grande e pequena tradição (1969:67-104). Seria necessário pesquisar as formas
de comunicação entre níveis sociais distintos, às vezes hierarquizados, isto é, o local e o
regional ou nacional, que compartilham dos mesmos códigos culturais. Deve-se destacar
a posição e os atributos de especialistas (sacerdotes, letrados, etc.) no seio de uma
coletividade, cujos membros incorporam, difundem e se apropriam de valores, práticas e
idéias que definem uma tradição. Contudo, Redfield apoiava-se na idéia de aculturação,
o que acarreta uma visão estática dos processos culturais, mas a relevância que deu ao
caráter organizacional das tradições deve ser destacado. Assim, o antropólogo é capaz de
entender a relação entre planos sociais distintos, mas culturalmente articulados, através
do estudo da organização social da tradição.
A idéia de tradição pode ser muito limitada, se não for tomada pela perspectiva de
uma constante renovação. Ela não é um fenômeno cultural que simplesmente reproduz
antigos costumes de modo constante ao longo do tempo. Se algumas tradições dão uma
impressão estática de permanência, não há possibilidade efetiva de não terem mudado.
Essa é, aliás, a visão que se deve ter de toda cultura, que é sempre modificada criativamente
pelas pessoas que a atualizam a partir da dialética entre convenção e invenção (Wagner,
1980). De fato, as tradições são vividas socialmente e, portanto, estão sempre abertas à
transformação.
De grande influência no debate sobre tradição, Hobsbawm (1984) explorou o seu caráter
artificioso, tratando de rituais, festividades, cerimônias e danças que são organizadas para
marcar um vínculo ou continuidade com o passado, impondo-se por meio de uma idéia de
ancestralidade, cujos sinais são, porém, fabricados. Para isso, algumas manifestações culturais
e formas simbólicas são priorizadas em detrimento de outras. Assim, a tradição não tem a
forma do costume que, embora seja uma prática tradicional, está sempre mudando. Ao
contrário, a tradição é vista por meio de significados de permanência e invariabilidade. Na
verdade, porém, a tradição inventada tem muitas vezes um caráter abrupto, o que não
impede de ter uma ampla aceitação. Vale dizer ainda que a invenção de tradições corresponde
quase sempre a um quadro de mudanças sociais agudas.
tore.p65 186 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
187
Na mesma linha teórica, Linnekin (1983) alerta que a tradição pode ser um modelo
consciente do passado que grupos étnicos atualizam, quando mantêm ou valorizam
certos fenômenos culturais, considerados como autênticos ou originais. Esse modelo
auto-consciente pode ter efeito direto na construção identitária. A tradição é, portanto,
definida especialmente no tempo presente a partir de elementos culturais compartilhados.
Nesse sentido, a tradição não parte de um vazio cultural, mas, ao contrário, trata-se de
um aproveitamento singular de um repertório cultural, que inclui uma variedade de
elementos que são escolhidos ou preteridos a partir do critério de tradicionalidade. De
fato, muitos elementos da tradição podem ser de criação ou incorporação recente, alguns
até mesmo sendo tomados de empréstimo de outras origens culturais. Como as
identidades, as tradições são contextuais e fluídas, nem o simples acúmulo do passado e
nem dependentes de uma fonte exclusiva de autenticidade. Seu caráter singular está
fortemente assentado na ação presente dos atores e grupos sociais, que redefinem e
remodelam formas culturais, algumas já conhecidas, outras produzidas por eles mesmos.
Assim, muitas manifestações, que não eram vistas como tradição, passam a sê-lo a partir
de dinâmicas sociais específicas, que podem, inclusive, envolver diversos grupos sociais
e agências.
Deve-se ter cautela, porém, ao afirmar o que é ou não é inventado como tradição,
quando consideramos manifestações culturais que têm efetiva historicidade. Elas podem
ser transformadas, sem implicar necessariamente uma invenção da tradição, tal qual aponta
Hobsbawm (ibid). Podem ser recriadas ou re-elaboradas de acordo com o próprio modo
que a tradição é organizada (Valle, 1993; Oliveira Filho, 1999; Grünewald, 2001). Do
mesmo modo, a tradição pode ser objeto de muitas re-significações e apropriações, segundo
os grupos sociais, inclusive sendo disputada politicamente. Enfim, são modos diversos
de abordar expressões culturais investidas de significados de tradicionalidade e
autenticidade. Para entendê-los, discutirei uma série de aspectos históricos, sociais e
culturais que constituíram o torém dos Tremembé.
Situando os Tremembé do Ceará
Entre 1988 e 1991, realizei pesquisa entre os Tremembé, que vivem nos municípios
de Itarema, Acaraú e Itapipoca (grupo ainda a ser identificado pela FUNAI). Os dados
populacionais oscilam de 2000 a 3500 pessoas. Em Itarema, vivem tanto perto da costa,
sobretudo no distrito de Almofala, como no interior, em área regularizada pela FUNAI.
Constatei três situações históricas distintas, que tornaram-se pouco a pouco
complementares. Elas revelavam formas específicas de mobilização étnica. Era bastante
2
temerário, portanto, definir um modelo único e exclusivo de organização social e política .
A situação de Almofala compreende a vila homônima, onde existiu aldeamento
indígena durante o século XVIII até meados do século XIX, e um grande número de
localidades. Tem valor simbólico central para os Tremembé, sobretudo para entender os
tore.p65 187 17/05/2000, 09:05
TORÉ
188
significados do que se conhece por Terra da Santa ou Terra do Aldeamento, que
teria sido doada aos índios no passado. Os Tremembé de Almofala convivem com
diversos grupos sociais numa situação interétnica bastante complexa, heterogênea e tensa.
Desde meados do século XX, tem havido grave problema de concentração fundiária por
parte de proprietários e comerciantes de origem extra-local. Havia extrema diferenciação
social entre, por um lado, a minoria de proprietários e, de outro, uma maioria de pescadores
3
e agricultores, que incluiam, dentre eles, os Tremembé .
Os Tremembé de Almofala mantém tradicionalmente a dança do torém. De fato, ela
deve ser considerada como uma das principais formas de aglutinação e de organização
étnica. O controle da tradição era, porém, restrito. Se a organização social e política dos
Tremembé girava em torno da dança, ela carecia de ampla participação. A maioria das
pessoas que se identificava como de origem indígena se colocava à distância da mobilização
étnica e da organização do torém. Isso impedia que uma massa populacional mais
consistente pudesse ser vista como uma unidade coesa e com finalidades políticas definidas
até meados da década de 1990. Recentemente, esses entraves de mobilização tem sido
em parte reduzidos por conta da ação de missionários, da FUNAI, que identificou e
demarcou a terra indígena em 1992, e de políticas públicas. Continua a ser, porém, a
mais delicada situação de conflito interétnico.
No lado direito do rio Aracati-mirim, as terras do antigo aldeamento dos Tremembé
extremavam com número reduzido de antigas fazendas. Essa área é conhecida como
Tapera. No passado, seus moradores mantinham relações de clientela e subordinação
com os donos das fazendas limítrofes da Terra do Aldeamento. No fim da década de
1970, fazendas foram adquiridas por empresas agroindustriais voltadas ao plantio de
coqueiro. Muitas famílias que viviam na Tapera foram despejadas de onde moravam por
uma destas empresas, a Ducoco Agrícola. Contudo, a grande maioria das famílias vivendo
nas localidades da Varjota, do Córrego Preto, do Amaro permaneceu a despeito das
ameaças de remoção.
Na década de 1980, foi formada uma Comunidade Eclesial de Base (CEB) reunindo
as famílias das três localidades citadas, assessoradas pela Comissão Pastoral da Terra
(CPT) da Diocese de Itapipoca. A organização da CEB da Varjota foi pioneira na região.
Além disso, a CPT garantiu apoio judicial contra a empresa Ducoco. Ao invés da
desapropriação das terras da Varjota, uma ação de usucapião foi levada adiante contra a
empresa em 1984. Ficando a ação sub judice, a Varjota passou a formar um enclave, cercado,
por um lado, pelo rio e, por outro, pelos coqueirais da firma. Assim, não passam pelos
mesmos problemas de terra como vivenciam os Tremembé da Almofala.
Os membros da Comunidade da Varjota afirmavam que pertenciam à Terra do
Aldeamento. Todavia, não organizavam o torém. Mantinham poucos sinais diacríticos
ou símbolos de base étnica. Se os laços de parentesco, afinidade e compadrio eram difusos
e impunham uma feição coesa aos seus membros, não tinham nenhuma forma de
tore.p65 188 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
189
organização social e política centrada ao redor de um cacique. A coesão interna
contrastava diante dos Tremembé de Almofala. Não passavam pela mesma gravidade de
conflito interétnico. Além disso, distinguiam-se por conta da mobilização pastoral-
camponesa e pela filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itarema e no diretório
municipal do Partido dos Trabalhadores.
Finalmente, a situação do Córrego do João Pereira inclui um conjunto de localidades
no interior do município de Itarema, ou seja, numa área que não fazia parte do patrimônio
territorial do aldeamento. Os Tremembé do Córrego do João Pereira relatam que os
primeiros habitantes do lugar foram índios que fugiram da seca que assolou Almofala
em 1888. Até a chegada de um comerciante que passou a controlar uma extensão de terra
para criação de gado na década de 1920. Os descendentes dos índios passaram a viver
como moradores, obrigados a pagar renda e trabalhar nas roças do fazendeiro. Essa
situação típica de um sistema de patronagem, o tempo dos patrões, segundo os
tore.p65 189 17/05/2000, 09:05
TORÉ
190
Tremembé, perdurou até 1980. Durante o período, vários conflitos eclodiram e moradores
foram expulsos.
Na década de 1980, novo cenário conflitivo foi gerado quando algumas famílias deixaram
de pagar renda. Um dos líderes, conhecido por Patriarca, procurou agências capazes de
ajudá-los, tal como o INCRA. Em 1987, as terras do Capim-açu e de São José foram,
assim, logo desapropriadas. Contudo, continuou o quadro conflitivo, mas agora com evidente
sentido interétnico. As acusações entre assentados envolviam a origem étnica: se o assentado
era ou não indígena e, portanto, se tinha direito de viver na terra desapropriada.
Marcando a liderança de Patriarca, os direitos dos índios, como ele dizia, foram
sendo explicitados, reforçando um idioma cultural e ideológico distinto do esperado
pelo INCRA. Não havia, porém, a organização local do torém, nem a situação do Capim-
açu/São José enquadrava-se de acordo com os critérios étnico-territoriais que definiam
as situações de Almofala e da Tapera/Varjota, inseridas dentro dos limites da Terra do
Aldeamento. Muito menos havia atuação de missionários. Todavia, Patriarca e seu grupo
buscaram o apoio da imprensa, de ONGs e, em especial, da FUNAI a fim de mudar a
situação fundiária da terra desapropriada em outro, o de terra indígena. Em 1999, a
FUNAI acabou por identificar e delimitar a terra indígena do Córrego do João Pereira,
que foi, depois, homologada (2003). Há, portanto, um evidente contraste diante das
situações de Almofala e da Tapera/Varjota, cuja terra indígena, se foi delimitada, está
sendo contestada por processos judiciais.
Assim, era reconhecível a variedade de percursos e formas de mobilização social e
étnica que passaram os Tremembé das três situações. Do mesmo modo, a organização do
torém, tema central desse artigo, tem sido definida por fatores e aspectos que derivam da
historicidade de cada uma das situações. É necessário, portanto, considerar sua história.
Recuperando o torém - história, etnologia e folclore
Qual seria o alcance efetivo da continuidade cultural e histórica da dança do torém?
Essa questão envolve o problema antropológico da persistência de tradições e rituais. Os
primeiros registros sobre a dança remontam ao século XIX. Em 1860, membros da
Comissão Científica que percorreu o Ceará e o Norte do Brasil descreveram a dança,
embora tratando de uma apresentação presenciada em local próximo de Vila Viçosa na
Serra da Ibiapaba. Descrita como divertimento, era realizada por homens e mulheres
que dançavam numa roda, liderados por um mestre, ao som de instrumentos: o iguaré
e uma flauta, chamada torém. A dança era acompanhada por canções em língua indígena.
No centro do círculo, ficava um pote de vinho de mandioca, que era servido na seqüência
das canções. Não podemos saber, porém, se o torém foi visto também pela Comissão em
4
Almofala na mesma época. Ou seja, era o torém uma dança propriamente Tremembé? .
No final do século XIX, o Padre Antônio Tomás escreveu um ensaio sobre Almofala,
onde descreveu a dança minuciosamente, então realizada pelos índios da antiga povoação
tore.p65 190 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
191
(Tomás, 1981). Embora sarcástica, a descrição alude a pares de dançarinos em círculo,
comandados por um caboclo, o diretor da função, que empunhava um maracá. De
lado, ficava uma bacia de aguardente, que substituíra o que teria sido o pote de cauím.
Depois de várias rodadas de dança e cantigas, uma mulher se destacava no círculo de
dançarinos e oferecia bebida para o director e para os participantes.
A partir de 1940, inicia-se uma leva de pesquisas e estudos folclóricos, etnológicos e
históricos sobre o torém e os Tremembé (Pompeu Sobrinho, 1951; Seraine, 1955; Novo,
1976). A maioria dos pesquisadores tratou a dança por um viés típico da etnologia das
perdas (Oliveira F°, 1999). Era definida como um folguedo, uma dança folclórica
organizada por caboclos ou descendentes de índios. Ou era vista como uma
sobrevivência da cultura originária dos Tremembé. Se era valorizado como sobrevivência
cultural, temia-se pelo seu desaparecimento (Seraine, ibid; Novo, ibid). Além de ser
uma visão estática da cultura, sugeria a continuidade de um modo de ser indígena, que
mostrava-se presentemente diluído por traços cada vez mais aculturados. De fato, as
características fronteiriças do torém entre o folclórico e o etnográfico eram destacadas.
Mas o contraste entre o etnográfico e o folclórico procede de um pressuposto analítico
diante da historicidade dos povos nativos. O fenômeno etnográfico é tomado como um
domínio de alteridade absoluta, próprio das culturas primitivas, enquanto o folclórico
toma forma das expressões culturais populares, denotando traços regionais originados
ao longo da formação do povo cearense (Seraine, 1979). O contraste mostra um momento
da produção das ciências sociais no Brasil, sobretudo a década de 1950. Nessa época, o
folclore era tema de um acalorado debate intelectual, vindo a ser pouco a pouco
5
marginalizado (Cavalcanti e Vilhena, 1990) .
Um evento que deve ser discutido é o Festival de Folclore realizado na Concha Acústica
da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza no ano de 1965. Foi um professor
de educação artística, José Silva Novo, o principal incentivador da participação dos
toremzeiros no Festival. Ele fazia parte de um grupo de diletantes do Belo (Novo, ibid)
que visitava Almofala e registrava o torém e outras danças (o coco de roda; a Aranha)
com máquinas fotográficas e gravadores.
Para o evento, a atuação de Silva Novo foi total e irrestrita. Conseguiu com o Prefeito
de Itapipoca ajuda financeira para comprar tecidos de cores e tipos diversos. Ele idealizou
todo o vestuário dos toremzeiros, querendo mostrá-los na forma de índios (sic, Novo,
ibid:48), usando chita, palha de tucum e penas, vestimentas e adornos até então não
usados. Além disso, os toremzeiros teriam seus corpos pintados de ucurum e batom! Era
a oportunidade ideal de exibir os vestígios da primitividade da dança. Ensaios, trajes
especiais, novos participantes foram todas novidades geradas no período de atuação do
pesquisador.
Segundo as palavras de Novo e pelo depoimento de alguns de meus informantes, o
festival folclórico da UFC teve significação especial tanto para os toremzeiros como para
tore.p65 191 17/05/2000, 09:05
TORÉ
192
o pesquisador. Competindo com grupos folclóricos, tal como a banda Cabaçal do Crato,
um grupo da dança de São Gonçalo, um grupo de coco, outro de Bumba-meu-boi, os
toremzeiros alcançaram o primeiro lugar do Festival. Para os dançarinos, foi a primeira
exibição para um grande público, estranho, na capital cearense, distante da organização
local e rotineira em que era normalmente feito. Para Silva Novo, era um meio de consagração
de seus objetivos enquanto pesquisador: Mas o meu interesse na exibição daquela dança
indígena era fora do comum. Queria eu que a Fortaleza inteira, que os folcloristas do Ceará
e de muitos estados do Brasil, sentíssem e vissem de perto, e com os olhos arregalados,
aquela beleza de folclore já quase deturpado (Novo, ibid: 45). É evidente o sentido
salvacionista, inclusive refletindo a perspectiva dos estudos folclóricos da época.
No fim da década de 1960, com o falecimento dos dançarinos mais respeitados do
torém, o chefe Zé Miguel e sua irmã, a Chica da Lagoa Seca, que ocupavam as principais
funções da dança, houve um período de interrupção do torém. A renovação foi demorada
e se consolidou apenas com a visita da equipe do Instituto Nacional de Folclore (INF) e
da Fundação Nacional de Arte (FUNARTE) em 1975. Coordenado pelo maestro e
folclorista cearense Aloysio de Alencar Pinto, a equipe realizava o levantamento de
expressões culturais, supostamente em via de desaparecimento, no Ceará por conta da
Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB).
Quando a equipe visitou Almofala não encontrou nenhum grupo regular da dança.
Ajudados pelo prefeito de Acaraú, os pesquisadores contactaram pessoas ligadas à tradição,
conseguindo estimulá-los a retomar o torém. Assim, a passagem da equipe da
FUNARTE/INF/CDFB acabou fortalecendo um novo grupo de toremzeiros em torno
de um homem em particular, Vicente Viana, que se tornou a liderança e o principal
intermediário dos dançarinos nas relações extra-locais. Ele veio desempenhar papel central
na organização da dança, que era antes viabilizada pelo chefe do torém. Algumas
toremzeiras, filhas e afins dos antigos mestres da Lagoa Seca, foram sendo estimuladas a
retornar junto de pessoas que nunca tinham participado da dança, mas mantinham
vínculos com os antigos dançarinos. Foi esse grupo que ainda dançava o torém no fim da
6
década de 1980, quando realizei pesquisa etnográfica .
A equipe da FUNARTE/INF registrou farto material sobre a dança, que incluía
gravações das cantigas, entrevistas em fita K7, centenas de fotografias e imagens filmadas.
Assim, teve caráter mais sistemático e rigoroso no estudo, classificação e preparo do
material coletado. O produto cultural mais objetivo da pesquisa foi um disco compacto
em vinil com todas as cantigas do torém lançado dentro da série musical da agência
federal responsável pelo folclore brasileiro (FUNARTE/INF/SESI/CDFB, 1979).
As idéias da equipe da FUNARTE/INF aproximavam-se muito das que tiveram
seus antecessores folcloristas. Acreditavam que o torém era uma dança de procedência
indígena... em vias de desaparecimento (FUNARTE/INF/CDFB, 1976:68).
Apoiando-se em Arthur Ramos, consideravam que os dançarinos do torém eram
tore.p65 192 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
193
descendentes dos Tremembé que estavam quase totalmente assimilados por conta
do trabalho de aculturação (ibid:84-85). Contudo, um dos aspectos mais importantes
de sua intervenção foi seu caráter institucional. Foi um projeto que respondia a interesses
culturais específicos por parte de agências governamentais da época, sobretudo apoiadas
por setores empresariais. Era notável a disposição da equipe de que providências fossem
tomadas, especialmente sugerindo que pesquisas fossem realizadas a fim de preservar
manifestações como o torém. Promoveram uma reunião com autoridades cearenses e
fizeram contatos com a ENCETUR (Empresa Cearense de Turismo). No Rio de Janeiro,
procuraram o Serviço de Patrimônio Histórico a fim de solicitar o tombamento da igreja
barroca de Almofala. Nesse sentido, sua pesquisa teve um alcance maior no que conta os
interesses mais institucionais sobre a dança e sobre a definição histórica da região do
Acaraú e de Almofala.
Além disso, a visita da equipe da FUNARTE/INF teve repercussão regional. Por
conta de sua ação, inclusive pelo reconhecimento cultural da dança por meio do disco
do torém, a reorganização do grupo de toremzeiros de Almofala teve como um de seus
efeitos diretos a exibição regular em eventos e festas públicas de regionais. De certo
modo, acentuava um certo tipo de prática social voltada ao torém desde a década de
1950. Todavia, a ação da equipe condensou uma aura de legitimidade da dança, que
passava a ser reconhecida culturalmente por uma agência governamental. Assim, o
interesse folclorista articulou-se à crescente apropriação cultural do torém por parte de
autoridades municipais e políticos regionais, considerando as potencialidades atrativas
da dança em seus eventos públicos, comemorações e festividades cívicas. Diversas vezes,
o torém foi dançado em festas religiosas e também de candidatos às prefeituras dos
municípios próximos de Almofala. Pode-se perceber como o torém passou a ser
considerado paulatinamente como uma manifestação folclórica original, o que viria a
gerar efeitos sociais, inclusive, na sua valorização cultural na região. De fato, o interesse
pela dança mostrava uma valorização da própria cultura regional por parte dos intelectuais
e das elites cearenses. Com a descoberta do povo, buscava-se entender as tradições
7
regionais e construir uma identidade cultural cearense .
É evidente, portanto, que a dimensão pública envolvendo o torém aproximava-se,
por um lado, de práticas clientelistas e institucionais sistemáticas e, de outro, de uma
construção cultural peculiar por parte de pesquisadores e folcloristas do que de uma
mobilização de perfil étnico. Certamente, tais práticas produziram mudança nos
significados da dança, se nem tanto em termos estruturais, ao menos, provavelmente, na
sua funcionalidade. Assim, se alguns elementos coreográficos formais repetem-se nas
descrições da Comissão Científica, do Padre Tomás e dos folcloristas, é muito difícil
entender a dinâmica cultural do torém a partir de uma perspectiva unilinear de sua
historicidade. Todavia, os relatos históricos e as pesquisas folclóricas são fontes muito
8
significativas para a pesquisa atual da dança .
tore.p65 193 17/05/2000, 09:05
TORÉ
194
Dança, significado e temporalidade: o torém visto de dentro
Quando realizei pesquisa entre os Tremembé, notei uma série de concepções que
envolviam o alcance das práticas interétnicas e que estavam associadas aos processos
históricos que constituíram o torém como manifestação cultural diacrítica. Assim, os
significados da dança para os Tremembé referiam-se aos fatores históricos da organização
do torém e de re-elaboração cultural que venho discutindo até agora. Na década de
1990, estes mesmos significados dimensionaram-se em outras direções sócio-culturais.
Se é preciso considerar a performance do torém na sua dinâmica política, o que discutirei
depois, deve-se também tratar dos significados que definem o envolvimento pessoal dos
seus participantes. Isso pode assinalar elementos que produziam a etnicidade bem como
mostrar os significados que transbordavam da experiência da dança.
Os toremzeiros de Almofala sempre recordavam e teciam comparações com os antigos
dançarinos, sobretudo os que tinham vivido na localidade da Lagoa Seca, um dos lugares
que mais condensava valores simbólicos e significados étnicos e tradicionais para os
Tremembé. Por meio da história oral, sabe-se que o torém tinha sido controlado pelos
moradores da Lagoa Seca no passado. De fato, eles são citados como o grupo tradicional
do torém tanto pelos atuais Tremembé como pelos folcloristas (Seraine, ibid; Novo, ibid):
O torém era muito bom, muito animado. Eu digo que era muito animado porque era
eles tudo, sabe: o tio Zé Miguel, a mãe Chiquinha, a mãe Nazara, a tia Cota. Era esse
pessoal. E mais alguém que tinha por redor se quisesse entrar na brincadeira. E os filhos
e os netos, se por acaso quisesse entrar alguém, entrava tudo. (...) Quando era naquele
dia que era pra brincar o torém o tio Zé Miguel dizia: comadre Chiquinha, nós hoje
vamos brincar um divertimentozinho pra nós. Tá certo, meu compadre! Aí quando
era de noite, já sabia. As vezes, eles não chegavam nem, pra brincar, a esperar a época dos
caju porque as vezes eles compravam um litro ou dois de bebida, né, de cachaça. (Maria
Venância, Almofala, 30/08/91).
O grupo da Lagoa Seca era centralizado na figura dos dois chefes ou mestres, os irmãos
Zé Miguel e Chica, que organizavam e destacavam-se na performance da dança. O
torém dependia, portanto, de organização familiar, sendo brincado por pessoas com
vínculos de parentesco e afinidade que viviam no local. Era visto como uma brincadeira,
um entretenimento feito para os próprios participantes e seus conhecidos. O tempo do
caju era o pretexto para sua realização, sendo chamadas várias pessoas da região a fim de
tomar mocororó, bebida fermentada do caju. Encontravam-se os parentes e amigos à noite,
quando várias rodadas do torém eram dançadas, interrompidas por momentos de conversa
9
e de consumo do vinho do caju ou cachaça .
O grupo era também chamado para dançar em lugares das imediações. Os convites
eram feitos por parentes ou amigos, identificados atualmente por índios velhos (o velho
Izídio, a velha Virgínia, o velho Benvinda, os Bastião, as Angelca, etc), que moravam na
Passagem Rasa, na Lagoa dos Negros, nas Pedrinhas, etc. Até mesmo regionais faziam
tore.p65 194 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
195
convites, o que sugere ter sido um divertimento popular, bem conhecido. Estes aspectos
mostram, inclusive, que o torém teve uma dimensão certamente pública. Pelos
depoimentos e pela literatura especializada, nota-se que a dança não precisava ser
organizada secretamente, longe dos olhares de regionais. Estava até mesmo na agenda
dos religiosos da região.
No Córrego do João Pereira, o torém foi também dançado na localidade das Telhas.
Isso permite supor que a tradição fosse mais difundida no passado, mesmo se a organização
do torém destacava-se na Lagoa Seca. De fato, Telhas era o lugar identificado como
tradicional, exatamente porque teria havido a organização local do torém. Como na
Almofala, a dança era vista como uma brincadeira dos índios, o que vem apontar para
10
similaridades culturais encontradas nas três situações :
O torém? Minha Nossa Senhora! Eu ia era muitas vez. No 32, já se brincava torém
aqui nas Telhas. (...) Eles botavam o Luís Sabino pra dançar no torém mais a
Raimundinha Lira... Quando ele saia dançando, eles gritavam: Opa, agora sim. O
cão pegou na mão da sioba! ... Diz que já vinha de atrás. Eu não alcancei o começo! Só
sei que no 32 ainda o torém brincava lá. (Rosa Suzano, São José, 04/07/1991)
Boa parte do que investiguei envolvia a construção e a experiência da etnicidade, que
dependia de estruturas de significação e formações simbólicas precisas (Valle, 1993; 1999).
Por meio de tais estruturas, notei a existência de similaridades entre as três situações
estudadas. As similaridades dependiam, sobretudo, do aproveitamento original de um
campo semântico da etnicidade, cuja reprodução se fazia por meio de ideologias,
enunciados, relatos, narrativas orais, do senso comum e de histórias. Do mesmo modo,
operavam por meio de categorias, idéias e concepções que tratavam do passado e
destacavam formas de diferenciação étnica. Pode-se pensar num horizonte discursivo e
simbólico no qual os diversos atores sociais conseguem entender, descrever e interpretar,
por processos estruturados ao nível consciente e inconsciente, a vida social, os fatos e
fenômenos sociais, como também as suas próprias ações e as práticas de outros atores e
agentes, todos dotados de conteúdos originados na dinâmica das relações interétnicas
11
(Valle, 1999: 305) .
Havia uma nítida dimensão temporal no campo semântico da etnicidade, explicitando-
se na forma de dualismos. As categorias índios velhos e índios novos eram bastante
empregadas. Outras categorias e expressões eram correlatas: os mais antigos, os mais velhos,
caboclo velho, Tremembé velho. Eram usadas com a intenção de construir seja continuidade
como descontinuidade diante dos índios novos. No caso dos índios velhos, havia associação
com valores positivos de pureza étnica. O dualismo velho/novo tinha, portanto, valor
simbólico quando dava conteúdo à construção da etnicidade. Isso era evidente na própria
forma que o torém era destacado na atualização do campo semântico.
tore.p65 195 17/05/2000, 09:05
TORÉ
196
Em Almofala, sobretudo, o que mais se destacava era a aproximação dos próprios
toremzeiros aos índios velhos, o que gerava a associação simbólica na continuidade dos
índios, velhos e novos. De fato, toda tradição refere-se ao passado, o que é, porém, muito
difícil de precisar, se se refere a um tempo ancestral ou a um tempo histórico que é
possível recapitular (Linnekin, ibid: 242). Havia, assim, uma apreensão temporal e a
comparação entre o que os antigos tinham vivido e o que os toremzeiros vivenciavam na
própria performance do torém. Procurava-se compreender a dança do modo que os índios
velhos a teriam realizado, ou seja, pela experiência. Existia, assim, a valorização da presença
de membros mais velhos no torém. A positividade da idade fazia parte da construção
simbólica da dança:
Ainda vi o velho Zé Miguel dançando. A Calatinha, desse tamaninho, a neguinha
velha, preta, dançando. Nesse tempo eram só as velhas. Não tinha gente nova,
não. Hoje está entrando aquela mulher nova. Nesse tempo era só as velhas. Fazia
aquele mocororó. Botavam acolá e iam dançar. Quando era na hora do Cuiabá, saia e
botava ali no meio. Iam beber. Era assim. Cansei de ver. (...) Eu (agora) só ensinando.
Eu não aguento mais dançar não. Não quero novo, não. Quero tudo velho! Do meu tipo
pra mais velho. Porque eu só alcancei os velhos dançando. Não foi os novos!
Torém só os velhos. Torém é bonito os velhos. As velhonas com as saionas assim
(imita dançando os passos). É. Essas coisinha nova não sabe nem nada! E as velhinhas
coitadinha, assim: ê, virará viju pompê guirá (canta e risos entre todos). (Geralda
Benvinda, Almofala, 20/08/91; grifos do autor)
Percebe-se, assim, como o dualismo velho/novo e seu simbolismo eram projetados aos
significados que descreviam o torém. Esses valores serviam na interpretação da dança e
modelavam sua experiência peculiar tal como acontecia com a etnicidade. Esse ponto
envolve, sobretudo, a relação entre a experiência e a performance do torém, que discutirei
adiante com mais cuidado. Por enquanto, é preciso relevar como os Tremembé toremzeiros
consideravam cultural e simbolicamente a dança dos índios velhos.
Conflito Interétnico e Prática Missionária: Disputando o Torém
Por volta de 1986, missionários começaram a atuar entre os Tremembé. Primeiro
ligados ao CIMI (Conselho Indigenista Missionário), criaram depois sua própria agência:
a Missão Tremembé. Os primeiros contatos foram estabelecidos com os toremzeiros de
Almofala, incentivando a mobilização étnica e sua organização sócio-cultural. Como os
folcloristas, compartilhavam do mesmo interesse culturalista, das idéias de resgate e
de preservação. Procuravam, sobretudo, incentivar a manutenção de sinais culturais
indígenas considerados autênticos. Assim, a organização da dança foi bastante estimulada
pela ampla distribuição de produtos culturais específicos, como exemplares do livro do
tore.p65 196 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
197
torém (o estudo de Silva Novo) e do disco do torém (o registro da FUNARTE/
INF/CDFB). Mas, reforçava-se a tradição por meio de uma perspectiva política não
encontrada entre os folcloristas.
A mobilização étnica dos toremzeiros de Almofala era, então, muito frágil e girava em
torno da dança. Não existia, por exemplo, um grupo regular de toremzeiros. Muitas pessoas
tinham participado um momento ou outro da dança, mas deixaram de brincar por
motivos variados, que vão da invalidez física até rivalidades internas.
Se os missionários encontraram receptividade entre os toremzeiros por conta do padrão
de interação que mantinham com pesquisadores, havia dificuldade das suas práticas
alcançarem um nível razoável de normatização. Por um lado, o trabalho missionário
esbarrava na própria organização da dança, que já encontraram consolidada em seu perfil
público, especialmente voltado às apresentações em festas e eventos políticos. Além disso,
os toremzeiros tinham espectativas imediatistas de suas reivindicações, não se adequando
aos referenciais e padrões de organização comunitários que eram valorizados pelos
missionários (reuniões regulares, atividades coletivas e mutirões, reflexividade política, etc.).
Os missionários perceberam que a mobilização dos Tremembé não podia se restringir
a um grupo de 15 a 20 pessoas, que se reunia com pouca freqüência, e tentaram ultrapassar
as limitações organizacionais do cicuito restrito do torém. Passaram a incentivar outras
pessoas que se identificavam como da indescendência dos índios, o que resultou num
network de pessoas a se posicionar politica e etnicamente. Se muitos contatos foram
feitos, pouco se consolidou até o início da década de 1990. No entanto, a prática missionária
politizou de forma aguda o grupo de toremzeiros de Almofala. De fato, num dos primeiros
Encontros de grupos indígenas do Nordeste que participou, o capitão dos índios
Tremembé, que organizava a dança, mudou seu título para cacique, termo incorporado
por todos os toremzeiros, que passaram a creditar-lhe nítida representatividade política.
Ao longo dos anos 90, os missionários foram pouco a pouco superando as dificuldades
causadas pela mobilização dos Tremembé em torno da dança. Foi criado um grupo de
artesanato indígena, composto só por mulheres, na praia de Almofala. Organizou-se
um novo grupo da dança na localidade do Lameirão, reunindo pessoas sem relações com
os toremzeiros. Outro grupo foi formado na situação da Varjota, onde o torém nunca
tinha sido dançado. Do mesmo modo, lideranças foram sendo trabalhadas pelo incentivo
de viagens a Encontros indígenas. Essas alternativas eram priorizadas pelos missionários
e produziram resultados razoáveis de mobilização e organização política, porém sem
força suficiente para compensar o antagonismo dos grupos dominantes locais. Assim, a
prática missionária intensificou a dimensão política, anteriormente mínima na
diferenciação étnica dos descendentes de índios de Almofala e afetou também a forma
de mobilização pastoral-comunitária que existia na Comunidade da Varjota.
A ritualização pública do torém foi sendo re-significada pelos toremzeiros de Almofala
e pelos novos grupos que se formaram, que encaravam o grau de interesse e valorização
tore.p65 197 17/05/2000, 09:05
TORÉ
198
dado por agentes missionários e pesquisadores. Mudou, sobretudo, a visão do torém
como uma expressão cultural a ser exibida em festas religiosas e eventos políticos de
cunho clientelista para outra visão, que partia de um cálculo político, interno, mas
negociado junto dos agentes, sobre a quem exibir e com qual finalidade. No caso, os
Tremembé toremzeiros de Almofala e os da Comunidade da Varjota passaram a reconhecer
o valor da dança na objetivação política da diferença étnica. Ao mesmo tempo que ativavam
os significados que apreendiam a dança como tradição, encaravam-na como um sinal
diacrítico a ser manifestado de dentro para fora. Assim, tanto os Tremembé como os
missionários entendiam a dança de modo comum por seu valor étnico-político, se bem
que orientados por concepções e investimentos específicos.
A partir de 1991, as estratégias políticas de ritualização pública, que tinham evidente
cunho simbólico para os Tremembé e, como veremos, para seus antagonistas, foram
realmente se intensificando. Dentre os diversos públicos e entidades a quem os Tremembé
dançaram o torém, a FUNAI foi certamente reconhecida como uma das mais cruciais
por conta de sua ação indigenista. Além disso, com o patrocínio dos missionários e de
outros agentes, os Tremembé dançaram diversas vezes o torém em espaços públicos de
12
Fortaleza a fim de conquistar a opinião pública cearense .
De fato, a re-significação do torém não pode ser entendida sem considerar o contexto
interétnico do qual faz parte. Se cada situação Tremembé é particular, Almofala precisa
ser destacada por conta das tensas relações interétnicas e pela heterogeneidade social.
Assim, a apresentação pública do torém não gerava apenas respostas positivas de interesse
folclorista. Na década de 1970, a equipe da FUNARTE/INF (ibid:127-28) chegou a
referir-se a problemas ocorridos em apresentações do torém, quando seus dançarinos
foram alvo de jocosidade e provocações físicas. Em minha pesquisa, confirmei a
manutenção de formas de estigmatização étnica (Eidheim, 1969). Em 1988, o cacique
Tremembé de Almofala, que era responsável pela organização do torém, foi ameaçado
de morte se continuasse realizando a dança com pretexto político (Valle, 1993).
A realização da Festa da Santa padroeira de Almofala, Nossa Senhora da Conceição,
é um evento exemplar para mostrar os impasses gerados pela re-significação étnico-política
do torém. De fato, a dança vinha sendo apresentada com regularidade e sem qualquer
problema na Festa da Santa. Em 1991, contudo, a Festa foi promovida por uma comissão
de moradores de Almofala que se opunha efetivamente à mobilização dos Tremembé. O
evento religioso realizava-se ao mesmo tempo que transcorria intenso conflito a respeito
da construção da casa paroquial da igreja, tendo sua zeladora e o cacique Tremembé
como principais antagonistas. Apesar disso, mas talvez por isso mesmo, a dança estava
agendada na programação oficial da Festa. Depois do cacique ter-se recusado a organizá-
13
la, a zeladora da igreja buscou montar o torém sem contar com os índios .
tore.p65 198 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
199
Junto de um grupo de crianças vestidas como tipos folclóricos locais (uma rendeira, um
pescador de lagosta, um tarrafeiro, um agricultor, etc), apresentaram-se três meninas
vestidas de índias, usando penas, cocares e arco-e-flecha. No palco, foram anunciadas
pelo locutor como a tradição folclórica de Almofala, relembrando os Tremembé e
relacionando-os com os Potiguara. Seu discurso valorizava o passado indígena, mas
congelando os Tremembé num tempo de ação pretérito. As meninas cantaram o hino das
índias, enquanto uma delas tangia um maracá. A apresentação buscava uma estilização
brejeira, sem qualquer exagero, o que não deixou de provocar comentários e gracejos do
14
público que assistia, que incluía alguns toremzeiros .
O torém foi tanto objeto de apropriação cultural como de manipulação política por
parte dos regionais que opunham-se à mobilização étnica. Essa forma de apropriação
sugere que a dança podia ser percebida culturalmente como folclore e não como um
ritual étnico-político por regionais e pelos grupos dominantes de Almofala. No entanto,
era também amplamente disputado, sendo cooptado ambiguamente na Festa e, ao mesmo
tempo, motivo de divergências quanto ao seu significado. Assim, a politização do torém
processou-se tanto à medida em que era neutralizado como era investido etnicamente
pelos diversos grupos e atores sociais envolvidos no evento. Nesse caso, fica evidente a
dificuldade de se distinguir o que é uma disputa cultural e o que é uma disputa política.
De qualquer forma, a re-significação do torém apresentou-se de vários modos, se era por
meio de apropriação cultural, se de objetivação política da diferença étnica, se era recriado
por investimentos étnicos e sociais particulares, o que discutirei sobre o caso do torém da
15
Varjota .
A Comunidade da Varjota e a recriação do torém
Em meados da década de 1980, a prática missionária iniciou-se na Comunidade da
Varjota que caracterizava-se por uma forte organização política e pastoral-comunitária
(CEB, Sindicato, PT). Culturalmente, seus membros já conheciam o coco, o reisado e a
dança da Aranha. Com a formação da Comunidade, novas.manifestações culturais passaram
a ser valorizadas e organizadas, tais como a festa da Rainha do Algodão e os autos de
16
Natal, mas nenhuma delas tinham apelo indígena .
A presença missionária estimulou, porém, a diferenciação étnica, estabelecendo uma
franca normatização de suas práticas, mais fortemente do que em Almofala. Foi crucial
para a redefinição do perfil organizacional, das demandas políticas e dos investimentos
étnicos da Comunidade. Por terem sido aceitos prontamente na Varjota, os missionários
despertaram críticas e oposição dos Tremembé de Almofala, que contestavam a origem
indígena dos membros da Comunidade. Esse fato é básico para se entender o alcance e os
limites da ação missionária, pressionada pelas rivalidades étnicas internas entre os
Tremembé.
tore.p65 199 17/05/2000, 09:05
TORÉ
200
Primeiro, os missionários incentivaram as mulheres da Varjota na realização de atividades
culturais e na criação de sinais diacríticos, tais como cultura material e artesanato indígena.
Buscavam também valorizar a especificidade de gênero, destacando as idéias sobre os
direitos da mulher. Além disso, os missionários distribuiram estrategicamente cópias do
livro do torém de Silva Novo (ibid), o que ajudou na organização da dança na Varjota.
O torém da Varjota tinha uma meticulosa organização, detalhada em todos os seus
elementos: cantigas, passos coreográficos, vestuário, rítmica e acompanhamento musical,
a seqüência da dança, etc. As roupas usadas pelos dançarinos seguiam um modelo
estilístico. As saias eram feitas de feixes de palha de carnaúba e os chapéus compunham
um trançado cuneiforme, adornados com penas de aves domésticas. Colares e pulseiras
de búzios e conchas foram usados como acessórios pelos dançarinos. Além do vestuário,
toda cantiga ou etapa da dança era fechada formalmente pelo urro de um dançarino,
inspirado nos gritos dos guerreiros Kayapó, que impressionaram os Tremembé da Varjota,
quando participaram de um encontro indígena em Brasília.
A dança era organizada de modo bem distinto à do grupo de Almofala. As inovações
eram evidentes nos mais diversos aspectos. Assim, o torém da Varjota não pode ser tratado
como uma simples derivação do grupo de Almofala, afinal seus componentes realmente
impregnaram a dança de elementos que identificavam a especificidade social e cultural
da Comunidade. Criaram funções que não existiam, como a rainha do torém, e
transformaram outras, como as de chefe e mestre. Em termos coreográficos,
realizaram inovações na estrutura da roda; na composição dos dançarinos (incluindo
jovens e crianças); na chamada para o cuiambá (a hora de beber mocororó); nos passos,
bastante formais e estilizados; na utilização de instrumentos musicais e percussivos,
aproximando o torém do ritmo da embolada e do coco; apresentando arranjos melódicos e
sincronizando-os com os versos cantados, a marcação musical e a coreografia;
singularidade no vestuário e nos adereços, que eram feitos de palha. Criaram cantigas
novas com personagens como as índias burití e pe-pe-pé. Incorporaram danças de outros
povos, tal como o Passarinho Verde, aprendida com os Xocó (SE). Além disso, o torém
tinha organização notadamente feminina e jovem, um dos vários aspectos contrastantes
com a dança na Almofala.
O grupo da Varjota foi criado de modo muito planejado num curto espaço de
tempo sob o nítido incentivo dos missionários. Ao contrário dos antigos folcloristas, os
missionários não esperavam que os novos grupos do torém se apresentassem para eles,
mas que produzissem uma manifestação cultural que fosse investidora da origem
indígena e que surtissem efeitos diacríticos para pessoas de fora, tais como pesquisadores,
que nem eu, mas também para agências como a FUNAI. Os novos grupos da dança
foram se configurando pela objetivação cultural de uma imagem indígena.
O surgimento da tradição na Comunidade da Varjota acomoda-se, portanto, ao
processo de formação da identidade Tremembé que, acredito, vinha se construindo ao
tore.p65 200 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
201
longo da década de 1980, acelerando-se com a prática missionária, com a presença de
antropólogos e com os primeiros indícios de uma ação indigenista. Os trajes, os adornos,
as cantigas e toda a estrutura ritual do torém da Varjota engendraram-se, porém, tomando
um modelo cultural existente, mas com uma limitada significação étnica. Seria importante
refletir se o torém da Varjota foi inventado ou recriado. Envolve, assim, o próprio problema
da continuidade cultural, que estou abordando ao longo do texto, que atinge igualmente
outras expressões culturais, tais como o coco de roda e a Aranha. Elas eram interpretadas
como danças dos antigos e foram sendo re-significadas como manifestações de origem
indígena.
De fato, o torém já existia na Almofala, mas teve que ser renovado e recriado de
modo muito original na Varjota, ou seja, se a dança pode ser vista como uma tradição,
precisa ser encarada por um movimento duplo de atualização de certos modelos culturais
bem como por um redimensionamento criativo ou inovador da própria cultura (Wagner,
1980). Por um lado, como já discuti, os Tremembé da Varjota atualizavam os mesmos
significados culturais a respeito do torém, tal qual se via entre os toremzeiros de Almofala,
fundindo horizontes temporais. Eles operavam, por exemplo, com as mesmas categorias
binárias de velho/novo ao tratarem do torém. Além disso, boa parte da dança tinha sido
recriada a partir de um modelo cultural de performance, que passou por uma história de
modificações semióticas. Mesmo assim, eles sabiam que estavam também recriando a
dança de seu próprio jeito:
Tudo vai mudando com a continuação. Já o torém velho era de um jeito e o nosso já
nós vamos mudando de outro, que é os mais novo. Você vê que as coisas dos
velhos quando o novo pega só de ser velho e ser novo já muda. Aí vai mudando.
(...) Tem a sôia massará, que é o torém velho, dos antigos. Tem a tainha guretê que
isso é uma dança que nós nem tem costume de dançar ela, mais antiga. Tem água de
manim, também outro torém dos velhos. Já o nosso torém novo é o búzio. É a
gonga. É a nossa apresentação. É nova. ... (Luís Caboclo, Varjota, 29/09/91;
grifos do autor)
Os investimentos culturais indígenas dos Tremembé da Varjota derivaram da
convergência entre a normatização missionária e os referenciais étnicos que eles mesmos
tinham ao seu alcance e puderam ser atualizados. Por meio de seus investimentos, os
Tremembé da Varjota procuravam averiguar as possibilidades de mobilização étnica e da
recriação de formas culturais de roupagem indígena. O torém consistia numa forma
ritual que assinalava inequivocamente a diferença étnica, autenticando a condição
indígena de seus participantes, mesmo se eles soubessem plenamente que a tinham
modificado e recriado (Linnekin, 1983).
tore.p65 201 17/05/2000, 09:05
TORÉ
202
A Experiência do Torém - Performance, Vestuário e Autenticidade
Voltando a considerar os significados culturais da dança, acredito que os Tremembé
alcançavam uma experiência do passado pela própria performance do torém,
reatualizando-o bem como à diferença étnica. De fato, a experiência que se tem por meio
das formas de expressão cultural induz a um processo estruturante de auto-modelagem,
condição mínima para a reflexividade (Babcock, 1986). Deve-se entender, assim, a
interpretação do torém feita por parte dos Tremembé de Almofala e da Varjota. A re-
elaboração da tradição nos grupos mais novos provocou, junto da dinâmica política,
17
também a auto-modelagem de seus participantes .
A performance do torém era também uma encenação e, como tal, devia produzir
certos efeitos dramáticos. Era uma forma de suscitar identificações, expondo uma imagem
pública indígena. Para os toremzeiros, a dança devia ser brincada seguindo um
comportamento ideal para índios. Contaram-me que deviam agir como brabos, sem rir,
sérios. Essa conduta estilizada ocorria, sobretudo, quando as apresentações eram públicas:
- A: É tudo matuto. Sabe como é pessoa matuta, não? O índio não é brabo? Pois é, a
gente vai como seja brabo. Elas vai tudo como assim sendo umas pessoa braba. Com as
roupas coisadas, com a roupa velha. A roupa mais pior que tem é que leva. [...] Não
acham graça. Não olham pra ninguém. Elas chegam de cabeça baixa ali. Não conversam
com ninguém. Elas não acham graça. O gesto delas é só mesmo de quem é brabo. Fica
toda sarapantada. ...O bicho brabo não fica assim todo de ponta de pé? (Aldenora,
Almofala, 12/09/1991)
Oscar Wilde já dizia que o vestuário, assim como a representação, é um meio de
expor o caráter sem descrição e de produzir situações e efeitos dramáticos (Wilde,
1990:1016). Acho que a caracterização indígena foi gerada a fim de dar tal efeito
cênico, tal como havia o desejo de estilização em muitas fotografias que tirei dos toremzeiros.
De fato, as identidades podem ser expressadas por meio de comunicação visual não verbal.
A vestimenta possui, portanto, algumas características culturais essenciais. Por um lado,
a vestimenta contribui para o adornamento corporal e para modificações físicas. Por
outro lado, contribui para a formação identitária e da diferença de gênero, por exemplo,
associando pessoas a contextos históricos e culturais, ligando-as também a grupos e
comunidades (Barnes e Eicher, 1992). Dessa forma, as vestimentas permitem formas de
inclusão e exclusão, sendo usadas como meios de diferenciação e identificação étnica,
associando certo tipo de vestimenta com uma origem ou identidade comum. Assim,
vestimenta e etnicidade precisam ser articulados.
A indumentária étnica não é obviamente uma produção cultural estática, já que pode
mudar tanto na forma como nos detalhes (Eicher, 1995). Nesse caso, a própria definição de
indumentária e vestimenta étnica como sendo tradicional pode gerar confusão, tal como
tore.p65 202 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
203
se deu com a percepção do kilt escocês como roupa tradicional (Trevor-Roper, 1984).
Apresentações folclóricas podem, por exemplo, ser consideradas mais autênticas e
tradicionais a partir do uso de indumentária específica. Do mesmo modo, a construção da
etnicidade pode ser derivada da combinação de elementos materiais, como roupas e adornos.
No caso do torém, uma coisa seria considerar a dança quando era realizada para
divertimento privado dos próprios Tremembé. Outra coisa é vê-la quando organizada
para públicos em festas e eventos cívicos ou para agentes e agências específicas, tais como
a FUNAI ou pesquisadores. Como notei, o interesse pelas vestimentas e adornos indígenas
estava presente entre os folcloristas (Novo, ibid; FUNARTE-INF-CDFB, ibid).
Certamente, as vestimentas podiam pressupor e assinalar, para eles, tanto idéias de
aculturação como de pureza ou autenticidade cultural.
A progressiva transformação do torém de brincadeira em manifestação folclórica e
depois em tradição étnica pode ser percebida na sua objetivação, pela performance e
pela apresentação visual por meio de símbolos e insígnias específicas. As vestimentas e os
adereços usados foram se modificando na sua história, politizando-se e etnicizando-se
mais recentemente. A fabricação da indumentária serve de bom caminho para tal questão,
de como a tradição pode ser re-elaborada ou recriada em termos processuais.
Nos anos 50, os toremzeiros da Lagoa Seca usavam roupas de algodão cru, as mulheres
vestiam saias compridas, mas já se apresentavam com alguns enfeites de pena e até com
arco-e-flecha, que, todavia, não se repetiu nos anos 70, não sendo incorporado à tradição
(FUNARTE-INF-CDFB, ibid). Nas apresentações públicas dos anos 60 e 70 foram
usadas roupas de chita e algodão (Silva Novo, idem:47-9; FUNARTE/INF/CDFB,
idem). As fotografias da equipe da FUNARTE-INF mostram as mulheres vestidas
com blusas e saias longas de pano estampado, com o cabelo coberto por lenços. Os homens
usavam calça e camisa de algodão e os indefectíveis chapeus masculinos, comuns por
toda região. Não havia o uso do que os Tremembé passaram a chamar mais recentemente
de traje indígena.
Marcando-se pelos paradoxos da folclorização e da autenticidade, a inovação do
vestuário indígena concretizou-se com a consolidação do grupo de toremzeiros de Almofala.
O torém se cristalizou, então, como uma manifestação cultural a ser exibida para pessoas
de fora. Assim, o uso de adereços de pena foi sendo incorporado gradativamente depois
da visita da equipe da FUNARTE/INF. Primeiro, usava-se apenas um cinto de penas
na cintura e um cocar. Depois, as penas foram sendo adaptadas a todo vestuário. As
mulheres podiam usar saias ou vestidos com faixas de penas e seu padrão foi
modernizado diante do modelo mais antigo. Os homens passaram a usar bermudas e
ficaram de torso nu. Tiras de penas foram atadas aos pulsos, braços e tornozelos tanto de
homens como de mulheres. Ambos passaram a usar cocares, braceletes e pulseiras de
penas, ostentados como parte da tradição à medida que eram convidados para festas e
eventos públicos.
tore.p65 203 17/05/2000, 09:05
TORÉ
204
O uso crescente de penas e de uma indumentária que mostrasse evidências semióticas
de perfil étnico foi se consolidando seja por parte dos toremzeiros como vindo a suprir
espectativas folclorizantes dos públicos externos e de pesquisadores, tal como Silva Novo
(ibid). Assim, buscava-se uma objetivação da imagem indígena. No afã de autenticidade e
estabelecendo vínculos semióticos com elementos simbólicos que definem a etnicidade, os
Tremembé se inspiraram em imagens de índios, seja em revistas ou fotografias, para criar
seu vestuário. O cocar do cacique de Almofala foi inspirado numa foto de Mário Juruna.
No entanto, os dançarinos do torém buscavam reforçar uma continuidade com o
passado, o que os levavam à inventar a cultura (Wagner, ibid), ou seja, criativamente, por
meio de elementos culturais que antes não eram usados. Até na Varjota, o uso difuso de
palha, cocares e colares mostra um investimento de elaboração da imagem indígena,
embora articulado a significados políticos. Esse é o melhor sentido para a invenção das
tradições, quando ela engendra associações simbólicas que envolvem diretamente as
concepções temporais operantes na construção da etnicidade pelos Tremembé:
Assim só quando vinha gente de fora, esse pessoal mais de longe, aí elas inventavam
aquelas penas. Botavam na cabeça do Zé Miguel, só três penas aqui. Porque na
antiguidade mesmo, eles tinham mas numa altura não usaram mais. Agora não, cobrem
o Vicente Viana todo de pena! Viraram o corpo do Vicente Viana todinho de pena. (Geralda
Benvinda, Barro Vermelho/Almofala, 20/08/1991)
Em outras palavras, para os Tremembé, a encenação, o jeito brabo, o uso de traje
indígena, tudo era aproveitado e servia na experiência da dança, modelando-a, bem como
à própria apreensão reflexiva de seus produtores, como se comportavam, agiam, entre
eles e os de fora, e como interpretavam a dança. Na performance do torém, com sua
pletora de efeitos dramáticos, símbolos e valores atualizavam-se e projetavam-se, tanto
para os dançarinos como para o público que assistia. Sendo assim, os Tremembé dançavam
o torém modelando-se nos valores que definiam a etnicidade. Na experiência da dança
queriam persuadir que eram índios e, ao mesmo tempo, fortaleciam a diferença étnica de
modo reflexivo.
A Política do Torém: Ritual e Etnicidade
O torém foi pouco a pouco se condensando como um ritual político à medida que o
conflito interétnico se acentuava, quando missionários, pesquisadores e agentes da
FUNAI passaram a intervir localmente. Se a dança era antes organizada em festas cívicas
e religiosas, passou a ser vista diferentemente pelos mesmos grupos que a valorizavam
como manifestação folclórica regional. Como mostrei, o torém foi sempre organizado
publicamente, o que contrasta com o modo mais restrito, mesmo secreto, do toré entre
outros povos indígenas no Nordeste. A partir do final dos anos 80, um novo significado
tore.p65 204 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
205
público foi se constituindo. Assim, a dança passou a ser vista como tradição e, ao mesmo
tempo, como um ritual étnico-político, sobretudo identificando uma unidade social
precisa: os índios Tremembé. O torém foi sendo politizado gradativamente como sua
expressão cultural, diacrítica e identitária. Em conseqüência, se antes era evidente a
dimensão pública da dança, ela passou a ser organizada de modo mais restrito exatamente
quando o conflito interétnico se acentuou. Ao se constituir mais e mais como um ritual
público de objetivação da diferenciação étnica, o torém passou a ser igualmente visado
de modo mais negativo pelos regionais que se opunham à mobilização indígena. Sua
realização tornou-se mais controlada, sobretudo como marcador étnico-político, e deixou
18
de ter o mesmo apelo público de antes .
Por um lado, a ritualização política e etnicizada do torém envolveu os antagonismos
entre as situações Tremembé. Os toremzeiros de Almofala desconfiaram dos novos grupos
da dança, sobretudo o da Varjota, acusando-os de não serem índios e, portanto, não
saberem cantar e dançar o torém. Para os toremzeiros, tratava-se de controlar o torém e
mantê-lo numa esfera restrita de reprodução cultural. Havia a lógica do controle de um
recurso cultural, cuja dinâmica era essencialmente política, pois articulada com as redes
sociais que organizavam cada uma das situações Tremembé. Os dilemas e antagonismos
políticos entre os Tremembé envolviam a construção da etnicidade e as estratégias
específicas de mobilização étnica para cada situação. Como evitar a concorrência entre
formas de afirmação étnica sem riscos para uma mobilização indígena mais ampla?
A prática missionária contribuiu para um plano de normatização, que gerou
progressivamente a definição de uma unidade étnico-política entre as situações Tremembé,
além da condensação de uma identidade indígena genérica. De fato, observando os
investimentos étnicos em torno da organização e re-significação do torém, percebe-se o
nível de convergência entre ação missionária e a construção da etnicidade. Os Tremembé
de Almofala e os da Comunidade da Varjota passaram a reconhecer lentamente o valor da
dança na objetivação política da diferença étnica, além de considerar os efeitos de uma
articulação étnico-política conjunta, o que não existia antes. Ou seja, passaram a apreender
a dança como uma tradição mais ampla e, assim, como um sinal diacrítico a ser
manifestado de dentro para fora. A preocupação de estimular a organização e difusão
do torém entre os Tremembé das várias situações representava um dos efeitos de um
processo social que estava se desenvolvendo pouco a pouco, condensando uma unidade
étnica Tremembé.
Os desdobramentos políticos entre os Tremembé, se eram efeito, por um lado, das
práticas missionárias, eram, por outro lado, gerados pelas negociações e estratégias entre
as próprias lideranças de cada situação. Isso ficava mais evidente no que diz respeito aos
papéis normativos do ritual, sobretudo o de cacique, que foi criado na década de 1980.
Antes, o organizador da dança agia apenas como o intermediário entre os toremzeiros de
Almofala e os realizadores de eventos públicos. Quando os Tremembé de Almofala
tore.p65 205 17/05/2000, 09:05
TORÉ
206
reconheceram o alcance político advindo da reprodução ritual do torém, o papel do cacique
passou a acumular outras significações cada vez mais politizadas à medida que os contrastes
interétnicos ficavam mais realçados. O cacique absorveu uma centralidade política que
não possuía antes.
Na década de 1990, sobretudo, iniciou-se a articulação das decisões entre o cacique de
Almofala e os chefes/caciques dos novos grupos. De fato, o cacique começou a propor a
apresentação da dança junto dos componentes de grupos como o da Varjota, apesar da
contrariedade de muitos toremzeiros. Assim, contribuía para o fortalecimento da dinâmica
étnico-política. A articulação entre os Tremembé da Almofala e os da Varjota reforçou,
de certo modo, o papel do cacique que se explicitava até na esfera ritual do torém. De
início, essa unidade era bastante instável, muito contextual. No entanto, a articulação
entre os Tremembé das duas situações no que se refere à autoridade ritual do cacique
Tremembé de Almofala descrevia os sinais de uma nova mobilização política, mais
abrangente, nem tanto descentrada. Entende-se, assim, dinâmicas étnicas mais amplas,
tal como o caso dos Tremembé da situação do Córrego do João Pereira e do Capim-açu.
Suas lideranças, como o Patriarca, estiveram sempre dispostos a aprender o torém.
A organização do torém passou a acomodar-se à essa nova dinâmica política. Assim,
qualquer apresentação da dança que envolvesse os Tremembé das diversas situações
acarretava o mesmo movimento ordenador de uma unidade étnico-política mais ampla.
A configuração de um grupo étnico parecia derivar desse quadro de articulações político-
culturais e estratégias comuns, minimizando a singularidade de cada situação em prol de
uma unidade construída, que tivera pouca consistência social no passado.
Quando tal configuração acontecia? Em contextos públicos de articulação do
movimento indígena no Nordeste e no Brasil, por exemplo, quando os Tremembé
dançavam o torém. Ou, sobretudo, quando a dança era exibida para autoridades e agências
do Estado, momentos que os Tremembé reconheciam como politicamente estratégicos.
Era necessário, porém, fazer adaptações rituais para públicos externos, se indígenas ou
não, reduzindo os próprios mecanismos internos de transmissão e controle da tradição
como ainda da própria estrutura da dança. Dessa forma, no contexto de uma performance
pública podia-se romper com os esquemas tradicionais, facilitando a sua reprodução.
Conclusão - Torém/Toré: Sinais Cearenses de um Nordeste Indígena
São etnias diferentes. A gente já vê a forma da dança como, por exemplo, a nossa dança
se chama toré. Dos Tremembé já é o torém. Quer dizer, já é uma forma de mistura, a
interculturalidade, porque a gente está sempre entrando nas culturas. E como ele disse,
a cultura evolui. Ela não é parada.... (Jovem professora Tapeba, Caucaia, 2002; grifos
meus).
tore.p65 206 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
207
Para concluir, gostaria de recapitular alguns pontos abordados ao longo do texto, o
que permitiria estabelecer conexões entre a organização do torém e do toré mantido
atualmente por outros povos indígenas no Ceará, sobretudo pelos Tapeba de Caucaia.
Pode ser um meio adequado de entender a definição e a fabricação da cultura e da
etnicidade no quadro atual de multiplicidade étnica.
Desde a década passada, os índios tem buscado se afirmar étnica e politicamente de
modo público no Ceará. Como eventos, temos as comemorações do Dia do Índio,
seminários organizados por autoridades governamentais, festividades no Centro de Arte
e Cultura Dragão do Mar, etc. Ás vezes, atos públicos têm ocorrido em capitais e cidades
do Nordeste, reunindo outros povos indígenas. A atuação direta de agências indigenistas
e ONGs, tal como a Associação Missão Tremembé, não pode ser descartada na
organização de tais eventos.
Diversas vezes, os Tremembé dançaram o torém de modo simplificado, quando outros
povos indígenas apresentaram o toré. Além disso, o torém pode ser dançado junto de
índios de outras etnias. O inverso também ocorre: os Tremembé dançam o toré de outros
grupos. Na maioria das vezes, se importa marcar a especificidade cultural de cada povo,
procura-se estrategicamente objetivar a diferença étnica e a imagem pública da indianidade
(Oliveira F°, 1988; 1999). Nesse caso, a exibição alternada e concomitante do torém e
do toré pode resumir-se simplesmente como a objetivação da dança dos índios, qual
seja, como uma tradição mais geral, a expressão cultural típica dos índios do Ceará.
Coloca-se, assim, um problema: Como o toré passou a ser dançado pelos Tremembé e,
sobretudo, pelos Tapeba e por outros povos indígenas mais recentemente no Ceará?
Pensando o caso dos Tapeba, que conheço mais (Valle, 2003), pode-se entender a questão.
E, depois, relacioná-la de volta ao torém dos Tremembé.
Os Tapeba passaram a investir em expressões culturais ao longo de um tortuoso
processo de mobilização política e afirmação étnica, que tem a regularização da terra
indígena como aspecto crucial (Barretto F°, 1992; 1999). Talvez o grupo mais clássico
de etnogênese no Ceará, os Tapeba mantinham objetivamente um conjunto limitado de
expressões culturais diacríticas de relêvo étnico (Barretto F°, ibid; Aires, 2000). Aliás, o
fato dos Tremembé organizarem uma dança específica criava evidentemente um contraste
bem significativo diante dos outros povos indígenas no Ceará, que era tomado em
consideração tanto pelas lideranças indígenas como pelos agentes indigenistas.
Como mostrei, a cultura, como um fator objetivável, é crucial para a dinâmica política
do indigenismo. Contudo, é também essencial para a diferenciação étnica ao manter as
fronteiras, flexíveis, entre os grupos sociais (Barth, 1969). Mesmo passando por formas
de estigmatização étnica, quando são acusados de se fantasiarem de índios pelos
regionais, autoridades e proprietários de terra (Barretto F°, ibid; Valle, ibid), exatamente
por conta dos seus investimentos étnicos mais recentes, os Tapeba têm intensificado as
mais diversas formas de produção cultural de significação indígena. Assim, eles tem
tore.p65 207 17/05/2000, 09:05
TORÉ
208
organizado eventos diversos, tal como a Festa da Carnaúba, que reune anualmente tanto
os índios de Caucaia, lideranças indígenas de outros povos bem como autoridades,
pesquisadores e público em geral. Em tais ocasiões, danças e rituais são apresentados;
cultura material e artesanato e indígena são expostos e vendidos.
Nos últimos dez a quinze anos, a participação de lideranças Tapeba ou Tremembé
em encontros, atos e eventos públicos permitiu certamente o conhecimento e a
incorporação de expressões culturais mantidas por outros povos indígenas. Dentre elas,
o toré tem se destacado como um dos sinais diacríticos mais recorrentes para marcar
distintividade dos índios no Nordeste (Oliveira F°, ibid). Como exemplo, vale considerar
as Assembléias dos índios Potiguara da Baía da Traição (PB), que costumam reunir
autoridades, missionários, pesquisadores e também índios do Ceará, inclusive os Tapeba
e Tremembé. Em particular, a apresentação dos grupos de toré Potiguara tem
desempenhado uma importância central em tais eventos tanto para o grupo como para os
índios visitantes. Vale frisar que os Tapeba, os Pitaguari e os grupos Potiguara do Ceará
vêm construíndo uma vinculação cultural e histórica direta com os Potiguara da Paraíba.
Estes fluxos culturais e processos de incorporação de expressões diacríticas de outros
etnias assinala uma forma de convergência que tem se desenrolado difusamente. A
convergência sugere apoio político, mas ela é também cultural, já que o aprendizado e
incorporação de danças, vestuário e de cultura material dos parentes implica a construção
simbólica de uma comunalidade entre os povos indígenas no Nordeste. De fato, a
construção de uma unidade étnico-social mais ampla, a dos índios do Nordeste, evidencia
de modo notável os fluxos e trocas culturais que vêm se processando historicamente
(Oliveira F°, ibid; Hannerz, 1997)
Os fluxos culturais que são observados entre os índios do Ceará vêm sendo ainda
mais intensificados através da consolidação recente dos projetos de educação diferenciada
e da formação de professores indígenas. Em Caucaia, a Festa da Carnaúba tem sido
idealizada e organizada por uma geração de jovens professores Tapeba. Assim, a cartilha
usada entre as crianças indígenas declara que o toré é o ritual sagrado, o ponto alto da
cultura Tapeba por onde se mostram as vestimentas tradicionais, cocares e a pintura
corporal. Foram usados desenhos feitos pelas próprias crianças a fim de reproduzir uma
iconografia indígena, que inclui as figuras de instrumentos e objetos (maracás, arco-e-
flecha), além dos versos do toré. Aliás, a representação visual da dança dos Tapeba
assemelha-se à imagem do torém, desenhada pela mulher do antigo cacique Tremembé,
que se encontra nos postais produzidos e vendidos pela Missão Tremembé desde o início
da década de 1990.
Trata-se de uma nova dinâmica. Por meio da educação diferenciada, os professores
indígenas têm sido, portanto, agentes cruciais na organização das tradições e da cultura
de cada etnia, mas deve-se considerar, ao mesmo tempo, as trocas e incorporações culturais
viabilizadas pelas práticas pedagógicas, que tem se baseado notavelmente pela idéia de
tore.p65 208 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
209
interculturalidade, tal qual se vê pelas palavras da professora Tapeba citada. Por detrás
de tais idéias e práticas, há, inclusive, a incorporação de noções antropológicas (cultura,
ritual, etnocentrismo, etc), que passam a ser usadas e atualizadas pelos índios, além de
configurar pouco a pouco um horizonte simbólico e cultural mais abrangente, pan-
indígena, em todo o Ceará e, quiçá mais além, no Nordeste. Assim, temos nitidamente a
fabricação de expressões culturais indígenas como estratégias étnico-políticas auto-
conscientes, que se apoiam, porém, em formas culturais já existentes, seja o torém dos
Tremembé como o toré de outros povos. Se são estratégias, elas não reduzem o valor de
autenticidade que é embutido ou impresso diretamente pelos próprios índios às tradições
culturais, especialmente por meio da sua organização, ou seja pela própria experiência de
dançar, cantar, vestir-se e adornar-se tanto para si mesmos como para outros públicos.
Estas questões, além das que foram sugeridas ao longo do texto, sugerem pistas para
mais pesquisas empíricas. Elas mostram, sobretudo, as dificuldades e a complexidade
teórica envolvendo os índios no Nordeste, mas apontam também para uma série de
problemas etnológicos mais gerais sobre o contato interétnico. De fato, o estudo da
organização das tradições enseja um olhar atento à sua historicidade bem como à sua
dimensão essencialmente política, que não deixa de ter relevância simbólica, seja para os
índios como para os demais grupos, atores e agências envolvidos. Deve-se, portanto, ter
um olhar abrangente no sentido de compreender os efeitos mútuos, as articulações e as
disputas que afetam diretamente os significados sempre relativos das tradições culturais.
tore.p65 209 17/05/2000, 09:05
TORÉ
210
1
Vale citar os Pitaguary; os Jenipapo Kanindé; os Potiguara e os Tabajara (de Monsenhor Tabosa,
Tamboril, Crateús), os Potiguara de Monte Nebo; os Kalabaça; os Kanindé; os Anacé.
2
Além da dissertação (Valle, 1993), elaborei artigos, verbetes e um laudo antropológico (Valle,
1992; 1993b; 1999). Em 2002-03, realizei perícia antropológica entre os Tapeba de Caucaia
(Valle, 2003), o que permitiu retomar o contato com os Tremembé.
3
Situação histórica se define como modelos ou esquemas de distribuição de poder entre
diversos atores sociais, lidando seja com padrões de interdependência como ainda com formas
de conflito (Oliveira Fº, 1988). As categorias territoriais da Terra do Aldeamento, Terra da Santa ou
Terra dos Índios têm significados étnico-políticos. Definem o território que teria sido doado aos
índios no passado (Valle, 1993).
4
Não sabemos se a Comissão passou por Almofala. Ver Anais da Biblioteca Nacional (1961).
Sobre a Comissão, ver Porto Alegre (1989).
5
Se os folcloristas não podem ser considerados de modo acrítico, suas fontes são valiosas
etnograficamente quando examinadas por um olhar seletivo (Thompson, 2001).
6
Entrevistei a maioria dos componentes do grupo de torém formado a partir da FUNARTE/
INF/CDFB.
7
Para o mesmo problema em outro contexto cultural e histórico, ver Burke (1992).
8
Para uma visão moderna do folclore, ver Paredes & Bauman (1975); Burke (1995) e Thompson
(2001).
9
O tempo do caju dura normalmente de agosto a novembro. É a época de fabricação do mocororó.
10
Os vínculos entre os toremzeiros das Telhas e os da Lagoa Seca são passíveis de reconstrução.
Um dos antigos pajés citados pelos Tremembé, João Cosme, morou nas Telhas. Era irmão do avô
do, então, chefe do torém de Almofala, Geraldo Cosme.
11
Para entender as diversas formas de discurso, inspirei-me na noção de campo semântico da
etnicidade (Cardoso de Oliveira, 1976). Deve-se pensar o campo semântico como a ser igualmente
articulado por uma pluralidade de referenciais (Oliveira Fº, 1988:265) , ou seja, ultrapassando
a abordagem dicotômica dos sistemas culturais, seria preciso entender os vários idiomas culturais
à disposição dos atores, atualizados em práticas e situações concretas. Isso sugere um conhecimento
plural que é incorporado, apropriado e usado de acordo com os grupos sociais, mesmo se eles são
tore.p65 210 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
211
etnicamente distintos. De fato, a etnicidade não é construida apenas por dentro, como uma
esfera social exclusiva, mas, ao contrário, o próprio dentro é produzido pela interseção com o de
fora . É o que se pode dizer quanto aos valores e idéias sobre o torém.
12
Em 1992, a FUNAI enviou um GT de identificação e delimitação da terra indígena Tremembé
de Almofala. Na ocasião, os índios dançaram o torém diante da igreja de Almofala (Oliveira Jr,
1998:75).
13
O conflito envolvia o terreno reivindicado pelo cacique de Almofala. Detalhei todo a questão
em minha dissertação (Valle, 1993). Ver também Messeder (1995).
14
A encenação tinha a feição de um drama, espécie comum de teatro popular na década de 1950
e 60 na Almofala. Era idealizado, sobretudo, por mulheres e moças. Ver também INF/
FUNARTE/CDFB (ibid).
15
Sobre a apropriação cultural de manifestações populares por grupos dominantes, ver
Burke (ibid).
16
A equipe da FUNARTE/INF/CDFB documentou o grupo de tiradores de Aranha na
antiga Tapera.
17
Uso a idéia de experiência e de performance desenvolvidas por autores como Turner (1987) e
Schechner (1994). Desenvolvi da mesma forma anteriormente (Valle, 1993; 1999).
18
Sobre esse ponto, leia Valle (1993) e Oliveira Jr (1998).
tore.p65 211 17/05/2000, 09:05
TORÉ
212
Bibliografia
ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL. Os Manuscritos do Botânico Freire Alemão, vol. 81.
Rio de Janeiro. 1961.
AIRES, Jouberth M.M.P. A Escola entre os Ìndios Tapeba: O Currículo num Contexto de Etnogênese.
Dissertação de Mestrado em Educação. Fortaleza: UFC. 2000.
BABCOCK, Barbara. Modeled Selves: Helen Corderos Little People. Em: Turner, V. &
Bruner, E. (eds.). The Anthropology of Experience. Urbana/Chicago: University of Illinois Press.
1986.
BARNES, Ruth e EICHER, Joanne. Introduction. Em: ___ (org). Dress and Gender.
Providence: Berg. 1992.
BARRETTO Fº, Henyo T. Tapebas, Tapebanos e Pernas de Pau: etnogênese como processo social e luta
simbólica. Dissertação de mestrado apresentada ao PPGAS/MN/UFRJ. 1992
___ . Invenção ou renascimento? Gênese de uma sociedade indígena contemporânea no
Nordeste. Em: Oliveira Fº, João Pacheco de. A Viagem da Volta: etnicidade, política e re-elaboração
cultural no Nordeste Indígena. Rio de Janeiro: Contracapa. 1999.
BARTH, Fredrik. Introduction. Em: ___ (ed.). Ethnic Groups and Boundaries. London: George
Allen & Unwin. 1969.
BURKE, Peter. Cultura Popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras. 1995.
CAVALCANTI, Maria L. V. de C. e VILHENA, Luís R. Traçando fronteiras: Florestan
Fernandes e a marginalização dos estudos de folclore. Estudos Históricos 3, 5: 75-92. 1990.
EICHER, Joanne. Introduction: Dress as Expression of Ethnic Identity. Em: ___ (ed). Dress
and Ethnicity. Providence: Berg. 1995.
EIDHEIM, Harald. When Ethnic Identity is a Social Stigma. Em: Barth, F. (org.). Ethnic
Groups and Boundaries. London: George Allen & Unwin. 1969.
FUNARTE/INF/SESI/CDFB. Relatório do Grupo de Trabalho. Levantamento folclórico no litoral
do estado do Ceará, em julho de 1975. Coordenação: Aloysio de Alencar Pinto. mimeo. Rio de
Janeiro: MEC/DAC/FUNARTE/CDFB. 1976.
____. Torém/Ceará. Documentário sonoro do folclore brasileiro, n. 30. Registro discográfico,
com apresentação de Aloysio de Alencar Pinto, ficha técnica, pesquisa e gravação. Rio de Janeiro:
MEC/Secretaria de Assuntos Culturais/FUNARTE. 1979.
tore.p65 212 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
213
GRÜNEWALD, Rodrigo. Os Índios do Descobrimento: tradição e turismo. Rio de Janeiro: Contra-
capa/LACED. 2001.
HANNERZ, Ulf. Fluxos, Fronteiras, Híbridos: Palavras-Chave da Antropologia
Transnacional. Mana, 3 (1): 7-39.
HOBSBAWM, Eric. Introdução: a Invenção das Tradições. Em: ___ . e RANGER, Eric.
(orgs). A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1984.
LINNEKIN, Jocelyn. Defining Tradition: variations on Hawaiian identity. American Ethnologist.
Vol. 10, n.2, 1983.
MESSEDER, Marcos. Etnicidade e diálogo político: a emergência dos Tremembé. Dissertação de
mestrado em Sociologia. Salvador: UFBA. 1995.
NOVO, José Silva. Almofala dos Tremembés. Itapipoca: /s.n./ 1976.
OLIVEIRA Fº, João Pachedo de. O Nosso Governo: Os Ticuna e o Regime Tutelar. São Paulo/
Brasília: Marco Zero/MCT-CNPq. 1988.
____ . Uma etnologia dos índios misturados: situação colonial, territorialização e fluxos
culturais. In: A Viagem da Volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no Nordeste indígena. Rio
de Janeiro: Contracapa/LACED. 1999.
OLIVEIRA Jr, Gerson. Torém. São Paulo: Annablume. 1998.
PAREDES, Américo e BAUMAN, Richard. Towards New Perspectives in Folklore. Austin:
University of Texas Press. 1975.
POMPEU SOBRINHO, Thomaz. Índios Tremembés. Revista do Instituto do Ceará. Tomo
LXV. Fortaleza: Instituto do Ceará. 1951.
PORTO ALEGRE, M. Sylvia. O Brasil descobre os sertões: a expedição científica de 1859 ao
Ceará. Ciências Sociais Hoje. São Paulo: Vértice, Ed. dos Tribunais/ANPOCS. 1989.
REDFIELD, Robert. The social organization of tradition. Em: Peasant Society and Culture.
Chicago: the University of Chicago Press. 1969.
SCHECHNER, Richard. Ritual and Performance. Em: Tim Ingold (ed.). Companion
Encyclopedia of Anthropology. London: Routledge. 1994.
SERAINE, Florival. Sobre o Torém. Revista do Instituto do Ceará, LXIX. Fortaleza. 1955.
___ . Para o estudo do processo de folclorização. Revista do Instituto do Ceará, 91. Fortaleza.
1979.
THOMPSON, Edward. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Editora da
UNICAMP. 2001.
TOMÁS, Padre Antônio. Almofalla. Em: Ramos, Dinorá T. (org). Padre Antônio Tomás: principe
dos poetas cearenses. 3ª ed. Fortaleza: Jornal A Fortaleza. 1981 [1897-1901?].
TREVOR-ROPER, Hugh. A Invenção das Tradições: a Tradição das Terras Altas (Highlands)
da Escócia. Em: Hobsbawm, E. e Ranger, E. (orgs). A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro:
Paz e Terra. 1984.
TURNER, Victor. The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications. 1987.
VALLE, Carlos Guilherme Octaviano do. Os Tremembé, grupo étnico indígena do Ceará.
tore.p65 213 17/05/2000, 09:05
TORÉ
214
Laudo antropológico solicitado pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos e Interesses das
Populações Indígenas/Procuradoria Geral da República, Ministério Público da União. 1992.
___ . Terra, Tradição e Etnicidade: os Tremembé do Ceará. Dissertação de mestrado em Antropologia
Social. Rio de Janeiro: PPGAS/MN/UFRJ. 1993.
___ . Tremembé. Verbete. Em: Atlas das Terras Indígenas do Nordeste. Rio de Janeiro: PETI/
MN/UFRJ. 1993b.
___ . Experiência e Semântica entre os Tremembé do Ceará. Em: Oliveira Fº, João P. (org). A
Viagem da Volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no Nordeste indígena. Rio de Janeiro:
Contracapa/LACED. 1999.
___ . Os Tapeba de Caucaia, estado do Ceará, Laudo pericial realizado para a 3ª Vara da Justiça
Federal no Ceará. 2003.
WAGNER, Roy. The Invention of Culture. Chicago: The Chicago University Press. 1980.
WILDE, Oscar. The Truth of Masks, a note on illusion. Em: The Complete Works of Oscar
Wilde. Leicester: Blitz Editions. 1990.
tore.p65 214 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
215
O TORÉ COCO 1
o forgar lúdico dos índios Kapinawá em Mina Grande - PE
Marcos Alexandre dos Santos Albuquerque
Eu deveria lembrar-me constantemente de que o verdadeiro salto consiste em introduzir
a invenção dentro da existência.
No mundo em que viajo, estou continuamente a criar-me. E é passando além da hipótese
histórica, instrumental, que iniciarei meu ciclo de liberdade.
2
Frantz Fanon.
Os Kapinawá dividem com muitas comunidades indígenas do nordeste brasileiro
uma história semelhante. Os criadores de gado que afluíram para a região nordeste nos
séculos XVII e XVIII disputaram as terras existentes e forçaram a retirada da população
historicamente fixada naquele território. Mas muitas resistiram e construíram uma história
por vezes sangrenta contra o assédio a suas terras. Para um grande número de comunidades
indígenas, a luta pela manutenção do território e autonomia econômica contempo-
raneamente direcionou-se para a valorização da tradição e da ancestralidade indígena.
O viés étnico passou a ser a melhor forma de resistência e ao mesmo tempo a alternativa
mais rápida de ser reconhecida a legitimidade histórica do patrimônio territorial,
principalmente com relação ao Estado brasileiro.
É assim que os Kapinawá até então uma comunidade de camponeses que habitam a
3
região central de Pernambuco , começaram a valorizar uma ancestralidade indígena,
e somente agora (últimos vinte anos) pela intermediação do Estado brasileiro (através da
FUNAI - Fundação Nacional do Índio) puderam apresentar-se como indígenas do
nordeste brasileiro. Com o incremento político e étnico, os Kapinawá criaram tradições
4
novas , que respondessem à nova especificidade jurídica, a tutoria do Estado (FUNAI),
mas também pudessem ser o resultado natural de suas inclinações campesino-culturais.
Dentre as novas tradições criadas, a música é de fato aquele espaço de cultura que mais
5
significativamente constituiu-se a cultura autêntica . Este pequeno artigo tem a pretensão
de demonstrar a constituição e ampliação contemporânea de tradições musicais
Kapinawá. Acionada pela configuração étnica, o valor da música como tradição é
tore.p65 215 17/05/2000, 09:05
TORÉ
216
estabelecido sobre novas bases, ao mesmo tempo políticas, artísticas e religiosa.
Esboço Teórico-Metodológico da Etnogênese Kapinawá
A formação étnica dos Kapinawá foi descrita principalmente por Sampaio (1986 e
6
1994), mas também outros . É dele que tomo as referências históricas mais importantes
como ponto de partida para os posicionamentos que se seguirão. Seria, talvez, pelo esforço
já referido de Sampaio, pouco frutífera a atividade de recontar a história dos Kapinawá,
mas vale uma pequena nota para introduzir o problema maior, a música na elaboração
étnica.
O modo como os grupos indígenas nordestinos foram aldeados, a pluralidade de
etnias reunidas, a história da repressão do Estado e dos regionais, tudo isso constituiu
uma população que passou com o tempo a escamotear sua origem indígena e com isso o
distanciamento das noções de ancestralidade e tradição. Com a extinção da Diretoria
7
de Índios em Pernambuco, em 1874 , o Império concedeu aos descendentes dos índios
8
de Macacos a propriedade de um território de cerca de 25.000 hectares . Nos cem
anos seguintes uma população aí cresceu dividida em cerca de sete comunidades, ou
sítios. Mas quando no início da década de 70 do século XX os donos de gado começaram
a avançar com maior rigor nas terras ocupadas por estes descendentes dos Macacos,
atingindo o flanco oriental daquele território e, em cheio, uma sua comunidade periférica,
9
a Mina Grande, (Sampaio, 1994:1-2), um movimento de emergência étnica passou a
ocorrer.
É deste modo que a população da Mina Grande (um sítio, ou agora aldeia Kapinawá)
começa a procurar alternativas para contornar o conflito fundiário com os criadores de
gado. O contato com o vizinho grupo indígena Kambiwá, que havia passado há poucos
anos por um processo de emergência étnica, foi fundamental para o incremento das
expectativas étnicas, como já havia assinalado Sampaio (1994:7) e Barbosa (2003). São
dois os principais protagonistas de fora que ajudaram os Kapinawá, Dôca (índio
Kambiwá) e Zé Índio (índio Xucuru). Estes dois estavam envolvidos na luta dos Kambiwá
pelo reconhecimento étnico, e já haviam reunido inúmeras informações sobre a história
dos grupos indígenas que ali habitaram. Zé Índio trouxe consigo a escritura de Macacos,
organizando sua primeira leitura pública, possivelmente em 1978.
Então, entre 1978 e 1979,
Dôca e Zé Índio buscaram organizar uma defesa militar, judicial e espiritual da Mina
Grande, baseada respectivamente na firme decisão de resistir em armas aos jagunços,
em tentar acionar judicialmente a escritura, e na invocação da força dos antepassados
indígenas através do aprendizado e prática regular do Toré. Deste modo, a 15 de janeiro
de 1979 foi erguido o cruzeiro da jurema, signo da consagração do novo terreiro, e
pisado o primeiro grande Toré dentro da furna da Mina Grande, onde estão enterrados
tore.p65 216 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
217
os antigos. Nesta mesma ocasião revelou-se o etnônimo Kapinawá, doravante adotado
pela comunidade social e ritual. Esta é, pois, para os Kapinawá, a data da sua fundação,
ou o dia em que levantamos a aldeia. (Sampaio, 1994:9).
Somente no segundo semestre de 1983 seria criado o Posto Indígena Kapinawá. A
partir daí uma série de lutas pela legitimidade da etnia foi continuamente seguida, sendo
desenvolvida a tradição Kapinawá, na qual a música é a parte autêntica (Sapir, 1970)
desta tradição cultural.
10
A formação do grupo foi política, estrategicamente produzida com fins utilitários ,
que Oliveira (1999:21) enxerga dentro de um quadro político preciso, cujos parâmetros
estão dados pelo Estado-nação. E tal como demonstra a relevância da escritura dos
Macacos para os Kapinawá, a dimensão estratégica para se pensar a incorporação de
populações etnicamente diferenciadas dentro de um Estado-nação é, ao meu ver, a
territorial (ibid). Nesta relação entre o território historicamente ocupado pela população
da Mina Grande e o Estado com sua política de regulamentação de áreas indígenas, os
Kapinawá operaram sob a ordem da indianidade.
O conceito de indianidade (Oliveira, 1988 e 1999), refere-se a forma genérica de
índio apregoada pelo Estado, é o termo geral para abrigar sob uma mesma ordem
cultural os grupos indígenas do nordeste, o Toré é a marca cultural mais legitimamente
identificável. Territorialização (ibid, 1999) é fundamental para entender porque a indianidade
se estrutura na relação do Estado com grupos portadores de uma base territorial,
fundamental para sua continuidade cultural e social, e como esta base territorial se torna,
neste processo de construção da indianidade, uma base política.
O conceito de territorialização
é uma intervenção da esfera política que associa- de forma prescrita e insofismável-
um conjunto de indivíduos e grupos a limites geográficos bem determinados. É esse ato
político- constituidor de objetos étnicos através de mecanismos arbitrários e de arbitragem
(no sentido de exteriores à população considerada e resultante das relações de força entre
os diferentes grupos que integram o Estado)- que estou propondo tomar como fio condutor
da investigação antropológica. (ibid: 21).
Assim, pode-se definir territorialização como um processo de reorganização social, que
implica em
i) a criação de uma nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma
identidade étnica diferenciadora; ii) a constituição de mecanismos políticos especializados;
iii) a redefinição do controle social sobre os recursos ambientais; iv) a reelaboração da
cultura e da relação com o passado. (ibid: 20).
tore.p65 217 17/05/2000, 09:05
TORÉ
218
Há dois processos iniciais de territorialização, (Oliveira, 1999:22) O primeiro
relaciona-se às missões religiosas na segunda metade do século XVII e primeira do século
XVIII, e o segundo à agencia indigenista oficial. Estes dois processos levaram à construção
dos grupos indígenas no nordeste, num primeiro momento ao reunir vários grupos num
mesmo lugar, sob uma autoridade comum, e posteriormente, após a extinção das missões,
agora já no século XX, ao permitir que os grupos que resistiram à desintegração total,
pudessem ser reconhecidos como diferenciados da população regional, e conseguissem a
proteção, para sua manutenção, do Estado brasileiro. Um terceiro momento de
territorialização evidencia o aparecimento de etnias indígenas no nordeste contem-
poraneamente (ibid: 27). Nos anos 1970/80 ocorrem várias emergências étnicas, o
aparecimento de grupos indígenas que não eram reconhecidos pelo estado. É aí que
começam a se elaborar as noções de etnogênese, já explicadas acima.
A construção da indianidade incorporada ao processo de territorialização ensejou
modificações simbólicas, encaminhou outras possibilidades de sentido. O lugar da cultura,
da tradição Kapinawá foi trabalhado, transformado, incrementado finalmente. Os
Kapinawá como tantas outras comunidades no nordeste:
De fato, eram sociedades reconhecidas como formadas por caboclos que pretendiam
ascender à condição de índios tendo suas terras demarcadas pelo Estado, que, através de
seus órgãos tutores (primeiro o Serviço de Proteção ao Índio [SPI] e depois a Fundação
Nacional do Índio [FUNAI]) impunha a dança do Toré ¾ além de determinada
forma de organização política ¾ como marca de indianidade (Oliveira, 1988) desses
grupos face aos processos de territorialização (Oliveira, 1999). Ou seja, para ser
reconhecida como indígena, tais populações deveriam apresentar essa dança, que foi, em
diversos casos, gerada especificamente para esse fim. Grünewald (2001a:2).
A história política da formação étnica do grupo lhes permitiu construir outras histórias,
outros desenvolvimentos, e a nova tradição musical ali produzida no seu Toré é um
grande exemplo.
O novo espaço da Tradição Kapinawá: o ToréCoco
A formação da música atualmente considerada como tradicional Kapinawá pode
em termos básicos ser classificada como o encontro de três universos musicais: a música
religiosa do camponês nordestino (que engloba os benditos, as ladainhas e as excelências);
a música de brincadeira, o samba-de-coco; e por fim o Toré.
Enquanto um grupo de camponeses, os Kapinawá da Mina Grande não praticavam
11
o Toré . Ao elaborarem um Toré para se apresentarem ao órgão tutor (FUNAI) como
índios, traduziram uma experiência coreográfico-musical anterior a partir das músicas
que constituíam sua cultura como camponeses, e criaram um Toré próprio, uma marca
tore.p65 218 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
219
de tradição original, um produto cultural novo que amarrava o significado da nova
posição social do grupo, agora com um grupo étnico. Chamo então este novo espaço de
cultura de ToréCoco. É um espaço criado para a exibição da cultura, da tradição. O Toré
em si não é apenas dança, música ou religião, é um espaço político, de atualização étnica.
É também, e por isso mesmo, um espaço de experiência cultural coletiva, e como espaço
público é patrimônio da cultura. O ToréCoco passou a ser o espaço de atualização da
tradição, um lugar novo, para responder a novas experiências políticas, culturais,
religiosas, artísticas e fundamentalmente musicais.
O ToréCoco como marca política de referência étnica não apenas muda o sentido
político do grupo, mas também exige novas retomadas do significado simbólico das
práticas religiosas e profanas, e das práticas musicais obviamente. Estas mudanças no
significado permitiram abrigar as novas exigências, incorporando ao sentido político
(este novo significado da arte-música/performance) e religioso do Toré os símbolos antes
separados da música profana e da música sagrada. É ao abrigo destes domínios da cultura
autêntica (Sapir, 1970) anterior, que a nova música se insere como tradição autêntica. O
Toré enquanto apresentação política e religiosa ganha a experiência performativa e musical
da brincadeira profana do samba-de-coco, e por tabela, o samba-de-coco entra na igreja
à medida que também o Toré é praticado em simbiose saudável às práticas religiosas
cristãs.
Ao necessitarem se fazer reconhecer como verdadeiros índios, os Kapinawá da Mina
Grande fizeram de seu Toré o sincretismo dos lugares da música. A Igreja vira lugar de
manifestação política e religiosa do ser índio, podendo acoplar a uma ladainha os motivos
do Toré com maracá, após o que se pode dançar um samba-de-coco. Assim, vê-se que o
ToréCoco construído pelos Kapinawá da Mina Grande não apenas incrementou a vida
musical do grupo, mas mais que isso, fundou um novo modo de operar com a tradição.
Ampliando os locais de manifestação musical, o incremento étnico abriu possibilidades
de aumento dos significados inéditos da música.
Do sincretismo originário ao sincretismo contemporâneo
O sincretismo contemporâneo à colonização européia no Brasil é a base cultural dos
gêneros musicais nordestinos. Como assinala Tinhorão (1998:38-9):
segundo revela a correspondência dos padres jesuítas desde a sua chegada à Bahia em
1549, até praticamente ao fim do século (...) toda a atividade musical ligada à catequese
dos índios oscila entre esses dois pólos das danças e cantos coletivos populares para o
folgar, e dos hinos e cantos eruditos da Igreja Católica (à base de cantochão e órgão) para
os atos solenes rituais ou de estímulo à devoção religiosa.
tore.p65 219 17/05/2000, 09:05
TORÉ
220
Assim, tinha-se no Brasil a mesma divisão que se operava na Europa, ou seja, dividia-
se a música entre aquela para o folgar, a brincadeira, o profano, e a música religiosa,
erudita. No Brasil, porém, acontecia que para os planos da catequese era mais fácil atrair
os nativos para a religião católica através de uma modificação dos sentidos da música
européia, oscilando-a a favor dos catequizadores entre o profano e o sagrado.
a semelhança entre a tradição de canto e dança tribal dos naturais da terra e dos
campos portugueses, caracterizadas ambas pela participação coletiva, iria determinar a
opção dos padres por esta forma, inclusive porque efetivamente era a que melhor se
enquadrava aos propósitos da catequese e evangelização em massa. (ibid: 39)
Ao optar por catequizar os índios brasileiros ao som das músicas populares campesinas
portuguesas, modificando-lhes a letra e impondo-as um lirismo religioso, a situação histórica
desta música aqui chegada foi rapidamente modificada para atender rapidamente aos propósitos
de catequese católica. As folias eram as grandes manifestações do popular europeu à época do
contato. Eram estas folias que aqui no Brasil se prestaram a encenações religiosas, elas:
constituíram a primeira concessão dos jesuítas ao natural desejo de diversão mais livre
dos devotos. Segundo observaria ainda Serafim Leite, os primeiros contatos com os índios
foram propiciados exatamente pela música de caráter exclusivamente popular no gênero
de folia, ao que acrescentava para não deixar dúvida quanto a origem profana da
criação: Folia a que se não deve atribuir nenhum caráter religioso, mas de simples e
honesta diversão popular (ibid: 41)
assim, à medida que estes grupos indígenas tomavam contato com outros grupos sob
os mesmos aldeamentos religiosos, uma cultura religiosa e musical distinta foi sendo
formada à luz da experiência sincrética entre os rituais nativos, com festa e religião, e o
cerimonial da igreja, que para se tornar legível, optou por popularizar sua estrutura musical,
o que gerou simbiose e mudanças de sentidos.
Entre os Kapinawá atualmente a visão dos folgares antigos, e sua semântica, são
empregadas nas letras das canções dos Torés e samba-de-coco. Não só entre eles mas
entre vários outros grupos indígenas nordestinos. O folgar, ou forgar, é ainda expressão de
dança e canto, a apresentação num Toré, a performance da brincadeira. Este trecho de
12
um toante Kapinawá é bastante curioso:
13
Cheguei na minha aldeia
Cheguei na minha aldeia
Cheguei de pé no chão
tore.p65 220 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
221
Eu venho trazendo firmeza
Chapéu de coro e gibão
Pra eu forgar com meus caboclo
Lá na aldeia da missão
Heina, hoa
Heina, heiá-lande, heiá-landá
Estão em negrito as palavras que acusam alguma surpresa, forgar e missão. Quem chegou
na aldeia veio pra ficar, está de pé no chão, traz a firmeza necessária pro trabalho espiritual,
mas ele tem alguma diferença, pois está de chapéu de coro e gibão, trajes do nordestino, do
vaqueiro. Mas ele é índio, pois vem forgar com seus caboclos, vem brincar o Toré na
aldeia, lá na aldeia da missão, o lugar onde os índios estão, lembrando o aldeamento. Este
toante é curioso pois afirma a unidade dos índios sob a missão ao tempo em que se
apresenta como um nordestino típico, um vaqueiro indígena. É esta a idéia que frutifica as
comparações que possam ocorrer com o exposto anteriormente. O conhecimento de que a
unidade da força dos grupos indígenas vem da sua relação com um passado (A Missão)
e um presente, uma outra identidade, chapéu de coro e gibão, um nordestino da força da
jurema, do reino dos índios. Um outro exemplo ajuda:
14
Meus Caboclo Índio
Meus caboclo índio
Vem da Juremeira
Vem subindo a serra
Descambando a ladeira
Eu forgo é na juremeira
Meus caboclo índio
Aqui os caboclos são os antepassados, os espíritos e os Kapinawá de hoje também, são
anunciados como vindos da jurema, eles vem subindo a serra/descambando a ladeira,
eles são a força espiritual da jurema, eles escaparam da perseguição dos donos de gado
subindo a serra, expressão da maior relevância porque é o termo para demonstrar a natureza
da fuga pela liberdade dos índios do nordeste, escapando do domínio do gado até onde
podiam fugir. Aqui, no alto da serra, o lugar do refúgio, eu forgo é na juremeira, aqui
a brincadeira do Toré é ainda real, presente, a forga é praticada, ela resiste.
Os exemplos se seguem às dezenas, para o momento basta. Somente se pretendeu
demonstrar como expressões do contexto musical da época do contato dos índios com o
tore.p65 221 17/05/2000, 09:05
TORÉ
222
europeu colonizador são ainda presentes, e marcam identidades. É o índio que forga até
hoje em dia, a semântica do termo é sincronizada com valores afirmativos do ser índio,
ela purifica a identidade porque a coloca em contato com um passado, a afirma no presente
contínuo pela força da jurema, e o índio de hoje forga como caboclo vestido de caruá ou
de chapéu de coro e gibão.
A música para o folgar entre o sagrado e o profano no ToréCoco
Gostaria de explorar agora um pouco da delicada tarefa que foi o desvencilhamento
das estruturas rígidas em torno da dupla sagrado e profano. Quando a população da
Mina Grande começou a produzir uma etnicidade, uma identidade indígena, a elaboração
do Toré os levou a produzir um ritual baseado nas experiências anteriores do grupo, ou
seja, na reza católica e na brincadeira do samba-de-coco. A brincadeira do Toré é também
15
o sério, o forgar é a brincadeira com e dos espíritos e na qual eles irradiam . Como o Toré
foi antes de tudo experimentado como algo político, a experiência religiosa deste foi
primeiramente compartilhada com a estrutura da brincadeira do samba-de-coco. E a
medida em que ele foi desenvolvido, a realidade do trabalho de ToréCoco era um
sincretismo sagrado / profano.
Assim, a experiência religiosa, que se condensava na igreja e festas dos santos, passou
a ocupar também um outro espaço público, que era anteriormente o espaço da brincadeira,
do samba-de-coco. Com a síntese dos contextos político e religioso, a brincadeira (samba-
de-coco e a forga) apareceram entre os termos sagrado e profano. O ToréCoco Kapinawá
se revelou uma síntese, uma ambivalência positiva. Assim, os elementos da sacralidade
do Toré, a jurema e os encantos, passaram a ocupar outros lugares também, funcionando
como tema e mote para improvisos de samba-de-coco, marcando uma diferença, enfatizada
16
pelos Kapinawá, com relação aos outros grupos indígenas nordestinos . Na igreja se
cantam as ladainhas, rezas e benditos, mas passou-se a tocar tudo com maracá. E com o
maracá em mãos, também o Toré e o samba-de-coco permitiram que o universo da jurema
17
integrasse o espaço da igreja. No terreiro (onde se dança o Toré e onde está erguido o
cruzeiro da Jurema) ocorre o mesmo, o espaço é dividido entre toantes, samba-de-coco e
alguns benditos, tal como na Furna, lugar dos antigos, lugar sagrado também.
Uma descrição da utilização da jurema em Kapinawá pode nos auxiliar e ser um bom
18
exemplo. Assim eu a descrevi em outro lugar (2002a: 31) com o cacique José Bernardo
e o pajé José Moisés, parte-se para encontrar uma jurema boa para o trabalho. Na estrada
que dá acesso a área indígena, em sua margem uma jurema frondosa dá o ar de sua
graça. Em pouquíssimas áreas indígenas no nordeste se coleta jurema de beira de estrada,
porque se diz que ela é fraca. Desde esse momento o primeiro passo do Toré (coletar a
jurema) já me pareceu particular; continuando: acende-se três velas representando a
trindade cristã (para o Pai, o Filho e o Espírito Santo), colocam-nas sob um dos troncos
da jurema. (Albuquerque, 2002a: 31) O uso da vela aqui se torna mais relevante do que
tore.p65 222 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
223
o do cachimbo (ou guia), o que seria o inverso da maioria das áreas indígenas do nordeste.
19
Aqui aparentemente não há segredo sobre seu uso, ou seus significados religiosos.
A encruzação é feita com uma vela, e não com o cachimbo, como é usual em quase
todos os grupos indígenas do nordeste. E junto ao uso da vela, e o sinal da cruz, canta-se
uma linha, uma benção ao estilo das melodias solos dos chamados catimbós. A vela,
símbolo maior do rito, é depositada junto ao elemento maior do culto (Toré) o toco da
raiz cortada da jurema. A jurema (a bebida) descansou o dia todo e pela noite se fez o
Toré com jurema.
O lugar da jurema no culto-Toré é representativo da sua posição no sistema religioso-
político-estético do ToréCoco Kapinawá. Eu afirmava com relação ao trabalho da noite
que O Toré Kapinawá pode ser caracterizado como um trabalho bastante lúdico. A
presença de muitas crianças é significativa. Não há aqui um dirigente maior que leva o
trabalho. A característica de todo o Toré é que o mesmo é bastante livre. (Albuquerque,
2002:32).
É então chegado o momento de se tomar a jurema, observando-se que já se haviam
passado mais de uma hora desde que se começou o trabalho. Há muitas características
que demonstram o lugar da jurema no culto. Primeiro porque o trabalho pode ser realizado
na escola, concessão que nos fizeram por causa da iluminação necessária à filmagem que
realizávamos, concessão que em algumas outras áreas não seria de forma alguma possível.
Depois a presença maciça de crianças, caracterizando também o trabalho de uma aura
festiva. Ainda a ausência de um dirigente fixo do trabalho, o que possibilitava um ambiente
bastante informal.
A jurema, então posta num canto da sala sobre uma mesa velha, começa a ser servida
já bem após o início do ritual. Todos tomam da jurema, crianças inclusive. Uma parte é
servida pelo pajé em xícaras de plástico, outra parte se serve pessoalmente por outra
xícara de plástico.
(...)
Todo o ritual a seguir corre na maior festa pelas crianças e adultos. A jurema é bebida
por qualquer um, quantas vezes se quiser. Aqueles que mais se destacam em puxar as
linhas ficam por muito tempo cantando e dançando no centro da roda. O pajé ou o
cacique são importantes, mas não os principais puxadores de linhas, homens ou mulheres
do grupo se revezam nesta tarefa de contornos mais lúdicos do que qualquer outro. Já
mais pro fim do trabalho, muitas músicas de samba-de-coco são cantadas enquanto a
forma ritual não se altera, ou seja, continua-se a dançar e tocar os maracás com afinco.
(Albuquerque, 2002a:33-4)
Esta descrição serviu para apresentar o trabalho Kapinawá com a jurema, e o lugar
dela neste tipo de culto. Todos tomam da jurema, incluindo crianças, não há dirigente
tore.p65 223 17/05/2000, 09:05
TORÉ
224
exclusivo para dá-la. A jurema pode ser bebida indiscriminadamente por qualquer um
porque ela aqui é bastante fraca. Não há puxador oficial de linhas ou toantes no trabalho.
E ao encaminhar-se para um fim, o Toré vira uma grande festa com os sambas-de-coco
sendo cantados e pares de dançarinos se formando. Os maracás continuam tocando, os
encantos irradiando, mas a música já é mais ainda a da festa, a confraternização, a
brincadeira do folgar com a ambigüidade da dança dos casais, da ligeireza dos samba-de-
coco, da jurema disposta livremente sobre a mesa.
Tudo isso demonstra que o elemento de cultura mais irremediável num trabalho deste
tipo em Kapinawá não é a jurema, mas sim a música do folgar, o espaço da ludicidade.
Também já dissemos: A expressão religiosa do grupo é marcada pela leveza e
descontração. O Toré é sentido e praticado a partir da estética e da lógica do samba-de-
coco, brincadeira conhecida pelos índios há mais tempo e que, a despeito de também ser
sagrada é, em grande medida, diversão. (Albuquerque e Palitot, 2002:26). E ainda
Grünewald (2003:20), entre os Kapinawá, a jurema assume um caráter bastante lúdico.
O que se quis de fato demonstrar é que o Toré Kapinawá ao contrário da maioria dos
20
outros grupos é um Toré no qual a jurema como enteógeno tem participação inferior à da
jurema como símbolo e semântica na produção lírica dos toantes e samba-de-coco. Assim,
o que me parece é que a jurema entra na lógica da festa do samba-de-coco, ao tempo em
que o samba-de-coco entra na lógica do Toré. Criando ambigüidades entre o sagrado e o
profano, na medida em que são sacralizadas todos os domínios da música, quando um
novo lugar, o ToréCoco, é construído por partes conjuntas e imaginadas da história dos
Kapinawá, quando sentimentos e expectativas estão unidos, produzindo ambigüidades
positivas, ampliadoras da cultura musical e da tradição Kapinawá.
Minha aposta é a de que a experiência religiosa Kapinawá era, anteriormente à
instauração da questão étnica, uma experiência com a música. Entendido aqui que a
religião católica era, por falta de um padre fixo ou outro autorizado, exercida
principalmente através das rezas e cantos religiosos, ladainhas e benditos. Era assim que
exercitavam a fé, ao passo que durante as festas religiosas, principalmente a do padroeiro
do grupo, São Sebastião, realizada em Janeiro, também cumpriam suas obrigações
religiosas ao cantarem para os santos. Neste curso, já me parece que o samba-de-coco
estava próximo a estes festejos, dividindo com ele uma parte das comemorações. A
experiência do grupo com a proximidade destes universos pôde, durante o processo de
construção do Toré, se tornar mais efetiva, o que acabou construindo um Toré com os
elementos de cultura mais valorizados pelo grupo, a música religiosa e a música da festa,
da brincadeira. Quando o Toré se tornou a brincadeira oficial da etnia, foi a experiência
anterior com a música que deu a maior fisionomia ao trabalho.
O fato de o culto criar ambigüidades, mesclar o sagrado e o profano, ou melhor,
proclamar o não dualismo dos termos, mas sim as correspondências, não nos podem
permitir estranhamentos severos. Durkheim já apresentara a idéia de que alguns cultos
tore.p65 224 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
225
21
religiosos são marcados pela ludicidade , na sua obra As Formas Elementares da Vida
Religiosa, fazia a comparação da estrutura de alguns cultos religiosos aborígines australianos
22
com a idéia das representações dramáticas, aproximando a experiência religiosa da
experiência estética, da arte. (Durkheim, 1996:416-7)
É por isso que a idéia mesma de uma cerimônia religiosa de certa importância desperta
naturalmente a idéia de festa. Inversamente, toda festa, mesmo que puramente leiga por
suas origens, tem certos traços da cerimônia religiosa, pois sempre tem por efeito aproximar
os indivíduos, pôr em movimento as massas e suscitar, assim, um estado de efervescência,
às vezes até de delírio, que não de deixa de ter parentesco como estado religioso. O
homem é transportado para fora de si, distraído de suas ocupações e preocupações
ordinárias. Por isso, observam-se em ambos os casos as mesmas manifestações: gritos,
cantos, música, movimentos violentos, dança, busca de estimulantes que elevem o nível
vital, etc. (ibid: 417-8)
O elemento de seriedade (político/religioso) só pode ser preenchido de valor quando
o Toré se mostrou particular, coincidente, legítimo frente às experiências com a dança, a
23
música e a religiosidade da população da Mina Grande.
Como recurso argumentativo final desta parte, eu gostaria de apresentar um exemplo
do sincretismo lírico / musical Kapinawá. É um samba-de-coco:
24
Ô Mando-â Ô Mando-â
Ô Mando-â Ô Mando-â
Hei-ô mando-â
(refrão)
Hei-ô manda
Mas agora eu vou cantar
Mas eu agora vou forgar
E agora eu vou chamar
Os caboclo pra vim forgar
Mas eu sou filho dessa aldeia
E da aldeia Kapinawá
Eu quero ver mais meus caboclo
Eu quero ver ele pisar
Mas a pisada é da índio
tore.p65 225 17/05/2000, 09:05
TORÉ
226
Ô da aldeia Kapinawá
Eu sou caboclo sou da aldeia
Ô da aldeia do jurema
Eu sou caboclo sou da aldeia
Eu vou chamar os encantado
E vem mais é de lá da Furna
Me dá força pra eu cantá
Apesar de longa, a letra continua ainda por um bom tempo. Este é um samba-de-
coco no estilo rítmico e melódico tradicional. A cada frase do puxador o coro responde
pelo refrão. Ele possui apenas a primeira estrofe da música, todas as seguintes são
improvisações sobre um tema geral. Aqui no caso o tema é o religioso, o universo simbólico
25
das representações religiosas do complexo da jurema . É este detalhe, fora o de esta música
(linha) ter sido cantada num trabalho de Toré, que caracteriza a singularidade do samba-
de-coco registrado. Seus improvisos são sacros e giram em torno das imagens e símbolos
da jurema, ao tempo em que são políticos e demarcam a etnicidade e identidade do
grupo como indígena, como os Kapinawá.
É a simetria de valores, o acordo das ordens simbólicas que coloca este samba-de-
coco como uma produção original do grupo. Como uma riqueza social, em que espaços
aparentemente irreconciliáveis estão num mesmo objeto, servindo a funções diferenciadas,
mas interligadas sob um mesmo princípio: a positividade da identidade. Este é um samba-
de-coco cantado num trabalho espiritual, com versos improvisados, ao mesmo tempo
profanos e sagrados, etnicamente fortes e espiritualmente relevantes. Este encontro é
produto de um contexto singular. É produto de uma opção e escolhas socialmente
administradas. Ele demonstra a natureza do acordo tácito entre o povo da Mina Grande,
os Kapinawá minagrandistas, a opção por um repertório variado, legítimo com suas
experiências religiosas, estéticas e agora políticas. É um recorte do passado, alicerçado
numa promoção do presente, da etnicidade, da identidade criada sem vazios ou faltas,
mas completamente preenchida com a coragem da cultura autêntica (Sapir, 1970), com
valores da tradição, tradição moderna, contemporânea, um modelo de etnicidade, o
modelo deles, que lhes é legítimo, viável, e como tentei mostrar é coerente.
As Disputas pela Tradição: ToréCoco como Utopia
Os Kapinawá minagrandistas venceram as estratégias de dominação simbólica e
econômica marcando a sua música com uma singularidade, uma diferença, uma síntese
de suas identidades, de camponeses e índios, de nordestinos, de juremistas-cristãos. Na
luta pela afirmação étnica tiveram de desvencilhar as negatividades do dualismo, sempre
precário de se contornar, mas o fizeram, elegendo esta multi-linearidade como símbolo
tore.p65 226 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
227
necessário, já como tradição a se fazer valer como legítima, indispensável e coerente.
Há pelo menos quatro ambigüidades vencidas na luta pela constituição do grupo como
étnico:
1) Histórica. O passado e o presente se encontram num intervalo de cerca de cem anos.
Enquanto passado indígena raro na memória, e um presente de vinte anos também
indígena, respaldado na constituição contemporânea das comunidades indígenas do
nordeste. Um elo histórico e um silêncio, ambos legítimos, o primeiro pela história antiga
e contemporânea, o outro pela posição de defesa e, porque não, de esquecimento
involuntário.
2) Política. A estrutura de mudança operada numa comunidade rural, campesina, frente
às normas e expectativas sobre um grupo étnico, no caso indígena. A situação de troca da
autonomia pela subserviência ao Estado, ao mesmo tempo de favorecimento econômico,
26
político, e de segurança (defesa das terras e da população).
3) Musical. O Toré foi construído dentro da lógica musical já operacionalizada pelo
grupo, ou seja, o sagrado das músicas religiosas e o profano da brincadeira do samba-de-
coco. O samba-de-coco e as músicas religiosas em Kapinawá eram os elementos de cultura
mais próximos de a uma tradição campesina. O Toré como trabalho e brincadeira do
índio foi colocado entre o sagrado das ladainhas e benditos e o profano do samba-de-
coco. Como símbolo político, sinal diacrítico (Barth, 1969; 1998), o Toré é ao mesmo
tempo religioso, político e é uma festa, é a brincadeira, o forgar. A lógica da música teve de
se acomodar ao novo espaço ToréCoco, mas não só ela, tambem os sentidos religiosos
compreendidos na dualidade do sagrado e do profano.
4) Religiosa. O universo religioso teve de se moldar às novas diretrizes da formação da
etnicidade Kapinawá. Separados como eram os universos profano e sagrado pela prática
musical específica de cada lugar, a transformação da sociedade camponesa em étnica/
indígena, produziu um rearranjo particular no qual o ToréCoco se instaura entre os dois
domínios (o sacro e o profano). Como representação religiosa, o Toré consiste na crença,
no rito, no culto e nas incorporações. Como símbolo político e étnico, o Toré é profano,
porque se instaura para fora e é um aprendizado copiado, em termos gerais, de um
universo que é externo, porém extremamente necessário.
Assim, passo a concordar com Oliveira (1999:32) que só a elaboração de utopias
(religiosas/morais/políticas) permite a superação da contradição entre os objetivos
históricos e o sentimento de lealdade às origens, transformando a identidade étnica em
uma prática social efetiva, culminada pelo processo de territorialização. Acredito que a
música Kapinawá, e o ToréCoco como espaço de possibilidade desta tradição musical,
enseja um projeto utópico. É utópico como é utópica a arte que nasce dos conflitos e
reaparelhagens simbólicas e valorativas. A música Kapinawá se instaurando entre o
tore.p65 227 17/05/2000, 09:05
TORÉ
228
moderno e o antigo no mesmo instante que é um e outro, passado e presente como modelo
para o futuro, tão incerto quanto era a possibilidade de territorialização. Aqui, vencer as
ambigüidades é já o esforço de demonstrar a natureza legítima da identidade construída.
Impermeável à linearidade, o espaço que chamo de ToréCoco existe como utopia, lugar
ideal onde as ambigüidades são superadas, na medida em que são produzidos discursos
coerentes, que tornam os elementos de tradição legítimos.
São posicionamentos particulares, que frente a expectativas externas e internas, se
apresentam como legítimos, fiéis na concordância com valores e símbolos de uma lógica
real e particular. O desenvolvimento de identidades deve concordar com os dinamismos
e substâncias próprias das populações que se lançam a tal tarefa. Deve-se acreditar que a
posição assumida nunca é subalterna, ela é ativa e:
O processo de territorialização não deve jamais ser entendido simplesmente como de
mão única, dirigido externamente e homogenizador, pois a sua atualização pelos indígenas
conduz justamente ao contrario, isto é, à construção de uma identidade étnica
individualizada daquela comunidade em face de todo o conjunto genérico de índios do
Nordeste (Oliveira, 1999:26).
A música no Toré Kapinawá é um grande exemplo, sua diferença frente aos outros
Torés é própria de um contexto singular de formação étnica. Esta música é o grande
elemento de tradição que é novo e antigo, moderno e arcaico, é por isso mesmo o
elemento legítimo da cultura, o ToréCoco é o novo espaço da cultura, atual porém antigo,
ele incorpora o novo e assume a dignidade do velho, colocando os termos antagônicos
(novo/antigo) num mesmo espaço, sob a mesma lógica, assumindo a coerência histórica
no momento em que assume a história e a tradição como mudança.
Ao se permitirem identificar com este novo padrão da música e de sua tradição, os
Kapinawá de Mina Grande souberam respeitar a dinâmica das transformações históricas
ao mesmo tempo em que estavam presentes para se colocar como interlocutores
privilegiados das estratégias de continuidade das diferenças e modos de vida. Acreditando
que ao se referirem enquanto indígenas, mantinham sua integridade histórica ao tempo
em que retornavam como grupo étnico ao presente indígena do nordeste contemporâneo.
Um resumo do exposto poderia vir do seguinte modo. A tradição musical Kapinawá
foi feita como resposta para dentro (samba-de-coco e música religiosa), e para fora (Toré/
FUNAI/indianidade Toré/índios para a sociedade nacional). O espaço de atualização
da cultura e da tradição que chamo de ToréCoco é entendido como produção utópica
que ao vencer as ambigüidades se apresenta como tradição legítima. Ampliando e
reconstruindo os termos simbólicos musicais e religiosos, o que por si só a fundamenta
com relação às dissonâncias históricas, entre um passado e um presente diferentemente
indígenas. Música e espaço (ToréCoco) sincréticos que vencem as ambigüidades políticas,
tore.p65 228 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
229
as expectativas internas e externas, produzindo-se como tradição original, particular e
legítima do trabalho do índio Kapinawá. É isso que demonstra o exemplo do jovem Edson
Kapinawá da aldeia Ponta da Vargem, ao norte da Mina Grande. Puxador de toantes,
ele irradia e incorpora nos trabalhos de Toré. Quando está no vizinho Xucucu, durante os
trabalhos de Toré, é puxando um samba-de-coco que ele se apresenta como Kapinawá,
porque é sob este gênero musical particular que ele irradia e incorpora os encantos.
A experiência anterior do grupo camponês com a música como a mais forte tradição
continuou sendo o parâmetro com o qual eles construíram um Toré particular. Um Toré
sambado, um Toré de samba-de-coco rimado, no improviso. Uma brincadeira religiosa
e profana, uma festa singular, de estilos de música em simbiose, vivendo a necessidade
de superar contradições. A música camponesa vira tradição do índio quando o grupo
se apresenta como étnico. É ela, a música, sempre presente, que possibilita a existência de
algo a apresentar, mais que um Toré, o espaço ToréCoco é a singularidade, o diferencial
do grupo Kapinawá. No Toré ludicizado, a jurema aparece mais como símbolo religioso
do que como enteógeno. A música continua sendo o espaço de exibição do sagrado, a
27
tradição que feita para fora, antes de tudo teve que se submeter a critérios de dentro .
Assim, termino por concordar com Grünewald (2002:122) que, falando dos Atikum
28
acerca de sua construção étnica num regime de índio , afirmou: Acredito ter insinuado
aqui um exemplo de gênese de uma área da vida social que cria suas próprias questões,
cria uma ordem de preocupações, especialização e sistema de concorrências para impor
uma visão legítima da religião. Permitindo-me imaginar que em Kapinawá esta ordem
de preocupações, impôs uma nova ordem musical, política e religiosa, instaurando uma
especialização e sistema de concorrências que pretende demonstrar coerência, e nisso
impor uma visão legítima de sua cultura e, particularmente, de sua tradição musical,
que se revela no espaço de exibição e afirmação da cultura e tradições Kapinawá que
aqui denominei genericamente de ToréCoco. E para que se continue a forgar, um último
toante importa:
29
O Vento embaleceu o mar
O Vento embaleceu o mar
O mar balançou a aldeia
É no tronco da jurema
Que os índio balança a aldeia
tore.p65 229 17/05/2000, 09:05
TORÉ
230
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFCG / UFPB.
2 FANON, Frantz. Black Skin, White Masks. p. 231, apud, Bhabha (1998:29).
3 Os Kapinawá habitam a região entre o agreste e o sertão pernambucano, próximos a cidade de
Buíque, sua população é de cerca de 1500 pessoas.
4 Tal como Grünewald (2001b: 10) entende a formação de tradições nos Pataxó-BA, onde
elementos externos passam a ser entendidos e interpretados como próprios, e com os quais uma
relação histórica com o passado do grupo é desenvolvida, associando-se a eles elementos internos
do grupo, temos o que chama de tradições em mudança.
5 Cultura autêntica (Sapir, 1970), ou o espaço da cultura mais valorizado por sua singularidade.
Cultura autêntica entendida no sentido nietzschiano, como valor sensível e estético da mais alta
valoração social, as obras de inspiração, que sendo por vezes obras de alguns indivíduos, são
acionado pelo grupo como símbolos máximos do valor de sua cultura.
6 Os outros autores são Pierson (1981), Carvalho (1982), Motta e Mello (1982), Santanna
(1984) e Albuquerque e Palitot (2002).
7 Segundo Sampaio: todos os atuais povos indígenas no Sertão do Nordeste são segmentos
sociais originários de aldeamentos implantados por ordens missionárias católicas ao longo dos
séculos XVII e XVIII, a maioria deles transferidos à administração das Diretorias de Índios ao
longo do século XIX e em seguida extintos de direito, mas nem sempre de fato. (...) Sabido é
também que estes agrupamentos foram freqüentemente formados com população de origens
culturais e lingüísticas diversas, muitas vezes deslocadas dos seus territórios originais. Foi também
através daquelas administrações coloniais -religiosa ou estatal- que tais territórios lhes foram
destinados e regularizados, sob formas diversas, nos períodos colonial e ou imperial. (Sampaio,
1994:3)
8 Para Sampaio: Trata-se de uma doação imperial das terras do antigo aldeamento de Macacos
aos herdeiros dos índios, que são aí nomeados com respectivas esposas e localidades de moradia
ou sítios.Macacos, Julião, Palmeira, Queimada Velha, Lagoinha, Brejo de Fora e Mina Grande.
Os limites externos do território, ainda que descritos com a imprecisão própria à época e tipo de
delimitação, balizada fundamentalmente em marcos naturais, são hoje perfeitamente reconhecíveis.
(Sampaio, 1994:7).
tore.p65 230 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
231
9 O conceito de emergência étnica apareceu primeiramente com Lester Singer, em 1962, (apud
Banton, 1979:158), para se referir ao processo de criação de um povo. Outros aceitam a criação
do termo como tendo sido cunhado primeiramente por Gallagher (1974), (tal como Grünewald,
2001a: 2) e posteriormente o de etnogênese por Goldstein (1975) e Sider (1976), tal como também
aceitam (Grünewald, 2001a:2; Barbosa, 2003:14 e Oliveira, 1999:28). O conceito de emergência
étnica ou etnogênese Inversamente ao conceito de aculturação, acabou por fornecer subsídios para
que diversos pesquisadores, investigassem os processos de construção cultural dessas populações
indígenas nordestinas face ao reconhecimento de suas terras e de sua condição de índios pelo
Estado. (Grünewald, 2001a: 2).
10 Para Weber: A existência da consciência tribal costuma significar algo especificamente político:
diante de uma ameaça de guerra vinda do exterior, ou de um estímulo suficientemente forte a
atividades guerreiras próprias contra o exterior, é particularmente fácil que surja sobre essa base
uma ação comunitária política, sendo esta, portanto, uma ação daqueles que se sentem
subjetivamente companheiros de tribo (ou de povo) consangüíneos. O despertar potencial da
vontade de agir politicamente, segundo isso, é uma, ainda que não a única, das realidades escondidas,
em última instância, por trás do conceito de tribo ou de povo, de resto bastante ambíguo em seu
conteúdo. (Weber, 1998:274), grifo meu.
11 Sampaio (1994:14) enfatiza, no entanto, que... embora o Toré na Mina Grande tenha passado
a ser praticado regularmente apenas após a vinda de Dôca e Zé Índio, em 1979, muitos informantes
idosos são capazes de relatar a prática do ritual durante suas infâncias; relatos que sempre ressaltam
a perseguição dos regionais, certamente uma das causas da interrupção das práticas, em algumas
localidades, ao longo das últimas décadas. Por outro lado, deve-se perceber que, justamente nos
dois sítios mais afastados da Mina Grande, Quiri dAlho e Santa Rosa, situados no extremo
oposto do território indígena, nos limites ocidentais do antigo terreno de Macacos -e nele
explicitamente incluídos apenas após a identificação feita em 1984- sempre se praticou o Toré,
passando o seu conhecimento de pai para filho desde um tempo imemorial e contem-
poraneamente.
12 Toante, nome dado às músicas (ou linhas) que se cantam durante um Toré.
13 Cheguei na minha aldeia (203), toante moderado registrado em DAT pelo antropólogo
Edmundo Marcelo M. Pereira (PPGAS-MN) no terreiro da Mina Grande no dia 07/03/03.
14 Meus Caboclo Índio (356). Toante lento registrado em DAT pelo antropólogo Edmundo
Marcelo M. Pereira (PPGAS-MN) na Furna da Mina Grande no dia 08/03/03.
15 Incorporam nas pessoas durante o transe produzido pelo ritual Toré.
16 Eu lembro que essa diferença não é necessariamente real, mas é enfatizada porque é importante
como expressão dos sentimentos étnicos e coletivos dos Kapinawá.
17 Tal como se fez a primeira comunhão das crianças todas fardadas de caruá na igreja da Mina
Grande, junto ao padre (cedido pela paróquia de Buíque para a missa aos domingos à tarde) e aos
toantes. Ainda mais porque o padre forgou com o grupo no terreiro posteriormente à cerimônia
na igreja.
tore.p65 231 17/05/2000, 09:05
TORÉ
232
18 Dados colhidos para a confecção de minha monografia de conclusão de curso (Albuquerque,
2002a) em apenas uma visita entre os dias 15 e 16/07/02. Dos três cultos/ritos que observei em
Kapinawá (Albuquerque e Palitot: 2002; Albuquerque:2002a), em apenas um a jurema foi servida.
19 Em outros grupos, principalmente aqueles que apresentam um Ouricuri, o segredo sobre a
jurema é importantíssimo, e logicamente discretas são as informações sobre seu uso. Para maiores
detalhes conferir, Mota (1996; 1998), Martins (2000), Mota e Albuquerque (2002) principalmente
a introdução e Albuquerque (2002a:19-45).
20 Enteógeno é um termo cunhado por Gordon Wasson e equipe, apud Mota e Albuquerque
(2002:11), que pretende enfatizar com ele a idéia de que existem plantas usadas como inebriantes
xamânicos e que são consideradas pelos que as usam como sacramentos ou plantas-mestre.
Grünewald (2002:102) entende enteógeno como o advento de Deus no homem. Ao contrário
de alucinógeno que produziria apenas alteração de percepção ou consciência, o enteógeno
produziria comunhão e êxtases.
21 Também Ayala e Silva (2000:117), que descrevem o encontro de ritos juremistas afro -
descendentes com o samba-de-coco, encontro marcado pela relação brincadeira-religião, parecido
com a experiência expressa em Kapinawá; ecletismo cultural ao mesmo tempo religioso e musical.
22 Segundo o autor: estranhas a todo fim utilitário, fazem homens esquecerem o mundo real,
transportando-os a um outro em que sua imaginação está mais à vontade. Elas distraem. Têm
inclusive o aspecto exterior de uma recreação: os assistentes riem e se divertem abertamente.
(Durkheim, 1996:414).
23 Ainda segundo Durkheim (1996:418): Não, é claro, que não haja motivos para diferenciar
essas duas formas de atividade pública. O simples regozijo, o corrobori profano, não visa nada de
sério, ao passo que, em seu conjunto, uma cerimônia ritual sempre tem um objetivo grave. Mas é
preciso observar que talvez não haja regozijo no qual a vida séria não tenha algum eco. No fundo,
a diferença está, antes, na proporção desigual segundo a qual esses dois elementos se combinam.
24 Ô Mando-â Ô Mando-â, (452), samba-de-coco registrado em DAT pelo antropólogo
Edmundo Marcelo M. Pereira (PPGAS-MN) no terreiro da mata na Mina Grande no dia 23/
11/02.
25 Sobre o complexo da jurema, ver, por exemplo, Nascimento, 1994 e sem data; Mota e
Albuquerque, 2002 e Albuquerque, 2002a.
26 Sampaio (1994:19) dá indicação para pesquisa mais aprofunda sobre a reverberação da criação
étnica indígena Kapinawá sobre alguns valores campesinos tradicionais, principalmente sobre a
autoridade do chefe familiar agora submetida ao cacique ou mesmo ao pajé. Também aos valores
referentes à posse da terra pelo trabalho e pelo negócio, antagonizados pela coletivização das
terras quando da identificação da área pela FUNAI.
27 Para Linton: Mudanças culturais sempre envolvem não apenas a adoção de novos elementos
de cultura, mas tambem a modificação na forma ou no sentido, ou em ambos, e também
modificações na cultura preexistente. ( ) Sob condições normais as mudanças culturais envolvem
duplicação de função mas não interrupção na satisfação das necessidades do grupo. (Linton,
tore.p65 232 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
233
1963:482). Tradução minha.
28 Para o autor: mesmo tendo os Fulni-ô e os Tuxá servido como pontos de difusão de uma
cultura do Toré entre várias populações indígenas, isso não impediu que estas gerassem regimes
próprios, donde se pode perceber variações nas práticas dessa festa ritual bem como na relação
prática e simbólica que os membros de cada um desses grupos estabelece com a jurema. Cada
população indígena costuma diferenciar o seu Toré e seus trabalhos espirituais dos de outros
grupos indígenas ou de rituais não indígenas (Grünewald, 2002:103, itálico no original). O
autor confirma ainda que esse corpo de saber (o conhecimento sobre o Toré) é dinâmico e seus
ingredientes mutáveis, pois novos elementos surgem durante os rituais e são incorporados pelos
seus praticantes. (ibid, 2002:122).
29 O Vento embaleceu o mar (244). Toante registrado em DAT pelo antropólogo Edmundo
Marcelo M. Pereira (PPGAS-MN-UFRJ) na Furna da Mina Grande no dia 08/03/03.
tore.p65 233 17/05/2000, 09:05
TORÉ
234
Bibliografia
ALBUQUERQUE, M. A. S. Destreza e Sensibilidade: os Vários Sujeitos da Jurema (as Práticas
Rituais e os Diversos Usos de um Enteógeno Nordestino). Monografia de Graduação, UFCG, 2002a.
_______________, M. A. S. Fulores Brancas: O Lugar da Música na Construção da Identidade
Étnica Kapinawá. Projeto de Mestrado apresentado ao PPGS (UFPB/UFCG); 2002b.
ALBUQUERQUE, M. A. S. e PALITOT, Estevão M. Relatório de Viajem: Índios do Nordeste
(AL, PE, PB). Rodrigo de A. Grünewald (org; supervisão técnica e apresentação), LACED
(Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento) Museu Nacional/UFRJ:
Campina Grande, 2002.
AYALA, Maria I. Novais e SILVA, Marinaldo José da. Da brincadeira do coco à jurema sagrada:
os cocos de roda e de gira. IN: Cocos: alegria e devoção. Maria I. Novais Ayala e Marcos Ayala
(Orgs.). Natal: EDUFRN, 2000.
BANTON, Michael. Etnogênese. IN: A Idéia de Raça. Trad. de Antônio Marques Bessa. Edições
70. Lisboa, Portugal: 1979.
BARBOSA, Wallace de Deus. Pedra do Encanto: dilemas culturais e disputas políticas entre os Kambiwá
e os Pipipã. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria / LACED, 2003.
BARTH, Fredrik. Grupos Étnicos e suas Fronteiras. In: Poutigrat, Philippe e Streiff-Jenart. Teorias
da Etnicidade. São Paulo, Editora da UNESP, 1998.
BHABHA, Homi K. O Local da cultura. Trad. de Miriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis
e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.
CARVALHO, Maria R. G. de. Parecer sobre a Identidade Étnica Kapinawá. Salvador, ms.
1982.
DURKHEIM, Émile. As Formas Elementares da Vida Religiosa: o sistema totêmico na Austrália.
Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
GALLAGHER, Joseph T. The Emergence of an African Ethnic Group: the Case of the Ndendeuli. In:
The International journal of American Historical Studies. 7 (1). 1974.
GOLDSTEIN, Melwin C. Ethnogenesis and Resource Competition among Tibetan Refugees in South
India. In: Depres, L. Ethnicity and Resource competition in Plural Societies. Paris. Mouton.
1975.
GRÜNEWALD, Rodrigo de Azeredo. Estratégias de Mobilização Cultural Indígena no Nordeste.
tore.p65 234 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
235
Projeto de pesquisa, DSA/UFCG, 2001a, (digitado).
_____________, Rodrigo de A. Os índios do descobrimento: tradição e turismo. Rio de Janeiro:
Contra Capa Livraria, 2001b.
_____________, Rodrigo de A. A Jurema no Regime de Índio: O Caso Atikum. In: As muitas
faces da Jurema: de espécie botânica à divindade afro-indígena. Mota, C.N. da e Albuquerque,
V.P de (org.). Recife: Bagaço, 2002.
_____________, Rodrigo de Azeredo. Sujeitos da Jurema e a Ciência do Índio. In: Labate, B. e
Gular, S. (org.). Uso ritual de plantas de poder. Campinas, Mercado das Letras: 2004. (no prelo)
LINTON, R. Acculturation in Seven American Indian Tribes. Peter Smith. Gloucester (Mass).
1963.
MARTINS, Sílvia A. C. Shamanism as focus of knowledge and cure among the Kariri-Shoco. In:
Índios do nordeste: temas e problemas- II. Luís Sávio de Almeida, Marcos Galindo e Juliana L.
Elias (orgs.). Maceió: EDUFAL, 2000.
MOTA, C.N. da. Jurema-Sonse, Jurema Tupan e as muitas faces da Jurema. In: Revista
Anthropológicas. Série Anais. Antropologia: Memória, tradição e perspectivas. UFPE, V
Encontro de Antropólogos do Norte/Nordeste. Recife, 1998.
_____________ Sob as ordens da Jurema: o xamã Kariri-Xocó. In: Xamanismo no Brasil: novas
perspectivas. E. Jean Matterson Langdon (org). Ed. da UFSC: Florianópolis, 1996.
MOTA, C.N. da e Albuquerque, V.P de (org.). As muitas faces da Jurema: de espécie botânica à
divindade afro-indígena. Recife: Bagaço, 2002.
MOTTA, Diana C. G. da & MELLO, Lúcia H. S. de. Síntese das Conclusões e Sugestões
sobre o Grupo Kapinawá; FUNAI. Brasília, ms. 1982.
NASCIMENTO, M. T. de S. O Tronco da Jurema: ritual e etnicidade entre os povos indígenas do
nordeste (o caso Kiriri). Dissertação de mestrado apresentado ao M.S. da F.F.C.H. da UFBA,
1994.
_____________, M. T. de S. A jurema: das ramas até o tronco. Ensaio sobre algumas categorias de
classificação religiosa. Artigo digitado. Salvador, BA. Sem data.
OLIVEIRA, João Pacheco de. O nosso governo: os Ticuna e o regime tutelar. São Paulo: Marco
Zero/CNPq, 1988.
_________, João Pacheco de. Uma Etnologia dos Índios Misturados? Situação Colonial,
Territorialização e Fluxos Culturais. In: A Viagem de Volta. Etnicidade, Política e Reelaboração
Cultural no Nordeste Indígena. Rio de Janeiro, Contra Capa: 1999.
PIERSON, Dolores C. Relatório: Identificação Étnica do Grupo Kapinawá; FUNAI. Brasília,
ms. 1981.
SAMPAIO, José Augusto Laranjeiras. De caboclo a índio: etnicidade e organização social e política
entre povos indígenas contemporâneos no nordeste do Brasil: o caso Kapinawá. Projeto para dissertação
de mestrado em Antropologia Social. Campinas, Unicamp. 1986.
_________, José Augusto Laranjeiras. Notas sobre a formação histórica, etnicidade e constituição
territorial do povo Kapinawá. Comunicação apresentada na Reunião Anual da Associação Nacional
tore.p65 235 17/05/2000, 09:05
TORÉ
236
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), em Caxambu-MG, novembro
de 1994. (digitado)
SANTANNA, Cláudio. Relatório Grupo de Trabalho Port. 1647E/84; FUNAI. Recife, ms.
1984.
SAPIR, Edward. Cultura Autêntica e Espúria. IN: PIERSON, Donald. Estudos de
Organização Social: Leituras de Sociologia e Antropologia Social; Tomo II. Livraria Martins
Editora, São Paulo, (1940), 1970.
SIDER, Gerald M. Lumbre Indiam Cultural Nationalism or Ethnogenesis. In: Dialetical
Anthropology, 1. 1976.
TINHORÃO, José Ramos. História Social da Música Popular Brasileira. São Paulo: Ed. 34,
1998.
WEBER, Max. Relações Comunitárias Étnicas. In: Economia e Sociedade: fundamentos da
sociologia compreensiva. Trad. de Régis Barbosa e Karem Elsabe Barbosa; rev. téc. de Gabriel
Conh, 4ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. Vol.1
tore.p65 236 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
237
TORÉS PANKARARU ONTEM E HOJE
Maria Acselrad
Gustavo Vilar
1
Carlos Sandroni
Introdução
Este artigo se propõe a fazer uma breve descrição dos torés Pankararu baseado em
dois tipos de fonte: em primeiro lugar, a fonte etno-histórica que são os registros reunidos
em 1938 pela Missão de Pesquisas Folclóricas do Departamento de Cultura de São
Paulo; em segundo lugar, as observações etnográficas feitas por integrantes do Núcleo
de Etnomusicologia da Universidade Federal de Pernambuco em 2003, no curso da
pesquisa Registros sonoros de música tradicional de Pernambuco e da Paraíba.
Os Pankararu vivem numa região do planalto da Borborema, Sertão do Rio São
Francisco, entre os municípios de Tacaratu, Petrolândia e Jatobá (PE). Dos 14.294 ha a
que tem direito, estão demarcados apenas 8.100 ha. Conflitos com posseiros fazem da
região palco de sérias disputas políticas. Algumas indenizações já foram feitas, mas a maioria
ainda não por questões financeiras, segundo alegações da Fundação Nacional do Índio.
Do ponto de vista jurídico, o território Pankararu foi organizado com base numa legislação
imperial instituída pela Igreja, no século XIX, quando de aldeamento passou a território
indígena. O recorte geográfico institucionalizado se deu a partir de um centro o cemitério
criado pela Missão Oratoriana responsável pela catequese na região de onde foram
estendidas quatro linhas imaginárias em direção aos pontos cardeais. Ao completarem uma
légua cada uma, essas linhas foram cortadas perpendicularmente por outras quatro linhas
no intuito de formar então um quadrado perfeito dando origem, assim, à terra indígena
Pankararu que hoje conhecemos (Arruti, 1996).
Torés Pankararu em 1938
Torés dos índios Pankararu foram registrados em 1938, pela equipe da famosa Missão
de Pesquisas Folclóricas enviada ao Norte e ao Nordeste do país por Mário de Andrade.
O autor de Macunaíma era então diretor do recém fundado Departamento de Cultura da
cidade de São Paulo, e nesta qualidade, tendo em vista a importância que sempre atribuiu
às manifestações da cultura popular, organizou a referida Missão, dotando-a de meios
2
técnicos para gravação, fotografia e filmagem in loco . A liderança da viagem coube ao
arquiteto Luís Saia, que iniciou-se nos estudos de etnografia através de um curso
tore.p65 237 17/05/2000, 09:05
TORÉ
238
ministrado em 1936 no próprio Departamento de Cultura por Dina Lévi-Strauss, então
3
esposa do jovem Claude o casal, como se sabe, residiu no Brasil entre 1936 e 1938 .
No documento Pesquisas outras, texto datilografado que se encontra no Acervo da
Missão, no Centro Cultural São Paulo, Mário de Andrade detalhou para Luís Saia itens
que considerava especialmente importantes a serem investigados. Entre sambas, congados
e bois-bumbá, pode-se ler sob o número XIX: Em Pernambuco ir registrar o Toré dos
índios. As comunicações são relativamente fáceis (Andrade, s/d:2)
A Missão chegou ao Recife em fevereiro de 1938. Em março, partiu em viagem para
o interior do estado, tendo como principal cicerone o jornalista e historiador Mário Melo.
O percurso foi feito de trem até a cidade de Arcoverde, que na época se chamava Barão
do Rio Branco. De lá até Tacaratu a viagem foi feita de caminhão. A chegada na cidade
aconteceu na madrugada do dia 9 de março. Problemas de transporte impossibilitaram
4
que a equipe se deslocasse até o Brejo dos Padres no dia 10; o que foi feito nos dias 11
e 13 de março. A Missão deixou Tacaratu no dia 14, levando gravações sonoras, filmes,
fotografias, anotações e objetos (como máscaras de dança e instrumentos musicais)
5
referentes à cultura Pankararu .
Um fato marcante da visita da Missão aos Pankararu, é que ela se deu exatamente no
6
período da festa do umbu . O umbu é uma fruta típica do sertão, que tem sua safra
iniciada em janeiro. A festa do umbu (chamada também de as corridas do umbu), a
principal do calendário ritual Pankararu, acontece em quatro fins-de-semana a contar do
sábado de carnaval.
Nestas festividades, fica bastante clara a diferença entre dois momentos do ritual, que
do ponto de vista musical se distinguem pelas canções apropriadas: os toantes e os
7
torés . Os toantes são cantados por um cantador ou cantadeira solista,
8
acompanhados de maracá , e empregando vocalizações sem sentido aparente, como que
numa emulação nostálgica da língua ameríndia falada pelos antepassados. Ao som dos
toantes dançam os praiás, máscaras rituais que cobrem todo o corpo dos seus portadores,
e que são consideradas representações físicas dos encantados, as divindades cultuadas
pelos Pankararu. Já os torés se caracterizam por serem cantados e dançados por toda a
comunidade (incluindo eventualmente os praiás). Possuem letras em português e podem
ser realizados em muitas e diferentes situações e com os mais variados objetivos: dentro
da aldeia ou em cidades, em festas públicas ou particulares, como instrumento político
ou para finalizar um ritual.
Embora o termo toante quase não apareça nos registros da Missão, a distinção
entre o momento em que estes são cantados, com a correspondente dança dos praiás, e o
momento dos torés, ficou bastante explícita para os pesquisadores paulistas. E apesar da
recomendação de Mário de Andrade, citada acima, só mencionar os torés, é bastante
claro que a Missão deu mais importância à dança dos praiás do que aos torés. Só aquela
foi filmada e fotografada; no que se refere às gravações sonoras, os praiás ficaram com
tore.p65 238 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
239
cerca de trinta minutos, enquanto os torés, com menos de cinco (Carlini e Leite, 1993:68-
9,79). Esta diferença de tratamento provavelmente se deve ao caráter menos exótico
dos torés aos olhos dos paulistas. A julgar pelas cartas à família e diário de campo de
Martin Braunwieser os documentos textuais mais articulados deixados pelos integrantes
9
da Missão a decepção ao encontrar os Pankararu foi proporcional à expectativa gerada
pela idéia de encontrar índios autênticos:
(10 de março, quinta-feira) Saímos de Recife na terça-feira às 6h da manhã com o
trem para encontrar os índios (...) Amanhã será um dia muito importante: encontraremos
os índios, ou caboclinhos, como são aqui chamados pelo povo. (11 de março) Fiquei
decepcionado com os caboclinhos. Quando se espera encontrar certa característica racial,
como esperei, só se pode ficar decepcionado. Os caboclinhos, completamente mesclados
com sangue estranho (...) não se distinguem das pessoas do povoado lá fora. (12 de
março) Fiquei desapontado, pois tinha imaginado algo bem diferente (...) O que na
minha opinião ainda tem alguma autenticidade é a dança denominada praiá. (Citado
por Carlini, 2000:274-8).
A dança dos praiás, com suas impressionantes máscaras de caroá e seus cantos
ininteligíveis para os paulistas, correspondeu melhor às expectativas da Missão do que
os torés, cantados e dançados por todos, com as vestimentas do dia-a-dia e com palavras
em português. Apesar da decepção, também é no diário de Martin Braunwieser que
vamos encontrar algumas observações de interesse sobre os torés Pankararu:
No praiá dançam apenas os homens. Às vezes, uma mulher prendia o braço no final da
corrente humana e dançava junto. No toré, por outro lado, dançam apenas pares: sempre
homens e mulheres com os braços dados, dançando em roda ou formando diversas disposições.
Todos cantam juntos uma melodia simples bastante repetitiva. Os homens cantam a mesma
melodia uma oitava abaixo. O canto é acompanhado por dois búzios: varas de madeira
ocas, com cerca de um metro de comprimento e 10-12 cm. de diâmetro. Por dentro de uma
das extremidades há um bastão de madeira mais curto do que o búzio, de maneira que por
fora nada se vê. Desse instrumento é possível obter dois sons: soprando forte, um som mais
alto e agudo; com menos força, um som mais baixo e mais grave em uma terça. É preciso ter
muito fôlego para tocá-los, e por isso os músicos revezam-se constantemente entre si [ver na
Figura 1 a transcrição musical das células rítmicas dos búzios, tal como Braunwieser as
entendeu]. Primeiro, os búzios começam a tocar, depois inicia-se o canto; o final novamente
é invertido [isto é, o canto encerra-se primeiro, só depois os búzios]. Não são utilizados
aqui os maracás. A vestimenta dos dançarinos é a roupa comum do dia a dia. As palavras,
parte indígenas, parte portuguesas. O praiá causou-me impressão mais profunda do que o
toré. (Citado por Carlini, 2000:281-2).
tore.p65 239 17/05/2000, 09:05
TORÉ
240
Fig. 1:O toque dos búzios nos torés Pankararu de 1938, segundo Braunwieser (citado
por Carlini, 2000:282).
A presença destes búzios nos torés Pankararu de 1938 chamou-nos a atenção. A
Missão registrou em foto dois tocadores com seus búzios e o instrumento pode ser
escutado rapidamente em uma das gravações.
Os fulni-ô usam atualmente búzios de nome, formato e sonoridade semelhante aos
búzios Pankararu. Podemos supor que se trata de instrumento aparentado ou idêntico.
Devemos notar que a sonoridade do instrumento, o fato de que seja tocado em par, e
a descrição feita por Braunwieser (por dentro de uma das extremidades há um bastão
10
de madeira mais curto do que o búzio, de maneira que por fora nada se vê ) permitem
aproximar os búzios Pankararu de um dos tipos de clarinete descritos por Izikowitz em
sua obra sobre instrumentos musicais ameríndios (1970[1934]: 257 e ss.), tipo sobre o
qual trabalharam mais recentemente, entre outros, Beaudet (1997) e Estival (1993). É
notável que, apoiando-se em observações de Nimuendajú sobre os Palikur, Izikowitz
tenha escolhido, para designar o referido tipo, exatamente o nome toré. Beaudet reitera
a designação ao lado das variantes tule e turè (1997:64), e menciona os Fulni-ô
como um dos grupos de ocorrência do instrumento (1997:62). As observações reportadas
pelos autores citados mostram que o nome toré designa ao mesmo tempo o instrumento,
o repertório e dança correspondente. No caso Pankararu, caso se admita a hipótese de
que a designação toré tenha tido origem no nome do clarinete, esta designação guardaria
hoje apenas sua referência ao repertório e à dança. Na época dos registros da Missão, o
instrumento ainda estava associado a estes, mas já teria tido seu nome trocado por outro
de origem latina (búzio). Em nossas pesquisas não encontramos búzios entre os
Pankararu: os únicos búzios Pankararu de que temos conhecimento hoje estão no acervo
da Missão, no Centro Cultural São Paulo.
Torés Pankararu hoje
Sessenta e cinco anos depois da passagem da Missão pela região, exatamente na mesma
época, durante as corridas do umbu, estivemos realizando registros sonoros e fotográficos
entre os Pankararu. Alguns dos gêneros gravados pela Missão foram identificados, como
por exemplo, os torés. Nas corridas do umbu, ritual ligado à fertilidade da terra Pankararu,
tore.p65 240 17/05/2000, 09:05
Regime Encantado do Índio do Nordeste
241
o toré acontece, como será explicado a seguir, ao amanhecer dos domingos, após a chamada
noite dos passos [provavelmente a palavra passos é corruptela de pássaros, como
é comum na pronúncia da região], e ao entardecer, durante e após a queima da
cansanção. Durante a noite dos passos, que acontece nos quatro sábados que compõem
as corridas do umbu, cada praiá dança uma noite inteira com uma ou duas mulheres,
numa seqüência coreográfica e gestual em que são representados movimentos de animais:
a abelha, o boi, o cachorro, o urubu, o peixe, entre outros. Existe uma particular restrição
ao registro e à propagação de informações sobre o que acontece nestas noites, ao fim das
quais sempre se dança o toré. Quanto à queima da cansanção, trata-se de um dos pontos
altos das corridas do umbu. A cansanção é um tipo de urtiga branca utilizada pela
Pankararus para flagelação ritual. Nos três primeiros finais de semana das corridas, sempre
aos domingos, como forma de pagamento de promessa, os penitentes, dançando em
pares e portando grandes galhos de cansanção, se queimam mutuamente ao som de toantes
e torés.
No menino do rancho, ritual de iniciação dos meninos ao universo da força encantada
Pankararu, o toré marca o fim de diversas etapas, sendo realizado na casa do menino, da
noiva do menino, das madrinhas e depois no terreiro principal. O toré acontece após uma
luta ritual entre padrinhos e praiás, cujo desenlace determina o caráter do futuro envolvimento
do menino com os encantados. O toré também pode acontecer finalizando as três rodas,
ritual de dimensão mais particular, realizado também com fins de pagamento de promessa,
levantamento de praiá (isto é, consagração de novo praiá) ou inauguração de um novo
terreiro. Tanto o menino do rancho, como as três rodas, podem acontecer ao longo do ano
inteiro, sem data precisa, o que não é o caso da festa do umbu.
Dois tipos de dança dos praiás costumam preceder o toré em todos estes rituais: as
rodas e as pareias. No caso das rodas, os praiás descrevem trajetórias onde passos
curtos e ligeiros dão forma a uma fila indiana, liderada pelo cabeceiro o primeiro
praiá da fila - que realiza círculos, atravessa o centro do terreiro e descreve o sinal do
infinito no interior deste. Geralmente, o último praiá da fila o chamado traseiro ,
após os primeiros círculos descritos, se desprende do grupo e começa a girar no sentido
oposto ao da fila indiana. Nas pareias, esses mesmos passos são organizados sob a forma
de dança de pares, na qual os dançarinos se afastam e se aproximam do cantador ou
cantadeira, geralmente localizado à sombra de uma grande árvore. Nas rodas dançam
apenas os praiás, mas nas pareias uma mulher às vezes se junta a cada ponta do grupo,
fazendo par com o último praiá (como na descrição de Braunwieser citada na p.9, acima:
às vezes, uma mulher prendia o braço no final da corrente humana e dançava junto).
Coincidindo com o início de um novo toante, estes pares realizam giros distintos.
Enquanto as pareias do lado direito do cantador giram em torno do próprio eixo, a do
lado esquerdo mais próxima do cantador gira em torno das pareias vizinhas que, por sua
vez, giram da mesma forma que as do lado direito (Carneiro da Cunha, 1999).
tore.p65 241 17/05/2000, 09:05
TORÉ
242
Formando uma circunferência preenchida por pares de crianças, homens com
mulheres, ou mulheres acompanhadas de praiás, sempre de braços dados e girando no
sentido anti-horário, o toré Pankararu compreende vários círculos concêntricos dentro
dele. No seu núcleo, encontram-se um cantador e uma cantadeira que praticamente não
se deslocam espacialmente, sendo os responsáveis pelo andamento do canto e da dança,
com voz, maracá e batida forte de pé no chão. Em torno deste núcleo, encontra-se um
coro reduzido que, formado por outros cantadores importantes da aldeia, dá contribuição
vigorosa ao coro geral constituído por todos os participantes da dança. A dança deste
grupo costuma se resumir a pequenos avanços e recuos em direção ao cantador e à
cantadeira. No círculo mais externo é onde se encontra dançando a maior parte das
pessoas, e também onde estão os praiás, pares de dança mais disputados pelas meninas e
moças da aldeia - quando se aproxima o início do toré, acontece uma verdadeira correria
em direção a eles. A dança deste grupo se diferencia, por ser aquela que descreve mais
enfaticamente o sentido anti-horário, pelo seu deslocamento ser de frente, de costas e
girando e também por ser realizada sempre de maneira muito alegre. Note-se que estes
três círculos concêntricos não têm fronteiras rígidas, sendo possível o deslocamento dos
dançarinos entre eles.
No que diz respeito às características de composição, melodia e ritmo, os cantadores
e cantadeiras do Brejo dos Padres estabelecem uma nítida diferença entre toante e toré.
Segundo Carneiro da Cunha,
tore.p65 242 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
243
Os torés possuem geralmente uma estrutura composta de três partes, ou seja, A, B e C.
Nas duas primeiras são cantadas as estrofes. Na terceira parte se encontra o trecho que
é por várias vezes repetido antes de voltar ao início. Em alguns casos o cantador e os
participantes cantam na forma de chamado e resposta. As composições dos torés obedecem
à mesma lógica dos toantes. Cada encantado se encarrega, através dos sonhos, de ensinar
tanto seus toantes quanto seus torés. (Carneiro da Cunha, 1999:126)
Ritmicamente, existem variações nos dois gêneros, mas seria possível perceber que os
torés tendem a ser cantados de forma mais acelerada e num volume mais alto do que os
toantes. Entretanto, as informações reunidas durante a realização do trabalho de campo
nos mostraram que cantadores, mesmo estabelecendo diferenciações entre toantes e torés,
utilizam a denominação toante de toré quando se referem ao gênero musical toré. Foi
possível, ainda, identificar toantes sendo cantados nos deslocamentos coletivos de um
terreiro para outro (durante as corridas do umbu) e não apenas na configuração das
rodas e pareias, o que indicaria uma maior abrangência deste gênero ou uma complexidade
maior na sua relação com o toré.
Também é possível encontrar torés sendo realizados na celebração de rituais católicos,
como ocorre na festa em devoção a Nossa Senhora da Saúde, em Tacaratu. Como vimos,
parte da área indígena Pankararu está situada neste município, assim como nos de
Petrolândia e Jatobá. Todavia, os laços históricos e culturais indicam uma relação mais
próxima dos Pankararu com a cidade de Tacaratu. Há um consenso entre índios e não-
índios de que todo o território que pertence hoje ao município de Tacaratu teria pertencido
aos Pankararu. Esta cidade abriga o santuário de Nossa Senhora da Saúde, um importante
centro de devoção que possui uma área de influência abrangendo parte dos estados
vizinhos da Bahia e de Alagoas. No mês de janeiro, ocorre o principal momento de
devoção à santa, com os nove dias de rezas, encerrados por uma grande festa na praça
central da cidade. O primeiro dia da comemoração é 23 de janeiro, quando é realizado o
hasteamento da bandeira. Já o segundo dia, 24 de janeiro, conhecido como a noite dos
caboclos, é marcado pela presença dos Pankararu que rezam a novena junto com os
praiás e dançam o toré na nave da igreja, em frente ao altar, e depois, na frente da igreja.
Segundo os habitantes de Tacaratu, o fato de a primeira noite após o hasteamento da
bandeira pertencer aos índios, representa o reconhecimento da comunidade e que
tenham sido eles os primeiros habitantes do lugar.
Outro tipo de toré encontrado por nossa pesquisa se dá, como o da noite dos caboclos,
dentro do espaço urbano, mas diferentemente daquele, dentro de residências particulares.
Este outro toré envolve o chamado sincretismo religioso com a umbanda e com o culto
aos orixás, e nele a dimensão da cura é bastante enfatizada. Uma de suas representantes
é Maria Felipe, nascida de índios Pankararu em Missão Velha (CE), e chegada em
Tacaratu com aproximadamente 20 anos de idade. Na noite dos caboclos de 2004, onde
tore.p65 243 17/05/2000, 09:06
TORÉ
244
estivemos presentes, foi em sua casa que se reuniram os Pankararu para jantar após as
festividades. Maria Felipe se considera uma pessoa de Deus e, por isso, faz reza com
canto e maracá, com a força dos caboclos e da umbanda, puxando mais pela força dos
caboclos. Aprendeu quase tudo sozinha e por necessidade, mas uma parte de seus
conhecimentos é fruto do contato com o culto aos orixás realizado em Paulo Afonso
(BA), que fica a cerca de 50 km de Tacaratu. Ela chama seu trabalho de toré ou
brincadeira de caboclo.
Os torés de Maria Felipe ocorrem aos sábados à noite e estão sempre relacionados
aos trabalhos de cura. Além dos familiares da pessoa que está sendo curada, existe um
grupo de simpatizantes que freqüenta sistematicamente os trabalhos. A música está sempre
presente enquanto a dança surge em momentos pontuais. Benditos católicos são cantados
inicialmente, para abrir os trabalhos, em seguida são substituídos por torés e pelo
movimento circular em fila indiana no sentido anti-horário, com uma forte marcação
nos pés. O canto é coletivo e acompanhado apenas por maracás. Qualquer pessoa que
esteja presente pode tocar o maracá (em número de dez ou quinze), enquanto o canto é
conduzido por uma pessoa já iniciada. Durante o toré, que dura por volta de seis horas,
é oferecido aos presentes como parte do ritual fumo e bebida. No desenvolvimento do
trabalho existem pequenas pausas, em número variável dependendo da duração total,
quando são servidos aos presentes refrigerante, café, aguardente e vinho de jurubeba,
sem que haja rigor quanto à oferta de todas estas bebidas. No toré de Maria Felipe o
fumo de rolo traçado é consumido intensamente pelos presentes e pelos condutores do
tore.p65 244 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
245
trabalho ao longo da noite. Misturado com alecrim, o fumo é disponibilizado em um
pote de cerâmica colocado no altar junto às imagens dos santos e dos praiás. O cigarro
industrializado também é muito consumido, principalmente no momento em que Zé
Pelintra uma das principais entidades cultuadas na casa surge na roda.
Outro representante deste tipo de toré realizado em Tacaratu é José Marcolino. Índio
Pankararu e líder da banda de pífanos da cidade, ele teve no início de sua formação o toré
de Maria Felipe como uma de suas principais referências, mas atualmente realiza seus
trabalhos em locais distintos e com características próprias. O toré de José Marcolino
obedece a uma estrutura semelhante ao de Maria Felipe, mas não constatamos presença
de elementos da umbanda e do culto aos orixás. Rezas e benditos católicos são utilizados
no início do trabalho e logo em seguida dão lugar aos torés. O fumo de rolo traçado
também é muito consumido nesta casa, mas não é distribuído aos presentes. Cada um
possui a quantidade necessária para o próprio consumo. As bebidas seguem o mesmo
princípio do toré de Maria Felipe, quando durante as pausas, são distribuídas para todos
os presentes. Entre as bebidas consumidas, o vinho de jurubeba é uma dos mais apreciadas.
Um ponto em comum entre o toré de José Marcolino e Maria Felipe diz respeito à
dança. Em ambos os casos, depois que o cantador ou os chamados médiuns puxam o
toré diante da mesa espécie de altar onde se encontram flores, fitas, velas, imagens de
santos e miniaturas de praiás é formada uma fila indiana, liderada por aquele que
estiver puxando o toré. Esta fila percorre algumas vezes o salão, formando um círculo,
dentro do qual dançam aqueles que estiverem manifestados. Cada entidade possui
uma dança e um conjunto de gestos característicos, a chamada pintura, categoria nativa
que se aproxima daquilo que entendemos por imagem, que apresenta variações de
acordo com a pessoa que estiver manifestada. Está sob o comando do puxador do toré
estabelecer o fim desta etapa, quando as entidades se recolhem, o puxador do toré volta
para a frente da mesa e os outros participantes se posicionam atrás do puxador. Neste
tipo de toré, portanto, a dança em pares é incomum, mas não impossível. Houve uma
vez em que um par de mulheres começou a dançar de braços dados, e não apenas
acompanhava a fila como girava e, às vezes, ultrapassava os que estavam a sua frente, se
estabelecendo em outro lugar da fila, o que nos remeteu ao outro tipo de toré mencionado,
que acontece na aldeia.
Fora da área urbana de Tacaratu também foi possível perceber indícios da existência
de torés de caráter terapêutico-religioso aparentados aos de Maria Felipe e José Marcolino.
No Brejo dos Padres, durante a realização de um ritual particular da família Binga (família
dos caciques Pankararu), em homenagem aos seus parentes mortos, foi observado a
presença do toré em um momento aparentemente inesperado. A festa reúne, todos os
anos, penitentes Pankararu, penitentes de Alagoas, um grupo de São Gonçalo de Alagoas
e os praiás que dançam ao som dos toantes executados por um cantador da região.
O ritual tem início pela manhã, no terreiro da família. No final da manhã, todos
tore.p65 245 17/05/2000, 09:06
TORÉ
246
seguem em cortejo até o cemitério da aldeia do Brejo dos Padres, passando pela igreja de
Santo Antônio e retornando ao terreiro da família Binga. Após o almoço, oferecido a
todos os presentes, uma senhora penitente de Alagoas, rezava uma pessoa (isto é,
realizava uma performance terapêutico-religiosa empregando orações, gestos e cantos),
em uma sala anexa à casa da família. Inicialmente, seu canto era quase imperceptível e o
movimento de sua mão simulava o toque de um maracá. Algumas pessoas começaram a
se aproximar para acompanhar a reza e a rezadeira começou a cantar mais alto: então foi
possível perceber que ela cantava um toré com letra evocando caboclos para ajudar naquela
cura. O número de pessoas era cada vez maior e a sala já estava cheia quando a rezadeira
começou a bater o pé, convidando todos ao toré. A resposta foi imediata: formou-se uma
grande roda onde todos cantavam e batiam forte com o pé no chão.
À guisa de conclusão
Com este artigo pretendeu-se, antes de mais nada, trazer para o debate informações
sobre um acervo etno-histórico de grande importância e ainda relativamente pouco
empregado por antropólogos, que é o da Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938. No
que se refere aos índios do Nordeste e aos torés, note-se que o referido acervo contém
ainda documentos relativos aos índios da Baía da Traição (PB), que aqui não foram
apresentados e que merecem exame por parte dos pesquisadores da área.
Pesquisas atuais sobre manifestações registradas pela Missão podem ser
compensadoras sob dois aspectos. Em primeiro lugar, trazendo dados para complementar
e corrigir o acervo sob a guarda do Centro Cultural São Paulo. As condições da época
obrigaram os pesquisadores enviados por Mário de Andrade, que moravam a milhares
de quilômetros de distância e dispunham de verbas limitadas, a adotar uma estratégia de
pesquisa extensiva, ficando pouquíssimo tempo em cada localidade. Pesquisadores
atuais, residentes nas próprias regiões, podem ter acesso a dados mais ricos e nuançados,
capazes de iluminar sob novos aspectos os fragmentos colhidos pela Missão.
Em segundo lugar, o acervo da Missão pode ajudar a dar profundidade histórica a
pesquisas atuais. Trata-se, até onde sabemos, do primeiro registro áudio-visual de índios
do Nordeste, e de maneira geral da cultura popular da região. Sua consulta pelos
pesquisadores é importante não apenas do ponto de vista científico, mas também na
medida em que estes podem contribuir para a re-apropriação de informações pelas
populações pesquisadas. Esta re-apropriação diz respeito tanto às políticas de identidades
das referidas populações, como às dimensões pessoais e emocionais implicadas no caso
de filhos e parentes dos informantes de 1938; estas últimas, aliás, podem trazer benefícios
inesperados para a pesquisa, como se procurou mostrar em outro lugar com um exemplo
também de Tacaratu (Sandroni, 2001).
No que se refere aos torés hoje, esperamos ter contribuído para melhor estimar sua
vitalidade, polissemia e plasticidade entre os Pankararu. Em especial, a existência de
tore.p65 246 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
247
torés urbanos como os de Maria Felipe e José Marcolino não tinha ainda sido mencionada
na literatura sobre os Pankararu (vide os trabalhos mencionados de Carneiro da Cunha
e Arruti, bem como os de Pinto 1953 e 1958, Ribeiro 1992 e Sampaio-Silva 1978).
Mesmo em Tacaratu, até onde conseguimos saber, estes torés não são conhecidos entre
11
os não-índios . O toré inesperado, mencionado acima, pode ser indício de uma ampla
ocorrência deste tipo de toré, ligado à cura e ao sagrado, na área de influência Pankararu,
inclusive possivelmente nos municípios vizinhos, em Pernambuco, Bahia e Alagoas, e
não apenas nas áreas urbanas.
Falar de toré é falar de dança e música, festa e poesia, cura, santos católicos e encantados.
É sem dúvida, também, falar de afirmação política e étnica. A este aspecto do toré,
ressaltado pela literatura recente sobre os índios do Nordeste de maneira talvez unilateral
(Arcanjo, 2003; Arruti, 1996, 1999; Oliveira Júnior, 1997), o presente artigo quis
acrescentar, para o caso Pankararu, uma ênfase nas dimensões lúdica, sagrada e musical-
coreográfica.
tore.p65 247 17/05/2000, 09:06
TORÉ
248
1 Do Núcleo de Etnomusicologia da UFPE
2 Para maiores informações sobre a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938, vide Toni 1985 e
Carlini 1994.
3 Para detalhes sobre a colaboração entre o casal Lévi-Strauss e o Departamento de Cultura,
Sandroni, 2002.
4 Atualmente, uma das treze aldeias da área indígena Pankararu.
5 Para informações sobre o Acervo da Missão, Alvarenga, 1946 e 1950; Azevedo, 2000; Carlini
e Leite, 1993.
6 Embora isto não esteja documentado no Acervo, é possível que o período tenha sido sugerido
por Mário Melo, então secretário do Instituto Arqueológico de Pernambuco, e já detentor de
certo conhecimento sobre a cultura indígena do sertão.
7 As palavras empregadas só pelos Pankararu, ou empregadas por eles em sentido especial,
estarão sempre entre aspas em sua primeira aparição no texto, mas não nas seguintes.
8 Em alguns casos são empregados também a gaita (flauta transversal de bambu com seis orifícios)
e cabo-de-tatu (tipo de apito).
9 Os demais integrantes não fizeram diários pessoais: fizeram anotações nas cadernetas de campo
e em folhas soltas. Estas anotações são em maior quantidade e em todo caso preciosas, mas são
também muito mais desorganizadas e obscuras do que o texto de Braunwieser.
10 Este bastão de madeira seria o portador da palheta idioglotal, situada dentro da câmara de
ar constituída pela parte superior da búzio. Este tipo de estrutura organológica é característica
dos clarinetes ameríndios mencionados a seguir, e está perfeitamente ilustrada em Estival
(1993:167) e Beaudet (1997:69).
11 A propósito, cabe registrar que um amigo nosso, natural de e parcialmente residente em
Tacaratu, não-índio, amigo e parceiro musical de José Marcolino, mostrou surpresa quando, em
nossa companhia, descobriu que aquele desenvolvia práticas de cunho religioso em área reservada
de sua casa, casa da qual de resto a pessoa em questão era freqüentadora.
tore.p65 248 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
249
Bibliografia citada
Andrade, Mário de
S/d Pesquisas outras, documento datilografado constante da documentação original da Missão
de Pesquisas Folclóricas sob o código 0196/INS23, São Paulo: Acervo Histórico da Discoteca
Oneyda Alvarenga, Centro Cultural São Paulo.
Alvarenga, Oneyda (org.)
1946 Melodias registradas por meios não-mecânicos, São Paulo: Departamento de Cultura.
1950 Catálogo ilustrado do Museu Folclórico, São Paulo: Departamento de Cultura.
Arruti, José Maurício Paiva Andion
1996 O Reencantamento do Mundo trama histórica e arranjos territoriais Pankararu, diss. de mestrado
em Antropologia, Rio de Janeiro: Museu Nacional/UFRJ.
1999 A árvore Pankararu in: A viagem de volta, João Pacheco de Oliveira(org.), Rio de Janeiro:
Ed. ?,; (Rodrigo, desculpe não tenho à mão o livro agora pra dar a referência completa)
Azevedo, José Eduardo (org.)
2000 Acervo de pesquisas folclóricas de Mário de Andrade 1935 1938, São Paulo: Centro Cultural
São Paulo.
Arcanjo, Jozelito Alves
2003 Toré e identidade étnica: os Pipipã de Kambixuru (índios da Serra Negra), diss. de mestrado em
Antropologia, Recife: UFPE.
Beaudet, Jean-Michel
1997 Souffles dAmazonie, Paris: Société dEthnologie.
Carlini, Álvaro
1994 Cante lá que gravam cá: Mário de Andrade e a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938, diss. de
mestrado em História, São Paulo: USP.
2000 A viagem na viagem: Maestro Martin Braunswieser na Missão de Pesquisas Folclóricas do
Departamento de Cultura de São Paulo (1938), tese de doutorado em História, São Paulo: USP.
Carlini, Álvaro e Leite, Egle Alonso
1993 Catálogo histórico-fonográfico da Discoteca Oneyda Alvarenga, São Paulo: Centro Cultural São
Paulo.
tore.p65 249 17/05/2000, 09:06
TORÉ
250
Carneiro da Cunha, Maximiliano
1999 A música encantada Pankararu toantes e torés, ritos e festas na cultura dos Índios Pankararu,
diss. de mestrado em Antropologia, Recife: UFPE.
Estival , Jean-Pierre
1993 Quelques aspects des polyphonies instrumentals tule des Asurini du Moyen Xingu, Cahiers
des Musiques Traditionnelles, 6, p.163-179.
Isikowitz, Karl Gustav
1970 [1934] Musical and other sound instruments of the south american indians, Yorkshire: S.R.
Publishers [Goteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag]
Oliveira Júnior, Gérson A.
1997 Torém: a brincadeira dos índios velhos. Reelaboração cultural e afirmação étnica entre os Tremembé
de Almofala. Fortaleza: UFC.
Pinto, Estevão.
1953 Máscaras de dansa dos pancararu, Recife: Faculdade de Filosofia do Recife
1958 Dados históricos e etnológicos sobre os pancararu de Tacaratu, remanescentes indígenas
dos sertões de Pernambuco, Muxarabis & Balcões e outros ensaios, São Paulo: Editora Nacional,
p.33-58.
Ribeiro, Rosemary M.
1992 O mundo encantado dos pankararu, diss. de mestrado em Antropologia, Recife: UFPE.
Sampaio-Silva, Orlando
1978 A última dimensão indígena dos Pankararu de Itaparica, Pernambuco, Anais do Museu de
Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, X (11), Florianópolis: UFSC, pp.101-23.
Sandroni, Carlos
2001 Feeding back to the community as a scientific imperative, comunicação apresentada ao
36º Congresso do ICTM, Rio de Janeiro.
2002 Mário, Oneyda, Dina e Claude, Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 30,
p.233-245.
Toni, Flávia Camargo
1985 A Missão de Pesquisas Folclóricas do Departamento de Cultura, São Paulo: Centro Cultural São
Paulo.
tore.p65 250 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
251
BENDITOS, TOANTES E SAMBA ´
DE COCO
notas para uma antropologia da música
1
entre as Kapinawá de Mina Grande
Edmundo Pereira
Essas cerimônias duraram cerca de duas horas e durante esse tempo os quinhentos ou
seiscentos selvagens não cessaram de dançar e cantar de um modo tão harmonioso que
ninguém diria não conhecerem música
Jean de Lery, 1576
Em sua etimologia mais aceita, a palavra toré (ou torê) já nos remete ao fenômeno
musical, vindo do tupi torë, que literalmente seria traduzível por torto, designação dada
a um instrumento de sopro ou buzina que teria essa forma, feito de alguma variedade de
bambu, couro de jacaré ou barro. Em uma segunda acepção, o termo designaria a dança
circular afro-ameríndia em que este seria tocado (Houaiss, 2001; Ferreira, s/d; Cunha,
1982).
A primeira referência ao instrumento é encontrada por Camêu (1977:32) no relato
do jesuíta João Daniel de sua passagem pelo rio Amazonas em 1767:
Outras das suas gaitas mais affamadas são de taboca, certo genero de cannas tão grandes
e grossas que dellas se fazem optimas escadas de 50, 60 e mais palmos de comprimento,
como em seu logar direi. (...) Chamão-nas Toré e os flauteiros para poderem animar tais
almanjarras são grandes beberrões; mas ordinariamente só as tocão nas suas beberronias.
Spix e Martius (Id.ib.:35) de sua passagem pelo rio Negro em 1818, entre os Carauú,
referem-se ao boré, grande trombeta de caniço, de som rouco. Entre os Mura, apontam
(Id.ib.:36) que a aproximação do inimigo é assinalada pelo turé, instrumento de sons
roufenhos. Este apresentaria em uma de suas extremidades um pequeno orifício no
qual um pedaço de bambu funcionaria como uma lingüeta. Referência similar é ainda
encontrada por Camêu (Id.ib.: 274) no trabalho de Nimuendaju, entre os Timbira em
1926, sobre os torés ou turés, neste caso um conjunto de 5 instrumentos de sopro a que o
antropólogo classificou como clarinetas, descritas como bambu provido de lingüeta
batente, mas somente dando um som. Em sua introdução ao estudo da música indígena
tore.p65 251 17/05/2000, 09:06
TORÉ
252
brasileira, obra de referência, a antropóloga classifica então a toré dentro dos instrumentos
3
de sopro feitos de bambu com palheta ou lingüeta (Id.Ib.:244). Em todos os casos
citados, o uso do instrumento estaria estreitamente relacionado com o acompanhamento
de dança circular coletiva.
Não encontramos em Camêu (Id.Ib.:17) dados musicológicos para fora do contexto
amazônico, antes isto parece estar fora do foco da antropóloga, uma vez que nas demais
regiões do Brasil, salienta, daquelas tribos encontradas pelos primeiros colonizadores,
pelos primeiros missionários nada mais poderá restar naturalmente, ficaram, além de
documentação escrita, uns poucos canto grafados. De fato, esta é uma marca dos
primeiros trabalhos de documentação e comparação de dados musicológicos indígenas
no Brasil, como em Corrêa de Azevedo (1933), em seu estudo dos índios brasileiros,
no qual somos mais uma vez apresentados apenas a material amazônico. No maestro
Baptista Siqueira (1951), em seu estudo sobre a influência indígena na música folclórica
do nordeste, também temos a ênfase no indígena como sendo o amazônico, toda a sua
argumentação estando baseada em dados dessa região, ainda que para pensar o nordeste.
Para o acadêmico Gallet (1934), não só não haveria absolutamente nenhuma influência
da música indígena no folclore musical nordestino, como tão pouco uma música indígena
na região para fora do norte brasileiro. Neste sentido, o trabalho de Batista Siqueira
(1951) é pioneiro em propor buscar o que de indígena houvesse na música dos sertões e
4
agrestes, ainda que também trabalhe dentro da mesma perspectiva de buscar o indígena
a partir de materiais amazônicos. Este fato estará apenas ligado à falta de dados, de
registros musicais realizados em outras regiões, como o nordeste, ou pode também ser
fruto, exercitando uma sociologia do conhecimento, da sobreposição de modelos de
apreensão, muitas vezes constituídos em contextos coloniais, sobre realidades concretas?
Dito de outro modo: com que concepção de indígena operam os autores e em que
medida esta condiciona metodologias e hipóteses de trabalho? Nesse sentido, esta
perspectiva no campo de estudos da música dos grupos indígenas habitantes no Brasil
parece ser reflexo daquilo a que Oliveira (1999: 14) apontou para o campo etnológico de
um modo mais amplo, no qual o evolucionismo cultural norte-americano e o
estruturalismo francês confluem para uma avaliação negativa quanto as perspectivas de
uma etnologia dos povos e culturas indígenas do nordeste. Afinal, índios não havia,
apenas reminiscências de populações encontráveis apenas em alguns poucos relatos de
cronistas e viajantes dos séculos XVI a XIX. Não é este o lugar, no entanto, para
5
desenvolver tais reflexões.
No nordeste indígena contemporâneo, o termo toré não designa algo apenas da ordem
do musicológico ou coreográfico, mas um complexo ritual (ou rituais, se começarmos a
tomar as realidades locais como pontos de vista) que envolve uma dança circular, em fila
ou parelha, acompanhada por um repertório de cantos específicos (toantes ou linhas e,
ainda, de acordo com as variantes praticadas por cada grupo, benditos e sambas de coco) ao
tore.p65 252 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
253
6
som de maracás, por vezes zabumbas, gaitas e apitos. Nesse contexto de religiosidade e
cura, irradiam-se os encantos, os encantados, entidades espirituais ou antepassadas, passíveis
de incorporação por alguns de seus participantes. É também situação social privilegiada
para negociações políticas e de afirmação identitária intra e extra-grupo. Os dados de
que dispomos até o momento não nos autorizam a propor uma estreita relação, em uma
perspectiva difusionista, entre o instrumento amazônico e o ritual encontrado entre alguns
grupos indígenas do nordeste. Tomado em sua complexidade, várias podem ser as entradas
possíveis para a apreensão do fenômeno: via uma antropologia do ritual (especialmente
em sua relação com processos políticos, de afirmação étnica e de constituição de
conhecimento sancionado como tradicional), via etnomusicologia (entre os estudos de
cultura popular/folclore e, mais recentemente, a etnologia indígena), ou, ainda, via uma
antropologia da dança, só para citar algumas.
Toré como dança e ritual dos índios do nordeste
As primeiras referências ao termo toré associado ao contexto indígena nordestino as
7
vamos encontrar na literatura dedicada aos estudos de folclore brasileiro. Seguindo os
dados apresentados por Cascudo (1984:757), é em Pereira da Costa, em seu Vocabulário
Pernambucano, de dados recolhidos em fins do século XIX, que vamos encontrar uma
das primeiras referências ao toré, desta vez como uma dança encontrada entre os
mestiços indígenas de Cimbres, agreste pernambucano, atual território Xucuru. Não
encontramos referência à instrumentos de sopro, mas antes que a dança era cantada
8
(Idem). A primeira aproximação de forma sistemática ao fenômeno, agora como dança,
do ponto de vista musicológico, é feita pela Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938
9
organizada por Mário de Andrade. Nos diários de campo de Luiz Saia, chefe da Missão
(São Paulo, 2000:29-45), temos os apontamentos ao toré como dança indígena tendo
sido feitos seus primeiros registros em cera e película em 12/03/1938 em Brejos dos
10
Padres, Taracatu, Pernambuco, entre os Pankararu. Dois meses depois, na Baía da
11
Traição, Paraíba, atual território Potiguara, farão novas filmagens e gravações, desta
vez não só de torés mas também de cocos. Curiosamente, um dos filmes editados do
material recolhido na ocasião apresenta uma dança circular, acompanhada por canto e
12
zabumba, no sentido anti-horário, registrada como coco de toré (São Paulo, s/d).
Apesar desses registros, em sua posterior organização e publicação de boa parte dos
dados recolhidos em 1938, Alvarenga (1960:145) não se ocupa dos registros do toré em
Pernambuco e na Paraíba, fazendo, apenas, referência ao termo dentro da sessão dedicada
ao Coco: No Estado da Paraíba, existe também uma dança chamada toré, perfeitamente
igual ao Coco pela coreografia e pela música. Do material musical da Missão dedicado
13
ao toré, nada foi publicado.
Dentre os primeiros registros do fenômeno no campo dos estudos antropológicos,
14
encontramos o termo, também como dança, no trabalho de Hohenthal Jr. (1960:61),
tore.p65 253 17/05/2000, 09:06
TORÉ
254
associado ao culto da jurema. O antropólogo aponta que entre alguns dos grupamentos
indígenas encontrados ao longo do médio e baixo rio São Francisco, encontramos o uso
de infusão dessa planta que combinada com inalações copiosas de forte fumo de rolo, e
acrescida ainda de auto-hipnose provocada por dança e cantos monótonos, resulta em
visões que, afirmam, permitem aos participantes falar com os espíritos (Idem). Neste
contexto, da ordem do privado e iniciático, proibido a não-índios, o toré seria a sua
contrapartida pública, dança pública de natureza social a que os não-índios poderiam
assistir (Idem). Uma aproximação antropológica mais sistemática e de maior densidade
etnográfica aos índios do nordeste, no entanto, só aconteceria na passagem das décadas
de 1980 para 1990, inclusive com mudança nos paradigmas de apreensão antropológica
e de compreensão ético-política do exercício científico (Oliveira, 1999). Nos trabalhos
de Grünewald (1993), Batista (1992) e Barbosa (2003), para citar alguns, encontramos
mais uma vez ao toré, desta vez em quadros bem mais complexos de descrição etnográfica
e de agendas de trabalho antropológico, agora apreendido não só como dança, mas como
um complexo ritual e momento político importante na construção e legitimação de uma
identidade étnica e de um território. Do ponto de vista etnomusicológico, no entanto,
apenas nos últimos anos aparecem trabalhos mais sistemáticos na forma de monografias
15
etnográficas (vide, por exemplo, Cunha, 1999, e Nascimento, 1998) e de novos registros
16
sonoros (Villares & Vianna, 2002; Vilar, 2003). Para além disso, marcamos ainda que
a última década trouxe também a edição dos primeiros CDs de parte do repertório musical
de alguns dos grupos indígenas da região, como é o caso dos Xocó e dos Fulni-ô, entre
estes últimos tal iniciativa partindo do próprio grupo, da organização de pequenos grupos
17
para apresentações musicais levando a públicos mais amplos sua musicalidade.
Este artigo se propõe uma contribuição ao campo (se é que assim o podemos
considerar) de estudos etnomusicológicos dos índios do nordeste, atenção especial sendo
dada ao caso Kapinawá. Os dados apresentados foram recolhidos ao longo de dois
trabalhos de registro sonoro (23-24/11/02 e 07/03/2003) realizados no aldeamento de
Mina Grande, município de Buíque, vale do Ipanema, agreste pernambucano. O registro
foi realizado por demanda do próprio grupo feita a pesquisadores da Universidade Federal
de Campina Grande (UFCG) de forma a recolher material para a edição posterior de
18
um CD com parte do repertório de cantos de seu toré. Apresento uma etnografia do
19
trabalho de registro sonoro e uma primeira aproximação etnomusicológica à musica
praticada pelo grupo, em especial através de parte do repertório de cantos relacionado ao
toré. Ao final, aponto para questões de ordem mais geral que me parecem relevantes para
o desenvolvimento de metodologias etnográficas e comparativas em uma aproximação à
música dos índios do nordeste.
20
Toré entre os Kapinawá de Mina Grande
Como se destaca no texto de Albuquerque nesta coletânea (pp. ), o toré Kapinawá
tore.p65 254 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
255
deve ser entendido no quadro mais geral das mobilizações de redefinição étnica que tem
marcado o nordeste indígena nas últimas três décadas. Isto porque sua prática entre os
membros do grupo não ultrapassa esse período. Este fato não impede, no entanto, que já
esteja amplamente difundida e legitimada na atualidade, para além dos contextos em que
foi engendrada. No processo de redefinição de identidade e reconquista territorial, de
21
forte cunho político e identitário, o toré foi para o grupo uma das situação sociais
privilegiadas para reorganização de valores, símbolos e práticas. Sabemos por Albuquerque
(Idem) que foram Dôca, índio Kambiwá, e Zé Índio, dos Xucuru, os que primeiro
transmitiram os fundamentos do toré como ritual étnico aos Kapinawá de Mina Grande,
aldeamento onde se iniciariam as mobilizações políticas em fins dos anos 1970 que
levariam ao reconhecimento da identidade indígena e a reconquista territorial. É no
contexto do toré, quando é erguido o cruzeiro da jurema na furna de Mina Grande,
caverna dentro da grande serra a noroeste do aldeamento, que revela-se o etnônimo
Kapinawá, dia em que se levantou a aldeia (Idem). Dôca e Zé Índio haviam detectado
sinais da ciência do índio na furna de Mina Grande, da qual o toré é uma de suas
expressões por excelência. Desta ciência nos aproximaremos em seus aspectos musicais.
Não devemos, no entanto, em nossa aproximação à contemporaneidade dessa prática
entre os Kapinawá, entendê-la apenas como algo que veio de fora, aprendido com seus
vizinhos Xucuru e Kambiwá, mas como esta se combinaria a repertórios e situações
rituais já existentes, como é o caso do samba de coco praticado anteriormente pelo grupo.
No contexto do samba de coco, somos levados pela música para além das fronteiras étnicas,
reais e imaginadas, para paisagens sonoras mais amplas que nos põe em contato como
benditos, incelências, aboios, em um campo de inter-relação musical mais amplo e complexo.
Condições de produção dos registros sonoros
Em Mina Grande existem dois locais específicos para a prática do toré. O mais antigo,
como vimos, a furna da Serra Grande, onde se pisou o primeiro toré. Posteriormente,
seria erigido o terreiro da mata, mais próximo do centro do aldeamento. Foram registrados
quatro torés (dois na capela e no terreiro da mata; e dois na furna) perfazendo pouco mais
de sete horas de gravação distribuídas em 3 gêneros de cantos acompanhados, à exceção
22 23
do primeiro, de maracás : benditos (15), toantes (56) e sambas de coco (13). Em ambas, o
ritual se organizava em termos espaciais da mesma maneira. Tendo o cruzeiro como centro,
ao seu redor se dança, sentido anti-horário, enquanto um cantor, no meio da roda, tira o
canto. A música vocal em forma de cantos, em geral de duas frases (AB), é a forma
24
musical mais encontrada entre os Kapinawá. A alguns tipos de canto associa-se uma
coreografia, como veremos mais adiante.
Um primeiro ponto que gostaria de desenvolver é o de que tipo de registro se realizou
em Mina Grande. Lembro que este trabalho é fruto de demanda do grupo em se ver, ou
melhor, em se ouvir registrado em forma de um CD (disc laser) com cantos de seu toré.
tore.p65 255 17/05/2000, 09:06
TORÉ
256
Este ponto me colocou a questão de que caminho tomar, em termos de captação sonora,
durante o processo de registro. Qual representação sonora se construiria: a do antropólogo,
do etnomusicólogo, à procura do ritual tal qual este é executado pelos nativos,
aproximando-se ao máximo de sua singularidade performática e acústica; ou buscar
entender as expectativas de seus interlocutores, à qual representação sonora estes se referem
quando se pretendem registrados em forma de CD (independente do que o pesquisador
entenda como sendo as situações reais de acústica, de disposição de planos sonoros, de
25
características de execução musical)? Um primeiro ponto que me coloquei foi o da
equalização, seguindo algumas das idéias de Carvalho (1999). A partir do
reconhecimento dos planos sonoros e da organização musical do toré, tomando a
especificidade dos meios tecnológicos de que dispunha, onde eu posicionaria o microfone?
Proporia alguma mudança no encaminhamento habitual do ritual: reposicionaria
indivíduos e instrumentos buscando novos planos, participaria na escolha dos repertórios?
Diagnostica com precisão Carvalho (1999:59) o extremo a que foi levado o processo de
equalização, transformando-se em uma espécie de colonização, por parte do estilo de
equilíbrio entre os parâmetros musicais de alguns gêneros, sobre a imensa maioria de
combinações possíveis de massas sonoras praticadas dentro e fora do âmbito ocidental.
De padrão estético e recurso tecnológico, passa a um princípio geral de equilíbrio sonoro
26
que se impõe (Idem).
Mas volta a questão: uma vez que a relação com os Kapinawá desde sua origem passa
por essa mediação tecnológica que é o CD (como estes a entendem e que expectativas
tem em relação a ela), pela cultura auditiva que desenvolveram na relação com este suporte,
qual representação sonora propor? Que expectativa sonora tinham os Kapinawá aos se
proporem ser representados fonograficamente? Às questões e críticas de Carvalho (Idem),
eu acrescentaria: como estas novas tecnologias de registro e edição sonoros tem sido
percebidas e instrumentalizadas pelos indígenas, como é o caso Fulni-ô já mencionado,
afinal, sabemos que os processos de colonização cultural não são vias únicas, mas de mão
dupla, de negociação cada vez mais complexa (Dirks, 1992)? Não temos espaço aqui
para desenvolver tais questões, apenas para lançá-las, mas o fato é que optamos por uma
reorganização da disposição musical do ritual de forma a captar uma voz principal em
primeiro plano e no centro, e em um segundo plano as vozes do coro e os maracás em
27
panorâmica, objetivando algum grau de equalização. Enquanto organização ritual,
seguiria-se os caminhos habituais, dos quais apresento neste trabalho alguns exemplos
28
musicais.
tore.p65 256 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
257
Fig. 1: Esquema de gravação: cruzeiro Ç coro · voz principal Ú microfone roda
Antes de entrarmos no material musical, gostaria de pontuar que ainda que aos torés
registrados tenham comparecido muitos moradores de Mina Grande, e mesmo de outros
aldeamentos, ao longo dos momentos de registros sonoros foram os principais cantores:
(1) José Caetano da Silva, 56 anos; (2) Arlindo Florêncio de Moura, 56 anos; (3) Jacira
Maria da Conceição, 27 anos e (4) Maria das Dores de Moura, 55 anos. Devo marcar o
lugar de algumas famílias na transmissibilidade de conteúdos culturais e no manejo do
jogo político que envolve o ritual do toré, revelando a necessidade de seu entendimento
em termos de relações diádicas, pelo que gostaria aqui de sublinhar o rendimento que
esta perspectiva micrológica pode trazer para um entendimento etnográfico da organização
do toré dos Kapinawá. Se quisermos entender o estado atual em que encontramos com o
toré kapinawá, precisamos retomar desde o momento de sua fundação - como vimos
com a participação fundamental de duas liderança Kambiwá e Xucuru -, refazendo as
redes diádicas que participaram em sua composição, desenvolvimento e transformação.
tore.p65 257 17/05/2000, 09:06
TORÉ
258
Neste sentido, José Caetano, Arlindo, Maria e Jacira são elos fundamentais na rede que
desenvolve e mantém o toré entre os Kapinawá.
Sobre a escolha dos cantos que ora passo a apresentar, objetivei ser minimamente
representativo, levando em consideração os gêneros encontrados, o lugar em que eram
entoados ao longo do ritual e a que elemento simbólico-cosmológico e identitário se
referem. Lembro que este trabalho tem caráter introdutório, pelo que, neste momento,
apresentaremos o material não pelo que este tem de variável, marca fundamental de um
campo musical marcado pelos processos orais de transmissibilidade, mas pelos elementos
29
que lhe parecem ser básicos, compartilhados pela maioria de seus participantes em
termos de execução, repertório e terminologia musical.
Benditos
Entre os Kapinawá, a prática do toré, enquanto momento de expressão religiosa do
grupo, misturou-se as práticas do catolicismo popular já presentes que têm como lugar
principal a pequena capela no centro do aldeamento cujo patrono é São Sebastião. Quando
realizamos gravações no terreiro da mata (23.11.02 e 07.03.0, à noite), estas sempre se
iniciavam na capela, onde cantou-se cerca de 30 minutos. As gravações na furna também
se iniciaram com benditos, mas em menor quantidade, cerca de 20 minutos. Estes seguiam
30
bem a descrição de Cascudo (1984: 118) de canto em uníssono , neste caso com
ocasionais aberturas de segunda voz, em terças agudas e paralelas, em coro misto de
31
maioria feminina. Do ponto de vista do que poderíamos chamar de uma musicológica
32 33
Kapinawá, a este recurso de abertura de voz se refere como fazer a segunda. Estes
benditos antigos, aprendidos com os avós, dão conta de pequeno panteão católico,
em particular Jesus Cristo, Nossa Senhora, São José e São Sebastião. Por ser padroeiro
de Mina Grande, atenção especial foi dada aos benditos de São Sebastião, benditos que
são considerados como estando dentre os mais antigos cantados pelo grupo. De todos os
benditos registrados, apenas um não era dedicado a bendizer algum santo em sua poética
evocativa. Talvez estejamos diante de um fragmento de bendito, se tomamos como
parâmetro sua pouca extensão poética. Neste, o prazer e a alegria da união do
grupo são exaltadas. Seguindo a estrutura encontrada dentre todos os gêneros de cantos
registrados, temos uma organização em forma de chamada (solista) e resposta (coro), a
34
voz principal tirando a toada. Todos os cantos entoados na furna e no terreiro da mata,
terminavam com vivas e saudações.
Oi, que prazer, que alegria,
é o nosso encontro irmão (x2)
É como um banho perfumado
gostosa é nossa união (x2)
tore.p65 258 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
259
Oi, que prazer, que alegria,
é o nosso encontro irmão (x2)
Sereno da madrugada,
gostosa é nossa união (x2)
Oi, que prazer, que alegria,
é o nosso encontro irmão (x2)
É vida que dura sempre,
gostosa é nossa união (x2)
- Viva a nossa união!
35
- Viva!
Toantes
De todo o material registrado, a maior parte se compõe de toantes, cantos acompanhados
ao maracá, em geral na forma poética da quadra com versos em sete sílabas, o segundo e
o quarto versos em rima (ABCB). É comum ainda o acompanhar de um estribilho, sem
letra definida, em geral com os fonemas Rá, Ré, Rêi, por vezes na mesma linha
melódica antes cantada com letra. Dentre os toantes, podemos ainda classificar dois sub-
36
gêneros : (1) toantes com marcação de maracá de pulsação regular (= entre 90 e
120), em compasso binário (se nos guiamos pela marcação da pisada que os acompanha
na dança como tempo forte), estes os em que efetivamente temos o acompanhamento de
dança circular, em sentido anti-horário, em fila ou parelha; (2) toantes de pulsação irregular,
com acompanhamento de maracá pulsativo e intermitente, contrastante com o canto, de
andamento mais lento (= cerca de 60). Nestes não havia dança, podendo, em alguns
casos, haver marcação de maracá, quando se cantava algum estribilho. Em ambos os
casos, de estrutura de chamada e resposta, temos segundas vozes em terças agudas e
paralelas. É este o corpus musical cuja transmissão sistemática se iniciou, como já vimos,
por intermédio de relações entre os Kapinawá e os Kambiwá (à sudeste) e os Xucuru (à
nordeste) em meados dos anos 1970. O que não impede, no entanto, que na atualidade
os membros do grupo a estes se remetam como parte de sua música tradicional. É
importante notar que, ainda que os Kapinawá enfatizem que seu toré tem como
singularidade o fato de cantarem e dançarem os sambas de coco, este fato não se reflete em
termos de repertório, uma vez que seu toré é composto, em sua maioria, por toantes.
As gravações ocorreram nos locais considerados como lugar sagrado, do segredo,
37
da ciência do índio : o terreiro da mata e a furna. Em ambas, como já coloquei, um
cruzeiro servia como um ponto em torno do qual se organizaria a dança e onde se
posicionaria quem tira uma toada. Noto que ainda que estivéssemos gravando com o
intuito de editar um CD, em ambos os locais, os cruzeiros de madeira foram enfeitados
tore.p65 259 17/05/2000, 09:06
TORÉ
260
com flores e o pajé defumou o lugar antes de iniciarmos os trabalhos com uma mistura
de tabaco e ervas através de seu guia, cachimbo de forma cônica. Este dado me parece
revelador para pensarmos a situação de gravação conforme vista pelos Kapinawá, em que
medida não deixava de ser uma situação ritual.
Este primeiro toante, cantado logo após uma série de benditos, de pulsação irregular,
se refere e evoca os cabocolinhos. Por cabocolinho devemos entender um tipo de encantado,
de entidade espiritual, mas também, ainda que não dito de forma explícita ao longo das
gravações, me pergunto se não seria um tipo especial de toante, cantado em geral no
início do toré.
Meus cabocolinho,
o que que anda fazendo aqui? (x2)
Eu ando por terra alheia
correndo pras aldeia,
meus cabocolinho, rei
Ô eina reia reia oi rei
Ô eina reia reia oi rei (x2)
- Viva os caboco!
38
- Viva!
Este toante nos possibilita, em primeiro lugar, marcar que há uma certa ordem de
execução dos cantos, ainda que não explicitada pelos participantes, mas detectável se
comparamos os quatro torés registrados. Neste caso, temos um toante tirado no início da
função. Um segundo ponto interessante que este toante nos permitiu acessar foi o da
musicológica kapinawá em ação, em especial no que diz respeito ao juízo crítico com
relação ao desempenho musical que a situação de gravação proporcionou. Neste contexto,
de preocupação com a qualidade dos registros, questões da qualidade da execução musical
ficaram mais relevantes. Apresento uma série de comentários após uma primeira tentativa,
fracassada, de registro deste cabocolinho entoado por Arlindo.
- Arlindo: Vocês agora foi que erraro de novo!
- Edmundo: Vamos de novo! Vamos lá!
- Senhora: É ele!
- Maria: Mais alto!
- José: Mas a gente acompanha é ele.
tore.p65 260 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
261
- Maria: Á, num serve, não!
- Senhora: A nossa voz não arcança!
- Arlindo: Você [para Maria] puxô aí geeem, só gemendo, eu fui puxá mais grosso!
(Risos) A gente pede mais força, ficô mais baixo!
- Senhora: Ele é bem compassado, ele é baixinho, ele não é alto demais!
- Edmundo: Vamos lá!
- Senhora : [para Arlindo] Não tem outro cabocolinho como primeira?
- José: É, tira pra outro.
- Arlindo: Como é?
- Maria: Tem que ser compassado, o chiado do maracá, tudo compassado! Aaaí,
foi tudo de uma vez!
- Arlindo: Má vamo outra!
Na busca de uma melhor execução musical no contexto de uma situação de gravação,
de como se queriam ver representados fonograficamente os Kapinawá, a noção de
compassado perpassou todo o processo de registro sonoro. Um toante, um samba de coco,
bem executados tem de estar compassados. O termo pode se referir tanto a questões da
ordem da precisão rítmica, quanto da melódica. Neste último caso, temos ainda as noções
de alto e baixo para qualificar alturas melódicas, em geral quando se abria vozes e não se
alcançava boa execução.
O próximo toante também foi tirado no início dos torés registrados, tanto no terreiro
da mata, quando na furna. Todas as vezes que o gravei, foi entoado por José Caetano.
Mais uma vez temos abertura ocasional de vozes em terças agudas e paralelas. Aqui se
começa a dançar, no sentido anti-horário, em fila ou parelha.
Lá nas mata tem um pau
que se chama de Jurema (x2)
Quando eu chego lá,
eu vou beber Jurema (x2) ou (x3) ou (x4)
Vamos meus caboco
lá pras mata da Jurema (x2)
Quando eu chego lá,
eu vou beber Jurema (x2) ou (x4)
- Iii, A Aa! Iii!
39
Este toante se refere à jurema (Mimosa hostilis) , um dos epicentros da cosmologia e
tore.p65 261 17/05/2000, 09:06
TORÉ
262
das práticas ligadas ao toré dos índios do nordeste, ao seu consumo ao longo do ritual.
Ainda que no contexto Kapinawá, de fato, pouco uso se fizesse da planta, sua presença
simbólica é marcante ao longo do repertório de toantes que vão sendo tirados. Aqui já
adentramos no toré Kapinawá. A partir deste momento, o ritual será marcado por toantes
de pulsação regular e irregular, aqueles e os sambas de coco sendo acompanhados por suas
respectivas coreografias. Apresento um exemplo de toante de pulsação irregular. Neste
momento, se para de dançar.
Naquela serra
tem uma casinha,
tem uma pedrinha, meu deus,
tô chegando lá
Quando eu cheguei
o que eu encontrei
foi um menino encantado
coberto de caruá (x2)
Eu pedi a ele
com força e coragem
O que ele me deu
foi semente de caruá (x2)
Eina rá reioá, eina rá reioá
Eina rá reioa reiá, eina rá reiô (x2)
- Viva o menino encantado!
- Viva!
Neste bonito toante, dentre os que os Kapinawá de Mina Grande demonstravam
bastante emoção ao cantá-lo, temos algumas referências cosmológicas importantes: o
menino encantado, a pedrinha, a semente e o caruá. Estes motivos os encontramos entre os
Kambiwá (Barbosa, 2003: 165), ligados aos Praiá, a semente sendo a forma objetificada
do encanto incorporado pelo usuário da máscara, podendo inclusive materializar-se na
forma de pedra, pedra do encanto. Em termo musicais, temos abertura de vozes em terças
agudas e paralelas com maracá de pulsação irregular e intermitente. Este toante nos permite,
assim como o samba de coco que veremos a seguir, ultrapassar as fronteiras étnicas e colocar
a música presente entre os Kapinawá em campos de inter-relação musical mais amplos.
Por exemplo, a presença de quarta aumentada e sétima menor é considerada como
tore.p65 262 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
263
característica das melodias encontradas no que poderíamos chamar de uma musica
sertaneja, sendo considerada como influência ibérico-mourisca em nossa música (Paz,
1994; Soler, 1995). Vamos encontrá-las em cocos, aboios, incelências, benditos e desafios. Neste
40
sentido, como nos aproximaremos de tais melodias? Como indígenas, como camponesas?
Que conseqüências de ordem metodológica e teórica podem trazer tais categorizações?
A esta questão voltarei ao final deste trabalho.
Samba de coco
Ao longo do toré, como já salientei, teremos então a intercalação de toantes com sambas
de coco. Esta é uma marca do toré Kapinawá se comparado, por exemplo, com o de seus
vizinhos Kambiwá e Xucuru. Dentro da estrutura do ritual, os sambas são principalmente
apontados como momentos de relaxamento, senão as pernas estrupia, explicou José
Moisés, pajé do grupo. Para além de um gênero musical, podemos entender o samba de
coco como expressão do que Albuquerque (2004) chamou do forgar kapinawá, música e
dança praticadas pelo grupo desde antes do aprendizado do toré, desde antes do grupo
se autodenominar de Kapinawá. Nestes, brinca-se, comum ao coco no nordeste de um
modo geral, mas ainda se fazendo referência no canto a encantos e à origem indígena. A
roda se desfaz enquanto cada um, no sentido que bem queira, dança sua pisada, em geral,
com o pé direito na frente acompanhando os acentos rítmicos dos maracás.
Eu tava no meio das matas
no tronco tirando mé (x2)
Chegou caboca Paulina,
Paulina, meu canindé (x2)
Chamei os meus dois caboco,
cabocos, meu canindé (x2)
Tapuia, meus índios, Tapuia,
Tapuia, meu canindé (x2)
Eu já chamei meus dois caboco,
caboco, meu canindé (x2)
Samba de coco, samba de pisada, coco, são alguns dos termos associados a este gênero de
toada, misto de canto profano e sagrado, podendo a cada momento tender mais para um
lado ou para outro. Tanto pode evocar a algum encantado, quanto cantar as abelhas e o
41
fazer mel. Após a década de 1980, como vimos momento de acentuação de certos
tore.p65 263 17/05/2000, 09:06
TORÉ
264
elementos culturais dentro dos movimentos de recuperação da indianidade do grupo
quando das demandas por reconhecimento territorial, acredito ter se acentuado seu caráter
sacro, dentro do lugar que estes cantos ganharam no reconhecimento contemporâneo
que o grupo faz do que seja tradicional, do que seja sagrado.
Se recorremos a alguns dos trabalhos dedicados ao coco, e mais uma vez estamos
de volta aos estudos de nossos folcloristas, encontramos em Cascudo (1984:
237) que coco é dança popular nordestina, cantado em coro o refrão que
responde aos versos do tirador de coco. Mais adiante, comenta ainda: a influência
africana é visível, mas sabemos que a disposição coreográfica coincide com as
preferências dos bailados indígenas (Idem). Em Araújo (1967: 239) também
encontramos o coco apreendido como dança afro-ameríndia. Andrade
(1993:67), ao referir-se aos cocos do afamado cantador paraibano Chico Antonio,
detectava em algumas de suas letras sobrevivências totêmicas. Trabalhos mais
recentes (Ayala, 2000:22) apontam sua origem afro-brasileira, dando
continuidade a perspectivas como as de Alvarenga (1960: 144) em que a dança
viria de duas fontes étnicas: portuguesa e africana. Para além de suas possíveis
origens, Silva (2000:117) nos lembra da enorme plasticidade do coco como
situação social, o que pode levá-lo da brincadeira, do forgar, ao ritual afro-
ameríndio como o catimbó e a jurema em cocos de roda e gira. O fato é que
tanto o coco quanto o toré, tomados em seus aspetos musico-coreográficos e de
formação sócio-histórica, se aproximam bastante, o que para o caso Kapinawá
pode nos ajudar a entender tanto a constituição atual de seu toré, quanto de
como esta mistura foi possível ao longo das últimas décadas. O samba de coco que
aqui apresentamos, em termos rítmicos, melódicos e coreográficos, é comparável
as demais manifestações do gênero coco encontrados na região, como é o caso
42
de Arcoverde, importante epicentro do coco em Pernambuco.
Finalmente, fechando o toré, temos um conjunto de toantes cantados ao final do
ritual. Toantes para despedida, como diria Dona Maria das Dores. São encontrados na
forma de toantes de ambos os gêneros. Escolhemos o que se segue, tirado por Dona Maria
das Dores. Mais uma vez, abertura ocasional de vozes em terças agudas e paralelas e a
ausência de coreografia. O maracá é intermitente, de pulsação irregular.
Minha casa é uma pedrinha,
clareou eu vou membora (x2)
Que eu moro muito longe
e eu não posso demorar (x2)
...
tore.p65 264 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
265
pra meus índio trabalhá (x2)
- Viva minha casa!
- Viva!
Mais uma vez temos a imagem da pedrinha. Mais uma vez, tema recorrente, temos os
índios trabalhando, trabalho aqui especialmente entendido em seu sentido de prática
espiritual. Temos também a saudação pelo trabalho realizado na casa dos Kapinawá, a
furna da Serra Grande, lugar onde retomaram sua origem indígena.
Considerações finais
Quem gostou que pague, agora, que pague com outro toante (Maria das Dores, terreiro
da mata, 07/03/03)
Como vimos, a prática do toré entre os Kapinawá está historicamente ligada a instâncias
sociais que transcendem o seu caráter estritamente ritual e subjetivo, levando-nos para o
campo da política, da etnicidade, da eleição de repertórios culturais como tradicionais
em contextos de relações com agências não-índias. Voltando a questões do início deste
trabalho, vimos que a entrada do toré para o campo dos estudos de uma música indígena
é recente, qualquer menção positiva a uma musica indígena no nordeste brasileiro
estando ausente dos primeiros estudos dedicados ao tema (Corrêa, 1933; Gallet, 1934;
Camêu, 1976). Isso porque o que antes era alocado nos estudos de cultura popular, de
folclore, visto por seu viés mestiço, aculturado, passa a ser visto como étnico, indígena,
apenas partir de finais dos anos 1970. O que aconteceu, para agora esta música entrar
para nossas agendas de trabalho, onde antes nem índios havia? Em qual de nossos
escaninhos conceituais a havíamos deixado? Estaremos inventando agora uma música
indígena, onde antes só o que havia eram reminiscências culturais entre caboclos
mamelucos? Se mudamos nossa concepção do que seja indígena, se vencemos
paradigmas científicos e nos colocamos questões de cunho ético-político diante nas
crescentes mobilizações políticas dos povos da região, que implicações pode trazer isso
para nossas metodologias etnográficas e comparativas em relação à música Kapinawá?
Afinal, para nos aproximarmos dessa realidade musical, não podemos simplesmente
desconsiderar os estudos anteriores pensados no âmbito do folclore, nem simplesmente
importar metodologias etnomusicológicas advindas de situações etnográficas precisas
como as amazônicas, locus, como vimos, a partir do qual se desenvolveram os primeiros
estudos sistemáticos no campo da música indígena.
Em termos musicológicos, creio que o material kapinawá nos permite, por um lado,
pensá-lo em termos étnicos, no lugar que ocupa nesta ampla rede de fluxos e refluxos
tore.p65 265 17/05/2000, 09:06
TORÉ
266
culturais em que os índios do nordeste estão inseridos, no caso em particular entre os
Kapinawá e seus vizinhos Kambiwá e Xucuru. Neste sentido, a música, neste caso o
repertório de cantos associado a cerimônia de cunho religioso que é o toré, no quadro da
constituição de sinais diacríticos e de significação de uma identidade étnica, é mais um
elemento que provê meios pelos quais pessoas reconheçam identidades e lugares, e as
fronteiras que as separam (Stokes, 1997:18). Por outro lado, considerações de ordem
étnica não dão conta da gama de quadros comparativos em que cantos como os toantes
podem entrar, em especial se forem colocados ao lado dos sambas de coco, dos benditos, das
incelências, dos aboios, dos baianos, deslocando-nos para campos de inter-relação musical
mais amplas, no quadro de uma música do sertão e agreste pernambucanos. Neste sentido,
a presença de quarta aumentada e sétima menor em alguns dos toantes registrados podem
colocá-los tanto no quadro das discussões sobre modos presentes na música folclórica ou
popular do nordeste (Paz, 1994; Soler, 1997), quanto no das possíveis influências
indígenas na música do nordeste (Siqueira, 1951; Peixe, 1965). Mas o fato é que, pelo
estado atual dos estudos e dados de que dispomos, mais do que elucidar questões de
ordem musicológica, ambas as tendências nos parecem mais ser reveladoras dos
imaginários e concepções do que seja indígena ou folclórico engendrados em contextos
coloniais e nacionalistas que condicionam metodologias etnográficas e comparativas.
Na contemporaneidade, enfatiza Stokes (1997:15), ainda que possa haver uma forte
tendência à demarcação de fronteiras étnicas, em termos musicais, assistimos a uma
continua hibridização de gêneros e estilos musicais. Neste sentido, Carvalho & Segato
(1994: 2) apontam para a hibridez dos gêneros musicais contemporâneos e sua autonomia
relativa aos territórios de cultura. Enfatizam que o costume de pensar a cultura e estilos
musicais a partir de um centro territorial não passa de um hábito do pensamento,
partilhado tanto pelos nativos quanto pelos musicólogos e antropólogos (Id.Ib.:3). No
caso Kapinawá, nos deparamos com aquilo a que Oliveira (1999: 25) se referiu para o
caso dos índios do nordeste de forma ampla, historicamente marcados por diferentes
tradições culturais. Do ponto de vista musical, estas levam os Kapinawá para um âmbito
de relações sociais para além de Mina Grande, do vale do Ipanema e do Sertão do Moxotó,
chegando a outras paisagens sonoras, a novas tecnologias de registro e edição sonora e a
novas culturas de recepção.
Por fim, saliento que muitos desafios etnográficos e comparativos nos esperam em
uma aproximação etnomusicológica à música dos índios do nordeste, desafios para os
quais este estudo procurou se colocar questões que me parecem fundamentais para a
composição de uma possível agenda de trabalho. O projeto de edição dos cantos do toré
kapinawá encontra-se em fase de captação de recursos para prensagem, há um ano
esperando resposta da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) sobre o andamento do
processo de demanda do CD pelos Kapinawá com mais de cem assinaturas.
Nota sobre as transcrições
tore.p65 266 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
267
Tomado o caráter introdutório deste trabalho, procurou-se fazer uma aproximação estrutural ao
repertório de cantos apresentados, cantos cuja execução é, de fato, caracterizada por uma gama de
variações rítmicas e melódicas. Esta variabilidade, no entanto, não é o foco deste trabalho. Apesar
dos problemas, imprecisões e críticas que o trabalho de transcrição tem acarretado (Nettl, 1983:
65-81), este foi pensado como mais um recurso que, ainda que tomado em suas limitações e
contextos de produção, pode ser útil e ilustrativo para quem adentra pelos estudos da música
encontrada entre os índios do nordeste.
tore.p65 267 17/05/2000, 09:06
TORÉ
268
1 Agradecimentos: aos Kapinawá de Mina Grande na figura do cacique José Bernardino pelo
incentivo à realização do trabalho de registro sonoro do qual decorre este artigo; à Rodrigo
Grünewald e Marcos Albuquerque pelo convite e incentivo à realização das reflexões que ora
apresento; à Ivan Fonseca, pelo trabalho com as transcrições e as discussões compartidas de alguns
aspectos da música encontrada em Mina Grande; à Wallace Barbosa pelo empréstimo de material
sonoro Kambiwá e a troca de informações; à Wagner Chaves e Gustavo Pacheco pelo empréstimo
de alguns títulos, a este último ainda pelas sugestões e a troca de idéias que temos realizado sobre
o registro sonoro de repertórios rituais.
2 Doutorando em Antropologia Social - Museu Nacional/UFRJ.
3 Travassos (1987:185) classifica a estes instrumentos como instrumento de sopro com palheta.
Seeger (1987:175) classifica-os dentro do conjunto geral das flautas, neste caso dentre as em que
a corrente de ar, atravessando palhetas colocadas no instrumento, tem acesso intermitente à coluna
de ar do instrumento que é induzida a vibrar.
4 Afinal, como expressava o autor, desconhecendo os lustres culturais, o caboclo vai repetindo o
canto de seus antepassados (Siqueira, 1951:16)
5 Também para a etnomusicologia dedicada à música indígena, para uma reflexão crítica sobre
seu desenvolvimento e suas perspectivas norteadoras de apreensão e análise, o caso dos índios do
nordeste pode contribuir para: a crítica aos estudos de aculturação e ao conceito de assimilação;
a ênfase no estudo da situação colonial e suas repercussões sobre os dados e interpretações; a
dimensão ético-valorativa do exercício da ciência (Oliveira, 1999:33).
6 Zabumba: tambor de sonoridade grave com membranas nas duas extremidades; gaita: flauta
de bambu ou metal, tocada na vertical. Encontra-se boa descrição de um exemplar em Andrade
(1982:186-187).
7Talvez o correto fosse dizer de como o fenômeno passa a ser apreendido dentro de uma perspectiva
folclorista-nacionalista brasileira, como bem o apresenta Vilhena (1997). Neste contexto, não
podemos considerar que o toré fosse apreendido como folclore propriamente, uma vez ser
entendido como manifestação cultural do mestiço indígena. A justificativa de seu registro
relaciona-se ao projeto nacionalista de modo mais amplo, baseado no modelo da contribuição das
três raças: branca, negra e índia.
tore.p65 268 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
269
8 De fato, a primeira acepção ao termo que nos apresenta o folclorista é a de uma buzina,
remetendo-se a dados do Conde de Stradelli de sua passagem pelo Amazonas em fins do século
XIX. Temos também menção ao toré no Auto dos Quilombos de Alagoas, folguedo lúdico
encontrado em comunidades negras do interior do estado, fruto do encontro de negros e indígenas
(Cascudo, 1984:757). Em outro trabalho, Cascudo (1956: 230-232) apresenta ainda dados do
jurista Mario Melo de seu registro do tolê, a dança religiosa dos Carnijós em 1928 em Águas
Belas, Pernambuco. Tolê, toré, borê, seria vocábulo nhengatu utilizado para nomear qualquer tipo
de flauta de bambu utilizada em danças (Idem), dado que nos permitiria especular, não em uma
difusão de algum instrumento ou dança propriamente, mas na do próprio vocábulo como termo
de uso genérico, independente das especificidades músico-coreográficas locais.
9 Para maiores informações, vide o artigo de Acselhad, Vilar e Sandroni neste volume.
10 Dois desses cantos (Chamada do Auricury e Pancararus), foram recentemente editados
em CD na coleção Endangered Music Project coordenada e financiada pela Biblioteca do Congresso
dos Estados Unidos no volume The Discoteca Collection. Missão de Pesquisas Folclóricas.
Dentre os comentários que acompanham as gravações, encontramos a seguinte passagem: O que
faz essa música tão única, é o fato de que ela foi gravada num estado do litoral nordestino, e não
no interior da Amazônia, que hoje é o último refúgio da cultura índio-brasileira pura. Apesar das
fantasias incorporarem alguns símbolos cristãos, onde canções incluem palavras portuguesas e
cantores têm nomes portugueses, o que se escuta no praiá é uma música quase puramente índia
(s/d).
11 Apenas nas últimas décadas a população habitante na região se definiria, perante o Estado e a
população regional, como indígena. Vide o artigo de Palitot e Souza Junior nesta coletânea.
12 Durante a 9a Mostra Internacional do Filme Etnográfico, no programa Patrimônio Imaterial
e Imagem, sessão Mário de Andrade e os Primeiros Filmes Etnográficos, foram exibidos os
curtas realizados pela Missão de 1938 em documentário editado pelo Centro Cultural São Paulo.
13 Dos materiais publicados, os dedicados ao catimbó (Andrade, 1983; Álvaro, 1993) e aos
cocos (Andrade, 1984; Alvarenga, 1960) podem, em termos de um exercício comparativo, ser-
nos úteis no estudo do toré no contexto de uma musicalidade do agreste e do sertão.
14 Como aponta Oliveira (1999:13), dentre os trabalhos anteriores dedicados aos índios do
nordeste estão os encontrados na forma de quase verbetes no Handbook of Sourth American Indians
(1946), todos os dados apresentados, no entanto, tendo sido recolhidos em cronistas e viajantes
dos séculos XVI a XIX.
15 Em Cunha (1999:53), somos apresentados a parte do universo musical pankararu, no qual o
termo toré não se refere apenas a ritual ou dança, mas é também uma modalidade musical.
Entre os Pankararu, teríamos três modalidades de manifestação musical: toantes e torés, duas
modalidades de cantos; e a música da gaita e do cabo do tatu, modalidades instrumentais. Os
torés seriam cantos públicos, executados para que todos possam cantar e dançar, em dia qualquer
ou quando do fim de um ritual, em um momento que também é chamado de toré (Idem). O
toante, canto da ordem do particular, tem caráter sagrado e serve como invocação ou chamado,
tore.p65 269 17/05/2000, 09:06
TORÉ
270
para que a presença de um Encantado ou de vários Encantados aconteçam no ritual (Idem).
Nascimento (2000:37) dedica-se ao estudo do tolé, ritual dos índios Fulni-ô, ao qual somos
apresentados através de sua musicalidade, mais uma vez marcada por cantos acompanhados por
maracá, desta vez, exceção no nordeste, cantada em yaathê, língua nativa do grupo. Além do canto
com maracá, temos a presença ainda dos buzos, instrumentos de sopro com palheta que, em par,
provocam um som de meio (grave) e um som alto (mais agudo) (Idem).
16 Na coletânea Música do Brasil (Villena & Vianna, 2002), temos um excelente registro de um
toré de buzo, com canto, maracá e buzo (tal qual descrito por Nascimento [2000] para os Fulni-ô);
e de um canto de toré, com canto uníssono acompanhado ao maracá, ambos gravados entre os
Xucuru-Kariri de Palmeira dos Índios, Alagoas. Vilar (2003) nos apresenta notícias sobre o trabalho
de registros em andamento entre os Pankararu de Taracatu, em especial de toantes e torés. Devo
registrar que, anteriormente, temos ainda, em termos de registro sonoro, a edição em compacto
de vinil de exemplos musicais do torém dos Tremembé de Almofala, Ceará, no âmbito da Campanha
de Defesa do Folclore Brasileiro (Documentário Sonoro do Folclore Brasileiro, n.30, 1979).
17 Neste sentido, é importante notar que a última década, para além dos registros realizados por
antropólogos e etnomusicólogos, nos trouxe esta nova faceta dos movimentos de organização
político-cultural dos índios do nordeste, a de produtores e co-produtores em registros e edições
de material musical na forma de CD. Vide, por exemplo:
CD Xocó: SERGIPE, Secretaria de Estado da Cultura. Xokó, Sergipe: s/d.
CDs Fulni-ô: MUSIC, Piper. Saktêlhassato. Cantos Tradicionais dos Índios Fulni-ô. Recife, s/d.
RECORDS, Ciranda. FETHXA. Cantando com o sol. Recife: s/d.
MUSIC, Piper. Flêetwatxya. Cantos Tradicionais dos Índios Fulni-ô. Recife: s/d.
CD Pataxó: INDÍGENA, Núcleo de Cultura. O Canto das Montanhas. Krenak, Maxakali e Pataxó.
São Paulo: s/d.
18 Faziam parte da equipe de trabalho: prof. Dr. Rodrigo Grünewald (UFCG), coordenador;
Marcos Albuquerque, antropólogo, mestrando pela UFCG desenvolvendo pesquisa entre os
Kapinawá; e o autor, como técnico de gravação e etnomusicólogo. Na segunda viagem a Mina
Grande (07.03.03), realizaram-se também gravações entre os Atikum da Serra do Umã (08.03.03),
material que demonstraria as variações encontradas na musicalidade dos torés praticados pelos
grupos indígenas do interior pernambucano, trazendo bases para futuros exercícios comparativos.
19 Baseio-me aqui nas idéias de Pels & Salemink (1994), em especial em sua proposta de
composição de histórias contextuais da prática etnográfica, instrumento através do qual se pode
obter maior rigor no entendimento da natureza dos processos sócio-históricos em que os dados
são produzidos.
20 Os Kapinawá consideram-se a rama nova, descendentes que são dos índios que habitavam a
aldeia de Macaco, os troncos velhos, referida desde o século XVII. Atualmente, somam uma
população de pouco mais de 400 indivíduos divididos em 6 aldeias principais: Mina Grande,
Ponta da Várzea, Pau Ferro Grosso, Julião, Macaco e Santa Rosa (Peti/Museu Nacional,1993:20;
Ricardo, 2000).
tore.p65 270 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
271
21 Opero com a noção de situação social a partir do trabalhos de Mitchell (1968), mais diretamente,
e também de Gluckman (1987) e Oliveira (1988) .
22 Travassos (1987:181) classifica o instrumento dentre os chocalhos globulares: Idiofone. É o
instrumento musical mais difundido entre as tribos indígenas brasileiras. Dentre os Kapinawá, a
maioria era feita de cabaça (Langenaria).
23 Utilizei um gravador DAT Sony TCD-D8 e um microfone estéreo cardióide Audio-Technica
D-0822. Neste total de sete horas, temos: 1) toré na furna: 01:09:00 hs. (24/11/02) e 01:12:03 hs.
(07.03.03); 2) toré na capela e no terreiro da mata: 02:32:45 hs. (23/11/02) e 02:15:00 hs. (07/03/
03).
24 Soubemos de alguns indivíduos que tocavam violão e acordeão, em repertórios daqueles
difundidos pelo rádio e pelo comércio de CDs piratas de Buíque. Soubemos também que em
aldeamento vizinho havia uma bandinha de pífanos.
25 Como bem colocaram Carvalho & Segato (1994:8) sobre as pretensões etnomusicológicas de
algumas perspectivas teóricas e de captação sonora em sua aproximação à perspectiva sonora e
acústica considerada como nativa: Lembramos aqui que é importante distinguir o ponto de
vista nativo como resultado de um trabalho hermenêutico do analista, das representações imediatas
do discurso nativo, tomadas literalmente pelo observador.
26 O equalizador é um aparelho que constrói um equilíbrio sonoro dos vários instrumentos de
um conjunto e sua relação com as vozes (...) com a finalidade de que tudo se ouça com facilidade
e que a massa sonora resultante seja agradável, segundo o gosto do produtor musical (Carvalho,
1999:58).
27 Ao final, não muito diferente do que poderíamos considerar como uma situação acústica real,
em que o coro não estaria tão próximo da voz principal, nem tão organizado em sua panorâmica
tomando o ponto de vista da escuta do meio da roda.
28 Na Segunda viagem de gravações (07/03/03), levamos o material bruto digitalizado para o
formato CD. Pudemos ouvi-lo na casa do cacique José Bernardino, e depois em casa do filho do
cacique, Gilmar, no centro da aldeia, onde poderia ser ouvido por um número maior de pessoas.
Uma vez que os resultados agradaram a todos, continuamos seguindo com o mesmo esquema de
gravação.
29 Aos torés registrados, independente de serem realizados de noite (capela e terreiro) ou de dia
(furna), compareceram homens e mulheres de todas as idades, inclusive crianças.
30 De fato, não exatamente uníssono, ainda que esta seja a intenção, mas com desencontros na
afinação e no ritmo.
31 Aqui também o intervalo não é regular, podendo ser menor que uma terça, ou maior, chegando
até uma quarta em alguns poucos casos. Este fato cabe para todos os cantos apresentados neste
trabalho.
32 Opero com este termo a partir do trabalho de Bastos (1999: 248-249), cuja proposta é entender
a música não só com atenção a um ponto de vista nativo, mas entendendo o fenômeno musical em
quadros mais amplos de comunicação. Também para o caso Kapinawá, e dos grupos indígenas do
tore.p65 271 17/05/2000, 09:06
TORÉ
272
nordeste, a música, e em sentido mais amplo a ritualidade do toré, operam como atestados de
indianidade (Idem). Aqui também a música funciona como espécie de linguagem franca (Idem)
entre grupos indígenas no jogo da construção de identidades regionais.
33 A mesma expressão já encontrei em outras regiões do Brasil, como por exemplo durante
trabalho de registro sonoro de cantigas no médio vale do rio Jequitinhonha, Minas Gerais.
34 Toada é termo geral empregado para referir-se a qualquer gênero de canto, seja bendito, toante
ou samba de coco.
35 Encontrei a seguinte quadra em Araújo (1967:399), de bendito recolhido no interior de São
Paulo: O que reza tão bonito,/ que oração tão singular!/ Quem esta oração rezá/ a sua alma não
perderá.
36 A terminologia que se segue atende a preocupações descritivas. Não a encontramos dentro da
musicológica local.
37 Cunha (1999: 128) apresenta um canto registrado entre os Pankararu que também encontrei
entre os Kapinawá, acrescido de mais dois versos, estando entre aqueles toantes que sempre são
tirados por conta da importância dos elementos a que se refere: Todos caboclo tem ciência, / Meu
Deus, aonde será? / Tem a ciência divina / no tronco do juremá.
38 Mota & Barros (2002:53) apresentam canto bem parecido a este registrado entre os Cariri-
Xocó sendo também chamado, como entre os Pankararu, este tipo de canto de toré: Caboclo
lindo, / que andais fazendo aqui? / Eu ando por terra alheia / procurando o que perdi.
39 Sobre o consumo da jurema entre os grupos indígenas do nordeste, apontam Mota & Barros
(2002:21): Quanto à classificação científica estabelecida por diversos autores, concluímos que
há três espécies sendo usadas como Jurema entre os indígenas nordestinos: a Mimosa hostilis Benth.,
hoje reclassificada como Mimosa tenuiflora e que seria a Jurema Preta; a Mimosa verrucosa Benth.
ou Jurema Mansa. A estas acrescentamos a Vitex agnus-castus, uma Verbenaceae, usada entre os
Cariri-Xocó como Jurema Branca.
40 Sabemos que a noção de camponês é também de uso complexo, relacionada que está em sua
origem à imaginações nacionalistas modernas, à resíduos de imagens da sociedade rural colonial
e pré-industrial européia (Kearney, 1996:1).
41 Grünewald (comunicação pessoal, 2004) informa que a abelha em seu fazer o mel é considerado
como algo da ordem do sagrado, uma vez ser atividade dos encantados.
42 Para um exercício comparativo, vide os CDs: UFPB. Cocos. Alegria e Devoção. Coleção do
Laboratório de Estudos da Oralidade. João Pessoa: s/d; e MARINHO, Cavalo. Coco Raízes de
Arco Verde. Recife: s/d.
tore.p65 272 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
273
BIBLIOGRAFIA
ALBUQUERQUE, Marco A. S. O Torécoco (o forgar lúdico dos índios Kapinawá de Mina
Grande). Mimeo, 2004.
ALVARENGA, Oneyda. Música Popular Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1960.
ÁLVARO, Carlini. Cachimbo e Maracá: o catimbó da Missão (1938). São Paulo: CCSP, 1993.
ANDRADE, Mário de. Musica de Feitiçaria. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1983.
_______. Os Cocos. São Paulo: Duas Cidades; Brasília: INL, Fundação Nacional Pró-Memória,
1984.
_______. Vida de Cantador. Belo Horizonte: Villa Rica, 1993.
o
_______. Danças Dramáticas do Brasil. 2 tomo. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1982.
ARAÚJO, Alceu M. Folclore Nacional II: Danças, Recreação, Música. São Paulo: Edições
Melhoramentos, 1967.
AZEVEDO, Luiz H. C. de Escala, Ritmo e Melodia na Música dos Índios Brasileiros. Rio de
Janeiro: Rodrigues & Cia, 1933.
AYALA, Maria I. N. Os cocos: uma manifestação cultural em três momentos do Século XX.
Em: AYALA, Maria I. N. & AYALA, Marcos. (org.) Cocos: Alegria e Devoção. Natal: EDUFRN,
2000.
BARBOSA, Wallace de Deus. Pedra do Encanto. Dilemas culturais e disputas políticas entre os Kambiwá
e os Pipipã. Rio de Janeiro: Contra Capa /LACED, 2003.
BASTOS, Rafael J. M. A Musicológica Kamayurá: para uma antropologia da comunicação no Alto
Xingu. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1999.
BATISTA, Mércia R. R. De Caboclos da Assunção à Índios Truká. Dissertação de Mestrado, PPGAS-
UFRJ, 1992.
CAMÊU, Helza. Introdução ao Estudo da Música Indígena Brasileira. Rio de Janeiro: Conselho
Federal de Cultura e Departamento de assuntos Culturais, 1977.
CARVALHO, José J. de Transformações da Sensibilidade Musical Contemporânea. Horizontes
Antropológicos, 11, 1999:53-92.
CARVALHO, José J. & SEGATO, Rita L. Sistemas Abertos e Territórios Fechados: para uma
nova compreensão das interfaces entre música e identidades sociais. Série Antropologia, 164. Brasília:
Unb, 1994.
tore.p65 273 17/05/2000, 09:06
TORÉ
274
CASCUDO, Luis da C. Dicionário do Folclore Brasileiro. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1984.
_______. Antologia do Folclore Brasileiro (segundo volume). São Paulo: Martins, 1956.
CUNHA, Antônio G. da Dicionário Etimológico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. Holanda
CUNHA, Maximiliano C. da. A Música Encantada Pankararu. Toantes, torés, ritos e festas na cultura
dos índios Pankararu. Dissertação de Mestrado, PPGAC-UFPE, 1999.
DIRKS, Nicholas B. Introduction: Colonialism and Culture. Em: Dirks, N. B. Colonialism
and Culture. Michigan: The University of Michigan Press, 1992.
FERREIRA, Aurélio B. de H. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, s/d.
GALLET, Luciano. O índio não contribui para a formação da nossa música atual. Em: Estudos
de Folclore. Rio de Janeiro: Carlos Wehrs & Cia, 1934.
GLUCKMAN, Max. Análise Social na Zululândia Moderna. Em: Feldman-Bianco, B. (org.)
Antropologia nas Sociedades Contemporâneas. São Paulo: Ed. Globo, 1987.
GRÜNEWALD, Rodrigo de A. Regime de Índio e Faccionalismo: os Atikum da Serra do Umã.
Dissertação de Mestrado, PPGAS-UFRJ, 1993.
_______. Usos Rituais da Jurema e a Ciência do Índio Atikum. Mimeo, s/d.
HOHENTHAL Jr., W. D. As tribos indígenas do médio e baixo São Francisco. Revista do
Museu Paulista, XII, 1960: 37-86.
HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
KEARNEY, Michael. Reconceptualizing the Peasantry. Anthropology in Global Perspective. Westview
Press, 1996.
LÉRY, Jean de. Viagem á Terra do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1980.
MITCHELL, J. C. The Kalela Dance. Manchester University Press, 1968.
MOTA, Clarice N. & BARROS, José F. P. de. O Complexo da Jurema: Representações e
Drama Social Negro-Indígena. Em: MOTA, C. & ALBUQUERQUE, U. P. de (org.) As
Muitas Faces da Jurema. De espécie botânica à divindade afro-indígena. Recife: Bagaço, 2002.
NASCIMENTO, Romério H. Z. Tolê Fulni-ô. O som musical em um ritual indígena. Em:
LUCAS, M. E. & BASTOS, R. J. M. (org.) Pesquisas Recentes em Estudos Musicais no Mercosul.
Série Estudos: 1. Porto Alegre: Núcleo de Estudos Avançados do Programa de Pós-Graduação
em Música, 1995.
NETTL, Bruno. The Study of Ethnomusicology. Twenty-nine Issues and Concepts. University of Illinois
Press, 1983.
OLIVEIRA, João Pacheco. Uma etnologia dos Índios misturados: situação colonial,
Territorialização e fluxos culturais. Em: OLIVEIRA, J. P. de. (org.) A viagem de volta: etnicidade,
política e reelaboração cultural no Nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contra capa, 1999.
_______. O Nosso Governo: Os Ticuna e o Regime Tutelar. São Paulo: Marco Zero, MCT/CNPq,
1988.
PAZ. Ermelinda A. As Estruturas Modais na Música Folclórica Brasileira. Rio de Janeiro: Cadernos
Didáticos UFRJ, 8, 1994.
tore.p65 274 17/05/2000, 09:06
Regime Encantado do Índio do Nordeste
275
PEIXE, Guerra. Os cabocolinhos do Recife. Em: Revista Brasileira de Folclore. Rio de Janeiro,
15: 135-158, 1965.
PELS, Peter & SALEMINK, Oscar. Introduction: five theses on ethnography as colonial
practice. History of Anthropology, 8 (1-4):1-34, 1994.
PETI. Atlas das Terras Indígenas do Nordeste. Rio de Janeiro: PETI/PPGAS/Museu Nacional/
UFRJ, 1993.
SÃO PAULO, Centro Cultural. Divisão de Bibliotecas. Discoteca Oneyda Alvarenga. Acervo de
Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade: 1936-1938. São Paulo: Centro Cultural São Paulo, 2000.
SEEGER, Anthony. Novos horizontes na classificação dos instrumentos musicais. Em:
RIBEIRO, D. (Ed.) SUMA Etnológica Brasileira, Volume III. Petrópolis: Vozes, Finep, 1987.
SILVA, José da. Da brincadeira do coco à jurema sagrada: os cocos de roda e de gira. Em:
AYALA, Maria I. N. & AYALA, Marcos. (org.) Cocos: Alegria e Devoção. Natal: EDUFRN,
2000.
SIQUEIRA, Batista. Influência Ameríndio na Música Folclórica do Nordeste. Rio de Janeiro:
Universidade do Brasil, 1951.
SOLER, Luis. Origens Árabes no Folclore do Sertão Brasileiro. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1995.
STOKES, Martin. Introduction: Ethnicity, Identity and Music. Em: Stokes, M. (Ed.).
Ethnicity, Identity and Music. The Musical Construction of Place. Oxford/New York: Berg, 1997.
TRAVASSOS, Elizabeth. Glossário dos instrumentos musicais. Em: RIBEIRO, D. (Ed.)
SUMA Etnológica Brasileira. Petrópolis: Vozes, Finep, 1987.
VILAR, Gustavo. Novos registros e velhos problemas: no percurso da Missão de Pesquisa
Folclórica de 1938. Comunicação apresentada no GT 08: Música, Ritual e Política. São Luiz:
VIII ABANNE, 2003.
VILHENA, Luís R. Projeto e Missão. O movimento folclórico brasileiro 1947-1964. Rio de Janeiro:
Funarte, FGV, 1997.
tore.p65 275 17/05/2000, 09:06
tore.p65 276 17/05/2000, 09:06
tore.p65 277 17/05/2000, 09:06
Este livro foi composto nas fontes Carlson OldFace BT 11/14 e Humanst 521 BT 15/17,
impresso XXXX XXXXXX, sobre papel off set 90 g, em maio de 2004,
para a Editora Massangana.
tore.p65 278 17/05/2000, 09:06
Você também pode gostar
- Notas Sobre Os Índios Do Nordeste Brasileiro E Outras Coisas MaisNo EverandNotas Sobre Os Índios Do Nordeste Brasileiro E Outras Coisas MaisAinda não há avaliações
- As Capelas De Roça No Município De Lagoinha, SpNo EverandAs Capelas De Roça No Município De Lagoinha, SpAinda não há avaliações
- Esta Terra É MinhaDocumento97 páginasEsta Terra É MinhaRomério ZeferinoAinda não há avaliações
- ReligiõesDocumento18 páginasReligiõesramiriamAinda não há avaliações
- Raízes Africanas Na Diáspora: O Candomblé KetuNo EverandRaízes Africanas Na Diáspora: O Candomblé KetuAinda não há avaliações
- Territorialidades, identidades e marcadores territoriais: Kawahib da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau em RondôniaNo EverandTerritorialidades, identidades e marcadores territoriais: Kawahib da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau em RondôniaAinda não há avaliações
- Espaço Sagrado, Fé E AncestralidadeNo EverandEspaço Sagrado, Fé E AncestralidadeAinda não há avaliações
- O Torécoco (A Construção Do Repertório Musical Tradicional Dos Índios Kapinawá Da Mina Grande - PE)Documento169 páginasO Torécoco (A Construção Do Repertório Musical Tradicional Dos Índios Kapinawá Da Mina Grande - PE)marcosdada100% (1)
- Orí: A cabeça como divindade: História, Cultura, Filosofia e Religiosidade AfricanaNo EverandOrí: A cabeça como divindade: História, Cultura, Filosofia e Religiosidade AfricanaAinda não há avaliações
- Historia 25 de MaioDocumento7 páginasHistoria 25 de MaioMarcos NavarroAinda não há avaliações
- História - 5º Ano - SetembroDocumento7 páginasHistória - 5º Ano - SetembroGlleyce SouzzaAinda não há avaliações
- Representações e marcadores territoriais dos povos indígenas do corredor etnoambiental tupi mondéNo EverandRepresentações e marcadores territoriais dos povos indígenas do corredor etnoambiental tupi mondéAinda não há avaliações
- As Representações Sociais Do Folguedo Cavalo Marinho Dos Municípios de Condado e de Ferreiros 1960 - 1980 - FrankDocumento2 páginasAs Representações Sociais Do Folguedo Cavalo Marinho Dos Municípios de Condado e de Ferreiros 1960 - 1980 - FrankAlan MonteiroAinda não há avaliações
- Nomadismo Na Cultura: Entre A Fixação E A Andança No Espaço TerritorialNo EverandNomadismo Na Cultura: Entre A Fixação E A Andança No Espaço TerritorialAinda não há avaliações
- PATRIMoNIO CULTURAL IMATERIAL PDFDocumento34 páginasPATRIMoNIO CULTURAL IMATERIAL PDFAntonio Cesar Almeida SantosAinda não há avaliações
- Coco de UmbigadaDocumento235 páginasCoco de UmbigadaRicardo Ruiz100% (1)
- Na Garupa do Destino: saberes e fazeres rurais do sertão mineiroNo EverandNa Garupa do Destino: saberes e fazeres rurais do sertão mineiroAinda não há avaliações
- Caboclos Da Serra Do BotucaraíDocumento229 páginasCaboclos Da Serra Do BotucaraíJaneAinda não há avaliações
- LP - Mat 3º Ano Semana 6Documento5 páginasLP - Mat 3º Ano Semana 6Mônica GomesAinda não há avaliações
- PacificarDocumento201 páginasPacificarMiguel JuniorAinda não há avaliações
- O Palácio JuramidamDocumento194 páginasO Palácio Juramidamguedes_filho9176100% (2)
- 1985 - CABIXI - A Questão IndigenaPCD00014Documento42 páginas1985 - CABIXI - A Questão IndigenaPCD00014Paula FernandesAinda não há avaliações
- Nimuendaju 1981 FragmentosŠipáiaDocumento49 páginasNimuendaju 1981 FragmentosŠipáiagabriel luizAinda não há avaliações
- Histórias Ancestrais Do Povo PotiguaraNo EverandHistórias Ancestrais Do Povo PotiguaraAinda não há avaliações
- Sara AlonsoDocumento231 páginasSara AlonsoFrancisco Brasil100% (2)
- Elisângela Ferreira - Interfaces Entre Juventude e Gênero PDFDocumento15 páginasElisângela Ferreira - Interfaces Entre Juventude e Gênero PDFBrena BarrosAinda não há avaliações
- Os Paiter Suruí: do arco e flechas às tecnologias do século XXINo EverandOs Paiter Suruí: do arco e flechas às tecnologias do século XXIAinda não há avaliações
- Identidade étnica e territorialidade: análise espaço-temporal do território quilombola Furnas do Dionísio - Jaraguari/MSNo EverandIdentidade étnica e territorialidade: análise espaço-temporal do território quilombola Furnas do Dionísio - Jaraguari/MSAinda não há avaliações
- Conflito, Identidade e Territorialização: Estado e Comunidades Remanescentes de Quilombos do Vale do Ribeira de Iguape - SPNo EverandConflito, Identidade e Territorialização: Estado e Comunidades Remanescentes de Quilombos do Vale do Ribeira de Iguape - SPAinda não há avaliações
- Antonio Candido Os Parceiros Do Rio BonitoDocumento168 páginasAntonio Candido Os Parceiros Do Rio BonitoJosé Osvaldo Henrique Corrêa100% (1)
- Cultura MacuaDocumento13 páginasCultura MacuaJoaquim Rodrigues Agonia100% (2)
- Marcadores territoriais e representações dos povos originários do corredor Etnoambiental Tupi MondéNo EverandMarcadores territoriais e representações dos povos originários do corredor Etnoambiental Tupi MondéAinda não há avaliações
- 08 Indios BororoDocumento8 páginas08 Indios BororoMax PessôaAinda não há avaliações
- Poder local, educação e cultura em Pernambuco: Olhares transversaisNo EverandPoder local, educação e cultura em Pernambuco: Olhares transversaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Ebo No CandombléDocumento144 páginasEbo No CandombléPaulo R Roberto100% (4)
- Samain 1985 ReflexoesCriticasTratamMitosDocumento13 páginasSamain 1985 ReflexoesCriticasTratamMitosRoni AlmeidaAinda não há avaliações
- Ebo No Culto Aos Orisa PDFDocumento143 páginasEbo No Culto Aos Orisa PDFJoão de Almeida100% (2)
- MEMÓRIAS DO HOMEM DO CAMPO - Um Estudo Na Roda de MandiocaDocumento11 páginasMEMÓRIAS DO HOMEM DO CAMPO - Um Estudo Na Roda de MandiocaJackson RodrigoAinda não há avaliações
- Território e Tradição: as práticas de saúde entre agricultores de origem alemã de Vila Itoupava (SC) no contexto do desenvolvimento regional: o cuidado com a saúdeNo EverandTerritório e Tradição: as práticas de saúde entre agricultores de origem alemã de Vila Itoupava (SC) no contexto do desenvolvimento regional: o cuidado com a saúdeAinda não há avaliações
- 1281990613O Tronco Da Jurema PDFDocumento324 páginas1281990613O Tronco Da Jurema PDFLukas BCarvalhoAinda não há avaliações
- Reesink 2000 OSegredoDoSagrado ToreDocumento49 páginasReesink 2000 OSegredoDoSagrado ToreCarlos AbreuAinda não há avaliações
- Geohistória: Paisagem E Nacionalidade Nos Registros De ViagemNo EverandGeohistória: Paisagem E Nacionalidade Nos Registros De ViagemAinda não há avaliações
- Artigo Festejo de São SebastiãoDocumento11 páginasArtigo Festejo de São SebastiãoJoilma DamascenoAinda não há avaliações
- Caminhos da fumaça: Uma etnografia do xamanismo Kalapalo no Alto XinguNo EverandCaminhos da fumaça: Uma etnografia do xamanismo Kalapalo no Alto XinguAinda não há avaliações
- Dissertacao Patricia CoutosegDocumento169 páginasDissertacao Patricia CoutosegCaio Rodrigues KattenbachAinda não há avaliações
- O casamento entre o céu e a terra: Contos dos povos indígenas do BrasilNo EverandO casamento entre o céu e a terra: Contos dos povos indígenas do BrasilAinda não há avaliações
- Resolução Sobre Neologismos Da Academia de TupiDocumento1 páginaResolução Sobre Neologismos Da Academia de TupiRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Ayrosa 1950 Orações em TupiDocumento110 páginasAyrosa 1950 Orações em TupiJoão Isaac MarquesAinda não há avaliações
- 034 Arandu Akuaa Letra de Musicas PDFDocumento11 páginas034 Arandu Akuaa Letra de Musicas PDFRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Dicionario KaaporDocumento210 páginasDicionario KaaporRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Ribeiro 2013 Indio Cultura Brasileira PDFDocumento208 páginasRibeiro 2013 Indio Cultura Brasileira PDFRafael GutterresAinda não há avaliações
- Revista de Antropologia. Linguas TupiDocumento14 páginasRevista de Antropologia. Linguas TupiIvan RochaAinda não há avaliações
- História Do Vale Do MamanguapeDocumento214 páginasHistória Do Vale Do MamanguapeRomildo AraujoAinda não há avaliações
- O Tupi Na Geographia NacionalDocumento171 páginasO Tupi Na Geographia NacionalRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Breve Historia Da Perseguição Aos Indios PDFDocumento32 páginasBreve Historia Da Perseguição Aos Indios PDFRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Manual de Linguistica IndigenaDocumento272 páginasManual de Linguistica IndigenaTonka3cAinda não há avaliações
- Ethnologia Selvagem - Estudo Sobre A Memoria, Região e Raças Selvagens Do Brasil Do Dr. Couto de Magalhães (1875)Documento55 páginasEthnologia Selvagem - Estudo Sobre A Memoria, Região e Raças Selvagens Do Brasil Do Dr. Couto de Magalhães (1875)Romildo AraujoAinda não há avaliações
- As Vogais Orais Do Proto-Tupí (Rodrigues 2005) PDFDocumento13 páginasAs Vogais Orais Do Proto-Tupí (Rodrigues 2005) PDFRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Cosmovisão Tupi GuaraniDocumento46 páginasCosmovisão Tupi GuaraniEdmar Gomes100% (3)
- Manual de Linguistica IndigenaDocumento272 páginasManual de Linguistica IndigenaTonka3cAinda não há avaliações
- As Vogais Orais Do Proto-Tupí (Rodrigues 2005) PDFDocumento13 páginasAs Vogais Orais Do Proto-Tupí (Rodrigues 2005) PDFRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Cosmovisão Tupi GuaraniDocumento46 páginasCosmovisão Tupi GuaraniEdmar Gomes100% (3)
- Dicionário Tupi PortuguêsDocumento98 páginasDicionário Tupi PortuguêsRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Win8.1 Manual BRADocumento138 páginasWin8.1 Manual BRARomildo AraujoAinda não há avaliações
- Artigo: Toré Potiguara: Dança, Crença, e Tradição.Documento18 páginasArtigo: Toré Potiguara: Dança, Crença, e Tradição.Romildo Araujo100% (1)
- Pai-Nosso e Ave-Maria em Tupi AntigoDocumento2 páginasPai-Nosso e Ave-Maria em Tupi AntigoRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Breve Historia Da Perseguição Aos Indios PDFDocumento32 páginasBreve Historia Da Perseguição Aos Indios PDFRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Tupi Antigo Esquema GramaticalDocumento1 páginaTupi Antigo Esquema GramaticalRomildo Araujo50% (2)
- ECA - Estatuto - Crianca - Adolescente - 13ed PDFDocumento117 páginasECA - Estatuto - Crianca - Adolescente - 13ed PDFIngridFurtadoAinda não há avaliações
- Musicas Do ToréDocumento1 páginaMusicas Do ToréRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Lenda PotiguaraDocumento2 páginasLenda PotiguaraRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Como Extrair A Tinta Do JenipapoDocumento1 páginaComo Extrair A Tinta Do JenipapoRomildo Araujo100% (6)
- Artigo: Toré Potiguara: Dança, Crença, e Tradição.Documento18 páginasArtigo: Toré Potiguara: Dança, Crença, e Tradição.Romildo Araujo100% (1)
- História Da Paraíba - WickpediaDocumento8 páginasHistória Da Paraíba - WickpediaRomildo AraujoAinda não há avaliações
- Artigo: Toré Potiguara: Dança, Crença, e Tradição.Documento18 páginasArtigo: Toré Potiguara: Dança, Crença, e Tradição.Romildo Araujo100% (1)
- Janaína Azevedo - Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre Umbanda Vol. II PDFDocumento128 páginasJanaína Azevedo - Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre Umbanda Vol. II PDFVanessa BanderaAinda não há avaliações
- Tes2 PDFDocumento35 páginasTes2 PDFJoao FerreiraAinda não há avaliações
- O PinheirinhoDocumento12 páginasO PinheirinhoceuvazAinda não há avaliações
- A Lei Auroca Regulamenta o Inciso VII DoDocumento4 páginasA Lei Auroca Regulamenta o Inciso VII DoBiiaBarros2014Ainda não há avaliações
- Dissertação Naum GaboDocumento339 páginasDissertação Naum GaboPedro Felizes0% (1)
- Planta 2023 - Digital Planner 2023Documento73 páginasPlanta 2023 - Digital Planner 2023Flores Pro MundoAinda não há avaliações
- A Mentirosa Liberdade Texto para o 3 AnoDocumento2 páginasA Mentirosa Liberdade Texto para o 3 AnoLuana NevesAinda não há avaliações
- .Documento112 páginas.editormiranda2537100% (2)
- Whitelist DestinyDocumento3 páginasWhitelist DestinyArthur araujoAinda não há avaliações
- 02 Padarie - 1Documento10 páginas02 Padarie - 1Jamila Mancilha100% (1)
- Classificação Das DançasDocumento3 páginasClassificação Das DançasRomario Cabral0% (2)
- Texto, Contexto e DiscursoDocumento21 páginasTexto, Contexto e DiscursoDilman Damascena Dos Santos100% (1)
- Arquivoscenso Digital Ead 2018 PortuguesDocumento215 páginasArquivoscenso Digital Ead 2018 PortuguesSimone OelkeAinda não há avaliações
- QUESTÕES SPRINT - ESA PortuguêsDocumento39 páginasQUESTÕES SPRINT - ESA PortuguêsLuiz RubensAinda não há avaliações
- Reminicências de ViagensDocumento304 páginasReminicências de ViagensAnderson Coelho da RochaAinda não há avaliações
- As Ferramentas Do AprendizDocumento17 páginasAs Ferramentas Do AprendizMarcos Paulo MesquitaAinda não há avaliações
- Importação Da Cerveja Heineken - ProjetoDocumento34 páginasImportação Da Cerveja Heineken - ProjetoRoberto PinaAinda não há avaliações
- Lírica Camoniana - Contextualização Histórico-LiteráriaDocumento10 páginasLírica Camoniana - Contextualização Histórico-LiteráriacatarinaAinda não há avaliações
- BG178 2022Documento16 páginasBG178 2022fulano de talAinda não há avaliações
- Simulado 2 Ano AtualizadoDocumento2 páginasSimulado 2 Ano AtualizadoElanne ReginaAinda não há avaliações
- A Bíblia Do Treino de Braços - Parte IDocumento3 páginasA Bíblia Do Treino de Braços - Parte Ihotwrists100% (1)
- Cap0010-Eletrodinâmica - Geradores e Motores Elétricos.Documento20 páginasCap0010-Eletrodinâmica - Geradores e Motores Elétricos.Gustavo ApellanizAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Filosofia Da Educação - PedagogiaDocumento4 páginasPlano de Ensino - Filosofia Da Educação - PedagogiaRafaela Freitas100% (2)
- RelevO Março de 2022Documento24 páginasRelevO Março de 2022DanielAinda não há avaliações
- Crescendo em Oração - Abnério Cabral - 01.08.2021Documento5 páginasCrescendo em Oração - Abnério Cabral - 01.08.2021Raimundo ReisAinda não há avaliações
- Matemática Financeira - ExercícioDocumento15 páginasMatemática Financeira - ExercícioRosário'h Oliveira'h Simão'hAinda não há avaliações
- W7 - RemessaDocumento8 páginasW7 - RemessaMarcelo PossamaeAinda não há avaliações
- Economia Social e Do Desenvolvimento Sua CaracterizaçaoDocumento30 páginasEconomia Social e Do Desenvolvimento Sua CaracterizaçaoAugusta JorgeAinda não há avaliações
- Redutora Pressao ZDRK 10Documento6 páginasRedutora Pressao ZDRK 10Felipe RattoAinda não há avaliações
- CD Junto As AguasDocumento13 páginasCD Junto As AguasCelso Magalhães100% (1)