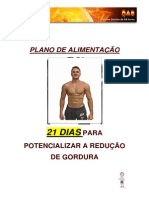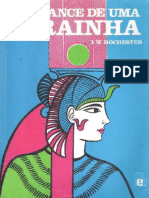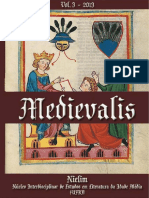Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
8 Os Versos Satanicos de Salman Rushdie
8 Os Versos Satanicos de Salman Rushdie
Enviado por
Sekulo Walaliwala Mandi MukokaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
8 Os Versos Satanicos de Salman Rushdie
8 Os Versos Satanicos de Salman Rushdie
Enviado por
Sekulo Walaliwala Mandi MukokaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
131
OS VERSOS SATNICOS * DE SALMAN RUSHDIE: ALEGORIA DE UM DEN S AVESSAS
Geraldo Ferreira de Lima**
RESUMO Os Versos Satnicos do escritor anglo-indiano Salman Rushdie examinado sob o ponto de vista de uma alegoria do Paraso bblico. Embora apresente uma narrativa, onde as aluses religiosas ao islamismo esto presentes do comeo ao fim, Rushdie constri sua alegoria de um Paraso cristo composto apenas de elementos humanos. Deste modo, ao invs de um Ado em sua totalidade, tem-se um ser humano completamente fragmentado. este ser fragmentado que, desconstruindo qualquer possibilidade de reconstruir o Paraso Admico, decide construir seu prprio den, embora s avessas. PALAVRAS-CHAVE : Identidade. Paraso. Alegoria.
Ao relatar a queda de dois homens adultos, vivos de carne e osso, numa madrugada de Ano Novo, de uma altitude de vinte e nove mil ps sobre o Canal da Mancha sem auxlio de asas ou pra-quedas, atravessando um cu lmpido, Salman Rushdie est fazendo uso de um estratagema arquetpico que, na cosmoviso ocidental, nos poderia remeter, ora concepo espeleolgica platnica de apreenso do divino, ora perda da condio ednica ou entrada de Jonas no ventre de uma baleia. Como proposta literria, o tema no chega a ser sui generis . Pertence macro temtica da jornada humana, uma idia recorrente na tradio literria ocidental, iniciada com Homero e Virglio, e que tem em Dante e Chaucer seu ponto culminante na Idade Mdia. Na modernidade, tem afinidades
*Embora o texto aqui utilizado seja o da traduo portuguesa Os Versculos Satnicos , nesta abordagem, deu-se preferncia ao ttulo corrente no Brasil Os Versos Satnicos . **Prof. Adjunto (DLA/UEFS). E-mail: lima@gd.com.br Universidade Estadual de Feira de Santana Dep. de Letras e Artes. Tel./Fax (75) 3224-8265 - Av. Transnordestina, S/N - Novo Horizonte - Feira de Santana/BA CEP 44036-900. E-mail: let@uefs.br
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
132
com Alice in the Wonderland de Lewis Carol e Finnegans W ake de James Joyce, onde queda e sonho forjam o universo no qual so processadas as imagens evocadas por um mergulho, onde a dicotomia Bem/Mal vincula-se a troponmias que tm na alegoria sua melhor expresso. Apesar dessa constatao, e por mais paradoxal que possa parecer, uma vez que por alegoria se entende um signo que arbitrrio, poder-se-ia dizer que Os Versos Satnicos uma narrativa mais simblica que alegrica. Se se considerar que os signos focados por essa narrativa tm uma relao intrnseca com o real, mais do que se poderia imaginar, ento, evidente, que j no se pode falar apenas do alegrico como nica fora propulsora. Assim como Dante com sua floresta de smbolos(como quer Baudelaire em Correspondances ); Shakespeare (onde violncia e culpa so representadas por imagens sangrentas como em Macbeth ou em Hamlet onde ervas daninhas e doena simbolizam corrupo e decadncia) e W . B. Yeats (restaurando o multifacetado imaginrio galico irlands atravs de smbolos como: sol, lua, torre, mscara e falco), em todos esses autores se tem uma imagem real, concreta para expressar uma emoo ou uma idia. Em outras palavras, um smbolo , cuja referncia, aqui, tem o sentido de revelar a relao antinmica entre esse termo e o tropo alegoria . Significando falar de outro modo, dizer de outra maneira, o termo grego alegoria como um discurso que faz entender outro, numa linguagem que oculta outra 1 apresenta um duplo significado, i. e., um que se situa na superfcie significado superficial ou primrio , e outro que se situa sob esse significado subjacente ou secundrio. Desse modo, a alegoria pode ser lida, compreendida ou interpretada em dois nveis. s vezes, esses nveis podem ser expandidos para quatro, como faz Sto. Toms de Aquino com seu mtodo exegtico. Aplicando-se esse mtodo, Jerusalm se transforma numa alegoria que pode ser construda em quatro nveis: 1. Literal (A Cidade Sagrada) 2. Alegrico (A Igreja Catlica) 3. Moral (A Alma Justa) 4. Anaggico (A Igreja Triunfante). A alegoria est associada Fbula e Parbola. Tem origem na religio e
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
133
uma forma de expresso uma maneira de ver as coisas, sentir e pensar sobre elas to natural ao homem que se torna universal 2 . Embora, nos sculos XIX e XX, a alegoria tenha perdido parte de seu antigo vigor, apenas, esporadicamente, chamando a ateno de escritores e crticos 3 , a verdade que, apesar de pouco usado, esse tropo um instrumento que pode se tornar uma ferramenta valiosa nas mos de um artfice de talento capaz de concretizar atravs de imagens tudo aquilo que for passvel de apreenso epistemolgica. Tendo o aspecto m aterial como ornamento ou disfarce do aspecto m oral, ideal ou ficcional, a alegoria d impresso de equivaler a uma seqncia logicamente ordenada de metforas 4 . Na verdade, a correspondncia entre o concreto e o abstrato na alegoria executada numa relao minimizante de elementos, i. e., o que importa no a complexidade do todo, mas a riqueza de detalhes dos elementos mnimos, das mincias da narrativa. Em Os Versos Satnicos , essas mincias acompanham uma narrativa que flutua entre o possvel e o impossvel; entre o real e o onrico. Equilibrando-se num fio tnue que ora tende para o fantstico, ora para o nonsense, essa narrativa realiza, atravs de um contedo alegrico que se proteiforma a cada elocuo, um continuum processo de ser e vir-a-ser . Com isso, uma (ir)realidade presentifica-se a cada novo enunciado. Decorrente disto, uma profuso de imagens oferecida. Embora atordoantes e apavorantes, essas imagens nos expem expiao e catarsis; e empurra, ainda que de forma abrupta, a nossa fragmentada humanidade para o encontro de unidades em dissonncia com os mltiplos fragmentos de eus e outros. Como a alegoria no se submete a um padro hierarquizante, uma abordagem en passant de Os Versos Satnicos poderia levar um leitor incauto a concluir que se trata de um contedo desordenado e catico. Como alegoria, nada mais apropriado que esse contedo seja assim apresentado uma vez que, para que determinado significado seja possvel de ser apreendido, suficiente a decodificao de parte da complexa teia de signos lingsticos, e parte dos paralingsticos a implcitos j
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
134
que o principal elemento que origina a(s) alegoria(s) a contidas a questo da identidade, tanto no plano endgeno quanto no exgeno, i. e., o indivduo como ego e como alter .
DO JARDIM DO PARASO : A EXPLOSO DE UM NOVO SOPRO VITAL
O Gnesis , usando a metfora do sopro vital, assim descreve a criao do homem: Ento o Senhor Deus formou o homem do p da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem se tornou ser vivo 5 . Nessa perspectiva de sopro como elemento gerador de vida se inserem os dois principais personagens de Os Versos Satnicos : Gibreel Farishta e Saladim Chamcha. Ao serem expelidos de um avio que tem o nome de Bostan um dos Jardins do den , explodido por terroristas numa altura equivalente a quase dez mil metros, ambos os personagens se vem envolvidos num processo de expulso anloga do Paraso, ou, para no ficarmos restritos apenas ao plano de uma mstica consuetudinria, tambm se pode ver tal imagem como uma analogia da expulso fetal de um tero csmico em direo a uma me terra em sua jornada rumo ao incomensurvel. Enquanto no texto bblico a cena da expulso do Paraso Divino assim descrita: E o Senhor Deus o mandou para fora do Jardim de den, a fim de cultivar o solo de onde fora tirado 6 , e o homem , percebendo a dimenso da conseqncia de sua atitude frente terrvel sentena que lhe imposta: tirars da terra com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida 7 , demonstra arrependimento e culpa; na cena de expulso do Paraso de Rushdie pode-se imaginar qualquer sentimento, exceto culpa ou arrependimento. No mergulho csmico resultante da fora gravitacional da rotao terrestre, como o que se quer por em evidncia no a causa da queda, mas sua conseqncia; a queda tem mais um sentido epifnico que escatolgico. Desse modo, o tom com que Gibreel Farishta entoa, o que poderia ser uma espcie de Litania, a constatao de que,
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
135
a partir desse momento, tudo est reduzido ao paradoxo: Para se nascer de novo, preciso primeiro morrer 8 . com esta certeza que o vo abissal em direo a um den a ser reconstrudo se inicia. Diferente do mito admico cuja expulso do Paraso acompanhada de condenaes que vo desde a simples constatao de que faz-se necessrio esconder a nudez, culpabilidade a todas as descendncias do gnero humano in secula seculorum , os heris rushdieanos (se que podemos assim, ipsis litteris , consider-los pertencentes a esta categoria), cientes da inevitabilidade que lhes imposta, aceitam o fato at com uma certa trivialidade. Enquanto em Ado o que se observa um anti-heri sufocando-se em angstia, dor e autocomiserao, a expulso do Bostan, ou melhor, do Jardim do Paraso , se realiza num ambiente cheio de ludicidade e jocosidade como se os personagens ainda vivenciassem a condio ednica:
Gibreel, o solista desafinado, tinha-se posto aos pinotes ao luar enquanto entoava seu improviso, nadando no ar, mariposa, bruos, enrolando-se numa bola, abrindo braos e pernas contra o fundo quase infinito da quase aurora, adotando posturas herldicas, rampante, agachado, opondo leveza gravidade. Agora rebolou-se alegremente em direo voz sardnica. Salve, Salad baba, s tu, o excelente. Como vai isso, velho Compincha. Ao que o outro, uma sombra parda que ia caindo de cabea para baixo com um fato cinzento, casaco todo bem abotoado, braos colados ao corpo, no parecendo dar-se conta da invirossimilhana do chapu de coco que levava na cabea, fez uma careta de pessoa avessa a tais eptetos. Ei Pateta, berrou Gibreel, com uma segunda piscadela de olho invertida, Digna Londres, bhai! A vamos ns! Esses sacanas l de baixo nem vo perceber o que lhes aconteceu. Meteoro ou trovoada ou castigo de Deus. Assim, sem mais nem menos, meu amigo. Dhaarrrrammm! Wham, na? Que entrada em cena, caramba. Podes crer: splat!9.
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
136
Enquanto na concepo criacionista judaica a expulso do Paraso joga o homem num lugar que o priva de trilhar o caminho da rvore da vida, o que lhe possibilitaria conhecer o Bem e o Mal, a concepo recriacionista de Salmon Rushdie se realiza como anttese da condio anterior queda ednica causada pela dicotmica relao Mal/Bem, e lana o homem diretamente na condio humana. Destitudos de qualquer estado que transcenda o limite de suas respectivas humanidades, Gibreel e Saladim, insuflados pelo sopro causado pela exploso semelhante a um Big-Bang csmico, so jogados do espao etreo, lugar no imaginrio religioso de conotao judaica onde querubins, anjos e arcanjos tm seu habitat para, transmutados em suas mtuas identidades em figuras angelicais, realizarem a tarefa de reformadores, ou melhor, de reconstrutores do Paraso, que embora anlogo ao den um paraso rebours . E neste paraso, a dicotomia Bem/Mal, inexistindo como unidades estanques se entrelaam de tal modo que o que parece no ser , ; e o que , no parece ser. Isto deve-se ao sentido do verbo grego alegorien que significa tanto falar alegoricamente quanto interpretar alegoricamente. Da poder-se falar em alegoria dos poetas e alegoria dos telogos. Examinando a questo, diz Joo Adolfo Hansen: Genericamente, a alegoria dos poetas uma semntica de palavras, apenas, ao passo que a dos telogos uma semntica de realidades supostamente reveladas por coisas nomeadas por palavras 10 . Por isso, frente a um texto que se supe alegrico, o leitor tem dupla opo: analisar os procedimentos formais que produzem a significao figurada, lendoa apenas como comunicao lingstica que ornamenta um discurso prprio, ou analisar a significao figurada nela pesquisando seu sentido primeiro, tido como preexistente nas coisas e assim, revelado na alegoria 11 . Como o objetivo que aqui se prope o da busca de um sentido primeiro, fica clara a opo. Assim, na tentativa de analisar a significao figurada de Os Versos Satnicos , fazse necessrio verificar metaforicamente a estrutura do corpus narrativo que suporta seu contedo alegrico. Como na cosmologia
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
137
grega que tem nos quatro elementos bsicos: ar, terra, fogo e gua a sua base conceptual, o que tambm se evidencia na narrativa bblica, observa-se no texto em questo uma relao paradigmtica desses elementos dispostos numa equao sui generis que poderia assim ser expressa: ar est para terra assim como terra, fogo e gua esto para si mutuamente. Poder-se-ia, ainda, ter uma outra relao paradigmtica na qual: (ar+ terra)=queda (ou expulso do Bostan, ou melhor, do Jardim do Paraso) e (terra + fogo + gua)=permanncia no Paraso (ou reconstruo do Paraso). O ar onde se movem os dois nicos sobreviventes da grande exploso, seguida de uma chuva de estrelas, um comeo universal, um eco em miniatura do nascer dos tempos 12 . no ar que estes dois sobreviventes se descobrem nicos e se reconhecem. a que se inicia a reconstruo do Paraso com a constatao do que so. No ar surge a certeza de que esto em queda livre como trouxas largadas por uma cegonha de bico descuidadamente entreaberto [...]na posio recomendada para bebs entrarem no canal do nascimento 13 . esta conscincia de ser e estar que os torna cientes (o que, necessariamente, no quer dizer conscientes ) de que so dois seres em transmutao carregando em si a explicao para a alegoria da qual sero agentes:
[...] l em cima no ar-espao, nesse domnio brando, imperceptvel que o sculo tornou possvel e veio depois a tornar possvel o sculo, convertendo-se numa das localizaes que o definem, o lugar do movimento e da guerra, do encolher do planeta e do vazio de poder, a mais insegura e transitria das zonas, ilusria, descontnua, metamrfica pois quando se atira tudo ao ar tudo se torna possvel , l em cima , seja l como for, operam-se nos actores delirantes mudanas que muito teriam alegrado o corao do Sr. Lamarck: sob uma presso extrema do meio ambiente, certos caracteres foram adquiridos. Que caracteres para cada um deles? Mas devagar, julgam que a criao aconteceu assim pressa? Pois bem,
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
138
com a revelao o mesmo... dem uma olhada ao par. Notam alguma coisa estranha? Apenas dois homens morenos, precipitando-se no vazio [...] subiram alto demais, elevaram-se acima de si prprios, voaram at demasiado perto do sol [...]14.
Depois deste abissal mergulho no etreo, e atirados gua de onde so resgatados, no se sabe como nem por quem Gibreel Farishta e Saladim Chamcha poderiam potencialmente explicar o condicionamento em que se vm envolvidos j que no possvel a qualquer vivente a proeza de uma queda desta natureza. Entretanto, falham, na medida em que, sequer, conseguem explicar a si mesmos. A despeito disto, se vem, paulatinamente, como agentes de um processo de reconstruo de um paraso onde a ordem estabelecida inverter a relao Bem/Mal.
TERRA, FOGO E GUA: RECONSTRUINDO O PARASO
Ao incumbir a reconstruo de um paraso terrestre a dois atores repentinamente transformados, um em Mensageiro do Senhor e o outro em Fauno Diablico, Salman Rushdie, alegoricamente, resolve dois problemas imanentes ao criacionismo: Deus como agente nico da criao e a existncia do Mal. No embate de foras nem sempre definidas como pertencentes ao exclusivo domnio do Bem ou ao exclusivo domnio do Mal, como nos querem fazer crer todas as ramificaes do judasmo monotesta, a terra o cenrio onde estas foras vo mostrar toda a capacidade que tm para forjar novas modalidades conceptuais do divino. Estruturada num eixo construdo dos elementos terra, fogo e gua , a cidade de Jahilia o ponto de partida para a metaforizao da reconstruo de um paraso que comea a ser elaborada com a saudvel associao de areia e capital:
A cidade de Jahilia toda construda em areia, as construes derivam do deserto sobre o qual se elevam. um panorama fantstico: cercada de
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
139
muralhas, com as suas quatro portas, toda ela um milagre operado pelos seus habitantes, que aprenderam a transformar a fina areia das dunas daquelas paragens desertas a prpria matria de inconstncia , quintessncia da instabilidade, da mudana, da traio, da ausncia de forma , convertendo-a alquimicamente na substncia de sua permanncia recm inventada. [...] Muito recentemente, [...] e como hbeis negociantes que eram, os jahilianos instalaram-se no ponto de interseco das rotas das grandes caravanas, e moldaram as dunas segundo a sua vontade. Agora a areia serve os poderosos mercadores da urbe. [...] esplendor da feira de Jahilia! Aqui, em amplas tendas perfumadas, h um ror de especiarias, de folhas de sene, de madeiras aromticas; aqui se encontram os vendedores de perfumes, disputando os narizes dos peregrinos, e tambm as suas bolsas. [...] Mercadores, judeus, monofistas, nabateus, compram e vendem peas de ouro e prata, pesando-as, mordendo as moedas com dentes conhecedores. H linho do Egito, e seda da China; de Barsra, armas e cereais. H jogos de azar, bebidas e danas,. H escravos venda, nbios, anatlios, etopes. Os quatro cls da tribo dos Tubares controlam as diversas zonas da feira, especiarias e produtos aromticos nas Tendas Escarlates, nas Tendas Negras tecidos e couros. O grupo dos Cabelos de Prata tem a seu cargo os metais preciosos e as espadas. Os divertimentos dados, danarinas do ventre, vinho de palma, haxixe e afeem so prerrogativa do ltimo quarto da tribo, os Donos dos Camelos Malhados, que tambm controlam o trfico de escravos. [...] Os peregrinos esto sentados com bolsas de dinheiro na mo esquerda; de tanto em tanto tempo, uma moeda passa da bolsa para a mo direita. As danarinas saracoteiam-se e transpiram, e os seus olhos nunca se afastam dos dedos dos peregrinos; quando termina a transferncia de moedas termina tambm a dana15.
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
140
A noo de construo de um paraso a partir de relaes com o capital evidencia o utilitarismo como o elo mais forte na formao da cadeia que leva crena religiosa. Jahilia, que da condio de cidade eminentemente comercial transformada em centro religioso, nos d a iluso de que a mera insero em novo cdigo de moralidade a condio sine qua non para que todos os vcios anteriores sacralizao sejam extirpados. Deste modo, Jahilia adaptou-se nova vida, chamada para a orao cinco vezes por dia, a proibio do lcool, o encerramento das mulheres 16 . Difcil crer que tal mudana possa ser operacionalizada, quando se tem hbitos to enraizados. Dimensionada pelo capital e reformada pela crena em Al-Laht, Jahilia serve tanto para explicar Meca quanto Roma, para justificar o mercenarismo dos adeptos de novoas modalidades de pseudorreligioso orientais quanto o dos seguidores das novas igrejas crists do ocidente que surgem como se fossem meros produtos de marketing . O prprio processo de troca encarregar-se- de fazer com que uma Jahilia sucumba para que uma outra renasa. Esta a palavra de ordem do capital: renovar sempre. Esta sua dinmica. Uma dinmica que se confunde com a prpria religio. Na alegoria de Rushdie, o brao de Mahound abragendo cada vez mais longe, cerca Jahilia, privando-a do seu sangue vital, para destru-la paulatinamente, a fim de que outra Jahilia seja edificada para a autorealizao do Profeta 17 . Abandonada Jahilia, (re)cria-se outra. Desfeita uma crena, busca-se outra que oferea outra promessa de paraso atravs da submisso do crente tanto rem relao ao ser , quanto ao ter . Numa cena em que Salman (o homnimo em relao a Salman Rushdie por si s explicaria o carter metafrico da narrativa) relata a Baal, o poeta de Mahound o Profeta, uma clara referncia a Maom , mostra como a mudana de Jahilia causada pelo mercenarismo religioso se processou:
No Osis de Yathrib os adeptos da nova f da Submisso viram-se sem terras e, por conseguinte, pobres. Durante muitos anos financiaram-se
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
141
atravs de atos de banditismo, atacando as ricas caravanas a caminho, ou de regresso de Jahilia. Mahound no tinha tempo a perder com escrpulos, disse Salman a Baal, nem problemas de fins nem meios. Os fiis viviam margem da lei, mas foi nesses anos que Mahound ou dever-se-ia dizer o Arcanjo Gibreel? ou Al-Lah? andara obcecado pela lei. Entre as palmeiras do osis Gibreel aparecia ao Profeta e punha-se a despejar regras, regras, regras at os fiis s terem vontade de dizer que j chegava de revelaes, disse Salman, regras para tudo e mais alguma coisa, se um homem se peida deve voltar o rosto para o lado do vento, e havia tambm uma regra sobre a mo a utilizar para limpar o rabo. Era como se nenhum aspecto da existncia humana pudesse ser deixado ao acaso,l i vr e.A r evel ao a recitao dizia aos fiis quanto haviam de comer, com que profundidade haviam de dormir, que posies sexuais tinham recebido sano divina, de forma que todos ficaram a saber que a sodomia e a posio dos missionrios eram aprovadas pelo arcanjo, enquanto as figuras proibidas incluam todas aquelas em que a fmea ficasse por cima. Gibreel fez ainda uma lista dos temas autorizados e interditos de conversa, e assinalou as partes do corpo que no poderiam ser coadas por muito insuportvel que fosse o comicho que a sentisse. Vetou o consumo de gambas, essas bizarras criaturas de outro mundo que nenhum dos fiis conhecia, e exigiu que os animais fossem mortos lentamente, esvaindo-se em sangue, de forma que ao experimentarem plenamente as suas mortes eles pudessem chegar a entender o sentido das suas vidas, pois s no momento da morte que as criaturas vivas entendem que a vida foi real, e so (sic) uma espcie de sonho. E Gibreel, o arcanjo, especificou o modo como deviam enterrar-se os homens, e como os seus bens deviam ser divididos, de forma que Salman, o persa, comeou a perguntarse que estranho Deus seria aquele que mais parecia um negociante. Foi ento que teve a idia
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
142
que destruiria a sua f, ao lembrar-se, pois claro, que o prprio Mahound fora um negociante, alis bastante prspero, uma pessoa para quem a organizao e as regras eram uma segunda natureza, pelo que no deixava de ser coincidncia a mais ter encontrado um arcanjo com tanta queda para o negcio, para lhe transmitir as decises administrativas do seu Deus incorpreo mas altamente corporativo18.
Sendo a terra o palco onde se realiza a reconstruo do paraso evidente que os elementos fogo e gua tambm se associam a esta empreitada. Assim, fogo e gua, em Os Versos Satnicos, tornam-se dois importantes elementos que ajudam a construir a idia de um Paraso s avessas. Um paraso, onde o poder de seus construtores, diretamente proporcional s deformaes de ordem psquica ou fsica de que so portadores. A descrio da destruio de Babilondres patrocinada pelo Arcanjo Gibreel, o anjo da Recitao que tem nas mos o poder da revelao, 19 mas que, na verdade, no passa de um psictico, antes do encontro deste com Saladim Chamcha, no qual ambas as identidades perdero suas conexes originais, uma preparao para o que poderia ser chamado de prova de fogo a que os personagens sero submetidos logo em seguida:
Gibreel deixa-se ficar imvel enquanto pequenos grupos de residentes passam por ele nas mais diversas direes. [...] Ele leva a trombeta aos lbios e comea a tocar. Pequenos rebentos de chamas brotam no cimento, alimentados pelos montes de objetos e pelos sonhos deitados ao lixo. H uma pequena pilha de invejas em decomposio: arde verdemente no meio da noite. Os fogos so de todas as cores do arco-ris, e nem todos precisam de combustvel. Ele sopra as pequenas flores de fogo da sua corneta e estas danam sobre o cimento, no precisando nem de materiais combustveis nem de razes. [...] E agora os botes transformam-se em arbustos, sobem como trepa-
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
143
deiras pelas fachadas das torres, estendem os ramos na direo dos botes vizinhos, formando sebes de chamas multicores. como ver um jardim luminoso, de crescimento vrias vezes acelarado, um jardim a crescer, a florescer, e tornar-se matagal, a emaranhar-se, a tornar-se impenetrvel, um jardim de quimeras densas, entrelaadas, rivalizando sua maneira incandescente com o silvado que irrompeu em volta do palcio da bela adormecida num outro conto de fadas, h muito tempo, muito tempo. Mas aqui no h bela que dentro durma. H Gibreel Farishta, caminhando num mundo de fogo. Na High Street v casa feita de chamas, com paredes de fogo e chamas como cortinas corridas penduradas s janelas. E h homens e mulheres de pele gnea que andam, correm rodopiam volta dele com casacos de fogo. A rua est agora em brasa, fundente, um rio cor de sangue. Tudo, tudo se incendeia medida que ele toca a sua alegre corneta, dando s pessoas aquilo que elas querem, o cabelo e os dentes dos habitantes da cidade esto fumegantes e encarnados. O vidro arde, e l no alto os pssaros voam com as asas incandescentes20 .
A prova de fogo, o encontro desencadeado pelo elemento gneo que Gibreel Farishta tem logo em seguida a esta descrio com Saladim Chamcha, ser impresso por um trao armagednico na medida que o ajuntamento de opostos na busca de uma sntese, um momento decisivo para Gibreel (e de um certo modo, tambm para Chamcha). Esta busca de identidade revelar um Gibreel, que, na verdade, Chamcha. Para Gibreel no h qualquer possibilidade de rejeitar a condio que lhe ser outorgada:
At um arcanjo pode ter uma revelao, e quando o olhar de Gibreel se cruza, por um fugacssimo instante, como o de Saladim Chamcha, ento, nessa infenitesimal e infinita fraco de segundo rasga-se o vu que toldava a vista, [...] E agora,
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
144
enfim, Gibreel Farishta reconhece pela primeira vez que o adversrio no se limitou a adoptar como disfarce as feies de Chamcha; que este no um caso de possesso para-normal, de roubo de um corpo por um invasor vindo dos infernos; em suma, que o mal no exterior a Saladim, antes brota de um qualquer recesso da sua natureza verdadeira e tem vindo a alastrar pela sua pessoa como um cancro, apagando o que nele havia de bom, destruindo-lhe a alma, com tantas esquivas a artimanhas o fazendo que s vezes parecia recuar, quando na realidade, durante a iluso de remisso e por assim dizer a coberto dela, continuava perniciosamente a alastrar; e agora, sem sombra de dvida, o encheu por completo; agora nada resta de Saladim a no ser isto, o sombrio fogo do mal na sua alma, a consum-lo to inteiramente como outro fogo, multicolor e triunfal, que devora a cidade ululante. Tais so, na verdade, as mais horrveis, malficas, sangrentas chamas bem diversas da bela chama de um fogo normal21.
Enquanto o fogo o elemento que realiza a purificao e, no caso especfico de Gibreel Farishita, o leva descoberta de si mesmo como o outro que se manifesta na aparncia faunica de um Chamcha abandonado prpria sorte, a gua apresenta uma forte conotao escatolgica, por um lado; e por outro, o elemento atravs do qual a antinomia razo/f encontra sua mais adequada forma de manifestao na narrativa de Rushdie. A gua realiza esse processo escatolgico na cena em que Ayesha, tal qual Moiss guiando os Judeus, oprimidos pelo regime faranico egpcio, pelo deserto em direo ao Mar Vermelho, defronta-se com o grupo do No Padyatra Islmica que tenta impedi-la de atravessar com seus seguidores o Mar da Arbia, a fim de chegar Meca:
Ayesha avanou para a turba como se ela no existisse, e quando chegou s ltimas transversais [de Titlipur], para l das quais a esperavam os
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
145
cacetes e as facas do inimigo, ouviu-se o ribombar de um trovo, como as trombetas do Dia do Juzo, e caiu do cu todo um oceano. A seca terminava demasiado tarde para salvar as colheitas; posteriormente muitos dos peregrinos pensariam que Deus tinha estado a guardar a gua apenas para aquele fim, deixando-a acumular-se no cu at ser infinita como o mar, sacrificando a colheita do ano para salvar a sua profetisa e a gente que a acompanhava. [...] Quando veio a chuva, os mineiros de Sarang estavam espera dos peregrinos de picareta em punho, mas quando a barricada das bicicletas foi varrida no puderam deixar de pensar que Deus tinha tomado o partido de Ayesha. A rede de esgotos da cidade cedeu instantaneamente ao avano irresistvel da gua, e os mineiros em breve se viram mergulhados numa mar lamacenta que lhes chegava cintura. Alguns tentavam aproximar-se dos peregrinos, que continuavam tambm a esforar-se por avanar. Mas ento a tempestade redobrou de fora, e voltou a redobrar, largando a chuva do cu em placas espessas atravs das quais se tornava difcil respirar, como se a terra estivesse a ser submersa e o firmamento superior 22 f osse r euni r se ao i nf er i or .
A gua, como elemento atravs do qual a antinomia razof se realiza, no episdio da travessia do Mar da Arbia, revela a inevitabilidade dessa antinomia, a partir do ponto de vista de um narrador onisciente que v, no livre-arbtrio e no desejo, evidncias de um certo racionalismo ainda que este racionalismo no seja apreendido de forma melhor delineada: Um ser humano em perigo de afogamento luta contra as guas. contrrio natureza humana algum que avana tranqilamente a direito at ser tragado pelo mar. Mas Ayesha, Mishal Akhtar e os aldees de Titlipur sumiram-se abaixo da superfcie pelo mar; e nunca mais ningum os viu 23 . Do mesmo modo que se tem evidncias de razo; tem-se de f, atravs dos depoimentos dos sobreviventes da travessia do Mar da Arbia: O testemunho do Sarpanch de Titlipur,
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
146
Muhamed Din, foi o seguinte: No instante em que faltaram as foras e eu pensei que ia de certeza morrer ali na gua, vi com estes meus olhos, vi apartar-se o mar, como cabelo que algum penteasse; e eles estavam l todos muito longe afastando-se cada vez mais de mim. Tambm l estavam a minha mulher Khadija, a quem eu muito amava 24 . Eis o que Osman, o rapaz do boi, disse aos detetives a quem o depoimento de Sarpanch deixara bastante abalados:
A princpio estava cheio de medo de me afogar. Ainda assim, continuei a procurar, a procurar, a procur-la principalmente a ela, Ayesha, que eu j conhecia antes de ela se transformar e mesmo no fim, vi acontecer aquela coisa maravilhosa. As guas separaram-se, e eu vi-os caminhar pelo fundo do oceano, por entre os peixes mortos. [...] Quando soube que era o nico sobrevivente do Haj de Ayesha a no ter presenciado a separao das guas foi Sri Srinivas quem lhe contou o que os outros tinham visto, acrescentando em tom lgubre: A nossa vergonha no termos sido considerados dignos de os acompanhar. Para ns, Sethji, as guas fecharam-se, fecharam-se na nossa cara como as portas do Paraso Mirza Saeed foi-se abaixo e chorou durante uma semana e um dia, continuando os soluos secos a sacudir-lhe o corpo j muito depois de os canais lacrimais terem ficado sem sal 25.
O CASO CHAMCHA: UM PHARMAKOS NUMA IRONIA TRGICA
Em sua repentina mudana de homem para fauno, Saladim Chamcha comea a perder paulatinamente todos os vnculos com a humanidade. Tal perda o torna um ser sui generis : nem totalmente humano, tampouco totalmente animal, j que tem conscincia plena de todo o processo metamrfico pelo qual est passando. Destitudo de qualquer trao que identifique nele as caractersticas de um ser humano in totum , v-se
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
147
reduzido a uma ironia trgica, a uma condio de ser que o coloca num nvel imediatamente inferior ao humano, aproximando-o mais e mais do animal:
Quando lhe baixaram as calas do pijama no carro de polcia sem janelas e ele viu os cabelos espessos emaranhados que lhe cobriam as coxas, Saladim Chamcha foi-se abaixo pela segunda vez nessa noite; desta feita, porm, desatou a rir histericamente, talvez contagiado pela contnua hilaridade dos seus captores. [...] Os seus chifres estavam a bater em todo o lado, no pneu sobressalente, no pavimento por atapetar ou nas canelas de um polcia sendo nestas ltimas ocasies energicamente esbofeteado na cara pelo agente da autoridade em causa num compreensvel acesso de ira pelo que, em suma, Saladim no se lembrava de alguma vez se ter sentido to miseravelmente mal. Apesar disso, quando viu o que o pijama emprestado ocultava, no conseguiu evitar que lhe escapasse por entre os dentes uma gargalhada incrdula26.
Nessa trgica ironia, em que Chamcha se v envolvido, apesar de sua redutibilidade de condio de homem de animlia, pode-se ver neste ser reificado traos tpicos de um pharmakos , uma espcie de bode expiatrio que, na viso crist, tem em Cristo seu melhor exemplar. Ao fazer uso de uma figura arquetpica como a do pharmakos , e se a este associarmos uma ou mais alternativas das muitas outras possveis, talvez tenhamos que dar alegoria de Rushdie uma dimenso que por razes bvias ele mesmo no quis dar (mesmo porque o que est em sua narrativa uma questo mais abrangente ligada identidade), e que qualquer semelhana com quaisquer outros tipos de pharmakos da modernidade no seja mera coincidncia, como por exemplo, a reificao do operrio e a niilizao do homem frente produo capitalista: Chamcha estava perplexo. Depois reparou que tinha aparecido no cho da ramana um grande nmero de objetos moles em forma de bolinha. Ficou consumido de amargura e de vergonha. Pelos
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
148
visto agora at as suas necessidades naturais eram de cabra. Que humilhao! 27 .
UM ANJO NADA DIVINO E UM DIABO DE BONDADE NUM DEN S AVESSAS: SIMPLESMENTE UMA ALEGORIA, UMA FBULA OU UMA PARBOLA?
Ao escrever uma narrativa to densa, to rica em material alegrico, Salman Rushdie faz muito mais: constri um den terrestre desvinculado completamente de qualquer ligao com o estado de graa do paraso bblico, com personagens que, apesar de todas as mutilaes operadas em seus exteriores ou interiores e de todas as aparncias de entidade divina ou diablica neles encarnada, so apenas homens vivendo o extremo da condio humana tanto no que diz respeito forma exteriorizada a faunizao de Saladim Chamcha , quanto a interiorizada a psicose de Gibreel Farishita. Ao povoar seu paraso com seres que transmutam um Anjo que nada tem de divino e um Diabo que pura bondade ele cria novas equaes para redimensionar o enigmtico problema do bem e do mal que tanto aflige o homem. Numa lcida demonstrao de que faz-se necessrio um novo den, ainda que s avessas daquele de onde viemos, todos ns descendentes de Ado, expulsos, j que em um outro paraso semelhante quele no haveria mais lugar para um homem fragmentado, perdido numa multiplicidade de aspiraes e desejos. Ora, se no cabemos mais num paraso original por que no criar, ou melhor, por que no reconstruir o que sobrou daquele para um homem onde Deus no esteja presente? Rushdie mostra que o nico Paraso possvel de ser construdo (ou reconstrudo) onde dois atores poderiam, parafraseando as palavras do texto bblico, exclamar: No princpio era a imagem e a imagem era o homem ainda que qualquer evidncia prove o contrrio. Neste den rushdieano, com a absoluta ausncia de um Deus que jamais aceitaria admitir o mal como parte de sua natureza intrnseca, a problemtica relao entre bem e mal se
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
149
torna apenas uma questo contingente expressa numa alegoria multifacetada. Se, entretanto, quisermos ter um ponto de vista a partir de Saladim Chamcha, talvez tenhamos uma fbula. Entretanto, se considerarmos que o aparente bem definido tipo de Anjo representado por Gibreel Farishita quem deve emitir seu ponto de vista; ento estaramos diante de uma parbola, que, por mais inusitada que possa parecer, com o mesmo valor da fbula de Chamcha. Qualquer que seja a escolha, estamos diante de uma narrativa que escolheu a alegoria para falar da questo da identidade como o leitmotiv que aflige o homem desde o instante de seu primeiro ato consciente. Com a certeza de que o den antes uma idia do homem que cria Deus ou Deuses para, na tentativa de afastar os fantasmas de sua insignificncia perante a criao, justificarse a si mesmo, Rushdie nos leva necessidade de recriar. Uma necessidade, decerto, mais humana que divina. Deste modo, no resta muito ao homem seno o consolo de um den que, embora reconstrudo s avessas o nico que lhe possvel realizar. Esta foi, sem dvida, a concluso que chegou o ator travestido de Anjo Gabriel que nasceu com o nome de Ismail Nadjunnuddin que, incapaz de suportar o peso de sua condio de psicopata enfiou na boca o cano da pistola; e puxou o gatilho; e libertou-se 28 . Tambm ele reconstruiu seu den, ainda que s avessas.
THE SATANIC VERSES BY SALMAN RUSHDIE: ALLEGORY OF AN INSIDE-OUT EDEN
ABSTRACT The Satanic Verses by Salman Rushdie, the Anglo-Indian writer, is examined from the standpoint of its being an allegory of the biblical Paradise. In spite of presenting from its very beginning to its end a narrative closely related to Islam, Rushdie builds his allegory of a Christian Paradise made by human beings only. Thus, instead of Adam in his wholeness, there is a completely fragmented human being. It is this fragmented being that, deconstructing any possibility of rebuilding the Adamic Paradise, makes up his mind to build his own Eden, although the other way round. KEY WORDS : Identity. Paradise. Allegory.
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
150
NOTAS
1
Cf. MOISS, Massaud. Dicionrio de Termos Literrios , p. 1516 Cf. CUDDON, J. A. A Dictionary of Literary Terms , p. 25 MOISS, Massaud. Op. cit., p. 16 Id., ibid., p. 15 Gnesis. Cap. 2, vers. 7. Bblia Sagrada .
2 3 4 5 6
Genesis. Chap. 3, vers. 23. The Holy Bible . Traduo livre de Geraldo Ferreira de Lima Gnesis. Cap. 3, vers. 17. In: Bblia Sagrada RUSHDIE, Salman. Versculos Satnicos , p. 15 Id., ibid., p. 15-16 HANSEN, Joo Adolpho. Alegoria: construo e interpretao da metfora , p. 2 Id., ibid., p. 24 RUSHDIE, Salman. Op. cit., p.16 Id., ibid., p.16 Id., ibid., p.17 Id., ibid. Passim, p. 95-8 Id., ibid., p. 345 Id., ibid., p. 331-2 Id., ibid., p. 335 Id., ibid., p. 419 Id., ibid., p. 420 Id., ibid., p. 421 Id., ibid., p. 444-5 Id., ibid., p. 455 Id., ibid., loc. cit.
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
151
25 26 27 28
Id., Ibid., p. 445-6 Id., ibid., p. 151 Id., ibid., p. 153 Id., ibid., p. 492
REFERNCIAS
BIBLE, O. T. Genesis. THE HOLY BIBLE (King James version). Trinitarian Bible Society. London: Eyre & Spottiswoode, 1986 BBLIA, V. T. Gnesis. BBLIA SAGRADA . Trad. da Vulgata e Anot. de: Matos Soares. So Paulo: Paulinas, 1960 CUDDON, J. A. A Dictionary of Literary Terms . London: Penguin, 1982 HANSEN, Joo Adolpho. Alegoria: construo e interpretao da metfora. So Paulo: Atual, 1986. MOISS, Massaud. Dicionrio de Termos Literrios . So Paulo: Cultrix, 1978 RUSHDIE, Salman. Versculos Satnicos . Trad. de Ana Lusa Faria; Miguel Serras Pereira. Lisboa: Publicaes Dom Quixote, 1995
Sitientibus, Feira de Santana, n. 40, p.131-151, jan./jun.
2009
Você também pode gostar
- Aleister Crowley-O Livro Das MentirasDocumento189 páginasAleister Crowley-O Livro Das MentirasAdriana Hisa67% (3)
- Plano de Alimentação - 21 DiasDocumento7 páginasPlano de Alimentação - 21 DiasNyce Gomes HE82% (11)
- Modelo Projeto Pesquisa Mestrado DireitoDocumento10 páginasModelo Projeto Pesquisa Mestrado DireitoJefferson BellomoAinda não há avaliações
- Aparição - o EsquecimentoDocumento2 páginasAparição - o EsquecimentoMatheusAinda não há avaliações
- Peter Straub - Os Mortos VivosDocumento529 páginasPeter Straub - Os Mortos VivosSuelyn Winchester100% (1)
- O Malleus Maleficarum TraduzidoDocumento709 páginasO Malleus Maleficarum TraduzidoDemetrio Cesar MouraAinda não há avaliações
- Mitologia Suméria PDFDocumento3 páginasMitologia Suméria PDFLuciano Carvalho50% (2)
- Feiticeiras Da Colônia. Magia e Práticas de Feitiçaria Na América Portuguesa Na Documentação Do Santo Ofício Da InquisiçãoDocumento14 páginasFeiticeiras Da Colônia. Magia e Práticas de Feitiçaria Na América Portuguesa Na Documentação Do Santo Ofício Da InquisiçãoDavid Cavalcante100% (1)
- A Kalevala - Estudo Sobre o Folclore FinlandêsDocumento84 páginasA Kalevala - Estudo Sobre o Folclore FinlandêsHellenah Leão100% (1)
- O HavamálDocumento26 páginasO HavamálGabriel Freitas100% (1)
- Elogio Aos Templários-Bernardo de ClaravalDocumento16 páginasElogio Aos Templários-Bernardo de ClaravalAlexandre Galindo100% (1)
- Maconaria Do Outro Lado Da Luz William SchnoebelenDocumento231 páginasMaconaria Do Outro Lado Da Luz William SchnoebelenarsilbAinda não há avaliações
- Os Versos Satânicos de Salman RushdieDocumento16 páginasOs Versos Satânicos de Salman RushdieFrancisco Aldebaran100% (1)
- A Casa Da Madrinha Lygia Bojunga NunesDocumento5 páginasA Casa Da Madrinha Lygia Bojunga NunesFrancisco TeixeiraAinda não há avaliações
- 24.08 - São BartolomeuDocumento23 páginas24.08 - São BartolomeulhgAinda não há avaliações
- Astrologia Tratado Das Sete Causas Segundas Jean TritthemeDocumento23 páginasAstrologia Tratado Das Sete Causas Segundas Jean TritthemeCelso Albano100% (1)
- Símbolos AdolescentesDocumento33 páginasSímbolos AdolescentesDri FielAinda não há avaliações
- AngeologiaDocumento15 páginasAngeologiaErik Diniz T. PalmeiraAinda não há avaliações
- O Enigma E O Espelho - Jostein GaarderDocumento313 páginasO Enigma E O Espelho - Jostein Gaardermarcia.ismerim7875Ainda não há avaliações
- A Necromancia Na Idade MédiaDocumento22 páginasA Necromancia Na Idade MédiaMucyo AlexandreAinda não há avaliações
- Imigração Da Mulher Açoriana em Santa CatarinaDocumento10 páginasImigração Da Mulher Açoriana em Santa CatarinaMikka CapellaAinda não há avaliações
- Rútilo Nada em PDF Publicado Na Revista MosaicumDocumento9 páginasRútilo Nada em PDF Publicado Na Revista MosaicummariaelismecaAinda não há avaliações
- O Inferno de Dante Alighieri (Análise do livro): Análise completa e resumo pormenorizado do trabalhoNo EverandO Inferno de Dante Alighieri (Análise do livro): Análise completa e resumo pormenorizado do trabalhoAinda não há avaliações
- Livro O EUNUCO 2019 PDFDocumento303 páginasLivro O EUNUCO 2019 PDFRAULYM SANTOSAinda não há avaliações
- Anjo MumiahDocumento4 páginasAnjo MumiahGuilherme RabelloAinda não há avaliações
- Zepar o Décimo Sexto Espírito - Segredos Da GoétiaDocumento2 páginasZepar o Décimo Sexto Espírito - Segredos Da GoétiaJose Ilton Cruz FilhoAinda não há avaliações
- Mistério Dos 153 Grandes PeixesDocumento3 páginasMistério Dos 153 Grandes PeixesRondynelle BenjamimAinda não há avaliações
- Resumo Nascidos Do Sangue Os Segredos Perdidos Da Maconaria John RobinsonDocumento2 páginasResumo Nascidos Do Sangue Os Segredos Perdidos Da Maconaria John RobinsonBruno FogaçaAinda não há avaliações
- TangoDocumento2 páginasTangoEme Nascimento0% (1)
- MofologiaDocumento39 páginasMofologiaClaudete silva TIAinda não há avaliações
- Carta Do Índio Aos BrancosDocumento3 páginasCarta Do Índio Aos BrancosRafael MagalhãesAinda não há avaliações
- Sobre Jacares e LobisomensDocumento12 páginasSobre Jacares e LobisomensAfonso20% (5)
- A Divina Comedia - Dante AlighieriDocumento445 páginasA Divina Comedia - Dante AlighieriLeandro Polastrini100% (1)
- Astronomia e Astrologia Na Idade Média e A Visão Medieval Do CosmoDocumento15 páginasAstronomia e Astrologia Na Idade Média e A Visão Medieval Do CosmoRac A BruxaAinda não há avaliações
- A Estrela de DavidDocumento7 páginasA Estrela de DavidpinheirofogoAinda não há avaliações
- Despertar Da Senhorita Prim, oDocumento1 páginaDespertar Da Senhorita Prim, oRafaela YeshuaAinda não há avaliações
- Mantra Proteção Contra CobrasDocumento5 páginasMantra Proteção Contra CobrasJoseSilvaAinda não há avaliações
- BacoDocumento4 páginasBacoEdu Machado100% (1)
- O Livro Dos MortosDocumento10 páginasO Livro Dos Mortos_Nefelim_Ainda não há avaliações
- A Revolução LuciferianaDocumento1 páginaA Revolução LuciferianaMarcelo ViannaAinda não há avaliações
- Guia de Estudos Da Bíblia Satânica - Morbitvs VividvsDocumento96 páginasGuia de Estudos Da Bíblia Satânica - Morbitvs VividvsJuan Carlos GonzalezAinda não há avaliações
- Resenha de Os Quatro Evangelhos de RoustaingDocumento4 páginasResenha de Os Quatro Evangelhos de Roustaingctemplarios100% (3)
- Apostila de Angeologia e DemonologiaDocumento59 páginasApostila de Angeologia e DemonologiaRonan MendesAinda não há avaliações
- Grande Oriente Do BrazilDocumento41 páginasGrande Oriente Do BrazilLilithMVentura100% (1)
- Revista Medievalis 03Documento210 páginasRevista Medievalis 03Isaque CIpriano100% (1)
- Agroflorestar - Cartilha - Alice e o Mistério Das PalmeirasDocumento21 páginasAgroflorestar - Cartilha - Alice e o Mistério Das PalmeirasjcvpsAinda não há avaliações
- Os Princípios Da Teurgia Ou Alta MagiaDocumento8 páginasOs Princípios Da Teurgia Ou Alta Magiaalexmaciel88Ainda não há avaliações
- Simbolos TecladosDocumento13 páginasSimbolos TecladosLeandro Sousa100% (1)
- A Falência SlidesDocumento18 páginasA Falência SlidesThales MogariAinda não há avaliações
- BabalonDocumento16 páginasBabalonsantosheltonAinda não há avaliações
- 1 - Símbolos Illuminati Que Você Nunca PercebeuDocumento19 páginas1 - Símbolos Illuminati Que Você Nunca PercebeuOrlando Oliveira Jr.Ainda não há avaliações
- A Filha Do Feiticeiro J W RochesterDocumento473 páginasA Filha Do Feiticeiro J W RochesterGinamagalhãesAinda não há avaliações
- A Bíblia Vampirica IntroduçãoDocumento2 páginasA Bíblia Vampirica IntroduçãoNyce Gomes HE100% (1)
- Neo MagiaDocumento1 páginaNeo MagiaNyce Gomes HEAinda não há avaliações
- A Religião Satânica (Texto)Documento3 páginasA Religião Satânica (Texto)Nyce Gomes HEAinda não há avaliações
- Punhal de Cabo Branco e o Negro em MagiaDocumento1 páginaPunhal de Cabo Branco e o Negro em MagiaNyce Gomes HEAinda não há avaliações
- Força Do ChakraDocumento3 páginasForça Do ChakraNyce Gomes HEAinda não há avaliações
- Goétia Texto Do QuimbandeiroDocumento10 páginasGoétia Texto Do QuimbandeiroNyce Gomes HEAinda não há avaliações
- Satanismo, Filosofia Ou Religião, (Texto)Documento3 páginasSatanismo, Filosofia Ou Religião, (Texto)Nyce Gomes HEAinda não há avaliações
- Treino de Definicao Muscular para MulheresDocumento1 páginaTreino de Definicao Muscular para MulheresNyce Gomes HEAinda não há avaliações
- Epson Manual Tx210Documento56 páginasEpson Manual Tx210Nyce Gomes HEAinda não há avaliações
- Amatica Yoruba para Quem Fala PortuguesDocumento123 páginasAmatica Yoruba para Quem Fala PortuguesValquiria Kyalonam Azevedo100% (7)
- Discurso Direto e IndiretoDocumento4 páginasDiscurso Direto e Indiretosweetiesweet100% (1)
- Apostila Desenvolvimento Local e Economia Solidária Campo Das VertentesDocumento51 páginasApostila Desenvolvimento Local e Economia Solidária Campo Das VertentesPedro AzevedoAinda não há avaliações
- Prova de Conhecimentos GeraisDocumento5 páginasProva de Conhecimentos GeraisJonathan SoaresAinda não há avaliações
- Cap 5 Cablagem Estruturada 10 11Documento66 páginasCap 5 Cablagem Estruturada 10 11Herberto Silva80% (5)
- Sexo Na FamiliaDocumento4 páginasSexo Na FamiliaAlvaro Da Costa CosnoveAinda não há avaliações
- Calor: Influencia Da Temperatura Na Saúde Do TrabalhadorDocumento10 páginasCalor: Influencia Da Temperatura Na Saúde Do TrabalhadorValéria Araújo CavalcanteAinda não há avaliações
- UntitledDocumento300 páginasUntitledBetania PedrosaAinda não há avaliações
- IPVA - 2022 - 1 A 10 AnosDocumento170 páginasIPVA - 2022 - 1 A 10 AnosRoberto CarlosAinda não há avaliações
- ContrachequeDocumento1 páginaContrachequeJane MoreiraAinda não há avaliações
- Trabalho de ArtesDocumento3 páginasTrabalho de ArtesAngelyne CristynaAinda não há avaliações
- 41 Celulose BacterianaDocumento3 páginas41 Celulose BacterianaAna Cláudia SouzaAinda não há avaliações
- Sacríficio e Adoração - Damares - VAGALUMEDocumento3 páginasSacríficio e Adoração - Damares - VAGALUMESâniele CampelloAinda não há avaliações
- Revista Coquetel CFN Junho2019Documento11 páginasRevista Coquetel CFN Junho2019Delano Moreira de RezendeAinda não há avaliações
- Eletrônica DigitalDocumento47 páginasEletrônica DigitalLucas EduardoAinda não há avaliações
- Apostila EHO-004 - 2017Documento179 páginasApostila EHO-004 - 2017TarcisioAinda não há avaliações
- Em Off Season, Filipe Marins Revela Sua Dieta de Preparação para Campeonato de FisiculturismojDocumento8 páginasEm Off Season, Filipe Marins Revela Sua Dieta de Preparação para Campeonato de FisiculturismojLuciano Evangelista CândidoAinda não há avaliações
- WG Tech Comercio E Servicos Eireli Danfe: #SérieDocumento1 páginaWG Tech Comercio E Servicos Eireli Danfe: #SérieJonhe ClaytonAinda não há avaliações
- Flashcards para o Enem Páginas 3 44Documento42 páginasFlashcards para o Enem Páginas 3 44Maria Eduarda Soares BlezinsAinda não há avaliações
- Auri Plaza - Estudo de Caso Eficiência EnergéticaDocumento7 páginasAuri Plaza - Estudo de Caso Eficiência EnergéticaKennedy ShraderAinda não há avaliações
- Processo LegislativoDocumento9 páginasProcesso LegislativoPaulo FreitasAinda não há avaliações
- 10 CompletoDocumento98 páginas10 CompletoMaycon DouglasAinda não há avaliações
- Fundamentos Teoricos e Praticos Do Ensino de GeografiaDocumento18 páginasFundamentos Teoricos e Praticos Do Ensino de GeografiaJadson OliveiraAinda não há avaliações
- O Papel Do Psicólogo EscolarDocumento5 páginasO Papel Do Psicólogo EscolarElaine Nabeth EAmoreAinda não há avaliações
- Distribuicoes de ProbabilidadesDocumento12 páginasDistribuicoes de ProbabilidadesOrlando Penicela JúniorAinda não há avaliações
- ATUAL - Relacao OFICIAL de Leiloeiros Habilitados - 22 03 2023Documento11 páginasATUAL - Relacao OFICIAL de Leiloeiros Habilitados - 22 03 2023Eduardo CândidoAinda não há avaliações
- Meu Currículo 2023Documento1 páginaMeu Currículo 2023Tony GCAinda não há avaliações
- PLNM Aula1-40 Verbo To Be ApresentaçãoDocumento168 páginasPLNM Aula1-40 Verbo To Be ApresentaçãoCentral DidáticaAinda não há avaliações
- O Garantismo Penal de Luigi FerrajoliDocumento32 páginasO Garantismo Penal de Luigi FerrajoliLuiz BorriAinda não há avaliações