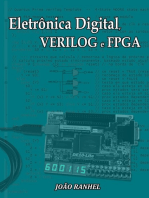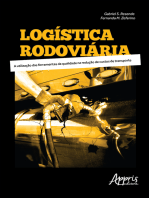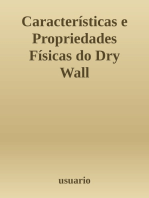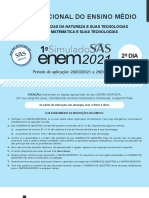Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Materiais Utilizados Na Construção de Pavimentos Rodoviários
Materiais Utilizados Na Construção de Pavimentos Rodoviários
Enviado por
Daniel RodriguesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Materiais Utilizados Na Construção de Pavimentos Rodoviários
Materiais Utilizados Na Construção de Pavimentos Rodoviários
Enviado por
Daniel RodriguesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Universidade de Aveiro
Ano 2010
Departamento de Engenharia Civil
Joana Micaela
Rodrigues dos Santos
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos
Rodovirios
Universidade de Aveiro
Ano 2010
Departamento de Engenharia Civil
Joana Micaela
Rodrigues dos Santos
Materiais utilizados na construo de pavimentos
rodovirios
Dissertao apresentada Universidade de Aveiro para cumprimento dos
requisitos necessrios obteno do grau de Mestre em Engenharia Civil,
realizada sob a orientao cientfica do Doutor Jos Claudino De Pinho
Cardoso, Professor Associado do Departamento de Engenharia Civil da
Universidade de Aveiro e co-orientao cientfica da Doutora Ana Paula
Gerardo Machado, Professora Adjunta da Escola Superior de Tecnologia de
Tomar do Instituto Politcnico de Tomar.
Um quilmetro de estrada significa quilmetros de progresso
In Probigalp
O jri
Presidente Prof. Doutor Anbal Guimares da Costa
Professor Catedrtico da Universidade de Aveiro
Arguente Principal Prof. Doutora Rosa Paula Conceio Luzia
Professora Adjunta do Instituto Politcnico de Castelo-Branco
Vogais Prof. Doutor Jos Claudino Cardoso
Professor Associado Da Universidade de Aveiro
Prof. Doutora Ana Paula Gerardo Machado
Professora Adjunta do Instituto Politcnico De Tomar
Agradecimentos
A todos que, dia aps dia ou pontualmente, intervieram nesta caminhada.
Palavras-chave
Pavimentos rodovirios, Agregados, Ligantes, Reciclagem, Sustentabilidade.
Resumo
Os pavimentos rodovirios so o suporte do progresso de qualquer pas. Neste
trabalho so definidos e caracterizados os diversos materiais necessrios
construo de um pavimento rodovirio, sejam eles materiais naturais ou
reciclados, agregados, ligantes e ainda metodologias que permitam optimizar a
sua aplicao ou a sua conservao e reabilitao, sem esquecer as tcnicas
de reciclagem. Dado que a execuo de novos pavimentos e a conservao
ou reabilitao destes geram impactos econmicos e ambientais colossais,
ainda analisado neste trabalho a sustentabilidade da construo de
pavimentos e a viabilidade do recurso a materiais reciclados em Portugal.
Keywords
Road Pavement, Aggregate, Binder, Recycling, Sustainability
Abstract
The pavements are the backbone of progress of any country. In this thesis are
defined and characterized the various materials needed to build a road surface,
whether natural or recycled materials, aggregates, binders and even
methodologies to optimize their application or their conservation and
rehabilitation, without forgetting the recycling techniques. Since the
implementation of new pavement or rehabilitation and conservation of these
generate massive economic and environmental impacts, is also examined in
this study the sustainability of the construction of pavements and the viability of
recycled materials in Portugal.
i
DICE
NDICE .............................................................................................................................. i
NDICE DE FIGURAS ................................................................................................... iv
NDICE DE TABELAS ................................................................................................... vi
CAPTULO 1 .................................................................................................................... 1
PREFCIO ....................................................................................................................... 1
1.1. INTRODUO ................................................................................................. 1
1.2. OBJECTIVOS .................................................................................................... 3
1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAO ................................................................. 3
CAPTULO 2 .................................................................................................................... 5
FUNDAO, ESTRUTURA E COMPORTAMENTO DOS PAVIMENTOS
RODOVIRIOS ............................................................................................................... 5
2.1 SOLO DE FUNDAO, FUNO E MATERIAIS ....................................... 5
2.1.1 ESPECIFICAES TCNICAS ................................................................... 7
2.2 ESTRUTURA DOS PAVIMENTOS RODOVIRIOS .................................... 9
2.3 TIPO DE PAVIMENTOS ................................................................................ 13
2.3.1 PAVIMENTOS FLEXVEIS ....................................................................... 13
2.3.2 PAVIMENTOS SEMI-RGIDOS ................................................................ 13
2.3.3 PAVIMENTOS RGIDOS ........................................................................... 14
2.3.4 PAVIMENTOS MISTOS E INVERSOS ..................................................... 14
CAPTULO 3 .................................................................................................................. 17
MATERIAIS DE PAVIMENTAO (AGREGADOS E LIGANTES) ....................... 17
3.1 AGREGADOS ................................................................................................. 17
3.1.1 CONSIDERAES GERAIS ...................................................................... 17
3.1.2 NATURAIS .................................................................................................. 18
3.1.3 ARTIFICIAIS ............................................................................................... 19
3.1.4 RECICLADOS ............................................................................................. 19
3.1.5 FLER ........................................................................................................... 21
3.1.6 ESPECIFICAES TCNICAS ................................................................. 22
3.2 LIGANTES ...................................................................................................... 25
3.2.1 CONSIDERAES GERAIS ...................................................................... 25
3.2.2 BETUMINOSOS .......................................................................................... 26
ii
3.2.2.1 Asfalto ....................................................................................................... 26
3.2.2.2 Rocha asfltica .......................................................................................... 26
3.2.2.3 Alcatro ..................................................................................................... 27
3.2.2.4 Betume asfltico ....................................................................................... 27
3.2.2.5 Aditivos ..................................................................................................... 44
3.2.2.6 Especificaes tcnicas ............................................................................. 44
3.2.3 HIDRULICOS ........................................................................................... 46
3.2.3.1 Cimento ..................................................................................................... 46
3.2.3.2 Cal ............................................................................................................. 48
3.2.3.3 Aditivos ..................................................................................................... 48
3.2.3.4 Adjuvantes ................................................................................................ 49
3.2.3.5 Trabalhos especficos de misturas hidrulicas .......................................... 49
3.2.3.6 Especificaes tcnicas ............................................................................. 51
3.3 TRABALHOS ESPECIAIS DE PAVIMENTAO ...................................... 53
3.3.1 TRATAMENTOS DE SOLOS .................................................................... 53
3.3.1.1 Estabilizados com outros solos ................................................................. 53
3.3.1.2 Estabilizados com cal (Solo-Cal) .............................................................. 53
3.3.1.3 Estabilizados com cimento (Solo-Cimento) ............................................. 54
3.3.1.4 Estabilizados com betume (Solo-betume) ................................................ 54
3.3.2 REGAS BETUMINOSAS ............................................................................ 54
3.3.3 CONSERVAO E REABILITAO DE PAVIMENTOS
BETUMINOSOS ........................................................................................................ 55
3.3.3.1 Conservao .............................................................................................. 55
3.3.3.2 Reabilitao .............................................................................................. 55
3.3.3.3 Reabilitao das caractersticas superficiais ............................................. 56
3.3.3.4 Reabilitao das caractersticas estruturais ............................................... 59
CAPTULO 4 .................................................................................................................. 63
MISTURAS RECICLADAS .......................................................................................... 63
4.1 CONSIDERAES GERAIS ......................................................................... 63
4.2 MATERIAIS RECICLVEIS ......................................................................... 67
4.2.1 Agregados reciclados .................................................................................... 67
4.2.2 Reutilizao de material fresado................................................................... 67
4.2.3 Resduos de construo e demolio ............................................................ 68
4.2.4 Resduos slidos urbanos ............................................................................. 69
4.2.5 Resduos siderrgicos escria de aciaria ................................................... 70
4.2.6 Pneus usados ................................................................................................. 70
4.2.7 Solos e rochas no contaminadas ................................................................. 70
4.2.8 Cinzas de fundo da combusto do carvo .................................................... 71
4.2.9 Lamas das estaes de tratamento de gua ................................................... 71
4.2.10 Areias de fundio ........................................................................................ 72
4.3 RECICLAGEM DE PAVIMENTOS FLEXVEIS ......................................... 73
4.3.1 RECICLAGEM in situ .............................................................................. 74
4.3.1.1 Reciclagem in situ, a frio ....................................................................... 74
4.3.1.2 Reciclagem in situ, a quente .................................................................. 79
4.3.2 RECICLAGEM EM CENTRAL .................................................................. 80
4.3.2.1 Reciclagem em central, a frio ................................................................... 88
4.3.2.2 Reciclagem em central, a quente .............................................................. 89
iii
4.3.2.3 Reciclagem em central, semi-quente ........................................................ 90
4.3.3 Especificaes tcnicas................................................................................. 90
4.4 RECICLAGEM DE PAVIMENTOS RGIDOS ............................................. 91
4.4.1 CIMENTO .................................................................................................... 91
CAPTULO 5 .................................................................................................................. 93
CONSTRUO SUSTENTVEL E VIABILIDADE DE APLICAO EM
PORTUGAL ................................................................................................................... 93
5.1 PRINCPIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL ....................... 93
CAPTULO 6 .................................................................................................................. 99
ANLISE COMPARATIVA DE CUSTOS .................................................................. 99
6.1 PROPOSTA ..................................................................................................... 99
6.1.1 DEFINIO DAS ACCES .................................................................... 99
6.1.1.1 Trfego ...................................................................................................... 99
6.1.1.2 Condies Climticas ............................................................................. 100
6.1.2 DEFINIO DA ESTRUTURA ............................................................... 101
6.1.2.1 Solo de Fundao .................................................................................... 101
6.1.2.2 Pavimento ............................................................................................... 101
6.1.3 ORAMENTO ........................................................................................... 102
6.1.3.1 Com materiais naturais ........................................................................... 103
6.1.3.2 Com materiais reutilizados ou reciclados ............................................... 103
6.2 CONCLUSES .............................................................................................. 105
REFERNCIAS BIBLIOGRAFICAS ......................................................................... 107
BIBLIOGRAFIA ONLINE .......................................................................................... 111
iv
DICE DE FIGURAS
Figura 2.1 - Pavimento Flexvel. .................................................................................... 13
Figura 2.2 - Pavimento Semi-Rgido. ............................................................................. 13
Figura 2.3 - Pavimento Rgido. ....................................................................................... 14
Figura 2.4 - Pavimento Misto. ........................................................................................ 14
Figura 2.5 - Pavimento Inverso. ...................................................................................... 15
Figura 4.1 - Fluxograma de Reabilitao e Reciclagem de um pavimento. ................... 65
Figura 4.2- Fluxograma de reabilitao e reciclagem de um pavimento. ....................... 65
Figura 4.3 - Fases de reciclagem "in situ", a frio, com emulso betuminosa, (Martinho,
2005) ............................................................................................................................... 76
Figura 4.4 - Fases de reciclagem "in situ" a frio, com cimento, (Martinho, 2005). ....... 77
Figura 4.5 - Fases de reciclagem "in situ", a frio, com betume-espuma, (Martinho,
2005). .............................................................................................................................. 79
Figura 4.6 - Fases de reciclagem "in situ", a quente, com betume rejuvenescedor,
(Martinho, 2005). ............................................................................................................ 80
Figura 4.7 - Central betuminosa descontnua, EAPA, 1998. .......................................... 81
Figura 4.8 - Central betuminosa descontinua, a frio, EAPA, 1998. ............................... 82
Figura 4.9 - Central betuminosa descontnua, a quente, EAPA, 1998. .......................... 82
Figura 4.10 - Central betuminosa descontnua - Mtodo Recyclean, EAPA, 1998. ...... 83
Figura 4.11 - Central betuminosa descontnua - Central de Torre, EAPA, 1998. .......... 84
Figura 4.12 - Central betuminosa contnua - Mtodo de alimentao separada, EAPA,
1998. ............................................................................................................................... 85
Figura 4.13 - Central betuminosa contnua - Mtodo de duplo tambor, EAPA, 1998 ... 86
Figura 4.14 - Central betuminosa contnua - Mtodo de fluxos contracorrentes, EAPA,
1998. ............................................................................................................................... 87
Figura 4.15 - Central betuminosa contnua - Mvel, EAPA, 1998................................. 87
Figura 4.16 - Reciclagem em central, a frio, com emulso betuminosa, (Martinho,
2005). .............................................................................................................................. 88
Figura 4.17: Reciclagem em central, a frio, com betume-espuma, (Martinho, 2005). ... 89
Figura 4.18- Ciclo de reciclagem semi-quente em central. [34] ..................................... 90
Figura 5.1- Indicadores da sustentabilidade de obras geotcnicas, adaptado [37]. ........ 95
Figura 6.1 - Estrutura base do pavimento em estudo. ................................................... 102
v
Figura 6.2 - Estrutura utilizando materiais naturais. ..................................................... 103
Figura 6.3 - Proposta 1: materiais reciclados. ............................................................... 103
Figura 6.4 - Proposta 2: materiais reutilizados. ............................................................ 104
Figura 6.5 - Proposta 3: materiais reciclados. ............................................................... 104
vi
DICE DE TABELAS
Tabela 2.1 - Caractersticas dos solos seleccionados, segundo a JAE. ............................. 7
Tabela 2.2 Camadas granulares, caracterizao. ......................................................... 10
Tabela 2.3 - Misturas betuminosas a quente, caracterizao, adaptado EP. ................... 11
Tabela 2.4 - Misturas betuminosas a frio, caracterizao. .............................................. 11
Tabela 2.5 - Misturas tratadas com ligante hidrulico, caracterizao. .......................... 12
Tabela 2.6 - Camadas de beto hidrulico, caracterizao. ............................................ 12
Tabela 3.1 - Campos de aplicao dos agregados reciclados, adaptado EP. .................. 20
Tabela 3.2 Classificao segundo a natureza dos constituintes, adaptado EP. ............ 20
Tabela 3.3 - Classe dos agregados reciclados. ................................................................ 20
Tabela 3.4 - Tipos de agregados reciclados. ................................................................... 21
Tabela 3.5 - Mximos nveis de impurezas. ................................................................... 21
Tabela 3.6 - Requisitos granulomtricos para o fler, adaptado EP. ............................... 22
Tabela 3.7 - Tipos de betume de pavimentao, adaptado de INIR. .............................. 29
Tabela 3.8 Adaptado de Agregados para misturas betuminosas LNEC 8 Junho 2004
e Freire 2004. .................................................................................................................. 31
Tabela 3.9 - Grupos de modificadores. ........................................................................... 33
Tabela 3.10 - Teor mximo dos constituintes da borracha natural, adaptado EP. .......... 34
Tabela 3.11 - Fuso granulomtrico do granulado de borracha, adaptado EP. ................ 34
Tabela 3.12 -Emulses betuminosas com betumes puros, designao e utilizao........ 41
Tabela 3.13 Emulses betuminosas com betumes modificados, designao e
utilizao. ........................................................................................................................ 41
Tabela 3.14- Caractersticas do tipo de betume Anti-querosene, adaptado INIR. .......... 43
Tabela 3.15 - Ensaios de Consistncia e valores normalizados. ..................................... 47
Tabela 4.1 Fuso granulomtrico: material betuminosos recuperado, adaptado EP. .... 75
Tabela 4.2- Requisitos mnimos para a mistura reciclada com emulso, adaptado EP. . 76
Tabela 4.3- Propriedades do material fresado, EP. ......................................................... 77
Tabela 4.4 - Requisitos mnimos da mistura reciclada com cimento, EP. ...................... 77
Tabela 4.5 - Relao entre a percentagem de betume e o fler. ...................................... 78
Tabela 4.6 - Caractersticas e condies de aplicao dos cimentos na Reciclagem. .... 92
Joana Santos
CAPTULO 1
PREFCIO
1.1.ITRODUO
As Vias de Comunicao em especial a Rede Rodoviria estabelecem a infra-
estrutura basilar para o desenvolvimento e unificao scio-econmico nacional e
mundial.
Em Portugal, at aos meados do sculo XX, a vasta extenso da rede rodoviria
no era sinnimo de qualidade e nvel de servio. A reestruturao da rede nacional e
municipal iniciou-se com a publicao do Plano Rodovirio em Maio de 1945, do
Regulamento das Estradas nacionais em Abril de 1948 e dos Planos Gerais de Estradas da
Madeira e dos Aores. Mais tarde, em 1985 foi aprovado o Plano Rodovirio Nacional
(PRN 85 Decreto Lei n380/85 de 26 de Setembro), e posteriormente, aps a adeso de
Portugal Unio Europeia o plano que estabelece as necessidades de comunicaes
rodovirias e regula as obras em curso o Plano Rodovirio de 2000 (PRN 2000) (JAE,
1998). [1]
O PRN2000 decreta que a Rede Rodoviria Nacional totaliza a Rede Nacional
Fundamental, a Rede Nacional Complementar, a Rede Nacional de Auto-estradas (Auto-
estradas) e as Estradas Regionais. Por fim a Rede Municipal integra todas aquelas que
no so contempladas no plano rodovirio nacional, mas que em conjunto com a Rede
Rodoviria Nacional perfaz a Rede Classificada Portuguesa.
A Rede Fundamental constituda pelos Itinerrios Principais (IPs), e deve
assegurar o nvel de servio B. A Rede Complementar inclui os Itinerrios
Complementares e as Estradas Nacionais, devendo estes assegurar o nvel de servio C.
Os nveis de servio respeitam a metodologia do Highway Capacity Manual,
Special Report n 209, do Transportation Research Board , da National Academy of
Sciences Dos Estados Unidos da Amrica.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
2
O nvel de servio uma medida qualitativa, definida com base na mxima perda
de tempo admissvel e na velocidade mdia de trfego, reflectindo-se nas condies de
circulao asseguradas aos utentes da infra-estrutura rodoviria.
Um pavimento rodovirio pode ser definido como sendo uma estrutura
constituda por vrias camadas de espessura finita (sistema multi-estratificado), apoiado
na fundao constituda pelo terreno natural (macio semi-indefinido), o qual pode ter um
coroamento de qualidade melhorada [2], ou como parte da estrada, rua, ou pista, que
suporta directamente o trfego e transmite as respectivas solicitaes infra-estrutura:
terreno, obras de arte, etc. Pode ser constitudo por uma ou mais camadas tendo, no caso
geral, uma camada de desgaste e camadas de fundao. Cada uma destas pode ser
composta e constituda por camadas elementares. [3]
A sua funo assegurar uma superfcie de rolamento que permita a circulao
dos veculos com comodidade e segurana, durante um perodo, sob aco das aces do
trfego, e nas condies climticas que ocorrem. [2]
O conforto e segurana de circulao traduzem-se na qualidade funcional de um
pavimento, por sua vez, a capacidade para suportar as cargas sem sofrer alteraes
significativas que ultrapassem os limites da qualidade funcional traduz-se na qualidade
estrutural.
A optimizao da qualidade funcional e estrutural de um pavimento e consequente
dimenso das deformaes associadas construo de um pavimento est dependente das
caractersticas dos materiais utilizados e condies climticas. As condies climticas
determinadas pelos agentes climticos (temperatura e gua externa e interna no
pavimento e na fundao), so variveis naturais possveis de atenuar mas no de
eliminar.
Assim, o comportamento de um pavimento resulta de uma escolha correcta dos
materiais a utilizar na sua construo, os quais devero reunir as condies ideais em cada
caso de obra de forma a superar com sucesso as solicitaes existentes ou previstas.
A cada camada da estrutura de um pavimento exigido um diferente tipo de
comportamento mecnico, ou seja, as camadas superficiais so constitudas por materiais
estabilizados com ligantes e devem ter a capacidade de resistir aos esforos de traco,
enquanto as camadas inferiores so constitudas por materiais granulares estabilizados
mecanicamente e devem resistir aos esforos de compresso.
Em resumo, os materiais utilizados na construo de um pavimento rodovirio so
a chave para a sua qualidade, no entanto, a par da anlise terica das caractersticas
Captulo 1 - Introduo
Joana Santos 3
mecnicas dos materiais dever ser realizado um estudo de viabilidade econmico-
ambiental dos mesmos e s posteriormente estabelecer qual a soluo mais adequada para
cada de obra.
1.2.OBJECTIVOS
O objectivo desta dissertao a apresentao e descrio dos materiais utilizados
na construo de pavimentos rodovirios com maior importncia e aplicao. Desde os
agregados aos ligantes, dos tratamento de solos s tcnicas de conservao e reabilitao
dos pavimentos, com nfase especial nos materiais reciclados agregados e misturas.
ainda objectivo desta dissertao o estudo da sustentabilidade da construo de
pavimentos e a anlise comparativa entre os materiais naturais e os reciclados, numa
perspectiva econmica e ambiental.
1.3.ESTRUTURA DA DISSERTAO
Esta dissertao composta por 6 captulos. Neste primeiro captulo,
apresentada uma introduo, os objectivos e a estrutura da presente dissertao.
No captulo 2 so descritos as particularidades do solo de fundao, as estruturas e
comportamentos possveis de um pavimento.
No captulo 3 so apresentadas as noes, as caractersticas e as propriedades dos
materiais naturais de pavimentao agregados, ligantes, e trabalhos que advm da
melhoria destes. ainda dada ateno aos materiais aplicados na conservao e
reabilitao dos pavimentos.
No captulo 4 so apresentados os diversos materiais reciclados e as tcnicas de
reciclagem.
No captulo 5 faz-se a abordagem s condies de sustentabilidade que suportam a
construo dos pavimentos rodovirios e a viabilidade de aplicao de materiais
reciclados em Portugal.
No captulo 6 apresenta-se uma proposta de pavimento e o estudo comparativo
econmico/ambiental entre a sua execuo com matrias tradicionais e reciclados.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
4
Joana Santos
CAPTULO 2
FUDAO, ESTRUTURA E COMPORTAMETO DOS
PAVIMETOS RODOVIRIOS
2.1 SOLO DE FUDAO, FUO E MATERIAIS
Entende-se por solo todo o material utilizado em fundaes, ou terreno
subjacente, abaixo da plataforma do pavimento ou empregue na camada de sub-base,
possvel de tratar com ligantes hidrulicos. Estes devero estar isentos de qualquer
produto que afecte a sua ligao com o ligante, que influencie o tempo de presa ou o
desenvolvimento da resistncia da mistura, tais como, matria orgnica ou materiais
expansivos. Existem no geral dois tipos de solos: os solos incoerentes (areias e seixos) e
os solos coerentes ou coesivos (argilas), todos os restantes resultam de infinitas misturas
de ambos em propores variadas.
Ao longo do traado de um pavimento devido s suas condicionantes
geomtricas, frequente a realizao de trechos em aterro e trechos em escavao, o
que origina uma grande variao litolgica destes ou dos solos disponveis nos locais de
emprstimo para a construo de um pavimento.
De uma forma generalizada todos os solos tm caractersticas geotcnicas para
constituir a fundao de um pavimento, no entanto cada um apresenta restries e
limitaes em funo do objectivo de projecto. A grande heterogeneidade das
plataformas resultante da diversidade de terrenos de fundao existentes no traado s
pode ser contornada pela execuo de uma camada melhorada sobre os trabalhos de
terraplenagem leito de pavimento. Se os solos que emergem no topo das
terraplenagens satisfazem as exigncias de qualidade e funcionalidade do leito de
pavimento este deixa de ser considerado uma camada individualizada, mas se este solos
no tm a qualidade adequada e por razes econmico-ambientais no possvel a
utilizao dos solos seleccionados recorre-se a tcnicas de tratamento para a reutilizao
dos solos naturais, com cal ou com ligantes hidrulicos, de forma a atingir uma
plataforma regular e com capacidade de suporte uniforme.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
6
A construo de um leito de pavimento garante a capacidade de suporte
permanente, a resistncia a condies climatricas variveis, a proteco das
terraplenagens s intempries, assegura a drenagem e a funo anti-contaminante. Os
materiais usados para o leito de pavimento so: solos seleccionados, materiais
granulares no britados, materiais granulares britados e solos tratados com cal/cimento.
Segundo a EP (Estradas de Portugal) os materiais no reutilizveis em aterros
so todos aqueles que contm lixo ou detritos orgnicos, argilas com IP> 50% (ndice
de Plasticidade), materiais com propriedades ou qumicas indesejveis, trufas e
materiais provenientes de locais pantanosos. [10] [11] [12]
Para o caso de obras executadas em condies difceis frequente o recurso a
geossintticos, geotxteis, geocompositos ou geogrelhas entre o leito de pavimento e a
camada de sub-base, com o objectivo de separao, reforo, filtragem e drenagem. [2]
A separao destina-se a impedir a penetrao de partculas finas nos solos de
granulao mais grosseiras ou nos solos melhorados, a funo filtrante permite a
passagem de gua e protege a estrutura do solo sujeita a foras hidrodinmicas, a
percolao da gua tambm assegurada pela drenagem. Por ltimo, o reforo exerce
funo mecnica que evita a deformao dos macios terrosos no sentido normal sua
colocao em obra.
Inicialmente o dimensionamento dos pavimentos era realizado com base no
ndice californiano de capacidade de carga (CBR- California Bearing Ratio), mas mais
tarde percebeu-se a necessidade de relacionar este ndice com o mdulo de
deformabilidade para traduzir a relao entre a presso aplicada nos pavimentos e os
seus assentamentos. Com base em ensaios dinmicos a Shell (Shell, 1985) prope a
seguinte expresso:
E
I
= 1u CBR
Em que E
f
a deformabilidade (MPa) e CBR o ndice expresso em
percentagem. Simultaneamente na Gr-Bretanha (Powell e al, 1984) propunha, para
valores de CBR variveis entre 2 a 12%:
E
I
= 17.6 (CBR)
0.64
Captulo 2 Fundao, Estrutura e Comportamento dos Pavimentos Rodovirios
Joana Santos 7
2.1.1 ESPECIFICAES TCICAS
A classificao de um solo obtida pela anlise da Classificao Unificada de
Solos, especificada pela ASTM D 2487-85.
As caractersticas dos solos seleccionados a utilizar no leito de pavimento,
segundo o caderno de encargos da EP: [10]
Dimenso mxima 75 mm
Material menor que 0,074 mm
(peneiro n 200ASTM)
20%
Limite de liquidez 25% mx
ndice de plasticidade 6% mx
Equivalente de areia 30% min
Valor de azul de metileno dos
finos (< 0,075 mm) 2g/100g finos, mx
CBR (a 95 % de compactao
relativa, teor ptimo de gua)
10% min
Expansibilidade (ensaio de
CBR) 1,5% mx
Percentagem de matria
orgnica 0%
Tabela 2.1 - Caractersticas dos solos seleccionados, segundo a JAE.
As referncias normativas que definem os requisitos aplicveis aos solos so:
LNEC E 196: Anlise granulomtria por sedimentao.
LNEC E 197: Ensaios de compactao Proctor.
LNEC E 198: Determinao do CBR.
LNEC E 199: Ensaio de equivalente de areia.
LNEC E 200: Ensaio de expansibilidade.
LNEC E 201: Teor em matria orgnica
LNEC E 204: Determinao da baridade seca in situ pelo mtodo da garrafa
de areia.
LNEC E 239: Anlise granulomtrica por peneirao hmida.
ASTM D 6939-08: Determinao da compactao relativa in situ pelo
mtodo nuclear (gramadensmetro).
ASTM D 4354: Determinao do peso volmico seco mximo e mnimo.
NP 83: Determinao da densidade das partculas.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
8
NP 84: Determinao do teor em gua.
NP 143: Determinao dos limites de consistncia: Limite de Liquidez, Limite
de Plasticidade e Limite de Retraco.
JAE S.9-53: Determinao do teor em matria orgnica.
NF P 94-066: Ensaio de fragmentabilidade.
NF P 94-067: Ensaio de degradabilidade.
NF P 94-068: Ensaio de Azul-de-metileno.
NF P 94-078: Ensaio de CBR sem imediato.
BS-812: ndice de lamelao e alongamento.
Procedimento LCPC: Ensaio de carga com placa.
Captulo 2 Fundao, Estrutura e Comportamento dos Pavimentos Rodovirios
Joana Santos 9
2.2 ESTRUTURA DOS PAVIMETOS RODOVIRIOS
As camadas que constituem um pavimento distinguem-se pelas funes que
desempenham no conjunto do pavimento rodovirio, podendo estabelecer-se dois
importantes grupos: a camada superficial e o corpo de pavimento. No entanto, como
conjunto que resistem aco dos veculos e dos agentes climticos. Este conjunto, por
conseguinte sustentado sobre uma plataforma de suporte: a fundao do pavimento.
A camada de desgaste a camada superficial e de rolamento dos veculos, sobre
a qual incidem directamente as aces, o que significa que essencial para assegurar as
caractersticas funcionais projectadas, de modo a proporcionar aos utentes conforto e
segurana de circulao, e ainda do ponto de vista da qualidade estrutural, contribui
para a durabilidade do pavimento atravs da impermeabilizao do corpo de pavimento.
O seu revestimento dever ser altamente flexvel de modo a acompanhar as
deformaes e o desgaste gerado por temperaturas extremas e condies de trfego
intensas, dever ainda evitar o fendilhamento por ascenso das fendas das camadas
subjacentes, fendilhamento por fadiga devido a uma m aderncia camada subjacente
ou por ltimo o fendilhamento trmico.
O corpo de pavimento composto por camadas elementares, umas estabilizadas
com ligantes (hidrulicos ou betuminosos) e outras somente camadas granulares, e
deste conjunto que depende a capacidade de suporte das cargas provocadas pelo trfego,
ou seja o comportamento estrutural. Cada uma destas camadas diminui de qualidade e
de resistncia, da superfcie at ao solo de fundao, em conformidade com a
degradao dos esforos actuantes, no entanto, estas devero garantir sempre a correcta
inter-ligao com a camada adjacente.
As camadas tratadas com ligantes (camadas de ligao) devem ter um
comportamento mecnico ideal para resistir deformao permanente, fadiga e ainda
garantir um adequado mdulo de deformabilidade e rigidez. Para tal, importante a
execuo da compactao e o estudo da sua formulao. Para alm da camada de
desgaste, estas camadas tambm influenciam a comodidade e segurana de circulao
dos utentes, sendo as responsveis pela distribuio e degradao dos esforos
induzidos pelo trfego e fendilhamento for fadiga.
De seguida, por ordem decrescente, as camadas granulares, so esquematizadas
em funo do nvel de trfego estimado, de modo, a que as cargas verticais induzidas
pelo trfego sejam correctamente repartidas sobre a plataforma garantindo que as
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
10
deformaes se mantm ao nvel dos limites admissveis. O comportamento mecnico
destas camadas fortemente condicionado pela sua compacidade, teor em gua e estado
de tenso, o que torna importante a anlise das condies climticas do local da obra, de
modo a limitar os efeitos desfavorveis associados presena de gua. Uma outra
soluo possvel, em trfego pouco intenso, a utilizao de solos seleccionados com
controlo dos valores mximos de plasticidade, e consequente limitao da sensibilidade
gua.
Por ltimo, a fundao do pavimento constituda pelo terreno de fundao e o
leito de pavimento, este somente no caso de o solo natural no possuir as caractersticas
desejadas construo do pavimento, pois aumenta a capacidade de suporte da
fundao e homogeneza as suas caractersticas resistentes. O leito de pavimento tem
tambm por objectivo durante a fase construtiva proteger o solo de fundao e
estabelecer um nivelamento ajustado traficabilidade dos equipamentos de obra, e
durante a fase de explorao, como j foi referido, melhorar o comportamento da
fundao. Posteriormente exigido da fundao do pavimento a capacidade de
assegurar uma superfcie de rolamento regular e ainda permitir a drenagem eficiente da
gua das chuvas.
Numa outra perspectiva, poder-se-ia considerar outros dois grupos de camadas:
as camadas ligadas e as camadas no ligadas, as primeiras com poder de coeso,
concebidas para suportar todos os tipos de esforos (compresso, traco e corte) e as
segundas apenas dependentes da sua capacidade de imbricamento e atrito interno,
capazes de resistir aos esforos de compresso e corte.
De uma forma geral, baseado no caderno de encargos tipo de obra da EP, a
estrutura de pavimentos flexveis com misturas betuminosas fabricadas a quente ou a
frio, ou de pavimentos rgidos :
Tipo de camada Camadas Designao
Espessura (m
2
)
Granulares Solos seleccionados 0,15 0,20 0,25 0,30
ABGE 0,15 0,20 0,25
Agregado reciclado 0,15 0,20 0,25
ABGE 0,15 0,20
Agregado reciclado 0,15 0,20
Sub-base
Base
Tabela 2.2 Camadas granulares, caracterizao.
Captulo 2 Fundao, Estrutura e Comportamento dos Pavimentos Rodovirios
Joana Santos 11
Camadas Antiga designao ova designao
Espessura (m
2
)
Macadame Betuminoso Fuso B AC 32 base de ligante (MB) 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15
Macadame Betuminoso Fuso A AC 20 base de ligante (MB) 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
Mistura Betuminosa de Alto Mdulo AC 20 base de ligante (MBAM) 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12
Macadame Betuminoso Fuso A AC 20 bin ligante (MB) 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
Mistura Betuminosa Densa AC 20 bin ligante (MBD) 0,05 006 0,07 0,08
Mistura Betuminosa de Alto Mdulo AC 16 bin ligante (MBAM) 0,06 0,07 0,08 0,09
Beto Betuminoso AC 14 bin ligante (BB) 0,04 0,05 0,06
Argamassa Betuminoso com Betume
Modificado
AC 4 bin ligante (AB) 0,015 0,020 0,025 0,0630
Macadame Betuminoso Fuso A AC 20 reg ligante (MB) (ton)
Mistura Betuminosa Densa AC 20 reg ligante (MBD) (ton)
Beto Betuminoso AC 14 reg ligante (BB) (ton)
Argamassa Betuminoso com Betume
Modificado
AC 4 reg ligante (AB) (ton)
Beto Betuminoso AC 14 surf ligante (BB) 0,04 0,05 0,06
Beto Betuminoso Drenante PA 12,5 ligante (BBd) 0,04 0,05
(micro)beto Betuminoso Rugoso AC 10 surf ligante (mBBr) 0,025 0,030 0,035
Beto Betuminoso Rugoso AC 14 surf ligante (BBr) 0,04 0,05 0,06
Beto Betuminoso com incrustao de
agregados duros
AC 14 surf ligante (BB) 0,05 0,06
MBA-BBA 0,025 0,030 0,035 0,040
MBR-BBA 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060
MBA-BBM 0,030 0,035 0,040
MBR-BBM 0,030 0,035 0,040
Misturas Betuminosas a Quente
Base
Desgaste
Ligao
Regularizao
AC-Asphalt Concrete; PA-Porous Asphalt; base-Base course; bin-Binder course; reg-Regulating course; surf-Surface course
Tabela 2.3 - Misturas betuminosas a quente, caracterizao, adaptado EP.
Camada Designao
Espessura (m
2
)
ABGE, tratado com emulso betuminosa 0,08 0,10 0,12 0,14
MB aberta a frio 0,05 0,06 0,08 0,10
ABGE, tratado com emulso betuminosa 0,08 0,10 0,12 0,14
MB aberta a frio 0,05 0,06 0,08 0,10
ABGE, tratado com emulso betuminosa (ton)
MB aberta a frio (ton)
Misturas Betuminosas a Frio
Base
Ligao
Regularizao
Tabela 2.4 - Misturas betuminosas a frio, caracterizao.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
12
Camada Designao
Espessura (m
2
)
Sub-base Solo-cimento fabricado em central 0,20 0,25 0,30
Solo-cimento fabricado "in situ" 0,20 0,25 0,30
Solo-cal fabricado em central 0,20 0,25 0,30
Solo-cal fabricado "in situ" 0,20 0,25 0,30
ABGE tratado com cimento 0,15 0,20 0,25
Base ABGE tratado com cimento 0,15 0,20 0,25
Misturas tratadas com ligante hidrulico
Tabela 2.5 - Misturas tratadas com ligante hidrulico, caracterizao.
Camada Designao
Espessura (m
2
)
Sub-base Beto pobre vibrado 0,15 0,20
Base Beto pobre vibrado 0,15 0,20
Beto armado contnuo (CBBAC) 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24
Desgaste Beto no armado, com juntas 0,20 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28
Beto armado, com juntas 0,20 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28
Beto armado contnuo (BAC) 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24
Blocos de beto 0,06 0,08 0,10
Camadas de Beto Hidrulico
Tabela 2.6 - Camadas de beto hidrulico, caracterizao.
Captulo 2 Fundao, Estrutura e Comportamento dos Pavimentos Rodovirios
Joana Santos 13
2.3 TIPO DE PAVIMETOS
A escolha de uma soluo construtiva para um pavimento rodovirio est assente
nas seguintes variveis: trfego, clima, materiais disponveis, condies de fundao e
custos de execuo. Da gesto destes factores resultam pavimentos aos quais
correspondem diferentes tipos de comportamentos. O tipo de pavimento classificado
em funo dos materiais utilizados e da sua deformabilidade.
2.3.1 PAVIMETOS FLEXVEIS
Os pavimentos flexveis caracterizam-se pelas suas camadas superiores serem
constitudas por materiais estabilizados com ligantes hidrocarbonados seguidas de
camadas puramente granulares. A composio desta estrutura permite grande
flexibilidade (E= 3 a 7 x10
3
MPa para as camadas betuminosas e E=2 a 5 x10
3
MPa) e
por conseguinte deformaes elevadas, no entanto, esta estrutura pouco resistente a
esforos de traco. [2]
BB 5 cm
MBD 5-9 cm
MB 11-15 cm
ABGE - base 20 cm
ABGE sub-base 20 cm
Solo de Fundao -
Figura 2.1 - Pavimento Flexvel.
2.3.2 PAVIMETOS SEMI-RGIDOS
Define-se pavimento semi-rgido quando se constitui um pavimento com a
camada superior de materiais ligados com ligantes betuminosos aplicada sobre uma
camada de materiais granulares tratados com ligantes hidrulicos, e uma camada de sub-
-base estabilizada mecanicamente. [2]
BB
20-50 cm
ABGE tratado com ligantes hidrulicos
ABGE
Solo de Fundao -
Figura 2.2 - Pavimento Semi-Rgido.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
14
2.3.3 PAVIMETOS RGIDOS
Os pavimentos rgidos so compostos por uma camada superior constituda por
materiais estabilizados com ligantes hidrulicos, seguida de, ou uma camada granular de
transio tambm estabilizada com ligante hidrulico ou uma camada de sub-base.
A sua funo estrutural garantida pela elevada resistncia flexo das lajes de
beto (E= 2 a 3 x10
4
MPa). [2] No entanto, estes esforos de flexo provocam grandes
extenses de compresso e traco que podero ser evitados reforando o
dimensionamento. Assim os pavimentos rgidos dividem-se em cinco categorias em
funo do modo de controlo do fendilhamento por retraco: [1]
Beto no armado, com juntas transversais e longitudinais (dotadas ou no de
passadores);
Beto armado, com juntas (dotadas ou no de passadores);
Beto armado contnuo (BAC);
Beto pr-esforado;
Elementos pr-fabricados.
Beto de Cimento 20-25 cm
Beto pobre 15 cm
ABGE tratado com ligantes hidrulicos -
Solo de Fundao -
Figura 2.3 - Pavimento Rgido.
2.3.4 PAVIMETOS MISTOS E IVERSOS
Os pavimentos Mistos so semelhantes ao semi-rgido, mas a espessura das
misturas betuminosas normalmente metade da espessura total do pavimento. So
constitudos por misturas betuminosas no topo do pavimento, assentes em materiais
granulares tratados com ligantes hidrulicos, dispostos em mais de uma camada. [13]
MB 15-20 cm
ABGE tratado com ligantes hidrulicos
20-40 cm
ABGE tratado com ligantes hidrulicos
Solo de Fundao -
Figura 2.4 - Pavimento Misto.
Captulo 2 Fundao, Estrutura e Comportamento dos Pavimentos Rodovirios
Joana Santos 15
Os pavimentos Inversos acrescentam em comparao com os semi-rgidos uma
camada granular confinada no tratada com ligantes, entre a camada superior (tratada
com ligantes betuminosos) e a camada inferior (tratada com ligantes hidrulicos). [13]
MB 15 cm
ABGE 12 cm
ABGE tratado com ligantes hidrulicos 20 cm
Solo de Fundao -
Figura 2.5 - Pavimento Inverso.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
16
Joana Santos
CAPTULO 3
MATERIAIS DE PAVIMETAO (AGREGADOS E LIGATES)
3.1 AGREGADOS
3.1.1 COSIDERAES GERAIS
Num pavimento rodovirio, os agregados constituem 100% dos materiais
utilizados nas camadas de base e sub-base, e 90% a 95% nas camadas betuminosas ou
hidrulicas. [3]
Estes dados s por si, revelam a grande importncia que os agregados conferem a
uma estrutura rodoviria formando um esqueleto ptreo estvel e de grande resistncia
compresso depois de compactados (devido ao imbricamento dos gros), determinante
para resistir s tenses resultantes da aco do trfego e ao desgaste por atrito na
superfcie, garantindo o desempenho para o qual o pavimento foi concebido.
Para tal, o estudo sobre as propriedades e caractersticas dos agregados, ou seja,
resistncia ao esmagamento, choque, desgaste e polimento, peso especfico, absoro de
gua, granulometria e forma das partculas, adesividade ao ligante e limpeza dos
agregados fundamental num projecto rodovirio.
Agregado define-se ento, como um material granular utilizado na construo de
partculas ligadas ou destinadas a ser ligadas por um aglutinante, em materiais como
betes, argamassas ou macadames [3] e conforme as Normas Europeias, a sua origem
poder ser natural, artificial ou reciclada.
A origem dos agregados um factor que influencia a forma como se conduz o
estudo e o projecto de construo de um pavimento rodovirio, pois as suas propriedades
fsicas variam largamente dentro de cada tipo, sendo aconselhvel a realizao de ensaios
de modo a controlar a uniformidade dos agregados e assegurar uma correcta utilizao
com a valorizao dos mesmos.
O meio de processamento dos agregados outros dos factores que influencia a sua
qualidade final condicionando a resistncia de uma agregado por eliminao da rocha
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
18
mais fraca e consequente efeito na granulometria e forma das partculas, conceito muito
importante na construo rodoviria pois as partculas com forma laminar ou alongada
causam pontos de fragilidade, tendendo a originar misturas fracas e a exigir quantidades
de aglutinante diferentes das especificadas tecnicamente e normalizadas.
Em Portugal, as entidades responsveis pela normalizao das especificaes so
LNEC e do IPQ, na Europa a avaliao orientada pelo Comit Europeu de
Normalizao (comit 154). A nvel internacional as especificaes so da
responsabilidade da American Society for Testing and Materials (ASTM) e American
Association of States Highway and Transportation Officials (AASHTO).
3.1.2 ATURAIS
Define-se como agregado natural (rolado ou britado) aquele que extrado de
jazidas naturais, ou seja, provm de origem mineral, obtidos a partir da decomposio de
rochas (gneas, metamrficas ou sedimentares), por exemplo, os seixos que se
fragmentaram naturalmente das rochas, as areias resduos finais da deteriorao das
rochas, as britas resultantes de processamento mecnico, ou os inertes provenientes da
extraco de desassoreamento das zonas de escoamento e de expanso das guas de
superfcie. [3]
As etapas principais do processo de britagem de agregados naturais so:
Prospeco geologia - geofsica e sondagens;
Explorao - perfurao, desmonte, carga e transporte;
Tratamento - britagem, moagem, e crivagem;
Transporte dos produtos finais para o mercado;
Venda.
Para que seja vlida a sua utilizao, os agregados devem ser homogneos e estar
isentos de matria orgnica ou substncias impuras, e estar de acordo com os critrios
propostos pela Sociedade Internacional de Mecnica das Rochas, ou seja, serem pouco
susceptveis meteorizao e apresentarem-se sos ou muito pouco alterados.
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 19
3.1.3 ARTIFICIAIS
Os agregados artificiais tm a sua origem tambm mineral, mas so resultado de
processos industriais que englobam modificaes trmicas e outras, ou resultado de
subprodutos ou resduos de actividades industriais (ex: escorias ou argilas expandidas).
3.1.4 RECICLADOS
Estes agregados so consequncia de um processamento de materiais minerais
anteriormente utilizados, noutras actividades da construo, caracterizam-se pela sua
composio diversificada, o que condiciona em muito a sua valorizao, exigindo
maiores requisitos de produo (triagem apropriada e adequada seleco no processo de
preparao).
O processamento dos agregados reciclados pode ter lugar em centrais fixas ou em
centrais mveis e envolve quatro operaes principais: [34]
Triagem: elimina os componentes indesejveis (por ex: gesso, plsticos,
borrachas, madeiras, carto e papel, metais e matria orgnica), que prejudicam as
caractersticas tcnicas e ambientais do produto reciclado;
Reduo primria: os escombros sofrem uma reduo das suas dimenses e
procede-se remoo dos materiais metlicos ainda existentes;
Britagem: desenvolve-se em duas fases com reduo progressiva das dimenses
dos resduos;
Peneirao: obtm-se um material classificado em diferentes granulometrias, de
modo a contemplar as diferentes necessidades de aplicao.
Os agregados reciclados so na sua maioria Resduos de Construo e Demolio
(RCD), Agregados reciclados de beto britado, Agregados reciclados de pavimentos de
pavimentos asflticos e outros agregados provenientes de Resduos Slidos Urbanos
(RSU), catalogados na Lista Europeia de Resduos (LER), Portaria n209/2004, 3 de
Maro, Captulo 17.
Pela norma EN 933, os agregados reciclados utilizados em camadas no ligadas
so classificados segundo a sua natureza e o campo de aplicao: AGER1, AGER2 e
AGER3 e por uma classe: B ou C.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
20
Categoria AGER3
Natureza dos constituintes C B C B B
Aplicaao em camadas de sub-base 50 150 150 300 300
Aplicaao em camadas de base NR 150 150 150 300
NR - No Recomendado
AGER1 AGER2
Tabela 3.1 - Campos de aplicao dos agregados reciclados, adaptado EP.
Rc+Ru+Rg Rg Rb Ra FL X
B 90 % 5 % 10 % 5 % 5 % 1 %
C 50 % 5 % 10 % 5 % 5 % 1 %
RC - beto, produtos de beto e argamassas; RU - agregados no ligados, pedra
natural, agregados tratados com ligantes hidrulicos; RA - materiais betuminosos;
RB - elementos de alvenaria de materiais argilosos, silicatos de clcio e beto celular
no flutuante; RG - vidro; FL - material flutuante em volume; X outros materiais
coersivos.
Categoria dos constituintes
Classe
Tabela 3.2 Classificao segundo a natureza dos constituintes, adaptado EP.
A classificao inglesa considera: [8]
Classe dos agregados reciclados:
Segundo BRE Digest 433, UK
Classes Origem
Contedos
de Tijolos
Descrio
RCA I
Alvenaria
de tijolo
0 - 100%
Material de baixa qualidade e
muitas impurezas
RCA II Beto 0 - 10%
Material de boa qualidade e
poucas impurezas
RCA III
Beto e
tijolo
0 - 50%
Material misto com muitas
impurezas, podendo adicionar-
se a agregados naturais
Tabela 3.3 - Classe dos agregados reciclados.
Tipos de agregados reciclados:
Segundo RILEM
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 21
Tipos Composio
Material
Estranho
Matria
Orgnica
Total
I
Derivados de
alvenaria de tijolo
<5% <1%
II Derivados de beto <1% <0,5%
III
Mistura com >80%
de agregados naturais,
>10% do Tipo I e
<20% do Tipo II
<1% <0,5%
Tabela 3.4 - Tipos de agregados reciclados.
Mximos nveis de impurezas:
Segundo BRE, UK
Materiais
Uso em
Agregados para
Beto
Uso na Construo de
Estradas
Enchimentos,
Drenagens e
outros fins
Asfalto e
Alcatro
Includo no limite
para outro material
estranho
10% em RCA I
5% em RCA II
10% em RCAIII
10%
Madeiras
1% em RCA I
0,5% em RCA II
2,5% em RCA III
Sub-material Tipo 1 e 2
CBM(1-5): 2%
Leito superior: 2%
2%
Vidros
Includo no limite
para outro material
estranho
Contedos acima de 5%
devem ser
documentados
Contedos acima
de 5% devem ser
documentados
Metais,
Psticos, etc.
5 % em RCA I
1% em RCA II
5% emRCA III
1% em volume, de for
muito leve
1% em volume, se
for muito leve
Sulfatos
Beto e CBM: 1% solvel em cido SO
3
Material desconfinado: ver Digest 363 no Beto prximo
Tabela 3.5 - Mximos nveis de impurezas.
3.1.5 FLER
Todo o agregado que em processo de peneirao 100% do seu material passe no
peneiro n 25 (0.63 mm), 85% ou mais passe no peneiro n100 (0.125 mm) e ainda mais
de 70% passe no peneiro n 200 (0.063 mm) denominado fler. [4]
Este material seleccionado pode ser natural ou artificial, de origem inorgnica e
mineral. O fler recuperado resulta do processo de fabrico de misturas betuminosas por
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
22
recuperao dos finos e pode ser de origem mineral, proveniente de qualquer natureza
petrogrfica. O fler comercial produzido industrialmente e dever ser de natureza
calcria.
No mercado usual a utilizao dos seguintes tipos: fler de carbonato de clcio
FCC, fler de cinzas volantes, fler comercial, fler de cal hidratada, fler recuperado.
Limite inferior Limite superior
2 - 100
0,125 85 100
0,063 70 100
Percentagem acumulada do material passado
Dimenso dos peneiros (mm)
Tabela 3.6 - Requisitos granulomtricos para o fler, adaptado EP.
3.1.6 ESPECIFICAES TCICAS
As referncias normativas que definem os requisitos aplicveis aos agregados so:
NP EN 932: Ensaios para a determinao das propriedades gerais dos agregados.
Parte 2: Descrio petrogrfica simplificada.
NP EN 933 / EN 933: Ensaios das propriedades geomtricas dos agregados.
Parte 1: Anlise granulomtrica. Mtodo de peneirao.
Parte 3: Determinao da forma das partculas. ndice de achatamento.
Parte 4: Determinao da forma das partculas. ndice de forma.
Parte 5: Determinao da percentagem de superfcies esmagadas e partidas nos
agregados grossos.
Parte 8: Determinao do teor de finos. Ensaio de equivalente de areia.
Parte 9: Determinao do teor de finos. Ensaio do azul-de-metileno.
Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregate.
NP EN 1097: Ensaios das propriedades mecnicas e fsicas dos agregados.
Parte 1: Determinao da resistncia ao desgaste (micro-Deval).
Parte 2: Mtodos para a determinao da resistncia fragmentao. Ensaio de
desgaste pela maquia de Los Angeles.
Parte 3: Determinao da baridade e do volume de vazios.
Parte 4: Determinao do ndice de vazios de Rigden.
Parte 5: Determinao do teor em gua por secagem em estufa ventilada.
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 23
Parte 6: Determinao da massa volmica real e da absoro de gua.
Parte 7: Determinao da massa volmica do Fler. Mtodo do picnmetro.
Parte 8: Determinao do coeficiente de polimento (PSV).
NP EN 1367: Ensaios das propriedades trmicas e de meteorizao dos agregados
Parte 1: Determinao da resistncia ao gelo/degelo.
Parte 2: Ensaio do sulfato de magnsio.
Parte 5: Determinao da resistncia ao choque trmico.
NP EN 1744: Ensaios para a determinao das propriedades qumicas dos
agregados.
Parte 1: Anlise qumica.
Parte 3: Preparao de eluatos por lexiviao dos agregados.
Parte 4: Susceptibilidade gua.
Parte 5: Determination of acid soluble chloride salts.
EN 12457-4: Characterisation of waste. Leaching - Compliance test for leaching
of granular waste materials and sludges.
Part 4: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with
high solid content and with particle size below 10mm (without or with size
reduction).
NP EN 12620: Agregados para beto.
NP EN 13043: Agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficiais
para estradas, aeroportos e outras reas de circulao;
EN 13055-2:2004: Agregados leves
Parte 2: agregados leves para misturas betuminosas e tratamentos superficiais e
para aplicaes em camadas de materiais no ligados ou ligados.
NP EN 13242:2005: Agregados para materiais no ligados ou tratados com
ligantes hidrulicos utilizados em trabalhos de engenharia civil e na construo
rodoviria.
NP EN 13285: Misturas no ligadas. Especificaes.
LNEC E 471: Guia para a utilizao de agregados reciclados grossos em betes de
ligantes hidrulicos.
LNEC E 472: Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em
central.
LNEC E 473: Guia para a utilizao de agregados reciclados em camadas no
ligadas de pavimentos.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
24
LNEC E 474: Guia para a utilizao de resduos de construo e demolio em
aterro e em camada de leito de infra-estruturas de transporte.
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 25
3.2 LIGATES
3.2.1 COSIDERAES GERAIS
Os ligantes so produtos com propriedades aglomerantes que sozinhos ou com
outros materiais, em geral ptreos, ganham presa e endurecem. Os ligantes dividem-se em
dois tipos: Hidrfilos e Hidrfobos.
Os ligantes hidrfilos so produtos que quando misturados com gua originam
reaces e processos de hidratao da pasta, a qual faz presa, endurece e mantm-se
resistente e estvel, mesmo quando submersa. Estes podem ainda subdividir-se em:
Ligantes Areos (cal area, gesso) ou Ligantes Hidrulicos (cal hidrulica, cimento). Os
primeiros no so resistentes gua, ou seja, quando misturados com gua formam uma
pasta que apenas endurece ao ar. Os segundos deste grupo so os mais usados na
construo rodoviria, a pasta resultante da mistura do ligante com a gua, endurece tanto
no ar como imerso, podendo aglomerar-se com outros materiais.
Os ligantes hidrfobos so lquidos viscosos ou solues resinosas que ao
endurecem por arrefecimento ou por evaporao dos solventes, ou por reaco qumica
entre os componentes, formam solues coloidais rgidas, repelentes gua. Estes
subdividem-se em: Hidrocarbonados (alcatro, betumes) e Plsticos (colas, resinas).
Em Portugal predomina a utilizao de ligantes betuminosos e os poucos
pavimentos com ligantes hidrulicos existentes so maioritariamente de cimento.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
26
3.2.2 BETUMIOSOS
Os aglutinantes betuminosos so caracterizados pelas suas propriedades
termoplsticas e viscosidade elevada temperatura ambiente. Os parmetros usados na
diferenciao destes relacionam-se com a fraco do agregado empregue, a temperatura
de execuo (a quente ou a frio), a percentagem de vazios na mistura, a porosidade-n
(mistura fechada se n<5%, mistura semi-fechada se 5 n<10, mistura semi-aberta
10n<15, mistura aberta n15) e com a granulometria (contnua ou descontnua).
Em geral os betumes utilizados so materiais derivados do petrleo bruto, no
entanto, em funo da sua origem e modo de obteno possvel identificar diversos
aglutinantes betuminosos:
3.2.2.1 Asfalto
O asfalto emerge naturalmente na natureza sob a forma de lagos de asfalto,
podendo ser encontrado em Trinidad e Tobago, Bermudas nas Carabas e em Ambrizete
em Angola. Em Portugal a utilizao deste material foi quase inexistente, embora se
pudesse recorrer ao asfalto existente em Angola. Para poder ser aplicado o asfalto
refinado a temperaturas que rondam os 160 C de modo a vaporizar a gua e
posteriormente remover-se os materiais estranhos. A sua composio genericamente
54% de betume asfltico, 36% minerais e 10% matria orgnica. [2]
3.2.2.2 Rocha asfltica
A rocha asfltica surge na natureza sob a forma de macios de rocha calcria ou
gresosa, forma-se aps a infiltrao de pores de betume natural originado pela
destilao lenta e natural do petrleo que anteriormente impregnava a rocha. Pode ser
encontrado e extrado de minas e pedreiras a cu aberto, tal como acontece em Gard ou
Neuchteal na Sua, Ragusa em Itlia, em Ambriz ou Ambrizete em Angola. Antes da
aplicao a rocha asfltica triturada juntamente com material calcrio e o produto
resultante aquecido, espalhado e compactado temperatura ambiente. A sua
composio genrica contm at 12% de betume relativamente sua massa total, embora
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 27
possa atingir 50%. A sua utilizao actualmente restrita ou mesmo nula na
pavimentao rodoviria, embora tivesse sido um dos primeiros materiais betuminosos
utilizados. [2]
3.2.2.3 Alcatro
O alcatro o lquido resultante da queima da hulha ou da madeira resinosa, ou
quando estes so sujeitos a um processo de destilao destrutivo na ausncia de ar. A sua
utilizao foi intensa no Reino Unido, no entanto, nos ltimos anos ficou em segundo
plano devido ao crescimento exponencial do petrleo e seus derivados. Em Portugal, o
consumo do alcatro restringiu-se ao perodo da II Grande Guerra devido
impossibilidade de obter betume asfltico. [2]
3.2.2.4 Betume asfltico
O betume asfltico o principal aglutinante utilizado no fabrico das misturas
betuminosas para a pavimentao rodoviria. Este ligante obtido a partir da destilao
do petrleo bruto que uma mistura de hidrocarbonetos complexa, cujas massas
moleculares so diferentes. O betume asfltico subsiste em numerosos petrleos onde se
pode encontrar em soluo, sendo obtido aps a eliminao dos leos que servem de
dissolventes. um material praticamente no voltil, com boas qualidades adesivas,
impermevel gua, solvel em tolueno, muito viscoso e quase slido temperatura
ambiente, no entanto, a sua consistncia varia com a temperatura, torna-se mole quando
aquecido e endurece quando arrefece, no cristalino e tem uma cor negra.
Existem vrios processos para a produo do betume, o mais o usado a
destilao directa ou fraccionada do petrleo bruto, no qual as fraces mais leves do
petrleo bruto permanecem no estado de vapor, enquanto que, as mais pesadas, de
elevada massa molecular, so extradas sob a forma de resduo, no fundo da torre, este
designado por bruto reduzido ou primeiro resduo. De seguida, o material obtido
aquecido a uma temperatura que ronda os 350 C e os 400 C, posteriormente enviado
para uma coluna e sujeito a uma presso negativa de 10mm a 100mm de mercrio. O
objectivo desta coluna obter a separao fsica dos constituintes do primeiro resduo
sem os degradar termicamente e obter assim um segundo resduo. Toda a gama de
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
28
betumes asflticos fabricada a partir deste segundo resduo. As condies da coluna de
destilao em vcuo, determinam os diferentes tipos de betume.
A composio dos betumes asflticos em geral constituda por hidrocarbonetos
saturados de peso molecular elevado, dos quais 80% a 85% carbono, 10% a 15% de
hidrognio, 2% a 3% de oxignio, enxofre e azoto em pequenas quantidades e vestgios
de vandio, nquel, ferro, magnsio e clcio. No entanto, esta composio varivel de
acordo com a origem do petrleo bruto usado para o fabrico do betume e com os
procedimentos empregues no final do processo de produo. Por outro lado, o betume
sofre continuamente alteraes sua composio, quer no processo de colocao em
obra, quer no perodo de servio em que est sujeito aos efeitos de oxidao provocados
pelo oxignio do ar e da gua das chuvas.
As propriedades reolgicas dos betumes asflticos so muito dependentes da
temperatura e do tempo de solicitao e uma relao das propriedades reolgicas com a
composio qumica do betume asfltico quase impossvel. A anlise qumica deste
extremamente complexa e trabalhosa. Assim corrente distinguir o betume em dois
grupos qumicos: os asfaltenos e os maltenos. O grupo dos maltenos pode ainda ser
dividido em trs subgrupos: os saturados, os aromticos e as resinas. Comummente
entende-se o betume asfltico como um sistema coloidal de micelas de elevado peso
molecular (asfaltenos) dispersas num meio dispersante, oleoso de menor peso molecular
(maltenos). Os maltenos constituem o meio contnuo das micelas de asfaltenos. [1] [2]
Devido a estas propriedades, fundamental o estabelecimento de regras para
avaliar e normalizar limites ou padres, de modo a estabelecer tipos de betumes, nos
quais seja possvel prever o seu comportamento. Em Portugal a entidade responsvel pela
normalizao e especificaes tcnicas o LNEC (Laboratrio Nacional de Engenharia
Civil) apoiado nas preconizaes do Projecto de Norma Europeia.
As caractersticas que definem os tipos de betume de pavimentao so:
Densidade relativa;
Temperatura de amolecimento - Mtodo anel e bola;
Ductilidade;
Solubilidade no sulfureto de carbono;
Solubilidade no tretracloreto de carbono;
Solubilidade em tolueno ou xileno;
Temperatura de inflamao em vaso aberto Cleveland:
Perda por aquecimento a 163 C;
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 29
Penetrao no resduo obtido na determinao da perda a 163 C;
Viscosidade cinemtica, 135 C;
Ponto de fragilidade de Frass (em Portugal dispensvel);
ndice de penetrao 25 C, 100g, 5s;
Rigidez e ngulo de fase.
Assim a classificao para os tipos de betume de pavimentao, utiliza uma
nomenclatura em funo da sua dureza, ou seja, da sua gama de penetrao a 25 C.
Quanto menores forem os valores das gamas de penetrao, maior ser a dureza do
betume. A densidade mdia dos betumes usados em Portugal de 1.03.
10/20 15/25 20/30 35/50 50/70 160/220
Penetrao a 25 C, 100g, 5s
(0,01mm)
10 - 20 15 - 25 20 - 30 35 - 50 50 - 70 160 -220
Temperatura de amolecimento 60 - 70 C 55 - 71 C 55 - 63 C 50 - 58 C 46 - 54 C 35 - 43 C
Variao de massa, aps RTFOT,
mxima
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1%
Penetrao retida, aps RTFOT,
mnima
55% 55% 55% 53% 50% 37%
Aumento da temperatura de
amolecimento, aps RTFOT, mximo
10 C 10 C 10 C 11 C 11 C 12 C
Temperatura de inflamao, mnima 245 C 245 C 240 C 240 C 230 C 220 C
Solubilidade, mxima 99% 99% 99% 99% 99% 99%
Ponto de fragilidade de Fraass,
mximo
- - - - 5 C - 8 C - 15 C
Viscosidade cinemtica a 135 C,
mnima
700 mm
2
/s 600 mm
2
/s 530 mm
2
/s 370 mm
2
/s 295 mm
2
/s 135 mm
2
/s
Betume de Pavimentao
Tabela 3.7 - Tipos de betume de pavimentao, adaptado de INIR.
Os diferentes tipos de betume so aplicados em funo dos objectivos dos trabalho
de pavimentao a executar, onde se engloba volume de trfego projectado, o nvel de
desempenho estrutural e funcional, e ainda em funo das condies climticas da regio.
Em Portugal, os betumes mais aplicados so o 35/50, o 50/70 e o 160/220. usual
que os betume 10/20 e os 20/30 sejam aplicados em misturas betuminosas de alto mdulo
de deformao onde o trfego se prev significativo e pesado, e em zonas temperadas,
que os betumes de 35/50 sejam aplicados em regies temperadas a quentes para camadas
de base e desgaste, com trfego e temperaturas moderadas. Os betumes 50/70 usam-se no
fabrico de misturas betuminosas quentes, os 160/220 destinam-se ao fabrico de emulses
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
30
betuminosas, no revestimento de superfcies e de camadas construdas por penetrao de
ligante.
Para ser possvel a concretizao de pavimentos mais optimizados e adaptados
realidade in situ dos projectos vrios fabricantes tm desenvolvido meios de alterar as
suas propriedades bsicas. Assim, a ttulo de exemplo, exequvel obter maior
flexibilidade, menor susceptibilidade trmica, melhor adesividade agregado/betume, pela
adio de polmeros, ou melhores desempenhos estruturais e funcionais e tambm melhor
adesividade agregado/betume pela adio de fibras e aditivos.
Os tipos de betumes agrupam-se em:
Betumes de Pavimentao;
Betumes Duros;
Betumes Modificados
Betumes Especiais;
Emulses Betuminosas;
Emulses Betuminosas Modificadas;
Betumes Fluidificados;
Aps a entrada em servio as misturas betuminosas devero cumprir com
determinadas exigncias funcionais e de qualidade de modo a garantir a segurana e
conforto dos utentes da via. Assim caractersticas como: a estabilidade, a durabilidade, a
flexibilidade, a resistncia fadiga, a aderncia, a impermeabilidade, a trabalhabilidade,
devem coexistir com a resistncia s aces climticas, a produtos qumicos, ao desgaste
produzido pela passagem dos veculos, s aces internas (expanso, contraco).
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 31
Fase Propriedades dos Agregados
Granulometria
Resistncia fragmentao
Resistncia ao choque trmico
Coeficiente de atrito Forma
Textura
Dimenso do agregado
Resistncia a fragmentao
Resistncia ao polimento
Drenagem superficial Dimenso mxima do agregado
Granulometria
Encaeamento e Reflectividade Propriedades pticas
Desgaste dos pneus, rudo e resistncia
ao rolamento
Forma das particulas
Textura
Dimenso mxima do agregado
Composio quimica
Susceptibilidade gua
Resistencia ao gelo/degelo
Adesividade betume/agregado
Alterabilidade
Massa volmica
Comportamento das Misturas
Trabalhabilidade
Manuteno das caractersticas durante o fabrico e
aplicao
Caractersticas Estruturais:
Rigidez
Caractersticas
Superficiais:
Durabilidade
Em servio
Construo
Granulometria
Dimenso mxima do agregado
Dureza das partculas
Resistncia fragmentao
Textura
Forma
Resistncia s deformaes permanentes
Resistncia ao fendilhamento
Tabela 3.8 Adaptado de Agregados para misturas betuminosas LNEC 8 Junho 2004 e Freire 2004.
O desempenho e durabilidade das misturas betuminosas podem ser prejudicados
pela presena de materiais de natureza orgnica, argilosos, materiais que reagem com
gua ou excesso de finos.
BETUMES DE PAVIMENTAO
A aplicao do betume de pavimentao a mais generalizada de todos para
trabalhos de pavimentao, alm das aplicaes directas nas misturas betuminosas a
quente, empregues em camadas base, de regularizao e de desgaste, ainda fundamental
no fabrico dos restantes tipos de betumes.
BETUMES DUROS
A aplicao deste tipo de betumes essencial na formulao de misturas
betuminosas de alto mdulo fabricadas a quente, empregues em camadas base, de
regularizao, mas com excepo das camadas de desgaste. Os betumes mais favorveis
para serem utilizados so os betumes de pavimentao do tipo 10/20, 15/25 e tambm o
20/30.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
32
BETUMES FLUIDIFICADOS (CUT-BACK)
O betume fluidificado resulta da adio de agentes fluidificantes ou dissolventes
geralmente derivados do petrleo, ao betume asfltico, de modo a reduzir a sua
viscosidade e permitir a aplicao temperatura ambiente. Na construo rodoviria
trabalhos como: impregnaes de camadas, regras de colagem entre camadas,
pavimentao em tempo frio, so necessrios betumes menos viscosos e que se
mantenham assim durante o tempo inerente realizao dos mesmos.
A composio dos betumes fluidificados varia em funo do tipo de solvente
usado, sendo possveis percentagens de massa entre os 50% e os 80%. Os derivados de
petrleo usados como solventes para os betumes fluidificados so o petrleo comercial, a
gasolina e gasleo. O processo de ligao dos agregados ao betume depende da rapidez
com que a volatilizao do solvente conseguida. Os betumes fluidificados com gasleo
so denominados de cura lenta, com petrleo comercial de cura mdia e os fluidificados
com gasolina de cura rpida.
Na terminologia que define este tipo de betume usa-se: MC(30,70,250,800,3000),
indicador da viscosidade cinemtica mnima, em centistokes a 60 C.
Considerando que os solventes usados no fabrico dos betumes fluidificados so
extremamente volteis e a sua grande aplicao para produo de energia, aquando do
seu uso na produo de betumes fluidificados, verifica-se um grande desperdcio da sua
capacidade energtica, desperdcio econmico e aumento da poluio provocada por
serem libertados para a atmosfera.
As contrapartidas ambienteis, de segurana e de sade inerentes a este produto
este tipo de betume, faz com que actualmente a sua aplicao tenha sido afastada e esteja
em declnio em Portugal, ou tenha sido mesmo proibido em alguns pases Europeus.
BETUMES MODIFICADOS
O betume modificado o resultado da interaco do betume asfltico tradicional
com alguns aditivos. O desenvolvimento e aplicao deste produto surgiu nos anos 70 na
Europa e nos anos 90 em Portugal, quando se sentiu a necessidade de beneficiar o betume
tradicional de propriedades e composio capaz de resistir ao contnuo crescimento do
volume de trfego e das tenses por ele originadas, de modo a que a performance do
pavimento se mantenha estvel, sem necessidade de intervenes de conservao antes do
estabelecido. [21 [23]]
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 33
O ligante modificado adquire caractersticas que dotam o pavimento de
flexibilidade suficiente de modo a absorver as tenses e minimizar a fendilhao e a
deformao permanente. Em geral, optimizam a susceptibilidade trmica, a capacidade de
coeso, o comportamento reolgico, a resistncia aco da gua e ao envelhecimento. A
escolha do agente modificador depende principalmente das caractersticas pretendidas em
cada pavimento e do financiamento disponvel. Os principais grupos de modificadores
so:
Tipo de Modificadores
Polimeros Termoendurecveis Resinas Epoxy
Resinas Acrilicas
Resinas de Poliurerano
Resinas Fenlicas
Elastmeros (SBS) Estireno-Butadieno-Estireno Co-Polmero
(SIS) Estireno-Isopreno-Estireno
(SB) Estireno-Butadieno
(SBR) Estireno-Butadieno-borracha
(SEBS) Estireno-Butadieno-Estireno-Butadieno
(EPDM) Estireno-Propileno-Dieno Terpolmero
(IIR) Isobutileno-Isopreno Co-Polmero
(PED) Polibutadieno
(IR) Poliisopreno
Borracha Natural/ Vulcanizada
Plastmeros (EVA) Etineo-Vinil-Acetato
(EMA) Etileno-Metileno-Acrilato
(EBA) Etileno-Butileno-Acrilato
(PE) Polietileno
(PVC) Policloreto de Vinil
(PS) Poliestireno
(PP) Poliproprileno
(APP) Polipropileno attico
Quimicos Enxofre
Compostos Organo-mangans/ colbalto/cobre
Fibras Naturais Celulose
Amianto
Qumicas Acrilico
Vidro
Rocha Natural
Artificiais
Grupos de Modificadores
Tabela 3.9 - Grupos de modificadores.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
34
A aplicao dos betumes modificados direcciona-se para o fabrico de misturas
betuminosas em camadas de resistncia estrutural de modo a reduzir a espessura das
camadas, reduzir as deformaes permanentes e aumentar a vida til do pavimento, ou
para camadas superficiais/desgaste com beto betuminoso poroso com o objectivo de
melhorar a segurana, conforto, aderncia e regularidade do pavimento, rudo de
rolamento e resistncia ao envelhecimento pela aco dos agentes atmosfricos. [1]
Com borracha
A modificao do betume com borracha, iniciou-se em Portugal em 1999 pela
RECIPAV, pioneiros na Europa e seguindo a experincia dos EUA e frica do Sul. Esta
modificao baseia-se na adio de granulado de borracha ou p de borracha 100%
vulcanizada provenientes da reciclagem de pneus usados, conferindo toda a elasticidade
tpica da borracha ao betume. A correcta granulometria da borracha indispensvel nas
propriedades do betume modificado com borracha. As partculas grossas de borracha
aumentam a viscosidade do produto final, enquanto que, as partculas finas,
principalmente com percentagem de partculas que passam no peneiro n 50 (0,30 mm),
resultam num menor tempo de digesto.
Mximo orma
Teor em fibra 0,1% ASTM D 5603
Teor em ao 0,3% ASTM D 5603
Teor em gua 2% ASTM D 1864
Tabela 3.10 - Teor mximo dos constituintes da borracha natural, adaptado EP.
Dimenso nominal da
abetura dos peneiros (mm)
Percentagem acumulada de
material que passa (%)
1,18 100
1 98 - 100
0,5 60 - 94
0,25 5 - 25
0,063 0 - 3
Tabela 3.11 - Fuso granulomtrico do granulado de borracha, adaptado EP.
A reaco entre o betume e a borracha influenciada pela: temperatura da mistura,
tempo de digesto, quantidade de borracha incorporada, tipo do misturador mecnico,
tamanho e textura da borracha. O tempo de digesto ou de reaco o tempo necessrio
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 35
para promover a interaco entre o betume e a borracha, quando misturados a elevadas
temperaturas. [24]
possvel incorporar at 22% de borracha obtendo at 10% de betume
modificado com borracha relativamente massa total da mistura. A incorporao do
granulado de borracha tem dois processos distintos de fabrico: hmido (wet process) ou
seco (dry process).
No processo hmido, a borracha adicionada directamente ao betume, originando
uma mistura betuminosa homognea. Este processo engloba ainda os mtodos de
continuous blend e terminal blend. O betume modificado com borracha do tipo
continuous blend obtido com alta percentagem de borracha (18-22%) e o seu fabrico
localizado junto da central de misturas betuminosas da obra de modo a ser utilizado de
imediato evitando o armazenamento. O betume modificado com borracha do tipo
terminal blend obtido com baixa e mdia percentagem de borracha (8% e 8-15%,
respectivamente) e so produzidos industrialmente e possuem estabilidade ao
armazenamento.
No processo seco os fragmentos de borracha pulverizados so adicionados
directamente no misturador em substituio de parte dos agregados ptreos e
posteriormente adicionado o betume. Este processo mais econmico mas a disperso
difcil e no origina um betume homogneo.
As misturas betuminosas modificadas com borracha mais usadas em Portugal so
as Misturas Betuminosas Rugosas e as Misturas Betuminosas Abertas. As primeiras so
empregues em camadas de desgaste (espessuras ate 3 a 6 cm), camadas de base e de
regularizao, com o objectivo de favorecer as propriedades estruturais melhorando a
resistncia fadiga e ao envelhecimento, a propagao de fendas e baixa rigidez, e
funcionais beneficiando a macro-textura e diminuindo o rudo. As segundas caracterizam-
se por melhorar o rudo, a macro-textura e a resistncia ao envelhecimento, evitando a
propagao de fendas e controlando a projeco de gua, so empregues em camadas de
desgaste (espessuras de 2,5 a 4 cm), camadas intermdias anti-propagao de fendas. [23]
Em suma, os betumes modificados com borracha para alm das vantagens ambientais,
permitem atingir valores de viscosidade cerca de 15 vezes superiores ao betume
convencional, com baixo ndice de penetrao e elevada temperatura anel e bola,
favorecendo a resistncia ao fendilhamento, ao envelhecimento e oxidao, fadiga,
propagao de fendas, deformao permanente e derrapagem com reduo dos efeitos
de projeco de gua (splash e spray) durante as chuvas e reduo dos custos de
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
36
conservao, favorecem ainda a diminuio do rudo induzido pela circulao dos
veculos. [24]
Com Polmeros
A modificao do betume pela adio de polmeros a tcnica de modificao
qumica mais desenvolvida e que difere dos restantes pela adeso e coeso conseguida. A
vantagem desta tcnica que permite: a reduo da susceptibilidade temperatura com o
aumento do ponto de amolecimento, decrscimo do ndice de penetrao, supresso do
ponto de rotura de Frass e aumento da viscosidade. Melhorando a flexibilidade, a
trabalhabilidade, a coeso, a ductilidade e tenacidade do betume.
De modo a obter um betume modificado em funo de qualquer tipo e
percentagem de betume ou qualquer tipo e percentagem de polmero, necessrio
respeitar a tipologia de modificador, a composio e estrutura do betume tradicional, a
razo de betume/modificador e o processo de fabrico indicado., sabendo no entanto que
existem betumes/polmeros mais compatveis que outros.
O tipo de polmero condicionado pelo seu peso molecular e temperatura de
transio vtrea. O peso molecular influi na estabilidade do betume modificado quer por
possvel disperso mal executada, quer pela disparidade de densidades entre materiais e
consequente sedimentao de um deles. A temperatura de transio vtrea um indicador
da fragilidade do betume e requerer-se o mais baixo possvel.
A composio e estrutura de betume asfltico referem-se ao processo de refinao
utilizado assim como a quantidade de crudes tratada.
A relao entre a quantidade de betume e polmero reproduz-se nas propriedades
finais da mistura betuminosa e nos custos da mesma, uma vez que, com mais de 8% de
incorporao de polmero no betume d-se inverso da fase, na qual o betume est
disperso no polmero. Isso significa que grandes quantidades de polmero adicionadas no
correspondem a um betume modificado ideal.
Finalmente o processo de fabrico a etapa mais importante na determinao da
qualidade do betume modificado. A forma de mistura, temperatura, tempo de mistura e
energia transmitida devero ser idealmente estabelecidos para a obteno de reaces
qumicas completas e disperso efectiva do polmero.
A desvantagem da utilizao de betumes modificados com polmeros surge na
fase de armazenamento a altas temperaturas. A instabilidade j referida betume/polmero
que pode resultar da sua separao obriga juno de aditivos para elevar a estabilidade
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 37
da mistura e ser possvel o seu armazenamento. Os aditivos mais usuais so o enxofre, os
leos aromticos (castanha de caju).
Plastmeros
Os plastmeros so polmeros solveis em dissolventes orgnicos que amolecem
por aco do calor, chegando mesmo a fluir. Ao esfriar podem moldar-se, conservando a
maior parte das suas propriedades intrnsecas. Assim permitem que o betume
temperatura ambiente seja mais viscoso e se obtenha a trabalhabilidade necessria
execuo de pavimentos em tempo frio e posterior resistncia deformao permanente.
A desvantagem que no processo de aquecimento pode ocorrer uma separao do
ligante/plastmero e consequentemente ao arrefecer a mistura dispersa de modo
grosseiro, visto que a elasticidade do betume no alterada pela adio de plastmeros.
O polmero mais usado do grupo dos plastmeros o EVA (etileno-vinil-acetato)
na ordem dos 5% em massa.
Termoendurecveis
Os polmeros termoendurecveis so formados por reaco qumica de dois
componentes lquidos, denominados de base e endurecedor, que do lugar a uma estrutura
que se torna insolvel e indivisvel.
O betume modificado pela adio de resinas e endurecedores garante elevada
resistncia s deformaes permanentes e ao ataque por solventes. um produto de
elevada elasticidade, no so susceptveis s alteraes de temperatura a que os
pavimentos esto sujeitos no entanto o tempo de aplicao diminui proporcionalmente
com o aumento da temperatura.
Elastmeros
Os elastmeros ou borrachas so polmeros lineares que quando so submetidos a
um processo de vulcanizao adquirem uma estrutura parcialmente reticulada conferindo-
lhes propriedades elsticas. O objectivo conferir mistura maior flexibilidade,
elasticidade e ductilidade a baixas temperaturas, favorecendo a resistncia ao
envelhecimento e s deformaes plsticas, ou seja, aumenta o ponto de amolecimento
anel e bola e reduz a penetrao a 25 C.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
38
O polmero mais usado em Portugal do grupo dos elastmeros o SBS (estireno-
butadieno-estireno) na ordem dos 25%, para aplicao em camadas de desgaste com
beto betuminosos porosos.
Com Agentes Qumicos
O betume modificado pela adio de agentes qumicos, em especial com enxofre,
provoca no betume uma modificao essencialmente fsica e no qumica. A adio de
enxofre em percentagem de massa na ordem dos 12% a 18% conduz a diferenas
significativas na mistura betuminosa final. A mistura final altamente trabalhvel e
estvel. No entanto a interaco entre o enxofre e o betume no claro, sabendo-se
apenas que parte do enxofre adicionado reage quimicamente com o betume e o restante
material que no reagiu forma uma fase separada cujas propriedades dependem da
temperatura local (fabrico ou aplicao) comportando-se como um plastificante e
melhorando a trabalhabilidade da mistura. Em temperaturas baixas o enxofre recristaliza e
produz uma mistura mais dura. Para temperaturas acima dos 150 C a reaco que ocorre
entre o enxofre e o betume origina a emisso de quantidades significativas de gases
txicos (sulfureto de hidrognio). A aplicao de betume modificado com enxofre tem a
vantagem de ser relativamente econmico, mas a desvantagem de ser ambientalmente
prejudicial.
O betume modificado com enxofre particularmente empregue para o tapamento
de covas e trabalhos semelhantes, nos quais se usa betume armazenado. As suas
caractersticas de trabalhabilidade permitem que seja facilmente nivelado e moldado,
adquirindo a rigidez exigida para suportar o trfego quando arrefece.
Outros agentes qumicos que permitem obter betume modificado e que
potencializam as propriedades do betume so: compostos orgnicos de mangans, cobalto
e cobre. O resultado do processo de mistura destes compostos com o betume
extremamente sensvel percentagem de composto adicionado, a reaco pode levar ao
endurecimento e fragilizao ou directamente rotura.
Com Fibras
O betume modificado pela adio de fibras confere ao pavimento uma estrutura
capaz de distribuir melhor as tenses existentes e assim resistir ao fendilhamento e s
deformaes permanentes, com um maior tempo de vida til da mistura e do pavimento
rodovirio. A adio das fibras ao contrrio dos outros aditivos ocorre por modificao
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 39
fsica, a sua adio feita ao ligante ainda no estado puro. Devido s suas caractersticas
geomtricas (alongadas) as fibras fortalecem o mastique e a mistura betuminosa adquire
maior resistncia mecnica, ainda devido rea efectiva, e qualidades de interface, as
fibras conseguem fixar grandes quantidades de ligante sem risco de fluncia.
As fibras usadas podem ser de origem natural ou qumica, sendo que as naturais e
qumicas-inorgnicas permanecem estveis em altas temperaturas e as sintticas ou
termoplsticas alteram-se limitando a aplicao em misturas betuminosas a quente.
EMULSES BETUMINOSAS
As emulses betuminosas so o resultado da necessidade de optimizar a aplicao
do betume nos fins rodovirios. A sua formulao permite a aplicao do betume
temperatura ambiente, a poupana de energia, pelo facto de evitar o aquecimento do
betume a mais de 190 C, sendo assim uma tcnica mais segura e com menos riscos de
queimaduras, permite tambm solues como a de reciclados a frio, slurry seal, etc.
Os componentes bsicos de uma emulso betuminosa so o betume, a gua, os
emulsionantes e os aditivos. Na sua composio o betume engloba uma percentagem em
massa entre os 55% e os 65%. As emulses definem-se como um sistema heterogneo,
constitudo por duas fases imiscveis (a gua e o betume), termodinamicamente instveis,
no qual um dos lquidos est disperso no outro sob a forma de pequenas e finas partculas
(0,1 a 5 microns de dimetro). A fase dispersa de carcter no polar o betume (do tipo
50/70 ou 160/220), e a fase contnua ou dispersante, de carcter polar a aquosa.
A estabilidade de uma emulso betuminosa alcanada devido a estmulos de
energia mecnica que permitem dispersar o betume na fase aquosa e pela adio de
emulsionantes que se distribuem em trono das partculas de betume. Estes estabelecem
uma camada de cargas elctricas que repelem as das outras partculas, equilibrando o
sistema. Os emulsionantes adicionados conferem dois tipos de emulses: as catinicas
(cargas positivas s partculas dispersas, sabo cido, usualmente o sal de amina) e
aninicas (cargas negativas s partculas dispersas, sabo alcalino).
Aquando da mistura da emulso com os agregados ou outros, a emulso rompe
provocando a separao da gua e do betume. O betume envolve-se com o agregado e a
gua existente vaporizada. A rotura pode ser pode ser provocada pela evaporao da
gua ou a aco que origina a sua evaporao, conjuntamente com uma reaco qumica
entre as partculas do agregado e o betume. Esta rotura pode ocorrer de forma rpida,
mdia ou lenta.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
40
Os tipos de emulses betuminosas existentes caracterizam-se pelo emulsionante
adicionado (aninicas ou catinicas), pela rapidez de rotura (rpida, mdia ou lenta) e
pela sua viscosidade a 25 C para as aninicas, ou 50 C para as catinicas (ensaio de
Sabolt-Furol).
As emulses aninicas so recomendadas para misturas com agregados calcrios,
porque quando estes ficam hmidos ionizam-se positivamente tendo boa adesividade com
as cargas negativas da emulso. A sua aplicao favorvel com tempo seco.
As emulses catinicas so por sua vez recomendadas para misturas com
agregados siliciosos e com a maioria dos agregados bsicos. A rotura neste tipo de
emulses originada principalmente por reaco qumica. de evitar a sua aplicao em
tempo de chuva.
A escolha entre ambos os tipos de emulso depende da natureza do agregado a
disponvel, das condies climatricas existentes e ainda dos trabalhos a realizar. As
emulses de rotura rpida so benficas para revestimentos superficiais, misturas
betuminosas a frio para preenchimento de covas e regas de colagem. As emulses de
rotura mdia e lenta so indicadas para trabalhos de longa durao tal como misturas
betuminosas a frio e tambm regas de colagem no caso das lentas.
Em geral, as emulses betuminosas aninicas ou catinicas podem ser aplicadas
em: misturas betuminosas fabricadas a frio, revestimentos superficiais, micro-
aglomerados betuminosos a frio, regas de colagem entre camadas em misturas
betuminosas, regras de impregnao de camadas de materiais granulares, na colagem e
impregnao de geotxteis e de grelhas com interface retardadora de fissuras,
estabilizao de materiais granulares ou em regras de cura de materiais granulares
tratados com ligantes hidrulicos.
Numa perspectiva de definir aplicaes mais especializadas e concretas possvel
alterar as propriedades das emulses betuminosas de modo a conferir condies de
estabilidade, PH, adesividade, aderncia, viscosidade, melhor comportamento em
temperaturas extremas e ao envelhecimento. Desenvolvendo emulses betuminosas
modificadas pela adio de aditivos (poliaminas, diaminas, cido clordrico, soda
custica, white spirit, ltex) fase continua, e utilizando na fase dispersa betume
convencional ou ainda betume previamente modificado.
A simbologia europeia usada para identificar as emulses betuminosas baseia-se
numa definio alfanumrica de 7elementos. A primeira posio indica se se trata de uma
emulso catinica C, ou aninica A, as seguintes duas posies indicam a percentagem
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 41
nominal de betume residual, as posies relativas ao quarto, quinto e sexto elemento
indicam o tipo de ligante, ou seja betume de pavimentao B, adio de polmeros P e
adio de mais de 2% de fluxante F. A ltima e stima posio indica o tipo de rotura da
emulso. No entanto poder ainda encontrar-se designaes de emulses de acordo com o
tipo qumico e o tipo de rotura, ou seja, (E) emulso, (A) aninica, (C) catinica, (R)
rpida, (M) mdia, (L) lenta e (m) de modificadas Existe tambm a simbologia britnica
na qual: (E) emulsion, (A) anionic, (K) cationic, (1) rapid, (2) mdium, (3) stable/slow,
(4) slow, seguido do percentual em massa de betume.
Utilizao ova Antiga
Regas de impregnao C 40 B 4 ECI
Regas de colagem e de cura C 57 B 3 ECR-1
Revestimentos supeficiais C 66 B 3 ECR-3
Grave-emulso C 57 B 6 ECL-1h
Misturas abertas a frio C 57 B 4 ECM-2
Designao
Tabela 3.12 -Emulses betuminosas com betumes puros, designao e utilizao.
Utilizao ova Antiga
Regas de impregnao C 57 B P4 ECI-1m
Micro-aglomerado betuminoso a frio C 62 BP 6 ECL-2m
Revestimentos supeficiais,
impregnao de geotexteis
C 60 BP 6 ECR-3m
Designao
Tabela 3.13 Emulses betuminosas com betumes modificados, designao e utilizao.
BETUME ESPUMA
O betume espuma ou betume celular uma tecnologia desenvolvida na Austrlia
h mais de 40 anos, inicialmente para a estabilizao de solos. Na Europa a sua aplicao
iniciou-se nos anos 90 em Portugal.
O betume espuma um sistema coloidal, constitudo por betume, gua e ar, o que
o torna numa opo prtica e econmica. O processo de fabrico consiste na injeco
controlada de pequenas quantidades de gua fria (de 1% a 5% da massa de betume) em
betume aquecido a 150-180 C numa cmara de expanso. No momento em que
adicionado a gua fria ao betume quente ocorre vaporizao da gua formando-se
instantaneamente o betume espuma, num volume cerca de 15 vezes superior ao volume
inicial de betume, que subsiste entre 10 a 20s, sem recurso a aditivos. Esta reaco deve-
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
42
se unicamente alterao das propriedades fsicas do betume, o qual adquire
temporariamente uma viscosidade muito baixa, prxima do valor da viscosidade da gua
adequado para se envolver com os agregados temperatura e humidade ambiente.
As propriedades do betume espuma dependem do betume puro usado, das
caractersticas intrnsecas ao processo de fabrico tais como: razo de expanso e vida
mdia. A razo de expanso indica a razo entre o volume da espuma de betume e o
volume inicial do betume, que traduz a trabalhabilidade da espuma e a sua capacidade de
recobrimento e mistura com os agregados. A vida mdia indica o tempo, em segundos, no
qual a espuma de betume reduz o seu volume metade do volume expandido, este
parmetro determina a estabilidade da espuma, ou seja, o tempo disponvel para misturar
a espuma de betume com os agregados antes que a espuma colapse.
As misturas betuminosas formuladas com este processo caracterizam-se pelas suas
propriedades visco-elsticas, resistncia ao corte e susceptibilidade gua, podendo ser
utilizadas com uma amplo espectro de agregados. A sua aplicao incide principalmente
na reabilitao e reciclagem de pavimentos devido facilidade de construo e garante
vantagens energticas e ambientais. [26] [27]
OUTROS BETUMES
Para alm dos betumes anteriormente apresentados existem fornecedores que
tentam optimizar alguns destes produtos, desenvolvendo solues especficas para
determinadas aplicaes, como sendo o caso de pavimentos reciclados, tratamento anti-
fissuras, misturas de altas prestaes, emulses betuminosas para reciclados a frio ou
semi-quente na central e tcnicas de reciclagem de misturas betuminosas realizadas em
central. Ou de modo a conferir mistura betuminosa maior flexibilidade e adesividade,
menor susceptibilidade trmica, para que se mantenha o desempenho estrutural e
funcional pretendido devido ao aumento constante dos veculos e das cargas por eixo, e
que as exigncias dos utentes ao nvel da segurana e conforto seja alcanado.
Betumes especiais
O betume especial fabricado a partir de um processo de refinao no
convencional, com base em matrias-primas seleccionadas para conferir propriedades
especiais que satisfaam os rigorosos requisitos das aplicaes industriais e da
pavimentao. [17]
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 43
Betumes multigrade
Os betumes multigrade so desenvolvidos de modo a conferir ao betume uma
certa independncia entre o ndice de penetrao e a temperatura, caracterizam-se por
terem um ndice de penetrao elevado e poderem ser aplicados numa escala de
temperaturas mais amplas. [17]
Betumes Pigmentados
Os betumes pigmentados so caracterizados pelo seu baixo contedo em
asfaltenos, a pigmentao obtida pela incorporao de xidos metlicos, em
concentraes entre os 2,5% e os 6% da massa total. [17]
Betumes Sintticos
Os betumes sintticos so obtidos a partir da mistura de petrleo e fraces
petroqumicas sem asfaltenos. A sua aparncia delgada e transparente, podendo ser
colorido por adio de pigmentos. [17]
Betumes Anti-querosene
Os betumes anti-querosene so especialmente desenvolvidos para resistirem ao
ataque de leos e combustveis. A sua utilizao imprescindvel em infra-estruturas
aeroporturias e outros trechos traficveis. Surgem para ser empregues em trechos
sujeitos a derrame de leos e combustveis, tais como nas zonas de aproximao de
portagens das auto-estradas, ou outras reas de parqueamento. So fabricados a partir de
betumes especiais modificados com polmeros.
Betume de Pavimentao
35/50
Penetrao a 25 C, 100g, 5s (0,01mm) 35 - 50
Temperatura de amolecimento, mnima 70 C
Viscosidade dimanica a 150 C 0,2 - 0,8 Pa.s
Ponto de fragilidade de Fraass, mximo -18 C
Estabilidade ao armazenamento (diferena na
temperatura de amolecimento, mxima)
2 C
Recuperao elstica a 25 C, mnima 25%
Tabela 3.14- Caractersticas do tipo de betume Anti-querosene, adaptado INIR.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
44
3.2.2.5 Aditivos
Os aditivos so produtos que estimulam uma determinada caractersticas dos
betumes, em funo da aplicao desejada, mantendo-se inalteradas as restantes
caractersticas.
Em geral a incorporao dos aditivos fundamental quando se pretende melhorar
a adesividade betume-agregado, regular o tempo de rotura da emulso ou melhorar a
trabalhabilidade de microaglomerados. A utilizao de fibras poder ser considerada
tambm como aditivo ao fabrico de beto. [14]
3.2.2.6 Especificaes tcnicas
As normas que regulamentam os ligantes betuminosos so:
Norma AASHTO TP 8: Standard test method for determining the fatigue life of
compacted hot mix asphalt (HMA) subjected to repeated flexural bending.
Norma NLT 173/84: Resistencia a la deformacin plastic de las mezclas
bituminosas mediante la pista de ensaio de laboratrio.
EN 12591: Betumes para pavimentao.
EN 1426:2007: Determinao da penetrao com agulha.
EN 1427:2007: Determinao da temperatura de amolecimento. Mtodo do Anel
e Bola.
EN 12697-
Parte 1:2005: Determinao da percentagem em betume, mtodo da centrifugao.
Parte 2:2002+A1:2007: Anlise granulomtrica aps extraco de betume.
Parte 5:2002+A1:2007: Determinao da massa volmica mxima. Procedimento
A
Parte 6:2003+A1:2007: Determinao da baridade aparente. Procedimento B.
Parte 11:2005: Determinao da afinidade entre o agregado e o betume.
Parte 12:2008: Determinao da sensibilidade gua. Mtodo A.
Parte 22:2003+A1:2007: Ensaio de pista (Wheel Tracking).
Parte 25: Test - uniaxial cyclic compression test.
Parte 39:2004: Determinao da percentagem de betume por incinerao.
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 45
EN 12591: Bitumen and bituminous binders Specifications for paving grade
bitumens
NP EN 12597: Ligantes betuminosos Terminologia.
NP EN 13108:2008: Misturas betuminosas. Especificaes dos materiais
Parte 20: Ensaios tipo.
Parte 21: Controlo da produo em fbrica.
NP EN 13285:2008: Misturas no ligadas. Especificaes.
EN 13808:2005: Emulses betuminosas catinicas.
EN 13924:2007: Betumes duros para pavimentao.
EN 14023:2005: Betumes modificados com polmeros
prEN 15322:2010: Betumes fluxados e fluidificados.
LNEC E 80: Betumes e ligantes betuminosos: betumes de pavimentao
(classificao, propriedades e exigncias de conformidade)
LNEC E 98: Betumes fluidificados para pavimentao: caractersticas e recepo.
LNEC E 128/ E 354: Emulses betuminosas aninicas para pavimentao.
LNEC E 267: Determinao da densidade aparente de misturas betuminosas
compactadas.
LNEC MBR-BMB: Misturas betuminosas para pavimentos rodovirios e
aeroporturios, Documento de aplicao.
LNEC MBA-BMB: Misturas betuminosas para pavimentos rodovirios e
aeroporturios, documento de aplicao.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
46
3.2.3 HIDRULICOS
Os ligantes hidrulicos so partculas finamente pulverizadas que misturadas com
a gua produzem reaces exotrmicas e hidratao resultando produtos com estrutura
complexa e resistente com elevada superfcie especfica. Nas misturas com ligantes
hidrulicos os ligantes usados em Portugal so o cimento e a cal, e o solvente a gua. A
gua a utilizar para o fabrico das misturas importante que seja: gua potvel, (gua
recuperada nos processos da indstria de beto), gua subterrnea, gua superficial
natural e gua residual industrial, gua do mar e gua salobra ou gua residual domstica.
3.2.3.1 Cimento
O cimento o principal ligante hidrulico, e segundo a NP 206 caracteriza-se por
ser um material inorgnico finamente modo que, quando misturado com gua, forma
uma pasta que faz presa e endurece em virtude das reaces e processos de hidratao e
que, depois de endurecer, mantm a sua resistncia e estabilidade mesmo debaixo de
gua.
A sua composio uma combinao qumica entre clcio, argila, slica, ferro e
alumnio. O fabrico do cimento engloba resumidamente trs etapas: a mistura e moagem
da matria-prima (calcrio, margas e argila), produo do clnquer e por fim a moagem do
clnquer e mistura com gesso. Podem dividir-se os cimentos em naturais ou artificiais.
Para a sua aplicao na construo de pavimentos rodovirios foi normalizado a
designao CEM e os cimentos agrupados em cinco tipos principais:
CEM I Cimento Portland;
CEM II - Cimento Portland composto;
CEM III Cimento de alto-forno;
CEM IV Cimento pozolnico;
CEM V Cimento composto.
As caractersticas das misturas de cimento a aplicar para a realizao das misturas
com cimentos depende da posio das camadas a executar: [1]
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 47
Nas camadas de desgaste de pavimentos rgidos, devem ser considerados betes
com resistncias caractersticas traco por flexo, aos 28 dias de idade, de 4 a
4,5 MPa e uma quantidade de cimento entre os 300 a 350 Kg/m
3
.
Nas camadas de base de pavimentos semi-rgidos ou camadas subjacentes s lajes
de beto de cimento, devem ser consideradas misturas de agregados com cimento,
com uma dosagem inferior de ligantes.
Nas camadas de sub-base, devem ser consideradas misturas de solo-cimento
produzidas em central.
Misturas com pequena quantidade de cimento, tais como Agregado britado de
granulometria extensa, tratado com ligante hidrulico, Beto pobre cilindrado ou Beto
pobre vibrado, vulgarmente conhecidas por beto pobre ou brita-cimento, utilizam-se para
a execuo de camadas de sub-base dos pavimentos rgidos e camada de base dos
pavimentos semi-rgidos.
A aplicao do beto de cimento envolve dois estados fundamentais, inicialmente
no estado fresco, e posteriormente no estado endurecido aps o perodo de cura. Nestes
dois estados necessrio controlar os condicionalismos que a consistncia e resistncia
mecnica impem no seu desempenho.
A Consistncia traduz a trabalhabilidade do beto quando fresco e a sua
capacidade de ser transportado, manipulado e colocado em obra sem perder a sua
homogeneidade. Para a execuo de pavimentos rodovirios empregam-se geralmente
cimentos com consistncia seca, no entanto podem ser de terra hmida, seca, plstica,
mole ou fluda. Os ensaios possveis de verificar a consistncia do beto de cimento so:
ensaio de abaixamento do cone de Abrans, tempo de remoldagem no aparelho de VB,
grau de compactabilidade no recipiente de Walz ou espalhamento na mesa de Gref. [2]
Ensaio Valores ormalizados Classe
Abaixamento 10 a 12 mm S1
VB 7 a 10 s V3
Grau de compactabilidade 1,26 a 1,45 C1
Dimetro de espalhamento at 300 mm F1
Tabela 3.15 - Ensaios de Consistncia e valores normalizados.
A Resistncia Mecnica de uma mistura com cimento a capacidade desta para
suportar as tenses de traco desenvolvidas sem ocorrer deformao plstica. A
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
48
resistncia traco de um pavimento rodovirio executado com misturas com cimento
avaliada e controlada por ensaios de traco por compresso diametral (ensaio de traco
indirecta), ensaios de traco por flexo, ensaios de traco uniaxial.
Alm destas caractersticas necessrio acautelar ensaios respeitantes massa volmica,
durabilidade, proteco contra a eroso do ao embebido fabrico e execuo.
3.2.3.2 Cal
A cal dos ligantes artificiais mais conhecidos e segundo a NP EN 459-1, cal
um material que abrange qualquer forma fsica e qumica sob a qual pode aparecer o
xido de clcio e/ou magnsio (CaO e MgO) e/ou os hidrxidos (Ca(OH)
2
e Mg(OH)
2
).
Esta define ainda os diversos tipos de cal possveis de usar:
Cal area;
Cal viva;
Cal hidratada;
Cal clcica;
Cal dolomtica;
Cal dolomtica semi-hidratada;
Cal dolomtica hidratada;
Cal hidrulica natural;
Cal hidrulica.
3.2.3.3 Aditivos
Os aditivos so materiais finamente divididos utilizados no beto com o objectivo
de melhorar certas propriedades ou alcanar propriedades especiais. Os aditivos previstos
para as misturas tratadas com ligantes hidrulicos e beto hidrulico so segundo a NP
EN 206-1:
Fler calcrio (tipo I - adies quase inertes);
Cinzas volantes (tipo II adies pozolnicas ou hidrulicas latentes);
Slica de fumo (tipo II adies pozolnicas ou hidrulicas latentes).
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 49
O fler, como j se referiu, um agregado cuja maior parte passa no peneiro 0,063
mm e que pode ser adicionado aos materiais da construo para lhes conferir certas
propriedades. A cinza volante um p fino constitudo principalmente por partculas
esfricas e vtreas resultantes da queima de carvo pulverizado, com propriedades
pozolnicas e constituda essencialmente por SiO
2
e Al2O
3
, sendo no mnimo de 25% em
massa o teor de SiO
2
reactivo. A slica de fumo um p amorfo, extremamente fino,
obtido numa electrometalurgia de silcio e respectivas ligas por condensao e filtragem
dos fumos. [15]
3.2.3.4 Adjuvantes
Os adjuvantes so produtos incorporados durante o processo de amassadura do
beto, com uma dosagem no superior a 5% em massa da dosagem de cimento do beto,
para modificar as propriedades do beto fresco ou endurecido. Em funo da modificao
pretendida para as misturas tratadas com ligantes hidrulicos e beto possvel definir
diferentes tipos de adjuvantes para beto, tais como: [14] [15]
Retentor de gua;
Introdutor de ar;
Acelerador de presa;
Acelerador de endurecimento;
Retardador de presa;
Hidrfugo;
Plastificante/redutor de gua;
Plastificante/redutor de gua/retardador de presa;
Plastificante/redutor de gua/acelerador de presa.
Superplastificante/forte redutor de gua;
Superplastificante/forte redutor de gua/retardador de presa;
3.2.3.5 Trabalhos especficos de misturas hidrulicas
Na referncia e misturas hidrulicas imprescindvel a pormenorizao de
trabalhos especficos de execuo que traduzem o adequado desempenho dos pavimentos
e optimizao da utilizao por parte dos utentes. [14] [15]
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
50
Acabamentos da superfcie
O modo de acabamento da superfcie do pavimento rodovirio garante a aderncia
normalizada para a circulao dos veculos. Os procedimentos que conferem a rugosidade
necessria superfcie da laje de cimento so:
Ranhuragem executada transversal, mecnica ou manualmente;
Escovagem executada transversal at 5mm e com um espaamento de 15 a 30m;
Denudagem qumica ou decapagem qumica, evidncia os agregados grossos de
modo a proporcionar adequada aderncia da superfcie;
Incrustaes de gravilhas com a mesma tcnica de espalhamento dos
revestimentos so encastradas gravilhas duras.
Vares de ao em juntas
Este item refere-se aos vares de ao a aplicar nas juntas das lajes para a
transmisso de cargas ou para garantir a sua ligao e fixao. Os aos devero ter textura
homognea, de gro fino, no quebradio e isento de zincagem, pintura, argila, leo ou
ferrugem solta.
Varo de transmisso em juntas transversais de retraco, incluindo tratamento,
em ao liso;
Varo de transmisso em juntas transversais de dilatao, incluindo acessrios, em
ao liso;
Varo de ligao em juntas longitudinais, em ao nervurado.
Execuo de juntas
Os trabalhos de execuo de juntas entre lajes, por serragem do beto devero ser
executadas aps o endurecido do beto.
Serragem transversal ou longitudinal;
Outras tcnicas - transversais, longitudinais, ou longitudinais (junto caleira ou
valeta de drenagem do separador).
Selagem de juntas
A selagem de juntas dever ser executada com material termoplstico ou
termofixo aplicado quente ou com mstiques ou outros materiais aplicados a frio ou perfis
pr-moldados de selagem aplicados mecanicamente na junta.
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 51
Selantes aplicados a quente;
Selantes aplicados a frio:
Perfis de selagem pr-moldados.
Separao entre a laje da camada de desgaste e a base
As solues tcnicas consideradas em projecto para a separao entre a camada de
base, em beto pobre, e as lajes da camada de desgaste, com o objectivo de evitar a
propagao das fissuras de retraco devero ser projectadas em:
Folhas de polietileno;
Emulso sobre cinzas ou areias;
Revestimento superficial simples;
Tcnicas a definir em projecto.
Aplicao de produto filmognico de cura
A tcnica utilizada para a aplicao de produto filmognico de cura :
Asperso.
Estes produtos so aplicados na superfcie do beto acabado de colocar de modo a
minimizar a perda de humidade durante a presa e endurecimento do beto.
3.2.3.6 Especificaes tcnicas
As normas que regem os ligantes hidrulicos so:
NP EN 197: Cimento.
Parte 1: Composio, especificaes e critrios de conformidade para cimentos
correntes.
Parte 2: Avaliao de conformidade.
NP EN 206-1 Beto
Parte 1: Especificao, desempenho, produo e conformidade.
NP EN 450: Cinzas volantes para beto.
Parte 1: Definio, especificaes e critrios de conformidade.
NP EN 459: Cal de construo.
Parte 1: Definies, especificaes e critrios de conformidade.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
52
NP EN 934-2: Adjuvantes para beto.
NP EN 1008: gua de amassadura para beto.
NP EN 12350: Ensaios do beto fresco.
Parte 1: Amostragem.
Parte 2: Ensaio de abaixamento.
Parte 3: Ensaios de VB.
Parte 4: Grau de compactabilidade.
Parte 5: Ensaio da mesa de espalhamento.
Parte 6: Massa volmica.
Parte 7: Determinao do teor de ar.
NP EN 13877-1: Pavimentos em Beto.
Parte 1: Materiais.
Parte 2: Requisitos funcionais para pavimentos em beto.
Parte 3: Especificaes relativas aos passadores utilizados nos pavimentos em beto.
EN 14188: Produtos de selagem para juntas.
Parte 1: Requisitos para selantes aplicados a quente.
Parte 2: Requisitos para selantes aplicados a frio.
Parte 3: Requisitos para perfis de selagem pr-moldados.
EN 14227: Hidraulically bound mistures. Specifications
NP EN 12620 Agregados para beto;
LNEC E 337 Slica de fumo para betes.
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 53
3.3 TRABALHOS ESPECIAIS DE PAVIMETAO
3.3.1 TRATAMETOS DE SOLOS
O tratamento de solos visa melhorar o solo existente in situ de modo a obter um
solo resistente que satisfaa as caractersticas exigidas com o projecto. possvel
modificaes fsico-qumicas com adio de outros materiais, tratamento trmico -
congelamento, ou injeces. Neste trabalho apenas sero descritas as tcnicas fsico-
qumicas. As propriedades a modificar so: a resistncia ao corte, a deformabilidade, a
permeabilidade e a estabilizao volumtrica.
Ainda dentro deste tema, possvel trabalhar o solo com estratgias de reforo de
solos e macios, mas essas tcnicas no sero escritos neste trabalho
3.3.1.1 Estabilizados com outros solos
A estabilizao com outros solos tem como objectivo a correco granulomtrica
do solo existente, de modo a obter uma granulometria continua capaz de responder s
solicitaes das aces. Esta tcnica poder ser chamada estabilizao mecnica e
complementada com rega e compactao.
3.3.1.2 Estabilizados com cal (Solo-Cal)
A estabilizao de solos com cal usada essencialmente como um pr-tratamento. A cal
funciona como um agente estabilizador em solos plsticos, pelo efeito de cimentao que
lhes confere, melhorando assim a trabalhabilidade do solo e tornando-os menos sensveis
gua. Os seus benefcios so quase nulos em solos muito orgnicos e em solos com
composies qumicas adversas cal. No geral, o seu efeito sucedido para
incorporaes de 1% de cal por cada 10% de fino at um valor de 8%, e a estabilizao
feita in situ.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
54
3.3.1.3 Estabilizados com cimento (Solo-Cimento)
A estabilizao de solos com cimento aplica-se a solos coesivos e incoerentes,
excepto os solos com argilas moles e os solos muito grosseiros monogranulares, todos
eles isentos de matria orgnica e sulfatos de clcio ou de magnsio. A reaco do
cimento d-se com os silicatos de solo. As vantagens so: diminuio da porosidade e
diminuio da sensibilidade gua, com aumento da resistncia ao corte do solo. A
incorporao do cimento poder ser de 3% a 4% para aplicaes em pavimento de trfego
ligeiro ou leitos de pavimento. Dosagens superiores optimizam as caractersticas de
resistncia para aplicaes em sub-bases e bases de pavimentos com trfego significativo.
3.3.1.4 Estabilizados com betume (Solo-betume)
A estabilizao de solo com betume aplica-se exclusivamente a solos incoerentes de
granulometria descontnua e teor de finos inferiores a 10%, nos quais a funo do betume
de lhes conferir a coeso. Os ligantes usados normalmente so o betume fluidificado ou
uma emulso betuminosa em teores de 4% a 6% do solo seco. Em solos hmidos dever
contemplada a adio de cal hidratada para aumentar a adesividade do betume [1]
3.3.2 REGAS BETUMIOSAS
Entende-se por Regas de Impregnao a aplicao de uma emulso betuminosa
obre uma camada base granular de granulometria extensa sobre a qual ser executada
uma camada de mistura betuminosa
Entende-se por Regas de Cura a aplicao continua de uma pelcula e uniforme de
emulso betuminosa para garantir a impermeabilizao de camadas tratadas com ligantes
hidrulicos.
Entende-se por Regas de Colagem a aplicao de uma emulso betuminosa sobre:
camadas tratadas com ligantes betuminosos, camadas e misturas betuminosas ou
camadas/superfcies de beto sobre a qual ser aplicada uma mistura betuminosa.
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 55
3.3.3 COSERVAO E REABILITAO DE PAVIMETOS
BETUMIOSOS
3.3.3.1 Conservao
Entende-se por conservao de pavimentos qualquer interveno que permita
manter ou recuperar a qualidade funcional e estrutural com que foi projectado um
pavimento, de modo a garantir boas condies de circulao (conforto, segurana e
baixos custos) ao longo da sua vida til. De modo a cumprir este objectivo possvel
classificar duas estratgias diferentes: conservao corrente e conservao peridica.
Na conservao corrente os trabalhos a realizar no pavimento estendem-se para
alm do prprio pavimento e englobam manuteno de bermas, de sistemas de drenagem
e sinalizao. Esta estratgia de conservao prev em funo da degradao do
pavimento a execuo de camadas de impermeabilizao, a selagem de fendas e a
reparao de covas ou ate mesmo a realizao de saneamentos em zonas especficas.
A conservao peridica consiste na definio de um plano estratgico de
intervenes de conservao com determinada periodicidade (5 em 5, ou 10em 10anos),
de modo a prevenir a evoluo das degradaes. A conservao peridica pode ser
dividida em intervenes de conservao preventiva ou intervenes de reforo. A
conservao preventiva a situao que mais beneficia o utente e a administrao da
rodovia, consiste na execuo de camadas de desgaste delgadas e/ou camadas de
reperfilamento transversal ou longitudinal, de modo a diminuir a progresso das
degradaes continuamente em desenvolvimento num pavimento, garantindo assim o
perodo de vida til do pavimento. Por sua vez, a conservao por intervenes de reforo
surgem no perodo de vida residual de um pavimento, no qual j no existe qualquer
qualidade funcional e urgente o reforo estrutural.
3.3.3.2 Reabilitao
A reabilitao de pavimentos permite beneficiar o pavimento de caractersticas
estruturais e funcionais para que este responda s novas formas de solicitao que est
exposto, dando-lhe um novo perodo de vida til.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
56
A reabilitao de pavimentos flexveis poder dar-se ao nvel das camadas
superficiais com apenas reabilitao das caractersticas superficiais ou ao nvel das
camadas estruturais, com o reforo da capacidade estrutural do pavimento.
3.3.3.3 Reabilitao das caractersticas superficiais
A reabilitao das caractersticas superficiais de um pavimento, ou seja, da
camada de desgaste, consiste na execuo de novas camadas sobre as existentes e permite
recuperar a qualidade funcional inicial dum pavimento. Garantindo ao utente segurana -
rugosidade adequada, conforto regularidade longitudinal e transversal, e ainda a
impermeabilizao do pavimento e a diminuio do rudo de circulao. As tcnicas de
reabilitao das caractersticas superficiais s so aplicveis se a estrutura de suporte
apresentar boas condies.
O domnio de aplicao destas tcnicas vasto, desde o trfego ligeiro ao pesado,
com espessuras entre 1 cm a 4 cm, que correspondem a diferentes tipo de
comportamentos, caractersticas e custo de aplicao. As vantagens e desvantagens em
cada situao especfica dependem da anlise destas variveis em funo da soluo
pretendida e do pavimento existente. Estas tcnicas constituem assim uma proteco do
pavimento econmica com reduzidos consumos energticos e de matrias-primas e de
rpida execuo.
REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS BETUMINOSOS
O revestimento superficial uma tcnica que proporciona uma camada de
desgaste delgada (inferior a 1 cm) mas de alta resistncia. formada pela sobreposio de
camadas de ligante hidrocarbonado, geralmente emulso modificada, e de agregado
granular sobre o pavimento existente, no qual o agregado colocado uniformemente
sobre o ligante e comprimido.
Ideais para pavimentos de trfego baixo, a sua aplicabilidade dependente da
capacidade de suporte do pavimento, ou seja, em construes novas totalmente
eficiente, mas em obras de reabilitao e conservao a estrutura de suporte dever estar
isenta de deformaes e fendilhao. Assim previamente aplicao do revestimento
superficial dever garantir-se a correco de defeitos localizao e proceder
homogeneizao da superfcie, com tcnicas adequadas. Posteriormente esta tcnica
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 57
reabilita no pavimento caractersticas funcionais importantes, ao promover a resistncia
ao desgaste, a aderncia, a flexibilidade, reduzindo as projeces de gua e
consequentemente beneficiando a impermeabilizao do pavimento, ou seja, protege as
camadas estruturais. [1]
No geral, as maiores vantagens dos revestimentos betuminosos superficiais so a
impermeabilizao e a aderncia, no entanto a sua relao benfico/ custo que mais a
evidencia, pelo facto de ser uma tcnica com grande durabilidade, de rpida execuo e
econmica. No entanto, as desvantagens prendem-se com as condies climticas
aquando do seu fabrico e execuo, e com o desconforto provocado nos utentes, gerado
pela projeco de gravilhas residuais no pavimento rugosidade na circulao e desgaste
dos pneumticos. Existindo ainda problemas ao nvel do rudo de circulao.
O tipo de revestimento superficial, ou seja, a composio das camadas de ligante e
agregado a usar em cada soluo varia em funo do tipo de trfego, exposio solar, das
caractersticas de suporte do pavimento e objectivos do projecto de conservao. Devido
espessura reduzida dos revestimentos superficiais o controlo da adesividade entre
ligante, agregado e suporte fundamental para evitar a desagregao da camada, atravs
da incorporao de aditivos no ligante ou agregado, ou entre ambos, limpeza ou secagem
dos agregados, ou recorrendo ao envolvimento dos agregados em emulses [1]
Revestimento simples LA
Revestimento simples com dupla aplicao de agregado Laa
Revestimento simples com aplicao prvia de agregado Ala
Revestimento duplo LALa
Revestimento duplo com a aplicao prvia de agrego ALALa
Revestimento triplo LALALa
MICROAGLOMERADO BETUMINOSO A FRIO
O microaglomerado betuminoso a frio uma tcnica realizada in situ que resulta
da adio de uma mistura betuminosa a frio com emulso betuminosa modificada
(catinica de rotura rpida). O seu fabrico e aplicao requerem a utilizao de
equipamentos especficos, o espalhamento efectuado com o suporte hmido e com a
mistura no estado fluido (estado anterior rotura da emulso).
Indicado para vias urbanas, o microaglomerado betuminoso a frio aplicado com
espessura inferiores a 1,5 cm permitindo assim respeitar as cotas de soleiras, promove a
diminuio do rudo de circulao, beneficia a aderncia, a rugosidade e a
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
58
impermeabilizao, ainda vantajoso para selagem de fendas longitudinais e reparaes
localizadas provocadas pela desagregao da camada de desgaste. possvel uma
aplicao em dupla camada, para pavimentos com trfegos mdios e com elevada
deformabilidade. [1]
O custo de aplicao outra vantagem pois concorre energeticamente com as
tcnicas a quente e consegue-se um grande rendimento de colocao. De um modo geral,
uma tcnica muito completa, sendo apenas desvantajosa na melhoria da regularidade
longitudinal ou transversal e no aspecto visual criado para com o utente.
LAMA ASFLTICA (SLURRY SEAL)
A lama asfltica uma tcnica com processo de fabrico e aplicao muito
semelhante ao microaglomerado betuminoso a frio, no entanto a diferena reside na
menor granulometria do agregado utilizado. Na lama asfltica so usadas fraces
granulomtricas de 0/4 mm com prevalncia de agregados com dimenses inferiores a 2
mm. A mistura resultante tem uma consistncia semelhante a um mastique betuminoso ou
a uma lama asfltica pela baixa macro e microrugosidade, como tal, a grande
desvantagem desta tcnica a aderncia.
No entanto, a lama asfltica uma tcnica muito usada para retardar intervenes
profundas de reabilitao, antecedendo a realizao de uma interface anti-fendilhamento
ou como tratamento prvio de pavimentos fendilhados. A selagem das fendas impede a
infiltrao de gua nas camadas estruturais e retarda assim a runa, com consequente
prolongamento de vida til do pavimento. [1]
MICROBETO BETUMINOSO RUGOSO
O microbeto betuminoso rugoso das tcnicas mais usadas na Europa na
reabilitao das caractersticas superficiais de auto-estradas ou vias rpidas com trfego
elevado. A mistura composta por betumes modificados com polmeros (borracha) e
agregados com granulometria 0/10 com descontinuidade na fraco 2/6.
Com execuo de espessuras entre os 2,5 cm e os 3,5 cm, o microbeto rugoso confere ao
pavimento alta durabilidade e ptimas condies de conforto e segurana, pela elevada
melhoria da regularidade e aderncia e baixo rudo de circulao.
O ponto fraco desta tcnica a baixa impermeabilizao, embora possa ser
melhorada atravs da sobredosagem da rega de colagem. Ao nvel da aplicao dever
ter-se em considerao que a superfcie da camada subjacente dever estar isenta de
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 59
detritos e em condies climticas adversas (ventos, chuva ou temperaturas ambientais
inferiores a 10 C) evitar o espalhamento.
ARGAMASSA BETUMINOSA
A argamassa betuminosa a tcnica mais usada em Portugal, uma mistura
betuminosa a quente indicada para trfego ligeiro que adquire no seu ponto fraco a sua
mais-valia. Ao ser uma mistura com elevada deformabilidade adapta-se perfeitamente a
pavimentos com fendilhamento generalizado e utilizada como alternativa para retardar
intervenes estruturais. Se a argamassa betuminosa contiver betume modificado ideal
para executar interfaces retardadoras do processo de propagao de fendas (SAMI
Stress Absorving Membrane Interlayer).
BETO BETUMINOSO DRENANTE
O beto betuminoso drenante pertence basta famlia das misturas betuminosas a
quente, caracteriza-se por ser granulometricamente descontnuo e utilizar ligantes
modificados com polmeros, propriedade que lhe confere, respectivamente, elevada
porosidade e ndice de vazios, favorvel infiltrao e circulao da gua e ao mesmo
tempo grande durabilidade. Desta forma, consegue-se reduzir eficazmente a projeco de
gua, e os fenmenos de aquaplanagem, no entanto a aplicao de uma camada drenante
dever assentar numa camada ou num suporte impermevel. Indicado para a maioria dos
trfegos consiste na execuo de uma camada com 4 cm de espessura.
3.3.3.4 Reabilitao das caractersticas estruturais
A reabilitao das caractersticas superficiais consiste no reforo da capacidade de
suporte do pavimento existente. A execuo de novas camadas permite dar reposta s
solicitaes a que est sujeito, favorecido de trabalhos complementares (melhoria do
sistema de drenagem - reparao de valetas e caleiras, reparao de drenos longitudinais).
As intervenes de reforo so normalmente antecedidas por trabalhos de
reabilitao preparatrios, como sendo os saneamentos localizados, o enchimento de
depresses, a selagem e/ou tratamento de fendas de modo a eliminar os problemas que se
poderiam reflectir novamente nas camadas de reforo.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
60
Ao nvel da camada de desgaste as tcnicas usadas continuam a ser as
anteriormente descritas, para a constituio de novas camadas de regularizao e de base
depender do estado de degradao e do reforo necessrio para fazer face ao volume de
trfego existente.
Em pavimentos moderadamente degradados e sem restries de cota, a
interveno poder fazer-se com selagem de fendas, reparao de covas, extraco e
enchimento localizados, seguida de reperfilamento da superfcie e aplicao das camadas
de reforo dimensionadas.
Para intervenes com restries de cota usual recorrer-se tcnica de fresagem
para uma determinada espessura, repondo a cota com material novo de maior resistncia
em alternativa poder optar-se por misturas betuminosas de alto mdulo.
Em pavimentos num estado de degradao profunda a utilizao de fresagem a
soluo para retirar as camadas degradadas. No entanto, antes de se proceder execuo
de novas camadas, necessrio complementar a camada subjacente fresagem com
tratamentos anti-propagao de fendas. [1]
MACADAME BETUMINOSO
O macadame betuminoso maioritariamente aplicvel em camadas de base ou
como camada de reperfilamento com espessuras variveis entre 0,08 e 0,15 cm, devido
dimenso dos agregados que compem a mistura betuminosa. [41]
BETO BETUMINOSO DE ALTO MDULO
O beto betuminoso de alto mdulo destaca-se pelas suas propriedades mecnicas
(mdulo de rigidez >800 MPa a 25C), ou seja, excelente resistncia deformao
permanente e comportamento fadiga. Esta tcnica apesar dos consumos energticos que
engloba, tem como vantagem a reduo dos recursos naturais (agregado e betume) pela
diminuio da espessura da camada. Aplica-se em camadas de regularizao e base.[1]
MISTURA BETUMINOSA DENSA
A mistura betuminosa densa aplicada em camadas de regularizao, base e
reperfilamento, tem caractersticas semelhantes ao macadame betuminoso, diferindo
deste, na menor dimenso dos agregados. [41]
Captulo 3 Materiais de Pavimentao
Joana Santos 61
AGREGADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA TRATADO COM EMULSO DE
BETUME
A mistura de agregados de granulometria extensa tratados com emulso de betume
utilizada para efectuar reparaes locais, reperfilamentos ou reforos em pavimentos
com grandes deformaes. Em pavimentos com trfego ligeiro poder ser aplicado em
camadas de regularizao e base. Em todos os casos referidos a execuo das camadas
no deve ultrapassar os 15 cm de espessura.
TCNICAS ANTI-FENDAS
Em pavimentos sujeitos a um trfego pesado e intenso e a extremas condies
climticas, a tenso existente muito elevada dando origem a variados tipos de fissuras
(fissuras de fadiga trmica, fissuras de fadiga de cargas de trfego e fissuras de reflexo) e
de deformao (deformao estrutural da fundao e deformao plstica das camadas do
pavimento). A existncia destas degradaes na estrutura do pavimento envelhecido
comprometem, se ainda activas, a durabilidade e eficcia do reforo. [37]
Para contrariar esta situao, e em funo do estado de pavimento, pode-se
executar a fresagem das camadas fendilhadas at uma espessura capaz de eliminar a
origem do desenvolvimento das fendas, e posterior reciclagem ou regenerao da camada
com a adio de ligante e correco da granulometria se for necessrio.
Por outro lado a execuo de camada com misturas com grande resistncia
propagao de fendas, em grandes espessuras diminui a tenso na base do reforo e
dificulta o desenvolvimento das fendas. A deslocao da camada de reforo em relao s
camadas subjacentes poder tambm retardar a propagao destas.
Outros mecanismos para prevenir ou retardar a reflexo das fissuras superfcie,
aplicados entre a camada de pavimento existente e a camada de reforo, so:[1]
Grelhas e Armaduras: simples ou impregnadas com betume, estas funcionam
como uma camada malevel, que se deforma sem fendilhar, absorvendo as tenses
existentes.
Geotexteis: impregnados com betume, tm como funo reforar, estabilizar,
separar, drenar, filtrar e impermeabilizar.
SAMI (Stress Absorving Membrane Interlayer): uma camada de betume
modificado com polmeros ou borracha, delgada e flexvel com rigidez muito
baixa, para absorver, ou aumentar o percurso da fenda e tempo de propagao.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
62
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 63
CAPTULO 4
MISTURAS RECICLADAS
4.1 COSIDERAES GERAIS
A reciclagem de materiais um caminho que hoje est em constante actualizao,
quer no campo das investigaes de modo reduzir a explorao de matrias-primas no
renovveis com a utilizao de resduos como novos recursos, quer na sua normalizao
para possvel aplicao.
A construo de uma sociedade de reciclagem consciente dos prejuzos
causados no passado e da emergncia de actuao renova-se para implementar estratgias
de sustentabilidade.
O estabelecimento do Mercado Organizado de Resduos (MOR) previsto no
Regime Geral dos Resduos, aprovado pelo Decreto-Lei n. 178/2006, de 5 de Setembro,
permite potencializar o valor comercial dos resduos e diminuir a procura de matrias-
primas primrias, ou seja, promove a troca comercial de resduos, prevalecendo a
valorizao ou reutilizao dos resduos sobre a sua eliminao. A gesto eficiente de
recursos permite assegurar o fecho de ciclo dos materiais.
Em Portugal, os primeiros trabalhos de reciclagem de pavimentos foram
realizados em 1992 na EN 12 com recurso a adio de emulso e cimento e a frio in
situ.
Esta tcnica surge no sentido da optimizao da gesto dos materiais (agregados e
ligantes), do prolongamento do seu ciclo de vida e do desenvolvimento de condies para
a sustentabilidade.
A reciclagem de pavimentos consiste na fresagem e desagregao dos materiais do
pavimento existente at uma certa profundidade e posterior reutilizao destes para a
construo de novas camadas mediante a adio de ligantes (cimento, cal, betume-
espuma, emulses), gua, eventualmente novos agregados (como correctores
granulomtricos) e aditivos, como medida de reabilitao do pavimento.
As novas camadas construdas podem visar apenas a reabilitao das
caractersticas funcionais, ou tambm a reabilitao das caractersticas estruturais.
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
64
A escolha das diferentes tcnicas de reabilitao baseiam-se no estado e tipo de
pavimento a reciclar, mas imprescindvel ter em conta: [1]
O trfego (T0 a T6);
A deflexo (reduzida, mdia, elevada);
Os materiais a tratar (solos e materiais granulares, misturas betuminosas a quente
ou a frio, agregados estabilizados com cimento ou emulso, semi-penetrao e
revestimento superficial betuminoso, microaglomerado betuminoso ou beto de
cimento);
O local de reciclagem (in situ ou em central);
A temperatura (a quente, semi-quente ou a frio);
Os ligantes (cimento, cal, cinzas, betume, betume-espuma, emulso,
rejuvenescedor ou biocatalizadores);
Os materiais correctivos (materiais granulares, subprodutos, resduos industriais
ou misturas betuminosas a quente).
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 65
Figura 4.1 - Fluxograma de Reabilitao e Reciclagem de um pavimento.
O processo de reciclagem a adoptar dever ser aquele que rena as caractersticas
mais vantajosas para o pavimento e que conceba uma unio entre o ideal tcnico,
econmico e ambiental, com o objectivo de:
Diminuir do impacte ambiental das obras;
Economizar nos materiais (ligantes e agregados);
Limitar a colocao em depsito de resduos (mistura retirada);
Reduzir as operaes de fabrico e transporte de agregados;
Reduzir a utilizao de novos ligantes betuminosos;
Utilizar resduos industriais.
Controlo da cota final do pavimento;
Correco do perfil longitudinal e transversal;
Eliminar o fendilhamento ou reduzir a sua propagao;
Reabilitao
do pavimento
rodovirio
Soluo tradicional
Fresagem do pavimento
Reposio/reforo com
NOVAS camadas
Reciclagem
In situ
A frio
Com cimento
Com emulso
Com cimento e emulso
Com betume-espuma
A quente
Termo-reperfilamento
Termo-regenerao
Em Central
A Frio
Semi-quente
A quente
Reutilizao
Na mesma obra mas com funes
estruturais diferentes
Em obras com solicitaes
inferiores
Em camadas de base Granulares
em outras obras rodovirias
Em camadas de base granular em
obras ferrovirias
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
66
Custos globalmente inferiores
Aumentar a capacidade de suporte e a sua durabilidade.
No entanto existem pormenores que ainda continuam a ser alvo de estudo de
modo a optimizar as tcnicas de reciclagem de pavimentos rodovirios, para que esta seja
uma prtica cada vez mais utilizada.
Actualmente a implementao de novas normas veio encorajar a reduo de
resduos pela reciclagem, reutilizao ou regenerao e assim reforar a prtica de
reabilitao de pavimentos utilizando tcnicas de reciclagem, no s tendo em vista as
questes ambientais, e porque genericamente se revela econmica, mas sim porque
tecnicamente vivel e adequado.
A grande condicionante da reciclagem de pavimentos, so os equipamentos
disponveis, que apenas permitem a reciclagem a uma profundidade limitada. Assim a
existncia de fendas em grandes extenses ou problemas estruturais profundos
condicionam a reciclagem do pavimento por impossibilidade de alcanar a base ou pela
necessidade de proceder a constantes correces na dosagem da mistura.
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 67
4.2 MATERIAIS RECICLVEIS
Os materiais reciclados destinados a serem incorporados em obras de engenharia
civil no geral, e comparados com os agregados naturais, devem cumprir os valores
normativos dos seguintes requisitos:
Resistncia mecnica;
Segurana contra incndio;
Higiene, Sade e Ambiente
Segurana na utilizao;
Conforto acstico;
Economia de energia e Isolamento trmico.
De forma a ser justificvel as questes quanto sua adequabilidade, aplicao e
durabilidade.
4.2.1 Agregados reciclados
Os critrios de comparao entre agregados naturais e reciclados devem avaliar o
desempenho, as especificaes, o custo e a relao entre ambos. Os principais tipos de
agregados reciclados so provenientes de:
Resduos de Construo, Renovao e Demolio (beto, tijolos e alvenarias);
Agregados reciclados de pavimentos asflticos (material fresado);
Agregados reciclados de Resduos Slidos Urbanos (vidros, escrias, cinzas, etc.);
Outros.
4.2.2 Reutilizao de material fresado
O material fresado obtm-se a partir de operaes de desagregao de pavimentos,
designadas por fresagem de pavimentos. O material resultante da fresagem de pavimentos
constitudo pelos agregados e betume utilizados aquando da construo inicial das
camadas de misturas betuminosas. De acordo com a classificao unificada para solos
(ASTM D2487-85) o material fresado pode ser caracterizado como um cascalho bem
graduado com areia (GW).
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
68
A reutilizao de materiais fresados, pretende constituir camadas de pavimentos
com a incorporao destes no fabrico de novas misturas ou em substituio de agregados
britados ou solos. Quando aplicados para a estabilizao de solos adicionado cimento ou
p de pedra, em camadas de base granulares substituem directamente o tout-venant, em
camadas ligadas betuminosas adicionado ligante betuminoso ou o material fresado
incorporado no processo de fabrico.
s situaes possveis anteriormente descritas, a introduo de um agregado
britado de granulometria fina, permite colmatar os vazios do material fresado, corrigir a
sua granulometria e constituir grande parte da estrutura de ligao com o cimento ou
betume a incorporar na mistura.
Com a aplicao desta tcnica possvel reutilizar materiais de valor econmico
residual baixo, aumentar a capacidade de carga do pavimento; reduzir o consumo de
agregados britados e betumes e proteger o meio ambiente.
4.2.3 Resduos de construo e demolio
Os Resduos de Construo e Demolio RCD (vulgarmente denominados de
entulhos), incluem todos os resduos provenientes de novas construes, reformas,
manutenes e demolies de edifcios e infra-estruturas, tais como: tijolos, blocos
cermicos, beto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfltico, vidros, plsticos, tubagens, fios elctricos,
etc. Os RCDs incluem ainda as terras e solos resultantes de escavaes e preparao de
terrenos.
Os resduos de construo e demolio apresentam caractersticas muito prprias,
quer a nvel dos seus componentes, quer a nvel das suas quantidades. Como resultam dos
desperdcios provenientes de obras, apresentam uma composio muito diversificada e
heterognea, pois podem ser constitudos por qualquer um dos materiais que fazem parte
de um edifcio ou infra-estrutura e ainda por restos de embalagens e outros materiais
utilizados durante a realizao da obra.
Seguindo as especificaes tcnicas do LNEC os resduos de construo e
demolio so possveis de aplicar em obra como agregados reciclados grossos em betes
de ligantes hidrulicos, aterros de camadas de leito de infra-estruturas de transporte, como
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 69
agregados reciclados em camadas no ligadas de pavimentos e em misturas betuminosas a
quente em central.
4.2.4 Resduos slidos urbanos
Os resduos slidos urbanos, vulgarmente conhecido por lixo urbano, so
resultantes da actividade domstica e comercial das povoaes. Os resduos slidos
urbanos so todo e qualquer resduo produzido a nvel domiciliar e so normalmente
restos de comidas, embalagens de alimentos ou equipamentos adquiridos pela famlia ou
qualquer tipo de ferramenta ou acessrio, o que inclui equipamento electrnico j no
considerado de uso para a famlia. Mas os resduos urbanos tambm inclui os resduos
encontrados na via pblica, que poder ser areias, folhas e outros colocados a pelos
indivduos. [46]
O plano estratgico de resduos slidos urbanos PERSU estabelece metas para a
maximizao de sub-produtos, actualmente o PERSU II para o perodo de 2007-2016.
Como tal possvel obter atravs da incinerao dois tipos de resduos : cinzas de fundo e
cinzas volantes.
Cinzas de fundo
As cinzas de fundo so vulgarmente conhecidas como escrias e resultam da
incinerao dos resduos slidos urbanos, compostas principalmente por matria
inorgnica (minerais e outros, e vidro)- resduo no perigoso. So usadas em substituio
e alternativa aos agregados naturais nas camadas estruturais de pavimentos rodovirios
que para alm de reduzir a quantidade de resduos a encaminhar para vazadouro conduz a
significativas vantagens econmicas e ambientais. A empresa Valorsul e Lipor, so
pioneiras no estudo deste material e testaram a sua aplicao com sucesso em leito de
pavimentos e sub-bases de baixo trfego. J para bases e algumas sub-bases necessria
correco granulomtrica. [45]
Cinzas volantes
As cinzas volantes so outro sub-produto resultante da incinerao dos resduos slidos
urbanos e consiste no material que retido nos filtros do fumo produzido pela queima,
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
70
so partculas leves p mineral fino, mas consideradas como resduo perigoso, sendo
por isso inertizadas e depositadas em aterro. [45]
4.2.5 Resduos siderrgicos escria de aciaria
O resduo resultante do processo de produo do ao nas aciarias do forno
elctrico, no final da etapa de oxidao, toma o nome de escrias de aciaria. So um
material que sofre transformao ainda em fbrica, de modo a ser um produto pronto a
valorizar. A investigao nacional conclui que as escrias de aciaria preenchem os
requisitos dos materiais naturais especificados no caderno de encargos das estradas de
Portugal, paras as camadas de base, sub-base e leito de pavimentos dos pavimentos
rodovirios. [47]
4.2.6 Pneus usados
A utilizao de pneus em fim de vida tem diversas valorizaes possveis. A
primeira, nos quais os pneus sofrem um processo de transformao, de modo a produzir
borracha vulcanizada passvel de ser incorporada nas misturas betuminosas, como j tem
vindo a ser referido neste trabalho. A segunda, nos quais os pneus so utilizados inteiros,
cortados ou em fraces na construo infra-estruturas rodovirias como sendo aterros
estruturais (sobre solos de fracas caractersticas mecnicas ou solos compressveis,
melhorando a estabilidade e o controlo de assentamentos), camadas de isolamento para
limitar a penetrao do gelo sob os pavimentos, camadas de absoro de vibraes,
aterros de resduos, estruturas de suporte, aterros de enchimento no tardoz de estruturas
de suporte. [48]
4.2.7 Solos e rochas no contaminadas
Os solos ou rochas provenientes de escavaes ou de finos de pedreiras, resultantes da
lavagem de agregados, devem ser reutilizados na obra de origem, de modo a evitar o seu
depsito em vazadouro. No entanto podem ser reutilizados noutra obra sujeita a
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 71
licenciamento ou comunicao prvia para recuperao ambiental e paisagstica de
exploraes mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resduos.
4.2.8 Cinzas de fundo da combusto do carvo
As cinzas de fundo da combusto do carvo so o produto residual resultante da
combusto do carvo e as suas caractersticas so semelhantes s cinzas volantes
provenientes do mesmo processo. A sua constituio granulomtrica comparvel com o
tout-venant. Actualmente este material passa por um tratamento de moagem e usado no
fabrico de cimento como constituinte minoritrio, mas com o apoio do LNEC que a sua
aplicao em bases e sub-bases rodovirias est a ser investigada, j com a realizao de
alguns troos experimentais, para posterior viabilizao do processo. [42]
4.2.9 Lamas das estaes de tratamento de gua
As lamas da ETAs resultam da fraco slida (matria orgnica e mineral)
existente na gua captada antes do seu tratamento e dos produtos qumicos adicionados
ou formados durante o prprio processo de tratamento [43] um material ainda em fase
de estudo laboratorial mas promissor pela sua viabilidade econmica e ambientais. As
quantidades obtidas tm tendncia a aumentar, pois so proporcionais ao
desenvolvimento populacional.
A sua aplicao indicada para o fabrico de cimento, betes e misturas
betuminosas, mas principalmente para a construo de camadas de confinamento dos
sistemas basais e de cobertura final dos aterros de resduos pela sua permeabilidade muito
baixa, para a construo de aterros estruturais de infraestruturas de transporte e obras
geotcnicas, de aterros de preenchimento no tardoz de estruturas de suporte, pela sua
baixa deformabilidade e elevada resistncia ao corte e em aterros estruturais leves sobre
materiais de baixa resistncia mecnica e elevada compressibilidade por ser uma material
com peso volmico inferior ao dos solos. A desvantagem a grande dificuldade em
desidratar e secar as lamas das ETAs, processo que dificulta a sua trabalhabilidade e
traficabilidade. [43]
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
72
4.2.10 Areias de fundio
As areias de fundio so um sub-produto proveniente da indstria da fundio,
que podero ser utilizadas em misturas betuminosas (substituio do agregado fino at
15%), em argamassas de baixa resistncia e como material de regularizao e
nivelamento. O estudo da sua aplicao ainda muito pontual, no entanto, mediante
investigao um processo que poder ultrapassar questes logsticas e de transformao
com sucesso. [44]
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 73
4.3 RECICLAGEM DE PAVIMETOS FLEXVEIS
A reciclagem de pavimentos consiste na execuo de novas misturas betuminosas,
utilizando material fresado dos pavimentos antigos deteriorados, adicionando novos
materiais. As novas camadas construdas podem visar apenas a reabilitao das
caractersticas funcionais, ou tambm a reabilitao das caractersticas estruturais.
A soluo de reciclagem dos pavimentos concebe uma unio entre o ideal tcnico,
econmico e ambiental, com o objectivo de:
Diminuir do impacte ambiental das obras;
Economizar nos materiais (ligantes e agregados);
Limitar a colocao em depsito de resduos (mistura retirada);
Reduzir as operaes de fabrico e transporte de agregados;
Reduzir a utilizao de novos ligantes betuminosos;
Utilizar resduos industriais.
Controlo da cota final do pavimento;
Correco do perfil longitudinal e transversal;
Eliminar o fendilhamento ou reduzir a sua propagao;
Custos globalmente inferiores
No entanto existem pormenores que ainda continuam a ser alvo de estudo de
modo a optimizar as tcnicas de reciclagem de pavimentos rodovirios, para que esta seja
uma prtica mais utilizada. Assim do ponto de vista ambiental uma das desvantagens a
poluio produzida na reciclagem in situ sobretudo a quente, a nvel tcnico existem
limitaes na qualidade do material a reciclar (ligante e agregado), na espessura para as
camadas recicladas a frio, nas caractersticas mecnicas finais das camadas recicladas e
na necessidade de normalizao da produo e controle de qualidade das misturas
recicladas.
A escolha das diferentes tcnicas de reabilitao baseiam-se no estado e tipo de
pavimento a reciclar, mas imprescindvel ter em conta: o trfego, a deflexo, os
materiais a tratar, o local de reciclagem, a temperatura, os ligantes, e os materiais
correctivos.
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
74
4.3.1 RECICLAGEM in situ
A reciclagem in situ foi a primeira tcnica de reciclagem a ser usada em
Portugal e preconiza o rejuvenescimento e simultaneamente reforo do pavimento
rodovirio degradado. O processo de execuo consiste em fresar o pavimento existente
numa espessura pr-determinada, com o objectivo de, no mesmo stio, misturar e
homogeneizar o material resultante com um ou vrios ligantes, sem aquecimento, coloca-
lo e compacta-lo, assegurando a espessura desejada para a camada. O material da
construo inicial, degradado, ento reciclado e processado formando uma nova camada
do pavimento de resistncia mecnica melhorada. [18]
A sua aplicao mais favorvel quando se est perante pavimentos com
camadas granulares espessas e camadas betuminosas muito degradadas, nos quais
possvel:
Aproveitamento dos materiais existentes;
Reduo ou mesmo eliminao do uso de novos agregados e ligantes
betuminosos;
Menor consumo energtico;
Maior rapidez de execuo;
Inexistncia de mudas de material fresado ou novos materiais;
Menos impacto sobre o trfego e pavimentos circundantes.
Mas do ponto de vista ambiental uma das desvantagens a poluio produzida na
reciclagem in situ sobretudo a quente, j a nvel tcnico existem limitaes na
qualidade do material a reciclar (ligante e agregado), na espessura para as camadas
recicladas a frio, nas caractersticas mecnicas finais das camadas recicladas e na
necessidade de normalizao da produo e controle de qualidade das misturas recicladas.
4.3.1.1 Reciclagem in situ, a frio
Com emulso betuminosa
A reciclagem in situ, a frio, com emulso betuminosa trata-se de um processo
onde utilizada a emulso betuminosa como ligante dos materiais betuminosos fresados,
acrescentando gua para pr-molhagem dos agregados e aditivos.
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 75
Esta tcnica muito vantajosa para a reciclagem de pavimentos rodovirios em
que apenas a camada de desgaste se encontra envelhecida e deteriorada, e as camadas
estruturais mantm a capacidade resistente para as condies de trfego existentes. Assim
devem ser preferencialmente recicladas camadas betuminosas, podendo penetrar 1cm na
camada inferior se estas forem constitudas por misturas betuminosa., A espessura
recomendada para as camadas tratadas com esta tcnica de 6 a 12cm.
No entanto, zonas com deformaes plsticas condicionam a reciclagem do
pavimento, e nestes locais o material dever ser substitudo por material fresado de outra
provenincia.
A granulometria do material fresado deve enquadrar-se num dos fusos
Fuso I Fuso II
40 100 -
32 90 - 100 100
20 69 - 95 80 - 100
12,5 52 - 82 62 - 89
8 40 - 70 49 - 77
4 25 -53 31 - 58
2 15 - 40 19 - 42
0,5 2 - 20 2 - 20
0,25 0 - 10 0 - 10
0,063 0 - 3 0- 3
Percentagem de material passado (%) Dimenso dos
peneiros (mm)
Tabela 4.1 Fuso granulomtrico: material betuminosos recuperado, adaptado EP.
O Fuso I recomendado para camadas com espessuras superiores a 10cm e o Fuso
II para camadas com espessuras inferiores, entre os 6 a 10cm.
A emulso a utilizar dever ter em conta as caractersticas do material fresado, no
entanto usual a utilizao de emulses de rotura lenta base de betume puro, mas para
camadas com baixo ndice de vazios prefervel a utilizao de emulses de rotura
controlada, de modo a evitar a ocorrncia de coalescncia.
O uso de aditivos, tais como cimento e/ou cal, entre 1 a 2 %, permite controlar a
rotura da emulso, reduzir a sensibilidade gua, especialmente com materiais argilosos
ou contaminados, corrigir a granulometria ou aumentar a coeso do material resultante. A
esta mistura reciclada com emulso betuminoso complementada com ligantes hidrulicos
designado reciclagem mista a frio.
As caractersticas da mistura reciclada com emulso so as indicadas na tabela:
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
76
Requisitos Resultados
Granulometria Enquadrada no Fuso I ou Fuso II
Percentagem de betume residual < 1,5%
Resistncia compresso simples a seco > 2,5 ou > 3 Mpa
Resistncia compresso simples aps imerso > 2 ou > 2,5 Mpa
Resistncia conservada > 70% ou >75%
Tabela 4.2- Requisitos mnimos para a mistura reciclada com emulso, adaptado EP.
de referir que esta tcnica susceptvel s condies climticas e variao da
humidade atmosfrica e dos agregados usados.
Figura 4.3 - Fases de reciclagem "in situ", a frio, com emulso betuminosa, (Martinho, 2005)
Com cimento
A reciclagem in situ com cimento de um pavimento uma tcnica de reforo de
pavimentos constitudos por camadas granulares espessas e camadas betuminosas muito
degradadas, em camadas homogneas com maior resistncia e capacidade de carga. Esta
tcnica, usada desde os meados dos anos 80, consiste em reutilizar os materiais fresados
misturados com cimento, gua, inertes (correctores de granulometria) e alguns aditivos.
O mtodo de espalhamento de cimento usado pode ser a seco ou por via hmida.
A seco efectua-se atravs de uma cisterna com controlo elctrico da sada do ligante, por
via hmida utiliza-se um equipamento destinado produo da calda de cimento.
Para a formulao da mistura so recomendados cimentos de classe de resistncia
baixos, com menor calor de hidratao de forma a minimizar a ocorrncia de fendas de
retraco, assim como o uso de aditivos retardadores de presa sempre que a temperatura
ambiente seja superior a 30 C, ou outros tipos de aditivos para melhorar a
trabalhabilidade e caractersticas da mistura O perodo de trabalhabilidade da mistura
dever ser adaptado em funo do tipo de interveno e mtodo construtivo, no entanto,
no deve ser inferior a duas horas em condies normais de execuo.
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 77
O material fresado deve ser isento de matria orgnica e de outros produtos que
possam afectar a presa do cimento, bem como os seus agregados no devem apresentar
reactividade potencial dos alcalis com o cimento.
Propriedades Valores
Limite de Liquidez < 35
ndice de Plasticidade 15
Dimenso mxima < 80mm
Percentagem de material
passado no peneiro 4mm
> 30%
Tabela 5.3- Propriedades do material fresado, EP.
Requisitos Resultados
Dosagem de cimento > 3%
Resistncia compresso
simples aos 7 dias
> 2,5 Mpa
Tabela 4.4 - Requisitos mnimos da mistura reciclada com cimento, EP.
A reciclagem in situ a frio com cimento poder ser o processo mais econmico
e adequado para a maioria dos pavimentos Portugueses. O pavimento anteriormente
flexvel, passa a ser agora do tipo semi-rgido, cuja camada constituda por agregados de
granulometria extensa tratados com cimento, com espessura recomendada na ordem dos
20 a 30cm. Apesar da propenso ao fenmeno de retraco a camada resultante apresenta
maior resistncia que as camadas anteriores, alm de ser menos susceptvel gua e mais
resistente eroso. Para contornar a formao de fendas de retraco, a aplicao de
betume modificado com borracha de pneus usados, em camada de desgaste constitui uma
soluo eficiente tambm do ponto de vista ambiental e funcional pelas caractersticas
que o betume modificado pressupe.
Figura 4.4 - Fases de reciclagem "in situ" a frio, com cimento, (Martinho, 2005).
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
78
Com betume espuma
A reciclagem com betume espuma uma tcnica a frio, in situ, que consiste na
fresagem do pavimento betuminoso existente, degradado, at uma profundidade
determinada, e mistura do material fresado, sem aquecimento, com betume espuma,
seguido do espalhamento da mistura e compactao.
A espuma adicionada um sistema coloidal em que a fase dispersa um gs
(vapor de gua), num lquido, o betume. O sistema obtido extremamente instvel e
sensvel s variaes de humidade dos agregados. O vapor de gua provoca a expanso
do betume em cerca de quinze vezes o seu volume original durante aproximadamente 25s.
No entanto, aps o envolvimento com os agregados a mistura obtida muito estvel
permitindo que seja trabalhada, sem perda de resistncia.
Para a produo da espuma de betume necessrio aquecer previamente o betume
para a incorporao com a gua, mas aps a obteno deste considera-se que o processo
se desenvolve a frio.
O resultado uma mistura betuminosa de base melhorada e boa resistncia
fadiga, com camada de desgaste constitudo por uma mistura betuminosa a quente ou
apenas tratamento superficial betuminoso.
% passados no
peneiro 4,75mm
Betume Fler
3,0 - 5,0 3,0
5,0 - 7,5 3,5
7,5 - 10,0 4,0
> 10,0 4,5
3,0 - 5,0 3,5
5,0 - 7,5 4,0
7,5 - 10,0 4,5
> 10,0 5,0
<50
>50
Tabela 4.5 - Relao entre a percentagem de betume e o fler.
Esta tcnica permite diminuir a viscosidade do betume, aumentar a sua superfcie
especfica e revestir os agregados com maior variedade granulomtrica. possvel a
adio de cimento, cal ou fler, em percentagens de 1 a 2%, para melhorar a disperso do
betume, a sensibilidade gua ou corrigir a granulometria, em especial a adio de
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 79
cimento beneficia a rigidez da mistura, conferindo um bom comportamento fadiga e
deformao.
Na execuo da reciclagem in situ com betume espuma, o betume manuseado
a altas temperaturas sendo importante conhecer os perigos inerentes: queimaduras, fogo e
exploses e derrames dos tanques e fumos. [1] [16]
Figura 4.5 - Fases de reciclagem "in situ", a frio, com betume-espuma, (Martinho, 2005).
4.3.1.2 Reciclagem in situ, a quente
A reciclagem in situ a quente consiste no aquecimento do pavimento existente,
facilitando a sua desagregao, e mistura com um ligante betuminoso mole ou
rejuvenescedor. Os ligantes a empregar so emulses betuminosas especficas ou betumes
modificados com polmeros capazes de regenerar o betume envelhecido oxidado. Existem
dois processos e consequentes equipamentos para a execuo desta tcnica: a termo-
reperfilagem e a termo-regenerao. Em ambos os processos a espessura a regenerar, sem
aquecimento excessivo da superfcie, deve rondar os 6 a 7 cm.
A termo-reperfilagem uma tcnica que pretende repor a regularidade do perfil
longitudinal do pavimento e a selagem das fendas existentes. Consiste no aquecimento do
pavimento seguida da sua compactao no havendo lugar adio de novos materiais ou
misturas.
A termo-regenerao uma tcnica que pretende apenas reabilitar as
caractersticas funcionais do pavimento, ou seja, pavimentos sem problemas estruturais
nos quais apenas a camada de desgaste apresente danos, como o caso de auto-estradas.
Consiste no aquecimento do pavimento, escarificao, recomposio, nivelamento e
compactao da nova camada. Aps a reciclagem da camada existente realizada uma
camada de desgaste com mistura betuminosa nova.
Os equipamentos usados na reciclagem a quente, so extremamente grandes e de
difcil movimentao, assim a escolha depende no s da disponibilidade existente, mas
tambm do mtodo de transporte dos mesmos at ao local da obra. Esta uma das
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
80
desvantagens da reciclagem in situ a quente, o custo elevado dos equipamentos
associados ao processo, mas o facto de ser uma tcnica a quente acarreta tambm um
elevado consumo de energia alm da poluio produzida.
Figura 4.6 - Fases de reciclagem "in situ", a quente, com betume rejuvenescedor, (Martinho, 2005).
4.3.2 RECICLAGEM EM CETRAL
A reciclagem em central um processo de regenerao ou aproveitamento de
materiais fresados em qualquer trecho de estrada e engloba sempre tcnicas de fresagem,
de transporte do material fresado, de armazenamento e de produo. As centrais de
reciclagem de misturas betuminosas compreendem uma sequncia de etapas principais
que so a secagem e o aquecimento dos agregados, a mistura dos agregados com o fler e
com o betume, e finalmente o transporte para o local da obra ou o armazenamento em
silos. Estas etapas desenvolvem-se genericamente em:
Tremonhas pr-doseadoras de agregados (unidade de alimentao de agregados
frios);
Unidade de secagem de agregados;
Tanques de armazenamento de betume e silos de fler;
Unidade misturadora;
Silos de armazenamento das misturas betuminosas quentes.
Com base no local da central pode ainda diferenciar-se aquelas que permitem a
deslocao ate ao local da obra, as mveis, ou aquelas que funcionam sempre no mesmo
local, as fixas. Nas centrais fixas existe a desvantagem da quebra de rendimento do
processo de reciclagem com a logstica de transporte dos agregados do local de obra para
a central, e da mistura betuminosa final da central para o local da obra, no entanto
acarreta vantagens econmicas e ambientais pelo menor consumo de agregados e ligantes,
pela reduo dos recursos naturais e melhor aplicao dos materiais fresados.
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 81
O fabrico das misturas betuminosas em central pode ainda subdividir-se em
centrais descontnuas ou contnuas.
As Centrais Descontinuas (por amassadura) permitem a reciclagem a quente, a frio
e reciclagem limpa, nos quais o material a reciclar tem de ser sempre britado e crivado em
dimenses adequadas, onde os materiais de maiores granulometrias so rejeitados.
Figura 4.7 - Central betuminosa descontnua, EAPA, 1998.
No processo a frio existem duas formas de introduo das misturas betuminosas a
reciclar (Reclaimed Asphalt Pavement-RAP) no misturador. Na primeira o material
fresado introduzido directamente para o misturador, na segunda adicionado na altura
da descarga do secador para o elevador de agregados quentes, e aquecidos por conduo
com os novos agregados sobreaquecidos antes de entrar para o misturador, em
temperatura proporcional taxa de reciclagem. No misturador os agregados so
envolvidos com uma quantidade adequada de betume novo, em funo das propriedades
pretendidas para a mistura betuminosa. Este processo limitado pela temperatura de
aquecimento dos novos agregados, pelo teor em gua dos materiais a reciclar, a qualidade
da mistura betuminosa fresada, e pelas especificaes impostas para a nova mistura
betuminosa.
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
82
Figura 4.8 - Central betuminosa descontinua, a frio, EAPA, 1998.
No processo a quente os agregados reciclados so pr-aquecidos num silo secador
prprio, num segundo silo os materiais so pesados, aquecidos e secos e posteriormente
transferidos para o misturador. A cada silo corresponde uma fraco granulomtrica
diferente de modo a serem doseados para o silo misturador, neste caso as percentagens de
reciclagem podem alcanar 70% sendo apenas limitado pelas especificaes da mistura
betuminosa nova.
Figura 4.9 - Central betuminosa descontnua, a quente, EAPA, 1998.
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 83
Ainda dentro do processo a quente existe um sistema Recyclean, com
reciclagem at 35%, no qual os agregados a incorporar e o material a reciclar so
adicionados ao mesmo tambor, no entanto, so colocados em zonas distintas. Sem
permitir o sobreaquecimento do material, a mistura reciclada aquecida atrs da chama.
Figura 4.10 - Central betuminosa descontnua - Mtodo Recyclean, EAPA, 1998.
Para alm dos processos a frio e a quente, pode ser considerado uma outra tcnica
de reciclagem em centrais descontnuas, denominada Central de Torre. Nesta o processo
de secagem e aquecimento dos agregados realizado numa fase intermdia e
independente do processo de mistura, e posteriormente colocados de acordo com a sua
fraco granulomtrica, em silos aquecidos apropriadamente e localizados por cima da
unidade de mistura.
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
84
Figura 4.11 - Central betuminosa descontnua - Central de Torre, EAPA, 1998.
A estruturao do funcionamento das centrais descontnuas muito flexvel
permitindo quando necessrio e de imediato, variar o tipo de mistura ou a frmula de
trabalho.
As Centrais Contnuas ou de tambor secador misturador concentram as operaes
de secagem, aquecimento e mistura no tambor secador misturador e ao contrrio das
descontnuas a flexibilidade para a alterao das frmulas das misturas betuminosas
reduzida.
Neste tipo de central possvel o aquecimento do material a reciclar, previamente
adio de betume, por trs sistemas diferentes ou agregados: chama directa, chama
indirecta ou por contacto com os agregados sobreaquecidos.
O tipo de central contnua mais comum, a RAP, na qual so utilizados dois
processos de aquecimento, por chama directa e por contacto com os agregados
sobreaquecidos, utilizando um tambor secador misturador, ou de alimentao separada.
Neste as misturas a reciclar so, depois de processadas, introduzidas na zona central do
tambor e ento aquecidas duplamente.
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 85
Figura 4.12 - Central betuminosa contnua - Mtodo de alimentao separada, EAPA, 1998.
Outro tipo a central contnua de duplo tambor, na qual o material a reciclar
introduzido no tambor exterior, caindo para o tambor interior pelas aberturas destes. Os
agregados novos circulam no tambor interior onde so secos, aquecidos e movimentam-se
de acordo com a inclinao do tambor. A mistura com os agregados novos e do betume
realiza-se entre os dois tambores, por ps de forno montadas na parede exterior do tambor
interior. Nestas centrais o sistema de aquecimento efectuado por chama indirecta e por
contacto com os agregados sobreaquecidos.
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
86
Figura 4.13 - Central betuminosa contnua - Mtodo de duplo tambor, EAPA, 1998
As centrais contnuas de fluxos contracorrente de acordo com a sua designao
caracterizam-se pelo sentido do fluxo dos gases de combusto quentes serem contrrios
ao sentido de deslocao dos agregados. O princpio de fluxos opostos permite reduzir a
temperatura dos gases quentes e melhorar o desempenho do ponto de vista ambiental,
uma vez que se consegue alcanar ate 50% de taxa de reciclagem. Nestas o betume e o
material a reciclar nunca esto em contacto directo com a chama ou os gases aquecidos.
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 87
Figura 4.14 - Central betuminosa contnua - Mtodo de fluxos contracorrentes, EAPA, 1998.
Por ltimo, existem as denominadas centrais contnuas mveis, estas contm toda
a estruturao de uma central fixa, mas foi concebida para efectuar reciclagem in situ.
medida que o equipamento se desloca para realizao da fresagem do pavimento, so
adicionados os agregados novos, efectuadas as operaes de aquecimento, mistura e
adio do betume terminando na pavimentao das camadas superiores. Apesar de todo
este processo, ocorrer em sequncia imediata e da taxa de reciclagem poder alcanar os
90%, esta tcnica de reciclagem muito poluente, visto consumir muita energia para o
aquecimento e porque o ar com poeiras dentro do tambor totalmente emitido para o
ambiente sem ser previamente purificado.
Figura 4.15 - Central betuminosa contnua - Mvel, EAPA, 1998.
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
88
4.3.2.1 Reciclagem em central, a frio
A reciclagem em central a frio, compreende as etapas principais, descritas
anteriormente: fresagem do pavimento, transporte para a central onde efectuada a
mistura com o betume, seguido do transporte de regresso obra e aplicao. Esta tcnica
utiliza centrais descontnuas pelo mtodo do processo a frio, nas quais possvel alcanar
uma taxa de reciclagem dos materiais na ordem dos 30%.
Em geral a reciclagem a frio em central no muito comum, as tcnicas a frio
aplicam-se maioritariamente in situ, devido aos custos envolvidos na logstica de
transporte.
Com emulso betuminosa
Quando o betume a empregar no processo de reciclagem uma emulso
betuminosa fundamental conhecer as condicionantes deste, em concreto a grande
sensibilidade as condies meteorolgicas em especial durante a fase de rotura e o
perodo de cura.
Figura 4.16 - Reciclagem em central, a frio, com emulso betuminosa, (Martinho, 2005).
Com betume-espuma
A tcnica de reciclagem em central com betume-espuma semelhante ao descrito para a
reciclagem in situ e em tudo idntica anterior, nas etapas e equipamento usado, no
entanto o betume usado o betume-espuma.
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 89
Figura 4.17: Reciclagem em central, a frio, com betume-espuma, (Martinho, 2005).
4.3.2.2 Reciclagem em central, a quente
A reciclagem a quente em central consiste na incorporao de resduos de misturas
betuminosas, sejam eles provenientes da desagregao de pavimentos betuminosos por
fresagem e/ou demolio (RA- reclaimed aspahlt) ou materiais excedentrios da produo
de misturas betuminosas, sujeitos a um processo de seleco.
Assim nem todo o material proveniente dos pavimentos reutilizado, para se
alcanar os 70% de reutilizao fundamental o pr-aquecimento a 90 C, dos agregados
a reciclar, sem pr-aquecimento a taxa de reciclagem no ultrapassa os 40%. De modo a
obter misturas com desempenho idntico s misturas betuminosas sem adio de
agregados reciclados, necessrio proceder incorporao de materiais correctivos,
agregados e betume. Apesar deste processo, a reciclagem a quente em central
claramente vantajosa na reduo da utilizao de agregados e betume, ou seja menor
consumo dos recursos naturais e melhor emprego dos materiais fresados, obtendo-se uma
mistura com resistncia idntica s misturas tradicionais. As desvantagens recaem sobre o
consumo energtico necessrio para o aquecimento dos agregados e como referido para a
reciclagem, em central a frio, com a quebra da capacidade de produo.
A mistura realizada a quente pode ser desenvolvida em centrais contnuas ou
descontnuas e envolve a incorporao de materiais novos, betume e agregados, material
fresado, ou a de camadas de misturas betuminosas envelhecidas com adio de
rejuvenescedores.
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
90
4.3.2.3 Reciclagem em central, semi-quente
A reciclagem semi-quente em central, uma metodologia que permite reciclar at
100 % das misturas betuminosas recuperadas fresadas. Consiste no aquecimento das
misturas betuminosas recuperadas a 90C no tambor da central a quente, contnua ou
descontnua, e mistura com um ligante adequado no misturador da central, no caso das
descontnuas, ou no tambor secador misturador, no caso das centrais contnuas.
O ligante a utilizar para esta tcnica dever ser uma emulso betuminosa catinica
de ruptura lenta com betume aditivado, especifica para misturas fabricadas a temperaturas
da ordem dos 90C. possvel a incorporao de aditivos retardadores de ruptura, de
adesividade ou materiais granulares adicionais para correco granulomtrica.
O espalhamento dever ser executado trs horas aps o fabrico, no entanto, a
mistura pode ser armazenada durante 24 horas sempre que a colocao em obra seja
efectuada temperatura de 60C ou superior.
Figura 4.18- Ciclo de reciclagem semi-quente em central. [34]
4.3.3 Especificaes tcnicas
EN 13108-8; Bituminous mixtures Material specifications.
Part 8: Reclaimed asphalt.
EN 13614.Betumen and bituminous binders.
Directivas ambientais sobre as melhores tcnicas disponveis para a produo de
misturas betuminosas.
Captulo 4 Misturas Recicladas
Joana Santos 91
4.4 RECICLAGEM DE PAVIMETOS RGIDOS
4.4.1 CIMETO
A reciclagem de pavimentos com cimentos, como material aglomerador, requer
para alm do especificado normativamente, especial ateno a parmetros que
proporcionem a estabilidade mecnica e qumica dos agregados, nomeadamente:
Inicio de pressa compatvel com as necessidades de aplicao;
Boa resistncia qumica;
Calor de hidratao baixo;
Baixa expansividade;
Resistncia mecnica mdia baixa, para controlo da fissurao,
Garantia da estabilizao dos materiais, aprisionando quimicamente os
contaminantes, impedindo a lixiviao destes para os solos.
Para tal, fundamental que o cimento utilizado seja isento de materiais
contaminados com elevados teores de argila, materiais orgnicos inibidores da correcta
hidratao do cimento ou materiais com teores importante de sulfatos capazes de reduzir
a durabilidade do pavimento reciclado. A presena de betumes no pavimento a reciclar,
conduz a uma reduo da capacidade de aderncia da pasta de cimento aos agregados
envoltos na emulso.
Uma das condies do fabrico de cimentos resistentes quimicamente a adio de
produtos com actividade pozolnica, tais como, pozolanas naturais, cinzas volantes ou
escrias de alto-forno, de modo a aumentar a resistncia qumica e mecnica a longo
prazo, e controlo do calor de hidratao.
Na constituio das novas misturas fundamental que estas exibam:
Trabalhabilidade de forma a permitir uma correcta aplicao e compactao;
Estabilidade mecnica, mesmo para materiais de granulometria nonogranular sem
capacidade de compactao;
Boa resistncia gua;
Possibilite um aumento da capacidade de carga ou reduo das espessuras do
pavimento;
Controlo da retraco ou fissurao;
Materiais utilizados na construo de pavimentos rodovirios
Joana Santos
92
Bom comportamento fadiga;
Durabilidade;
Rpida entrada em servio.
Tipo de cimento Principais caractersticas Condies de aplicao
CEM IV/A(V) 32,5 Incio de presa mais tardio;
Desenvolvimento lento de
resistncias mecnicas;
Grande resistncia qumica;
Baixo calor de hidratao;
Resistncias finais dentro da classe.
Reciclagem em geral, memso
com agregados potencialmente
reactivos com sulfatos.
CEM II B/L 32,5 Incio de presa lento;
Desenvolvimento lento de
resistncias mecnicas;
Resistncia qumica moderada;
Baixo calor de hidratao;
Resistncias finais dentro da classe.
Reciclagem em geral, sem
grande agregssividade qumica;
Bom comportamento com
reciclados contaminados com
argila ou matria orgnica.
CEM II/A-L 42,5 Incio de presa mais rpido;
Desenvolvimento rpido de
resistncias mecnicas;
Resistncia qumica moderada;
Calor de hidratao mdio/alto;
Resistncias iniciais e finais
elevadas e dentro da classe 42,5;
Maior tendcia para a
fissura/retraco.
Reciclagem em tempo frio com
temperaturas mdias inferiores a
10C; Aplicado
a temperaturas superiores
normalmente exige a utilizao de
adjuvantes pra controlo da
trabalhabilidade.
CEM I 42,5 Incio de presa curto;
Desenvolvimento muito rpido de
resistncias mecnicas;
Resistncia qumica moderada;
Calor de hidratao elevado;
Resistncias iniciais e finais
elevadas e dentro da classe 42,5;
Tendncia para
fissurao/retraco.
Reciclagem em tempo frio com
temperaturas mdias inferiores a
5C; Aplicado
a temperaturas superiores
normalmente exige a utilizao de
adjuvantes pra controlo da
trabalhabilidade; Exige
maior dissipao de tenses -
execuo de juntas;
Maior dificulade de dosificao
atendendo quantidade de
ligante a usar ser inferior.
Tabela 4.6 - Caractersticas e condies de aplicao dos cimentos na Reciclagem.
Joana Santos
CAPTULO 5
COSTRUO SUSTETVEL E VIABILIDADE DE
APLICAO EM PORTUGAL
5.1 PRICPIOS DO DESEVOLVIMETO SUSTETVEL
A sustentabilidade um conceito sistmico que visa o ecologicamente correcto,
o economicamente vivel, o socialmente justo e o culturalmente aceite.
Este conceito foi assumido no princpio 3 da declarao do Rio em 1992 como
aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades das geraes presentes sem
comprometer as possibilidades das geraes futuras para atender as suas prprias
necessidades. [37]
A definio de sustentabilidade nasce na sequncia dos problemas ambientais e
desequilbrios sociais que sucedem ao desenvolvimento econmico das sociedades.
Numa perspectiva global a qualidade de vida humana expressa por um
conjunto de indicadores de sustentabilidade assentes em quatro pilares fundamentais:
Recursos, Ambiente, Economia e Sociedade. Estes baseiam-se na definio de
desenvolvimento sustentvel e nas suas dimenses: satisfao de bens e servios ditada
pelas actividades econmicas, sade fsica e mental intimamente traduzidas pela
qualidade do ambiente natural e dos ecossistemas e o bem-estar cultural ministrado pela
estrutura da sociedade. [37]
Neste sentido, surge tambm a sustentabilidade na construo em geral, de modo
a dar continuidade ao desenvolvimento do progresso presente, mas sem comprometer o
futuro. Este tipo de comportamento designado ecolgico mais coerente com o
funcionamento do ecossistema natural, preservando a qualidade de vida e estabelecendo
uma harmonia com o desenvolvimento econmico, ou seja, estabelecendo o equilbrio
sustentvel.
Acompanhando todos os esforos cientficos e polticos cada vez mais
importante no focar tanto os aspectos econmicos, mas os impactos ambientais
resultantes da actividade de construo em causa.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
94
A projeco de novos pavimentos rodovirios e a conservao ou reabilitao de
pavimentos existentes constituem simultaneamente uma causa e soluo para o
desenvolvimento sustentvel, na medida em que um sector de actividade
incontornvel para o crescimento econmico e melhoria das condies de vida das
populaes, mas geram impactos ambientais significativos e irreversveis. A construo
de um pavimento rodovirio para alm dos recursos energticos e materiais colossais
que consomem no processo de execuo gera resduos slidos e efluentes lquidos e
gasosos que exigem tratamento. ainda relevante as alteraes da paisagem, a
destruio de ecossistemas e a perda da biodiversidade que provoca.
fundamental que paralelo ao projecto de execuo de um pavimento
rodovirio se estabelea uma estratgia de sustentabilidade com linhas de orientao
adequadas proteco dos recursos e do ambiente, no fundo, com planos de aco para
a proteco da biosfera como princpio fundamental da actividade humana manifestando
respeito pela subsistncia das prximas geraes.
A estratgia de sustentabilidade de uma obra um projecto indefinido e eterno,
que surge da monitorizao peridica e dinmica de vrios parmetros, cujos valores se
traduzem em planos de aco renovados a cada reavaliao, ou seja, reajustados
realidade existente. [38]
Este projecto realizado em harmonia com os quatro componentes do ambiente
(ar, gua, seres vivos, solo/rocha), atravs da aplicao de tecnologias limpas, dos
princpios da ecoeficincia e de uma adequada gesto ambiental, que garantam a
rentabilidade econmica, a proteco ambiental e a responsabilidade social inerentes ao
conceito de desenvolvimento sustentvel. [37]
Captulo 5 Construo sustentvel
Joana Santos 95
Figura 5.1- Indicadores da sustentabilidade de obras geotcnicas, adaptado [37].
Sabendo genericamente, que apenas 10% de tudo que extrado do planeta por
actividade industrial constitu um produto til e que o restante resduo, urge a
necessidade de ideias pr-activas no sentido de um consumo sustentvel, atravs da
minimizao da explorao de recursos naturais e materiais txicos, e sabendo que o
sector das obras geotcnicas de vital importncia para o desenvolvimento da
humanidade, um projecto de um pavimento rodovirio dever seguir o normalizado
(ISO 9000) o ecologicamente correcto (ISO 14001) e ergonomicamente correcto (ISO
19000).
No decorrer da construo de um pavimento rodovirio inevitvel ocorrerem
alteraes no meio ambiente, no entanto sim possvel minimiza-los. Actualmente, o
estudo do impacto das estradas na biodiversidade constitui um instrumento de apoio
seleco do corredor ambiental mais favorvel e optimizao do traado, com realizao
de passagens hidrulicas e de fauna, sistemas de tratamento de guas de ocorrncia,
preveno da poluio do solo e recursos hdricos, medidas de minimizao para a
fauna, medidas de proteco acstica.
Custos e beneficios
Taxas, regalias e despesas
Emprego directo e
indirecto
Investimento (R&D)
Relao com a
comunidade
Diversidade do
emprego
Conforto e satisfao
Sade e segurana
Impacte geotcnico e
gesto de resduos
Qualidade atmosfrica
Poluio da gua
Ecologia e patrimonio
cultural
Utilizao do
solo
gua
Energia
Materiais
Recursos Ambiental
Econmico Social
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
96
No entanto aquando da escolha dos materiais a empregar na construo dos
pavimentos, alguns dos critrios anteriormente estabelecidos no so aplicados.
imperativo que a deciso de empregar um determinado material deve ser baseado em
relaes benefcio/custo, considerando os custos e prazos de construo e as
expectativas traadas para a vida til do pavimento, mas urge a comparao entre
materiais reciclados e materiais naturais.
A reciclagem de pavimentos rodovirios foi uma tcnica fundamentalmente
desenvolvida por aspectos econmicos, tentando combater os problemas associados ao
preo do petrleo, mas os problemas ambientais so agora um facto impertinente que
apenas vem intensificar a opo pela tcnica. Por outro lado com a aplicao de
materiais reciclados o ciclo de vida de um material passa a ser fechado quando este
utilizado na reabilitao como matria-prima no mesmo local, ou aberto em pavimentos
noutro local.
Ao nvel da Unio Europeia as exigncias para polticas ambientais, de
reciclagem, reutilizao e reduo so cada vez mais exigentes, e as normativas
ambientais mais rigorosas. A utilizao de muitos dos resduos produzidos, na
construo de pavimentos rodovirios a forma mais vivel de garantir o sucesso dos
compromissos estabelecidos.
Em Portugal os resduos utilizados, embora ainda pontualmente, so os resduos
de construo e demolio, o granulado de borracha reciclada de pneus na incorporao
de betume betuminoso e material fresado.
A anlise da relao benefcio/custo referida por vezes deve ultrapassar esse
limite e associar tomada de deciso um compromisso e responsabilidade civil. Ou
seja, em algumas situaes as solues com materiais reciclados apresentam custos mais
elevados por m
2
, mas a comparao dever fazer-se ao nvel do volume de material
necessrio para a execuo de cada camada e dos custos de conservao do pavimento
durante o perodo de vida, por outro lado, se economicamente semelhante no entanto
incontestvel o seu valor ecolgico. Ainda, segundo uma perspectiva ecolgica, estas
solues vm esclarecer problemas e custos relacionados com o depsito de diversos
resduos e materiais em fim de vida, mas com valor residual. O aproveitamento destes
na composio de novos materiais acarreta tambm o desenvolvimento de actividades
econmicas diversas e promove a reduo de custos desta transformao,
Tomando como base alguns exemplos possvel esclarecer o descrito:
Captulo 5 Construo sustentvel
Joana Santos 97
Os pavimentos betuminosos modificados com borracha so altamente resistentes
fadiga diminuindo assim a periodicidade das aces de conservao. A
aplicao de misturas BMB pode ser efectuada com espessuras mais reduzidas,
devido s suas caractersticas especiais e diminuindo tambm a necessidade de
recorre a materiais granulares
A aplicao de Resduos de Construo e Demolio, promove o
desenvolvimento da indstria de gesto integrada de resduos, e evita o depsito
em aterros sanitrios destes.
Para a realizao deste trabalho foram consultadas vrias empresas no ramo
da construo de pavimentos, de localizaes variadas, do contacto estabelecido
retiram-se ainda mais questes sobre os fundamentos das escolhas dos materiais
empregues. Na maioria, as empresas limitam-se a respeitar as directrizes do caderno de
encargo, outras no englobam os reciclados por questes de poltica interna.
Isto significa que em Portugal apesar de academicamente ser um tema de estudo
contnuo, a transposio deste para as empresas ou donos de obras ainda muito
deficiente, retm-se que o princpio da sustentabilidade que visa o culturalmente aceite
no subsiste. necessrio intervir juntos dos donos de obra e entidades que lhes
prestam assessoria de modo a publicitar a reutilizao e os reciclados.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
98
Captulo 6 - Anlise Comparativa de Custos
Joana Santos 99
CAPTULO 6
ALISE COMPARATIVA DE CUSTOS
6.1 PROPOSTA
6.1.1 DEFIIO DAS ACES
No dimensionamento dos pavimentos fundamental a quantificao das aces
actuantes. Para o pavimento terico em estudo apenas se caracterizam as aces com
consequncias directas no dimensionamento: trfego e temperatura.
Estes so tambm os factores que condicionam a rigidez temperatura e
portanto o comportamento estrutural do pavimento, e a capacidade de carga trfego
ou seja as tenses e deformaes incutidas ao pavimento. Factores importantes para o
bom desempenho do pavimento, nvel de circulao e segurana do utente.
6.1.1.1 Trfego
Considera-se para efeitos de dimensionamento apenas o trfego de veculos
pesados, correspondentes s classes de trfego superiores a F, ou seja, o valor mdio
dirio anual de veculos pesados no ano de abertura (TMDA)
p
para a vida til do
pavimento (geralmente em pavimentos flexveis a vida til 20anos), considera-se
ainda que a circulao se distribui uniformemente pelas duas vias e que o trfego
anlogo em ambos os sentidos.
A avaliao da capacidade de carga em estruturas flexveis definida para o
nmero acumulado de eixos padro de 80KN, considerando que composto por dois
rodados de duas rodas cada, separadas dum comprimento L, descarregando cada uma
destas 20 KN, numa rea circular de raio r, dependente da presso de contacto que
tomada, em geral, como a presso de enchimento dos pneus, p.
No MACOPAV ainda definido um coeficiente de agressividade (), para a
converso do (TMDA)
p
em eixos padro de 80KN, em funo da classe de trfego.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
100
Perodo de dimensionamento pavimentos flexveis: 20anos
Classe de trfego: T3
Trfego mdio dirio anual de veculos pesados (no ano de abertura, por sentido
e na via mais solicitada): (H)
P
= Suu 8uu
Taxa mdia de crescimento anual: t = 4%
Factor de agressividade: = 4,5
80
dm
= 41u
7
Nmero de pesados em 20 anos na via de projecto: S,41u
6
8,71u
6
Velocidade de trfego: 50km/h
6.1.1.2 Condies Climticas
Estabelece-se a temperatura de servio representativa como sendo a
temperatura equivalente anual actuante no pavimento em funo da temperatura do ar
e das espessuras das camadas betuminosas.
A utilizao dessa temperatura equivalente anual tem por objectivo a
modelao do comportamento das misturas betuminosas no dimensionamento de um
pavimento, que ser equivalente grande variedade de comportamentos que delimitam
o ciclo anual de vida desse pavimento.
A representatividade dessa temperatura pode no ser real, porque referida a um
intervalo de tempo demasiado diferente do das variaes que na verdade influenciam o
comportamento global de um pavimento a diferentes profundidades nas camadas.
Condies hdricas
Adequado sistema de drenagem superficial e interno
Condies trmicas
Zona climtica: AVEIRO zona temperada
Temperatura de servio: S. JACINTO - T=24,5C
Captulo 6 - Anlise Comparativa de Custos
Joana Santos 101
6.1.2 DEFIIO DA ESTRUTURA
6.1.2.1 Solo de Fundao
Para os solos de fundao, o coeficiente de Poisson adquire o valor usual de 0,35
(Brown), no MACOPAV este valor de 0,40, j o mdulo de deformabilidade pode ser
calculado com base na expresso proposta por Powell:
64 , 0
6 , 17 CBR Esf =
min
10 CBR Esf =
Classe de fundao: F3
Mdulo de deformabilidade: 100MPa
Classe do terreno: CBR10%
6.1.2.2 Pavimento
Caracterizao mecnica
As propriedades mecnicas mais importantes, dos materiais que integram um
pavimento rodovirio flexvel, necessrias no dimensionamento so as caractersticas
elsticas, ou seja, o mdulo de deformabilidade, Em, e coeficiente de Poisson .
Para as bases e sub-bases granulares usual adoptar o valor de 0,3 para o
coeficiente de Poisson enquanto o mdulo de deformabilidade determinado em funo
do solo de fundao.
Esf h Esf k Esb
sb
= = ) 2 . 0 (
45 . 0
Para as misturas betuminosas, a caracterstica extremamente condicionante o
mdulo de deformabilidade, Em, no havendo, assim, preocupao para a escolha do
coeficiente de Poisson, mas sendo usual a adopo do valor de 0,35.
Os mdulos de deformabilidade so calculados pelas frmulas intrnsecas a cada
mtodo de dimensionamento.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
102
Definio da estrutura base
A estrutura base do pavimento tradicional a estudar de base granular e cujo
perfil :
Misturas betuminosas
22 cm
Base granular
20 cm
Sub-Base granular
20 cm
Solo de fundao
100 MPa
Figura 6.1 - Estrutura base do pavimento em estudo.
6.1.3 ORAMETO
Os preos apresentados resultam, como j foi referido de uma prospeco de
mercado, onde para se poder obter uma comparao mais exacta, foram solicitados os
preos de referncia dos materiais denominados a granel ou boca da central e
posteriormente uma mdia de preos praticados.
Num oramento real o custo engloba para alm do custo do material sada da
boca da central, o transporte, o espalhamento e a compactao, regas de impregnao e
possveis regas de colagem. A utilizao de centrais mveis por parte de algumas
empresas permite reduzir os custos de mobilizao para competitividade de preos, no
entanto feito uma compensao entre a quantidade e a distncia a percorrer para
diluio dos custos de deslocao e equipamentos a utilizar. Nunca num raio de
aplicao superior a 60km de modo a manter todas as caractersticas do betume.
As propostas apresentadas contm apenas os materiais para os quais foi possvel
apurar as cotaes de mercado.
Captulo 6 - Anlise Comparativa de Custos
Joana Santos 103
6.1.3.1 Com materiais naturais
Da estrutura base dimensionada apresenta-se a proposta com materiais naturais
AC 14 35/50 surf ligante BB
4500 MPa
5 cm
42,50 /ton
Rega de colagem - -
AC 20 35/50 reg ligante MBD
3500 MPa
6 cm
40,00 /ton
Rega de colagem - -
AC 20 35/50 base ligante MB
2500 MPa
11 cm
37,50 /ton
Rega de impregnao - -
Base - ABGE
200MPa
20 cm
3,50 /ton
Sub-Base - ABGE
200 MPa
20 cm
3,50 /ton
Solo de fundao
100 MPa
Figura 6.2 - Estrutura utilizando materiais naturais.
6.1.3.2 Com materiais reutilizados ou reciclados
Proposta 1
Nesta proposta substituda a camada de desgaste em betume betuminoso
tradicional por uma camada em betume modificado com borracha. A partir desta
proposta manter-se- constante a camada de desgaste em BMB.
BMB
3000 MPa
5 cm
43,00 /ton
Rega de colagem - -
AC 20 35/50 reg ligante MBD
3500 MPa
6 cm
40,00 /ton
Rega de colagem - -
AC 20 base ligante MB
2500 MPa
11 cm
37,50 /ton
Rega de impregnao - -
Base - ABGE
200MPa
20 cm
3,50 /ton
Sub-Base - ABGE
200 MPa
20 cm
3,50 /ton
Solo de fundao
100 MPa
Figura 6.3 - Proposta 1: materiais reciclados.
A sua cotao do betume modificado com borracha depende da taxa de
incorporao de granulado de borracha em cada caso de obra, mdia tem um acrscimo
de 10% da cotao da camada de desgaste betuminosa.
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
104
Proposta 2
Nesta segunda proposta substituda a camada de regularizao e base por
material resultante de fresagem estabilizado com betume.
BMB
3000 MPa
5 cm
43,00 /ton
Rega de colagem - -
Material fresado estabilizado com betume
17 cm
33,75 /ton
Rega de impregnao - -
Base - ABGE
200MPa
20 cm
3,50 /ton
Sub-Base - ABGE
160 MPa
20 cm
3,50 /ton
Solo de fundao
100 MPa
Figura 6.4 - Proposta 2: materiais reutilizados.
A incorporao de material fresado na execuo de pavimentos novos ou na
reabilitao de pavimentos depende da qualidade e quantidade que se poder obter aps
a fresagem do pavimento e consequentemente a sua cotao ser varivel consoante a
adio de novos agregados ou de ligante. No geral, pela consulta efectuada, o material
fresado trabalhado na central e raramente in situe o seu custo cerca de 20%
inferior comparado com o custo dos agregados naturais, ou 10 % em relao camada
de desgaste.
Proposta 3
Nesta terceira proposta substitudo as camadas granulares em ABGE por
agregado reciclado de RCDs.
BMB
3000 MPa
5 cm
43,00 /ton
Rega de colagem - -
AC 20 reg ligante MBD
3500 MPa
6 cm
40,00 /ton
Rega de colagem - -
AC 20 base ligante MB
2500 MPa
11 cm
37,50 /ton
Rega de impregnao - -
Base RCDs
~200MPa
20 cm
3,00 /ton
Sub-Base RCDs
~200 MPa
20 cm
3,00 /ton
Solo de fundao
100 MPa
Figura 6.5 - Proposta 3: materiais reciclados.
Captulo 6 - Anlise Comparativa de Custos
Joana Santos 105
O preo de referncia dos RCDs varia com a quantidade e qualidade pretendida
e quantidade e qualidade recebida pela entidade gestora dos resduos (volumes de beto,
tijolos, cermica, etc.)
6.2 COCLUSES
Uma anlise econmica pretende quantificar e caracterizar os custos para
viabilizar um determinado procedimento, quais as variveis que conduzem s vantagens
ou desvantagem e verificar o ponto de equilbrio entre ambas, de modo a justificar uma
deciso estratgica. O compromisso e responsabilidade civil de cada escolha so
tambm factores que podem ponderar a tomada de deciso.
Da prospeco de mercado realizada a utilizao de materiais reciclados no
uma prtica corrente, as empresas no estatuto de fornecedores, no podem e por vezes
no lhes permitido fazer sugestes para a alterao do caderno de encargos. junto do
dono de obra e das entidades que lhe fazem assessoria, que a consciencializao deve
ocorrer para advirem novos comportamento.
Analisando a perspectiva do mercado, a cotao do material fresado para alm
dos factores anteriormente anunciados, respeita tambm o facto de poucas serem as
empresas a utilizar este material, assim sendo por questes de falta competitividade os
preos no so optimizados. O granulado de borracha por seu lado dispendioso
tambm por falta de competitividade, pois so poucas as empresas que se dedicam sua
transformao. Por fim os resduos de construo e demolio so os que tm os preos
mais atractivos para que sejam aceites no mercado, estando ao nvel dos agregados
naturais.
Paralelo s vantagens ambientais, existe uma indstria de reciclagem por
explorar, na qual as vantagem econmicas para todas as partes participantes, so muito
promissoras.
Concluindo, a diferena entre as cotaes de referncia apresentadas entre os
materiais naturais e os reciclados no so relevantes e por vezes, a utilizao dos
reciclados apresenta-se mais favorvel. Para as camadas de desgaste a utilizao de um
beto betuminoso financeiramente equivalente a um betume modificado com
borracha, acrescendo ao BMB as vantagens tcnicas e ecolgicas, e a menor
periodicidade de intervenes de conservao. Na utilizao de material fresado e
Materiais Utilizados na Construo de Pavimentos Rodovirios
Joana Santos
106
RCDs imediato que estes tornam as solues mais econmicas, mesmo quando
necessrio a incorporao de ligantes.
De referir que para qualquer constituio da mistura a aplicar em cada caso de
obra, necessrio fazer um estudo da composio, quer seja para a utilizao de
materiais tradicionais ou reciclados e como tal o preo ser proporcional a essa
modificao.
Assim sendo, a utilizao de materiais reciclados totalmente vivel a nvel
econmico, acrescendo o respeito pelos benefcios ambientais.
No entanto, relembra-se a necessidade do desenvolvimento de polticas que
incentivem o seu uso.
Joana Santos 107
REFERCIAS BIBLIOGRFICAS
[1] Santos, L. P., Pereira, P., & Branco, F. (2006). Pavimentos Rodovirios. Almedina.
[2] Santos, Lus Picado & Pereira, Paulo (2002) Pavimentos Rodovirios, Edio dos
autores.
[3] LNEC (1962), Vocabulrio de Estradas e Aerdromos, especificaes El-1962,
Lisboa.
[4] Velho, Jos; Gomes, Celso & Romariz, Carlos; (1998), Minerais Industriais, Grfica
de Coimbra.
[5] Pereira, Orlando A.; LNEC, (1995), Pavimentos Rodovirios, Vol. I, III, IV; Lisboa.
[6] Freire, Ana C.; LNEC, (2004), Agregados para misturas betuminosas, Palestra
FCTUNL, Lisboa.
[7] Matos, Lima; Jeremias, Filipe & Freire, Ana; (2006), Agregados aplicveis em infra-
estruturas rodovirias segundo a normalizao europeia, Actas 10 Congresso Nacional
de Geotecnia, LNEC, Lisboa.
[8] Gama, Dinis; (2006), Utilizao de agregados reciclados; Seminrio: Gesto
sustentvel na construo e demolio, Ordem dos Engenheiros, IST, Lisboa.
[9] Pereira, Paulo; et al.; n28, 2007; A reabilitao da rede rodoviria no sculo XXI, A
contribuio da inovao para uma viso global da reabilitao rodoviria, UM.
[10] EP, (2009), 14.01 - Terraplenagem, Caractersticas dos materiais, Vol. III, Caderno
de encargos tipo obra.
[11] EP, (2009), 15.01 - Terraplenagem, Mtodos construtivos, Vol. III, Caderno de
encargos tipo obra.
[12] EP, (2009), 16.01 - Terraplenagem, Dicionrio de rbricas e critrios de medio,
Vol. III, Caderno de encargos tipo obra.
[13] INIR, (2009), Directivas para a concepo de pavimentos - Critrios de
dimensionamento, Disposies Normativas.
[14] EP, (2009), 14.01 Pavimentao, Caractersticas dos materiais, Vol. V, Caderno
de encargos tipo obra.
[15] EP, (2009), 15.03 - Pavimentao, Mtodos construtivos, Vol. V, Caderno de
encargos tipo obra.
Joana Santos
108
[16] EP, (2009), 16.03 - Pavimentao, Dicionrio de rbricas e critrios de medio,
Vol. V, Caderno de encargos tipo obra.
[17] INIR, (2009), Construo e Reabilitao de Pavimentos Ligantes betuminosos,
Disposies Normativas.
[18] INIR, (2009), Construo e Reabilitao de Pavimentos Reciclagem de
pavimentos, Disposies Normativas.
[19] LNEC, (2006), MBA-BMB, Misturas betuminosas para pavimentos rodovirios e
aeroporturios, Documento de aplicao.
[20] LNEC, (2008), MBR-BMB, Misturas betuminosas para pavimentos rodovirios e
aeroporturios, Documento de aplicao.
[21] Pestana, Carlos; Pereira, Pedro & Pais, Jorge, (2006), Reabilitao de Pavimentos
Utilizando Misturas Betuminosas com Betumes Modificados, art.. n26, UM.
[22] Pereira, Paulo; Pais, Jorge et al.; (2009), Desempenho de misturas betuminosas com
betume modificado com borracha atravs do processo hmido, UM.
[23] Paulo Fonseca, RECIPAV, (2006), A utilizao do betume modificado com borracha
em Portugal.
[24] LNEC, RECIPAV, (2008), Desempenho de misturas betuminosas com borracha,
CRP.
[25] EP, (2007) Clausulas tcnicas especiais, Mistura betuminosa com BMB: MBR
BMB.
[26] Teixeira, Miguel; (2006), A utilizao de espumas de betume na reciclagem de
pavimentos flexveis, Tese de Mestrado em Vias de Comunicao, FEUP, Porto.
[27] Seixas, Pedro; (2008), Reciclagem com espuma de betume, Comunicao CRP,
MOTA-ENGIL.
[28] Baptista, Ftima; Antunes, Lurdes & Fonseca, Paulo; (2005), LNEC, Desempenho de
misturas betuminosas com BMB aplicadas em Portugal; IV Congresso Rodovirio
Portugus, Lisboa.
[29] Vicente, Ana M.; (2006), A utilizao de betumes modificados com borracha na
reabilitao de pavimentos flexveis, Tese de Mestrado em Vias de Comunicao, FEUP,
Porto.
[30] Ribeiro, Jaime; (2003), Reciclagem a frio com espuma de betume, II Jornadas
Tcnicas de Pavimentos Rodovirios.
[31] DNIT, Manual de pavimentos rgidos, (2005), Publicao IPR 714, Ministrio dos
transportes, Brasil.
Joana Santos 109
[32] Baptista, Antonio M.; (2006), Misturas betuminosas recicladas a quente em central,
Tese de Doutoramento em Urbanismo, Ordenamento do Territrio e Transportes,FCTUC,
Coimbra.
[33] Gomes, Lus F.; (2005), Reciclagem de misturas betuminosas a quente em central,
Tese de Mestrado em Vias de Comunicao, FEUP, Porto.
[34] Algarvio, Dora; (2009), Reciclagem de resduos de construo e demolio:
contribuio para controlo do processo, Tese de Mestrado em Gesto Intregada e
Valorizao de Resduos, FCTUNL, Liaboa
[35] Moreira, J. Pedro, Pereira, Paulo; (2007) Reutilizao de material fresado em
camadas estruturais de pavimento - ovas perspectivas, VI Jornadas Luso-Brasileiras de
Pavimentos.
[36] Miranda, V., Miranda, R. & Ferreira, C.; (2006), Concepo e construo de um
leito de pavimento em orte, IV CRP, Estoril.
[37] Navarro, V.T. & Gomes, C.D.; (2006), A sustentabilidade das obras geotecnicas,
Actas 10 Congresso Nacional de Geotecnia, UNL, Lisboa.
[38] Borrego, C.; Lopes, M. & Ribeiro, I.; (2009), Sociedade, tecnologia e ambiente: um
trinmio para o desenvolvimento sustentvel, Seminrio: Valorizao de Resduos em
Obras Geotcnicas, Aveiro.
[39] Almeida, Ablio; Dinis Sousa, Carlos & Lopes, M. Lurdes; (2009), Valorizao de
escrias de incinerao de residuos solidos urbanos em obras geotcnicas, Seminrio:
Valorizao de Resduos em Obras Geotcnicas, Aveiro.
[40] Fortunato, Eduarado; Lopes, Maria L. ; Curto, Pedro & Fonseca, Agripino (2009),
Valorizao dos residuos de construo e demolio em oras geotecnicas, Seminrio:
Valorizao de Resduos em Obras Geotcnicas, Aveiro.
[41] Vicente, Ana Margarida Madeira; (2006); A utilizao de betumes modificados com
borracha na reabilitao de pavimentos flexiveis, Tese de Mestrado em Vias de
Comunicao, Universidade do Porto
[42] Cardoso, Claudino & Vieira, Fernando Caldas; (2009);Valorizao das cinxzas de
fundo da combsto do carvo em obras geotcnicas; Seminrio: Valorizao de
Resduos em Obras Geotcnicas, Aveiro.
[43] Roque, A J; Cabeas, Artur; (2009); Valorizao das lamas das estaes de
tratamento de guas; Seminrio: Valorizao de Resduos em Obras Geotcnicas,
Aveiro.
Joana Santos
110
[44] Ribeiro, Carlos & al.; Valorizao das areias de fundio em obras geotcnicas
Seminrio: Valorizao de Resduos em Obras Geotcnicas, Aveiro.
[45] Almeida, Abilio; Dinis de Sousa, Carlos & Lopes, Maria de Lurdes;(2009);
Valorizao de escrias de incinerao de resduos slidos urbanos em obras
geotcnica; Seminrio: Valorizao de Resduos em Obras Geotcnicas, Aveiro.
[46] Projecto REAGIR (Reciclagem de Entulhos no mbito da Gesto Integrada de
Resduos).
[47] Gomes Correia, Antonio & al.; (2009); Valorizao das escrias de aciaria da
siderurgia nacional; Seminrio: Valorizao de Resduos em Obras Geotcnicas,
Aveiro.
[48] Roque, A J; Fortunato, Eduardo & Silva, Paulo; (2099); valorizao dos residuos
de pneus usados em obras geotecnicas Seminrio: Valorizao de Resduos em Obras
Geotcnicas, Aveiro.
Joana Santos 111
BIBLIOGRAFIA OLIE
http://www.estradasdeportugal.pt/
http://www.inir.pt/portal/Default.aspx
http://www.lnec.pt/
http://www.engenhariacivil.com/
http://engenium.wordpress.com/
http://www.rcaap.pt/index.jsp
http://www.sciencedirect.com/science
http://www.b-on.pt/
http://www.galpenergia.com/PT/Paginas/Home.aspx
http://www.cepsa.com/
http://www.shell.com/
http://www.bp.com/home.do?categoryId=5700&contentId=57193
http://www.eapa.org/
http://www.arra.org/
http://www.aema.org/
Você também pode gostar
- Técnica Farmacêutica e Farmácia Galênica (Prista)Documento1.134 páginasTécnica Farmacêutica e Farmácia Galênica (Prista)Elisama Andrade67% (9)
- Manual Reuso CapilarDocumento8 páginasManual Reuso CapilarNabila Trindade75% (4)
- Logística Rodoviária: A Utilização das Ferramentas da Qualidade na Redução de Custos de TransporteNo EverandLogística Rodoviária: A Utilização das Ferramentas da Qualidade na Redução de Custos de TransporteAinda não há avaliações
- Manual de Analise de Falhas em RolamentosDocumento27 páginasManual de Analise de Falhas em Rolamentoseleno ribeiro100% (2)
- Tabela de CorrosãoDocumento6 páginasTabela de CorrosãoLucasmfelipe0% (1)
- Aulas 1 A 4 - Garantia e Cont. Qualidade... - Físico-QuímicoDocumento20 páginasAulas 1 A 4 - Garantia e Cont. Qualidade... - Físico-QuímicoRAFAEL OLIVEIRA SANTOSAinda não há avaliações
- Análise de Custos Paradiferentes Soluçoes de Transporte de Biomassa FlorestalDocumento98 páginasAnálise de Custos Paradiferentes Soluçoes de Transporte de Biomassa FlorestalAndré MoreiraAinda não há avaliações
- André Gonçalo Bernardes Santos Bases Granulares de Agregados RecicladosDocumento98 páginasAndré Gonçalo Bernardes Santos Bases Granulares de Agregados RecicladosSamilo RodriguesAinda não há avaliações
- TCC Pav. RigidoDocumento45 páginasTCC Pav. RigidoMAXAinda não há avaliações
- DM RibeiroRaquel 2014 MEGGDocumento196 páginasDM RibeiroRaquel 2014 MEGGMarcoAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Sustentável em Engenharia Mecânica Um Caso de Estudo: Projeto AutarkeiaDocumento194 páginasDesenvolvimento Sustentável em Engenharia Mecânica Um Caso de Estudo: Projeto AutarkeiaAmanda LemosAinda não há avaliações
- Práticas Sustentáveis Nos PavimentosDocumento78 páginasPráticas Sustentáveis Nos PavimentosmarcosAinda não há avaliações
- Pre Tratamento de Efluentes de Industria Textil PDFDocumento52 páginasPre Tratamento de Efluentes de Industria Textil PDFEdilson JuniorAinda não há avaliações
- Constituição, Dimensionamento e Conservação de Pavimentos para Baixos Volumes de TráfegoDocumento137 páginasConstituição, Dimensionamento e Conservação de Pavimentos para Baixos Volumes de TráfegoDiogo CoutinhoAinda não há avaliações
- Rogério Paulo Godinho de Sousa Concepção e Dimensionamento de Sistemas Prediais de Drenagem PluvialDocumento118 páginasRogério Paulo Godinho de Sousa Concepção e Dimensionamento de Sistemas Prediais de Drenagem PluvialmdiasAinda não há avaliações
- Apostila Dosagem Concreto ConvencionalDocumento86 páginasApostila Dosagem Concreto ConvencionalFabio NegrãoAinda não há avaliações
- Cristina Portela 2013Documento121 páginasCristina Portela 2013jose amorimAinda não há avaliações
- Filipe Oliveira Rocco - TeseDocumento123 páginasFilipe Oliveira Rocco - TeseYecuna MóveisAinda não há avaliações
- Logística Verde Aplicada À Logística Reversa, Uma Estratégia Sócio-Ambiental de SucessoDocumento74 páginasLogística Verde Aplicada À Logística Reversa, Uma Estratégia Sócio-Ambiental de SucessoGuilherme Vitorio TorreAinda não há avaliações
- Tese de Mestrado - Processos de Demolição de EstruturasDocumento180 páginasTese de Mestrado - Processos de Demolição de EstruturasPedro MalheiroAinda não há avaliações
- Santos JR 2016 Misturas Betuminosas A QuenteDocumento100 páginasSantos JR 2016 Misturas Betuminosas A QuenteÂngelo IdasilAinda não há avaliações
- Monografia Evandro Completa Alterada 08 09 2015Documento60 páginasMonografia Evandro Completa Alterada 08 09 2015Lin ́-Ainda não há avaliações
- Estradas 2Documento231 páginasEstradas 2Márcia SenducaAinda não há avaliações
- Reutilização de CaixasDocumento103 páginasReutilização de Caixaspaula71Ainda não há avaliações
- Maria Izabel Da Silva Atividade4 DEFESADocumento31 páginasMaria Izabel Da Silva Atividade4 DEFESAmariaizabel09167Ainda não há avaliações
- Relatorio de Estagio Versao FinalDocumento75 páginasRelatorio de Estagio Versao FinalMário FigueiredoAinda não há avaliações
- Trabalho Reciclagem de PneusDocumento34 páginasTrabalho Reciclagem de PneusTorben Ulisses100% (1)
- Rondonópolis - MT 2016Documento88 páginasRondonópolis - MT 2016Mateus BaggioAinda não há avaliações
- Mariana Rodrigues BrochadoDocumento118 páginasMariana Rodrigues BrochadoFernando SiqueiraAinda não há avaliações
- Ferreira EduardoDocumento151 páginasFerreira EduardoManuel AntunesAinda não há avaliações
- Canais Impermeabilizaçao-DissertaDocumento105 páginasCanais Impermeabilizaçao-Dissertaapb engenhariaAinda não há avaliações
- Trabalho de Outra PessoaDocumento89 páginasTrabalho de Outra PessoaFelipe LamaizonAinda não há avaliações
- Tese - Iasminy Da CunhaDocumento142 páginasTese - Iasminy Da CunhaguilhermetrivellaAinda não há avaliações
- Thesis JoaoFerreiraDocumento100 páginasThesis JoaoFerreiraRodrigo KawamuraAinda não há avaliações
- Tcceduardodiasjeanmendes 181113231826Documento65 páginasTcceduardodiasjeanmendes 181113231826Cleber GomesAinda não há avaliações
- 2.1. Relatorio de AcvDocumento53 páginas2.1. Relatorio de AcvTIAGO COSTAAinda não há avaliações
- Programas EstruturaisDocumento261 páginasProgramas EstruturaisNeiva de FátimaAinda não há avaliações
- Dissertação PDFDocumento119 páginasDissertação PDFSaturnino Ferreira GomesAinda não há avaliações
- 323449Documento228 páginas323449ALEXSANDROAinda não há avaliações
- Manual de Conservacao RodoviariaDocumento568 páginasManual de Conservacao Rodoviariatatianaararipe100% (2)
- Engenharia Civil: Concepção, Teoria E PráticaNo EverandEngenharia Civil: Concepção, Teoria E PráticaAinda não há avaliações
- Patologias PavimentaçãoDocumento65 páginasPatologias Pavimentaçãochatzuk0% (1)
- Análise de Reparo Metálico Colado em Dutos Com MossasDocumento52 páginasAnálise de Reparo Metálico Colado em Dutos Com MossasBruno CavalcanteAinda não há avaliações
- Cunha, NelmaAlmeida MDocumento176 páginasCunha, NelmaAlmeida MmachaormxAinda não há avaliações
- Manual Zonas 30Documento174 páginasManual Zonas 30Municipio VNBAinda não há avaliações
- A Concepção de Projetos em Alvenaria Estrutural. O Caso de Um Prédio Residencial. 2010.Documento102 páginasA Concepção de Projetos em Alvenaria Estrutural. O Caso de Um Prédio Residencial. 2010.Ricardo Gonçalves MolinariAinda não há avaliações
- Pavimentos RodoviáriosDocumento103 páginasPavimentos Rodoviáriosinespedreiras100% (1)
- Projecto Final - Ayrton JordanDocumento74 páginasProjecto Final - Ayrton JordanAyrton Jordan De Carvalho Mateus MateusAinda não há avaliações
- PGRSCC - Usina de ConcretoDocumento74 páginasPGRSCC - Usina de ConcretoElza ColaçoAinda não há avaliações
- TCC BombasDocumento72 páginasTCC BombasonionesdasnevesAinda não há avaliações
- Texto IntegralDocumento198 páginasTexto IntegralNilton SousaAinda não há avaliações
- TCC Jeovani 2013 Corrigido - CDDocumento63 páginasTCC Jeovani 2013 Corrigido - CDLuísaFernandaAinda não há avaliações
- CortiçaDocumento76 páginasCortiçajosé carrascoAinda não há avaliações
- Estudo de Argamassa Com Finos de PedreiraDocumento118 páginasEstudo de Argamassa Com Finos de Pedreiragenmoraes79Ainda não há avaliações
- DM TiagoGeraldes 2018 MECDocumento232 páginasDM TiagoGeraldes 2018 MECjose amorimAinda não há avaliações
- Tese GandaraDocumento138 páginasTese GandarajoaopedropintorodriguesAinda não há avaliações
- Apostila PiastioDocumento75 páginasApostila PiastioJosé Augusto Mendes FerreiraAinda não há avaliações
- NR 18 - Uso de Andaimes e Prevenção de AcidentesDocumento31 páginasNR 18 - Uso de Andaimes e Prevenção de AcidentesCPSSTAinda não há avaliações
- 5.projeto Arquitetonico ResidencialDocumento43 páginas5.projeto Arquitetonico ResidencialThaynara AmaralAinda não há avaliações
- Sistema De Construção De Paredes De Gesso AcartonadoNo EverandSistema De Construção De Paredes De Gesso AcartonadoAinda não há avaliações
- Apostila De DendrologiaNo EverandApostila De DendrologiaAinda não há avaliações
- Frotas & fretes verdes: soluções tecnológicas e práticas sustentáveisNo EverandFrotas & fretes verdes: soluções tecnológicas e práticas sustentáveisAinda não há avaliações
- Critérios ambientais para contratações públicas de obras rodoviárias: proposta de um modelo conceitual para Contratações Públicas SustentáveisNo EverandCritérios ambientais para contratações públicas de obras rodoviárias: proposta de um modelo conceitual para Contratações Públicas SustentáveisAinda não há avaliações
- TA Aula 6 - Processamento de Matéria-Prima de Origem VegetalDocumento48 páginasTA Aula 6 - Processamento de Matéria-Prima de Origem Vegetalbetitchuca0% (1)
- Experiencia 05 CromatografiaDocumento2 páginasExperiencia 05 Cromatografiamaria_santos3616119Ainda não há avaliações
- Ralos Lineares TigreDocumento9 páginasRalos Lineares TigreRenaldo MendesAinda não há avaliações
- Programa Curricular Química - 1° AnoDocumento4 páginasPrograma Curricular Química - 1° AnoJoão Paulo SilvaAinda não há avaliações
- IT Decreto Lei 50 2005Documento5 páginasIT Decreto Lei 50 2005Carina GonçalvesAinda não há avaliações
- Resolucao RDC ANVISA 360-2003 Rotulagem de AlimentosDocumento8 páginasResolucao RDC ANVISA 360-2003 Rotulagem de AlimentostassiacamilaAinda não há avaliações
- Doce de Corte MangaDocumento8 páginasDoce de Corte MangaAndréBastosAinda não há avaliações
- Lista de Exercicios 02Documento7 páginasLista de Exercicios 02MoisesAinda não há avaliações
- Capítulo 14 Nanopartículas Magnéticas e Suas AplicaçõesDocumento22 páginasCapítulo 14 Nanopartículas Magnéticas e Suas Aplicaçõesveloso_goAinda não há avaliações
- Ficha Rochas MagmáticasDocumento4 páginasFicha Rochas MagmáticaspedromaparedesAinda não há avaliações
- RelatórioDocumento10 páginasRelatóriotammydamares7Ainda não há avaliações
- Manual Dre No AbsDocumento2 páginasManual Dre No AbsElieser JúnioAinda não há avaliações
- Amianto Diretrizes Gerenciamento CetesbDocumento18 páginasAmianto Diretrizes Gerenciamento CetesbFabricio BarcelosAinda não há avaliações
- Bula Cognitus HerbariumDocumento2 páginasBula Cognitus HerbariumLéia BarbalhoAinda não há avaliações
- 2021 1oENEM 2oDIADocumento32 páginas2021 1oENEM 2oDIAÉzeron MagalhãesAinda não há avaliações
- Manual TécnicoDocumento55 páginasManual Técnicojessica_tonetAinda não há avaliações
- O Estudo Dos Gases PDFDocumento8 páginasO Estudo Dos Gases PDFAlex Conceição BritoAinda não há avaliações
- DZ 205Documento6 páginasDZ 205ahuahsAinda não há avaliações
- Ataque Por SulfatosDocumento103 páginasAtaque Por SulfatosConstantino Urt Filho100% (1)
- Manual de Montagem Freigabe FKA-TI FKA-TA FKA-ADocumento12 páginasManual de Montagem Freigabe FKA-TI FKA-TA FKA-ATorus EngenhariaAinda não há avaliações
- CENFFOR Apresentação2Documento12 páginasCENFFOR Apresentação2Nuria Jandira RobertoAinda não há avaliações
- Resumo Processos FabricaçaoDocumento12 páginasResumo Processos FabricaçaoMatheus HenriqueAinda não há avaliações
- 03 - Membrana Plasmática - Estrutura e Função 1Documento26 páginas03 - Membrana Plasmática - Estrutura e Função 1Max NunesAinda não há avaliações
- Apresentação 2022 Confict Versão FinalDocumento14 páginasApresentação 2022 Confict Versão FinalGeovana AlvesAinda não há avaliações
- 1 Contaminações Por CianetoDocumento30 páginas1 Contaminações Por CianetoRodolfo ShamáAinda não há avaliações