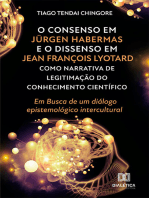Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Habermas
Habermas
Enviado por
Júnior Sousa0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
26 visualizações257 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
26 visualizações257 páginasHabermas
Habermas
Enviado por
Júnior SousaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 257
JORGE ADRIANO LUBENOW
A CATEGORIA DE ESFERA PBLICA EM JRGEN HABERMAS
Tese de Doutorado apresentada ao
Departamento de Filosofia do
Instituto de Filosofia e Cincias
Humanas da Universidade Estadual
de Campinas sob a orientao do
Prof. Dr. Marcos Nobre.
Este exemplar corresponde
redao final da Tese defendida
e aprovada pela Comisso
Julgadora em 29/03/2007.
BANCA:
Prof. Dr. Marcos Nobre (UNICAMP) - Orientador
Prof. Dr. Luiz Bernardo Leite Arajo (UERJ) - Examinador
Prof. Dr. Luiz Repa (CEBRAP) - Examinador
Prof. Dr. Denlson Werle (CEBRAP) - Examinador
Prof. Dra. Luciana Tatagiba (UNICAMP) - Examinadora
Prof. Dra. Yara Frateschi (UNICAMP) - Suplente
Prof. Dr. Oswaldo Giacia (UNICAMP) - Suplente
Prof. Dr. Ricardo Terra (USP) - Suplente
CAMPINAS, MARO/2007
2
FICHA CATALOGRFICA ELABORADA PELA
BIBLIOTECA DO IFCH - UNICAMP
Ttulo em ingls: The category of public sphere by Jrgen Habermas
Palavras chave em ingls (Keywords): Political science - Philosophy
Democracy
Critical theory
rea de concentrao: Histria da Filosofia Contempornea
Titulao: Doutor em Filosofia
Banca examinadora: Marcos Nobre, Luiz Bernardo Leite Arajo, Luiz Repa,
Denlson Werle, Luciana Tatagiba
Data da defesa: 29-03-2007
Programa de Ps-Graduao:- Filosofia
Lubenow, Jorge Adriano
L961c A categoria de esfera pblica em Jrgen Habermas / Jorge
Adriano Lubenow. - - Campinas, SP : [s. n.], 2007.
Orientador: Marcos Nobre.
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas,
Instituto de Filosofia e Cincias Humanas.
1. Habermas, Jrgen, 1929-. 2. Cincia poltica Filosofia.
3. Democracia. 4. Teoria crtica. I. Nobre, Marcos, 1964-
II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e
Cincias Humanas. III.Ttulo.
(cn/ifch)
3
Esta ocasio me permite agradecer:
Aos familiares, Nestor e Maria, os pais, e Jandir, o irmo, pelo
incentivo e apoio incondicional;
Aos amigos e amigas, especialmente Adriana, Alexandre, Cntya,
Emiliane, Fernanda, Ingrid, Jez, Johane, Natsuko, Nazareth, Poliane e Virgu;
Nader e Martino, na Freie Universitt Berlin; Ana, na Humboldt Universitt;
Elena, Eliza, Katarzyna, Sandra, September, Stephani e Verena, em Berlin;
Claudia, na Flensburg Universitt; Evaldo e Michele, na Sourbone Paris;
Aos professores do Programa de Ps-Graduao em Filosofia da
Universidade Estadual de Campinas, e aos colegas do Doutorado, pelas
diferentes contribuies, especialmente ngelo e Clodomiro;
Aos professores e amigos Claudio Boeira Gracia (UNIJU) e
Edmilson Alves de Azevedo (UFPB), que jamais deixaram de acompanhar e
incentivar meus estudos;
Aos colegas do Ncleo Direito e Democracia e do Sub-grupo
Esfera Pblica do Centro Brasileiro de Anlise e Planejamento (Cebrap),
especialmente Ricardo, Luiz, Denlson, Rrion, Felipe;
A CAPES, que financiou a pesquisa e o estgio no exterior;
4
Ao Prof. Dr. Srgio Costa, pelos comentrios e orientaes;
Ao Rogrio, secretrio do Departamento de Filosofia do IFCH,
sempre empenhado e prestativo;
Ao Prof Dr. Hauke Brunkhorst, Diretor do Departamento de
Sociologia e Professor do Departamento de Filosofia da Universitt Flensburg,
que aceitou a orientao do meu Estgio de Doutorado na Alemanha, no
perodo de setembro/2005 a junho/2006, e pela oportunidade de freqentar
seus seminrios e o Kolloquium. Por seu intermdio, tive a satisfao de
conhecer Jrgen Habermas;
De modo particular, ao Prof. Dr. Marcos Nobre, que aceitou a
tarefa de orientar a elaborao desta tese, e pelo convite em participar do
Ncleo de Direito e Democracia do Cebrap. Inconformado com as
imperfeies e passagens obscuras sem cessar, no abre mo do rigor
filosfico e da acuidade analtica. Continuamente atento ao ordenamento
democrtico e s disputas scio-polticas que se articulam nas relaes entre
as respectivas sociedades civil e poltica, no desagudiza na crtica. Tenho
uma imensa dvida intelectual para com ele;
A Lydiane, que compartilhou as alegrias e os desafios que
envolveram a elaborao desta tese, por mais que compreenso, estmulo e
carinho.
5
SUMRIO
RESUMO 07
ABSTRACT 08
CONSIDERAES PRELIMINARES 11
PARTE I:
1. A CATEGORIA DE ESFERA PBLICA: PRESSUPOSTOS TERICOS 43
1.1 Estrutura e funo da esfera pblica 45
1.2 Limitaes da esfera pblica: sobre a contradio imanente 53
1.3 Transformaes na estrutura e funo da esfera pblica 57
2. REFORMULAES DA CATEGORIA DE ESFERA PBLICA 71
2.1 Revises e apropriaes crticas 73
2.2 Reformulaes da esfera pblica: estrutura terica modificada 79
6
PARTE II:
3. ESFERA PBLICA, AO COMUNICATIVA E A CONCEPO DUAL DE
SOCIEDADE COMO SISTEMA E MUNDO DA VIDA 97
3.1 Esfera pblica e a cientificizao da poltica 99
3.2 Esfera pblica e os problemas de legitimidade 105
3.3 Esfera pblica, ao comunicativa e a teoria da sociedade 108
3.4 Esfera pblica, sistema e mundo da vida 117
3.5 Implicaes polticas da esfera pblica comunicativa 128
3.6 Reformulaes da esfera pblica comunicativa 132
4. ESFERA PBLICA E DEMOCRACIA DELIBERATIVA 137
4.1 Mundo da vida e sistema: novo modelo de circulao do poder 138
4.2 Democracia procedimental e poltica deliberativa 142
4.3 Direito procedimental e esfera pblica 151
4.4 Esfera pblica deliberativa 161
4.5 Comentrios crticos 177
CONSIDERAES FINAIS 199
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS 219
7
RESUMO
A presente tese tem o objetivo de fazer uma leitura reconstrutiva de um
tema fundamental explorado por Jrgen Habermas: a categoria de esfera pblica.
Este tema da esfera pblica examinado no contexto da passagem entre o universo
terico de Strukturwandel der ffentlichkeit (1962) e Theorie des kommunikativen
Handelns (1981) em relao quele de Faktizitt und Geltung (1992). Nesta
transio, Habermas reformula uma srie de questes introduzidas nas suas
investigaes anteriores sobre o tema da esfera pblica e configura uma perspectiva
terica modificada. O momento-chave desta transio o prefcio nova edio de
Strukturwandel der ffentlichkeit, publicada em 1990. Esta retomada pode ser
desdobrada em dois eixos que se correlacionam: a) A reformulao do contedo da
esfera pblica (limitaes e deficincias), a ampliao da categoria e o alargamento
da infra-estrutura da esfera pblica, agora com novas caractersticas e novos papis;
b) O reposicionamento da esfera pblica por um rearranjo interno num contexto
terico mais amplo da teoria da ao comunicativa e da reformulao da relao
sistema-mundo da vida da teoria da sociedade. O exame a ser realizado neste
trabalho ser temtico, no cronolgico. Isto nos permite mostrar melhor que h dois
momentos que podem ser distinguidos analiticamente, e que a autocrtica dupla,
tanto da noo mesma de esfera pblica quanto da posio dessa categoria no
quadro da teoria social comunicativa, e que andam paralelamente.
Palavras-chave: Jrgen Habermas, Esfera Pblica, Filosofia Poltica, Teoria Crtica,
Ao Comunicativa, Democracia Deliberativa.
8
ABSTRACT
The present thesis has the objective to do a reconstructive reading of a
fundamental theme explored by Jrgen Habermas: the category of public sphere. It
is examined in context of the passage between the theoretical universe of
Strukturwandel der ffentlichkeit (1962) and Theorie des kommunikativen Handelns
(1981) in relation to that one of Faktizitt und Geltung (1992). In this transition,
Habermas reformulating a series of questions introduced in its previous inquiries on
the theme of public sphere, and formulating a modified theoretical perspective. The
key moment of this transition is the preface to the new edition of Strukturwandel der
ffentlichkeit, published in 1990. This retaken can be unfolded in two axles that if
correlate: a) A reformularization of the category (its limitations and deficiencies), the
extending of the content and enlarge of the infrastructure of the public sphere, now
with new characteristics and new functions; b) The new position of the public sphere
through an internal rearrangement in the extended theoretical context of the
communicative action and in the reformularization of the relation system-lifeworld of
the theory of society. This examination will be thematic, and not chronological. This
allows showing better that it has two moments that can be analytically distinguished,
and showing that the self-critique is twofold, of the public sphere as well as the
communicative social theory, and that walking parallel.
Key-words: Jrgen Habermas, Public Sphere, Political Philosophy, Critical Theory,
Communicative Action, Deliberative Democracy.
9
Das allgemeine Phnomen des ffentlichen Raums, der
schon in einfachen Interaktionen ersteht, hatte mich immer
schon im Hinblick auf die geheimnisvolle Kraft der
Intersubjektivitt, Verschiedenes zu vereinigen, ohne es
aneinander anzugleichen, interessiert. An den ffentlichen
Rumen lassen sich Strukturen der gesellschaftlichen
Integration ablesen. In der Verfassung der ffentlichen
Rume verraten sich am ehesten anomische Zge des
Zerfalls oder Risse einer repressiven Vergemeinschaftung.
Unter Bedingungen moderner Gesellschaften gewinnt
insbesondere die politische ffentlichkeit des
demokratischen Gemeinwesens eine symptomatische
Bedeutung fr die Integration der Gesellschaft. Komplexe
Gesellschaften lassen sich nmlich normativ nur noch ber
die abstrakte und rechtlich vermittelte Solidaritt unter
Staatsbrgern zusammenhalten. Zwischen Brgern, die sich
persnlich nicht mehr kennen knnen, kann sich nur noch
ber den Prozess der ffentlichen Meinungs- und
Willensbildung eine brchige Gemeinsamkeit herstellen und
reproduzieren. Der Zustand einer Demokratie lsst sich am
Herzschlag ihrer politischen ffentlichkeit abhorchen.
(Habermas, ffentlicher Raum und Politische ffentlichkeit,
in Zwischen Naturalismus und Religion, 2006, p. 25).
10
quelas/es com quem compartilho,
mais diretamente, das teorias e
experincias democrticas.
A Jrgen Habermas, pelos 45 anos de
Strukturwandel der ffentlichkeit, e os
15 anos de Faktizitt und Geltung.
11
CONSIDERAES PRELIMINARES
Dentre os temas fundamentais de Jrgen Habermas, encontramos
o de esfera pblica (ffentlichkeit); um tema explcito, ou o leitmotiv, na
grande maioria de seus escritos
1
. Ao lado de temas como Discurso (Diskurs)
e Razo (Vernunft), forma a trade conceitual que ocupou praticamente todo
seu trabalho cientfico e sua vida poltica
2
.
1 Kenneth Baynes (1992) The Normative Grounds of Social Criticism. Kant, Rawls, and Habermas.
State Univ. of New York Press, p.172.
2 Habermas, ffentliche Raum und politische ffentlichkeit, in Zwischen Naturalismus und Religion,
Suhrkamp, 2006, p. 16. Para uma sinopse do tema da esfera pblica, ver: Habermas (1973)
ffentlichkeit, in Kultur und Kritik. Suhrkamp [61-69], e Habermas (1974) The Public Sphere: An
Encyclopedia Article, in New German Critique 3 [49-55]; Hohendahl, P. U. (1974) Jrgen
Habermas: the Public Sphere, in New German Critique 3 [45-48]; Thompsom, J. B. (1993) The
Theory of the Public Sphere, in Theory, Culture & Society 10 [173-190]. Alm disso, ver: R. Heming
(1997) ffentlichkeit, Diskurs und Gesellschaft. Zum analytischen Potential und zur Kritik des
Begriffs der ffentlichkeit bei Habermas. Deutscher Universitt Verlag; Hohendahl (2000)
ffentlichkeit, Geschichte eines kritischen Begriffs. Stuttgart: Metzler Verlag. E as coletneas
organizadas por L. Wingert & K. Gnther (2001) Die ffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft
der ffentlichkeit. Festschrift fr Jrgen Habermas 70. Geburtstag. Suhrkamp; L. Laberenz (2003)
Schne neue ffentlichkeit. Beitrge zu Jrgen Habermas Strukturwandel der ffentlichkeit. VSA-
Verlag; F. Neidhardt (1994) ffentlichkeit, ffentliche Meinung, soziale Bewegung. Opladen:
Westdeutschland Verlag; C. Calhoun (1992) Habermas and the public sphere. Cambridge: MIT
Press. Para uma apresentao mais geral da obra de Habermas: A. Honneth (1999) Jrgen
Habermas: percurso acadmico e obras, in Revista Tempo Brasileiro 138 [9-32]; M. Restorf (1997)
Die politische Theorie von Jrgen Habermas. Marburg: Tectum; D. Horster (2001) Jrgen
Habermas zu Einfhrung. Hamburg: Junius; W. Reese-Schfer (2001) Jrgen Habermas. Frankfurt:
Campus; D. Rasmussen & J. Swindal (2002) Jrgen Habermas. Cambridge Univ. Press; R.
Wiggershaus (2004) Jrgen Habermas. Hamburg: Rowohlt; A. Edgar (2005) The Philosophy of
Habermas. Continental European Philosophy; H. Brunkhorst (2006) Habermas. Reclam Verlag. Ver
ainda dois cadernos especiais sobre Habermas: Jrgen Habermas: 60 Anos, in: Revista Tempo
Brasileiro 98 (1989); Jrgen Habermas: 70 Anos, in Revista Tempo Brasileiro 138 (1999). Por fim,
ver duas excelentes coletneas bibliogrficas: R. Grtzen (1982) Jrgen Habermas: Eine
Bibliographie seiner Schriften und der Sekundrliteratur 1952-1981. Suhrkamp; D. Douramanis
(1995) Mapping Habermas: A Bibliography of Primary Literature 1952-1995. University of Sidney.
12
Em sentido amplo, o tema da esfera pblica aponta para os
principais vrtices da teoria habermasiana e oferece um excelente ponto de
partida para compreender tambm outras noes importantes do arcabouo
terico habermasiano. Por exemplo, permite compreender o significado
poltico da teoria crtica habermasiana, que se traduz em termos de uma teoria
da democracia, e na qual a esfera pblica aparece como categoria-chave;
permite compreender a relao entre sociedade civil/Estado, essa zona de
conflitos e suas alteraes, na qual a esfera pblica desempenha um papel
maior ou menor, tem mais ou menos potencialidades; permite a abordagem da
perspectiva da formulao da teoria social, onde, no entanto, a esfera pblica
apenas um exemplo, e no o central; e, ainda, permite a abordagem do tema
da esfera pblica exclusivamente por ele mesmo: do ponto de vista do
contedo, das caractersticas, da infra-estrutura em si mesma.
Todavia, embora o tema permita movimentos em diferentes
direes, o recorte terico deste trabalho tem como foco o conceito normativo
de esfera pblica poltica. Com isso, ficam reservadas em segundo plano
outras questes mais gerais envolvendo a esfera pblica como, por exemplo,
a teoria da democracia, a relao sociedade civil-estado, ou a teoria social.
13
Desde o incio, Habermas tem posto em seus escritos sobre a
esfera pblica um acento poltico, que precisa ser explorada naquele vasto
campo outrora tradicionalmente imputado poltica
3
. Desde seus primeiros
escritos, Habermas tem sua ateno terica voltada para a esfera pblica
poltica e s reflexes sobre legitimidade democrtica
4
. Esfera pblica
(ffentlichkeit) a categoria central da linguagem poltica habermasiana
5
. o
espao da formao democrtica da vontade poltica, no qual so tematizados
os fundamentos da vida pblica e social. Ela, esfera pblica, constitui um
espao de mediao fundamental entre o sistema poltico e administrativo, por
um lado, e o mundo da vida, a sociedade civil e as instituies que
mediatizam, por outro lado. Constitui uma esfera de comunicao onde os
indivduos procuram tematizar, processar e resolver questes problemticas, e
desejam governar suas vidas pela discusso pblica em vista do entendimento
e consenso, antes que por outros meios.
No h dvidas de que a recepo e traduo da obra de Jrgen
Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, teve um papel importante no
processo de expanso do debate terico sobre o tema para os mais diversos
mbitos das cincias humanas, sociais e jurdicas. Esta situao estendeu as
discusses para alm do campo conceitual sobre o qual a formulao da
3 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, 1990, p. 51.
4 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 51; Habermas, ffentliche Raum und politische
ffentlichkeit, p. 25.
5 Brunkhorst, Habermas, Reclam, p. 15.
14
ffentlichkeit sempre se movimentou, provocou uma ampliao do campo
conceitual sobre o qual as discusses sobre o tema se movimentam j h
algum tempo. Grande parte do debate atual sobre o tema da esfera pblica
tem como referncia as investigaes de Jrgen Habermas
6
. Questes como
a traduo, incorporao e adequao da categoria, formulada inicialmente a
partir do contexto socio-histrico europeu dos sculos 18 e 19, e a expanso
das fronteiras para outros contextos e reas de conhecimento equivalentes ou
paralelos (p. ex.: traduo do termo alemo ffentlichkeit para public sphere,
e a referncia a novos temas, tais como a redescoberta da sociedade civil),
fazem com que s seja possvel falar da semntica da categoria de maneira
mais articulada e fidedigna retrospectivamente, apelando para a anlise
histrico-reconstrutiva da esfera pblica
7
.
No percurso analtico habermasiano, esfera pblica (ffentlichkeit)
compreende aquilo que pblico em oposio ao que privado, como
atividade que confere publicidade por oposio ao que secreto. ffentlichkeit
como publicidade nasce na Grcia antiga com uma distino entre a esfera
privada (oikos), que particular a cada indivduo e pertencente ao mundo
domstico, e a esfera pblica (polis), que comum aos cidados livres e que
se manifesta na agora. Estas duas esferas esto rigorosamente separadas.
Na esfera do oikos, faz-se a reproduo da vida: o reino da necessidade e da
6 Calhoun, Habermas and the Public Sphere, prefcio.
7 Peter Uwe Hohendahl, ffentlichkeit. Geschichte eines kritischen Begriffs, pp. 1-7.
15
transitoriedade est inscrito no mbito da esfera privada. Na esfera da polis, o
carter pblico se constitui na conversao, e a participao dos cidados na
vida pblica supe (ou est vinculada a) sua independncia na esfera privada
como dono de mercadorias e de trabalho social. Assim, a esfera pblica
constituda de modo distinto da esfera privada, pois somente luz da esfera
pblica aquilo que consegue aparecer, e tudo se torna visvel a todos. na
conversao dos indivduos entre si que as coisas se verbalizam e se
configuram publicamente, adquirem carter pblico. E aqui j emerge um
aspecto relevante do interesse de Habermas da configurao da ffentlichkeit:
o carter pblico da conversao
8
.
Na Idade Mdia, a contraposio entre pblico e privado no tinha
vnculo de obrigatoriedade. No existia uma anttese entre esfera pblica e
esfera privada segundo o modelo clssico antigo. No havia uma separao
entre as duas esferas. Entretanto, existia um conceito de representao, que
vinculava a pessoa autoridade, numa representao pblica da
autoridade. Esta representatividade pblica no se constitua num setor
social, mas se referia a algo como um status. De acordo com essa idia, a
8 Sobre a histria do conceito de esfera pblica, ver: Habermas, (1962) Strukturwandel der
ffentlichkeit. Luchterhand; Hohendahl, Peter Uwe (2000) ffentlichkeit, Geschichte eines
kritischen Begriffs. Stuttgart: Metzler Verlag; Sobre a reconstruo dos modelos de esfera pblica
republicana, liberal e deliberativa, ver: Seyla Benhabib, Models of public space: Hannah Arendt, the
liberal tradition and Jrgen Habermas, in Calhoun, Habermas and the public sphere. Cambridge:
MIT Press, pp. 73-98. No entanto, nesta intepretao de Benhabib predomina a tradio americana
do republicanismo (por isso Arendt e no Rousseau) e de liberalismo (por isso Ackermann e no
Kant ou Rawls).
16
representao no pode ocorrer seno na esfera pblica [...] No h nenhuma
representao que seja coisa privada
9
. A prpria evoluo da
representatividade pblica est ligada aos atributos da pessoa, a um rgido
cdigo de comportamento, em que a virtude precisa ser representada
publicamente. Entretanto, as formas pr-burguesas do domnio pblico, nas
quais a lei emanava da autoridade (despotismo encarnado no rei, senhores,
alto clero), comeam a definhar.
O advento da Modernidade e o projeto de racionalizao do poder
por parte de uma esfera pblica burguesa, que desenvolvia a idia de que a
dissoluo da dominao se vinculada na viso de uma razo pblica,
provocam a decadncia da representatividade pblica e fazem com que a
razo pblica seja identificada como a nica fonte legtima do poder. Trata-se
aqui da discusso sobre a legitimidade do estado absolutista. O objetivo
principal desse processo de democratizao a despersonalizao da
autoridade poltica e, com isso, tentar tornar o Estado mais reflexivo. O pano
de fundo a teoria da Modernidade, na qual o princpio da participao
pblica, baseado na idia kantiana de uso pblico da razo, foi fundamental
para a emergncia de uma esfera pblica autnoma de discusso e raciocnio
pblico. Com a inteno de uma sociedade que aos poucos ia se separando
do Estado, j aparece uma nova representatividade pblica, na qual o pblico
9 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 61.
17
j portador de uma outra publicidade, que quase no tem mais nada em
comum com a representativa. Por isso, j se pode falar numa separao entre
esfera pblica e esfera privada, tal como entendida no sentido moderno.
Na Modernidade, a esfera pblica constituda de modo distinto.
Constitutivas do contexto do capitalismo pr-industrial, onde se formam novos
elementos de uma nova ordem social, so as instituies estruturantes do
novo sistema social nascente: o Estado e o mercado. neste contexto que
Habermas tematiza sistematicamente a relevncia de um fato histrico novo,
uma outra instituio fundamental da sociedade moderna, a esfera pblica,
que no se confunde nem com o Estado (poder) nem com o mercado
(economia) . Esta separao fundamental para compreender a funo que
a esfera pblica assume como mediadora entre o setor privado e a esfera do
poder pblico. O substrato social no formado pelo Estado nem pelo
mercado, mas, sim, por formas de comunicao e raciocnio pblico que
emergem da sociedade civil, so tematizados na esfera pblica poltica e
conduzidos s instncias de legitimao e normatizao. Por isso, Habermas
busca valorizar esta emergncia de um centro potencial de uma comunicao
pblica um tipo de publicidade que constitui o fundamento histrico para as
modernas formas de comunicao pblica , este ncleo potencial de auto-
regulao social inerente esfera pblica. Isso viria a ser importante para seu
18
pensamento poltico: a esfera pblica poltica como um espao de discusso
pblica e do exerccio da crtica.
Ainda na Modernidade, a esfera pblica assume a funo poltica
de fazer a mediao entre a sociedade civil (interesses privados burgueses
estruturados conforme a lei do mercado) com o Estado (aparato estatal da
administrao pblica)
10
. A esfera pblica burguesa de tipo liberal, com seu
apelo ao universalismo (interesse geral) e a capacidade potencial de
racionalizao do poder e democratizao atravs da discusso pblica,
aparece ento como portadora deste potencial iluminista. A institucionalizao
normativa da esfera pblica torna-se necessria e fornece as garantias
jurdico-legais para regular a mediao entre a atividade estatal e a sociedade
civil burguesa. No entanto, por um lado, a concepo burguesa de esfera
pblica carrega uma contradio imanente: a sociedade civil busca se
apropriar da esfera do poder poltico para regular e garantir a prpria esfera de
interesses privados e, com isso, contradiz seu prprio princpio de
acessibilidade universal. Segundo Habermas, este o carter antagnico da
sociedade civil denunciado por Hegel e a crtica da ideologia burguesa
desmascarada por Marx
11
. Por outro lado, a estrutura da esfera pblica mudou
com a crescente interveno estatal na esfera da vida privada, com a
10 Gerhards & Neidhardt, Strukturen und Funktionen moderner ffentlichkeit. Wissenschaftzentrum
Berlin, 1990.
11 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, cap. 4.
19
ampliao dos direitos polticos e a expanso dos meios de comunicao de
massa. Estes foram alguns fatores importantes para a decomposio dos
contornos daquela esfera pblica burguesa; decomposio que caracterizou a
decadncia da dimenso pblica e a despolitizao da esfera pblica liberal.
Na filosofia poltica, a concepo de esfera pblica burguesa
representativa remete tradio liberal da poltica, que prevaleceu at a
primeira metade do sculo XX. A esfera pblica liberal de carter decisionista
pensada como um espao de conflito e de disputa por poder entre grupos de
interesse dominantes, que permite ao indivduo participar do processo
decisrio apenas pela escolha dos governantes pelo voto. O modo como
opera este procedimento no permite uma argumentao reflexiva sobre
preferncias valorativas, pois as vontades dos indivduos esto assentadas na
razo privada e no na razo pblica. A esfera pblica , assim, o lugar da
agregao de preferncias, com a ausncia de formas de participao que se
tornassem a fonte da justificao e legitimao do sistema poltico mais
democrtico.
Em contraposio concepo decisionista de participao
poltica e concepo representativa de exerccio do poder poltico, desde a
segunda metade do sculo XX, vem ganhando importncia o debate sobre a
natureza argumentativa e reflexiva da esfera pblica. A virada deliberativa da
20
teoria poltica mostra que h uma tendncia crescente em reavaliar o peso e
os mecanismos de participao democrtica e os elementos argumentativos
na formao da esfera pblica nos regimes democrticos. o caso de Jrgen
Habermas, que desde o incio de seus escritos sobre teoria da democracia
trata da anlise da categoria de esfera pblica e sua potencial natureza
argumentativa, e coloca nfase na prtica comunicativa como fonte geradora
da opinio pblica e busca do entendimento, capaz de fornecer legitimidade e
de influenciar as aes do sistema poltico e administrativo
12
.
A crtica aos problemas, limitaes e distores dos mecanismos
tradicionais de representao poltica e de tomadas de deciso (como
democracia representativa e como democracia eleitoral), sempre interessou
a Habermas. Embora a noo de esfera pblica continue a ser evocada nos
debates contemporneos sobre democracia, participao, deliberao,
legitimidade, sobre a natureza do processo poltico, como explicar que a idia
de democracia tenha tamanha aceitao por um lado, e de que as instituies
democrticas representativas estejam perdendo a vitalidade e caindo em
descrdito, por outro lado?
13
As evidncias do modo de operar e os resultados
dos sistemas representativos tradicionais no deixam de se mostrar: a crise da
12 Especialmente: Habermas (1962) Strukturwandel der ffentlichkeit. Luchterhand; Habermas
(1992) Faktizitt und Geltung. Suhrkamp.
13 Um dos livros que apresentam e discutem este estado de coisas a coletnea organizada por
Marcos Nobre e Vera S. Coelho (2004) Participao e Deliberao: Teoria Democrtica e
Experincias Institucionais no Brasil Contemporneo. So Paulo: Editora 34.
21
concepo eleitoral-decisionista e representativa de fazer poltica, em todos os
nveis; a incompatibilidade prtica da idia universal de poltica com as
implicaes eleitorais da democracia competitiva (quem conseguir tomar o
poder vai querer dividi-lo com seus oponentes?); um quase que
desacoplamento entre os representantes e os representados, um abismo
entre eleitos e eleitores, o que gera problemas de legitimidade; a poltica
guiada, no pela viso do bem comum, entendimento, melhores argumentos,
mas por interesses privados, numa mera disputa pelo poder; a
profissionalizao da poltica, decises polticas nas mos de
especialistas/profissionais da poltica; comercializao das eleies pelos
partidos, que investem preferencialmente no marketing poltico; influncia
confusa pelos meios de comunicao na esfera da opinio pblica; uso no
transparente do poder governamental, com uma zona cinzenta entre as
promessas e a prtica, e no se segue mais os programas polticos; o
desinteresse por parte dos representantes polticos com a qualidade das
prticas de participao democrticas, importa apenas a quantidade de votos;
sem falar na apatia e no desinteresse quase que generalizado em relao
participao, justamente pelo descrdito nos polticos e nas instituies
representativas, tal como as conhecemos. Este diagnstico crtico expe
apenas algumas das nuances que acabam afetando a credibilidade do modelo
representativo de fazer poltica, que atingem a esfera pblica poltica como
22
espao pblico de discusso e deliberao, atrofiam a qualidade e o nvel
discursivo da esfera pblica, e exigem uma outra perspectiva de compreenso
da natureza do processo democrtico. Nesse sentido, a formulao de uma
teoria deliberativa da democracia oferece uma sada alternativa.
A novidade da proposta habermasiana que ela no se limita a
processos eleitorais. Diferentemente dos canais tradicionais de agregao de
interesses, Habermas busca ampliar a base de participao democrtica e
justificao da legitimidade poltica a partir do alargamento das possibilidades
de participao na esfera pblica para alm das esferas formais do sistema
poltico institucionalizado. por isso que a reformulao e a configurao da
esfera pblica deliberativa nos anos 90 viria a ser to importante: esses novos
arranjos so pensados a partir da categoria de esfera pblica. A reformulao
da categoria de esfera pblica permitiu a Habermas um rearranjo capaz de
ampliar o espectro de possibilidades de participao democrtica, deliberao
pblica e a circulao de canais de poder poltico para alm dos mecanismos
formais institucionais do sistema poltico. A formao da opinio e da vontade
poltica no se restringe apenas s esferas formais do poltico, mas precisa ser
sensvel aos resultados das esferas informais do mundo da vida e das
diversas organizaes da sociedade civil. Isso permite novos desenhos
institucionais de participao dos atores da sociedade civil e novas dinmicas
de tomada de decises.
23
As mudanas na estrutura poltica institucional a partir do novo
modelo de circulao do poder poltico formulado por Habermas nos anos 90,
torna o sistema poltico mais permevel e aberto introduo de novos
espaos participativos, novos arranjos institucionais de participao com poder
de deliberao e deciso; novos mecanismos de controle, mais democrticos,
capazes de ampliar a institucionalizao democrtica oferecendo novas
oportunidades de participao (por exemplo, na formulao de polticas
pblicas e na regulao da ao governamental; no desenho, superviso,
monitoramento da implementao e gerenciamento de programas e polticas
pblicas). Alm disso, os novos espaos participativos ao adquirir relevncia
institucional ainda so importantes nesse sentido: permitem outorgar voz
poltica a grupos da sociedade civil tradicionalmente marginalizados ou com
peso desprezvel dos processos decisrios; contribuem para o reconhecimento
e a incluso de indivduos e grupos que ganham oportunidades de influenciar
polticas pblicas que os afetam diretamente mediante a emergncia de novos
arranjos; favorecem potencialmente o protagonismo de grupos sociais sub-
representados ou desfavorecidos nas instituies representativas tradicionais;
enfim, o aprofundamento da democracia pelas novas relaes institucionais
entre sociedade civil, esfera pblica e sistema poltico alavanca a oportunidade
dos atores da sociedade civil de fomentar o seu potencial emancipador.
24
O ponto de partida da discusso sobre a esfera pblica a obra
Strukturwandel der ffentlichkeit
14
. A inteno de Habermas derivar um
modelo de esfera pblica (tipo ideal) dos desenvolvimentos histricos da
emergncia de uma esfera pblica burguesa, esclarecida e politizada,
principalmente no sculo XVIII e XIX europeu (com nfase na Inglaterra,
Frana e Alemanha), e sua transformao, progressivo declnio e
desaparecimento das condies que alimentavam a esfera pblica, no sculo
XX. Habermas estava interessado nos aspectos normativos (a idia de um
interesse geral, de leis ou regras universais e racionais), bem como na crtica
ao modelo liberal de esfera pblica, que no soube ser capaz de manter as
promessas da racionalizao do poder e da neutralizao da dominao. A
esfera pblica dominada pelos meios de comunicao de massa e infiltrada
pelo poder torna-se um cenrio de manipulao da busca por legitimidade.
Para explicitar o potencial ambivalente da esfera pblica, capaz de carregar
tanto um potencial crtico como um potencial manipulativo, Habermas introduz
a distino entre as funes crticas e manipulativas da esfera pblica, para
distinguir entre os genunos processos de comunicao pblica e aqueles que
tm sido subvertidos pelo poder. Esta inteno prov um modelo provisrio
de esfera pblica, como esboado no final do livro. O modelo crtico,
14 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit. Luchterhand, 1962 (Suhrkamp, 1990). Importante ver
tambm: Habermas, Ein Gesprch ber Fragen der politischen Theorie, in Die Normalitt einer
Berliner Republik. Kleine Politische Schriften VIII, Suhrkamp, 1995; Habermas, ffentliche Raum
und politische ffentlichkeit, in Zwischen Naturalismus und Religion, Suhrkamp, 2006.
25
formulado a partir dos traos normativos de uma esfera pblica politizada, ao
ser aplicado realidade das sociedades capitalistas avanadas, no consegue
ser um padro plausvel de medida de legitimidade. Este diagnstico de uma
esfera pblica encolhida, atrofiada, despolitizada, apresenta o problema da
efetiva realizao do princpio da esfera pblica, cuja base institucional est
corrompida. A legitimidade que se desenvolve na esfera pblica no
consegue mais ser uma base normativa efetiva para uma teoria da
democracia. Por isso, a tentativa de Habermas (que daqui segue) em
recuperar um potencial normativo ou encontrar um modo de fundament-lo,
permanece aberta
15
.
A temtica sobre a esfera pblica e a anlise das possibilidades
de legitimidade democrtica tem continuidade em alguns pequenos escritos
polticos, mas j apontando para uma mudana fundamental no arcabouo
terico habermasiano: no mais a esfera pblica no contexto da mediao
entre sociedade civil e Estado, mas no quadro terico da teoria da ao
comunicativa e do conceito dual de sociedade como sistema e mundo da vida.
Isso fica claro no texto Technik und Wissenchaft als Ideologie
16
,
com a
abordagem do tema da esfera pblica sob o foco da integrao do progresso
tcnico em reas do mundo da vida, bem como a reduo das tarefas prtico-
15 Nesse sentido, ver: Lubenow, A subverso do princpio da publicidade em Habermas. Monografia.
UNIJU, 1999.
16 Habermas, Technik und Wissenschaft als 'Ideologie'. O ttulo do artigo d nome coletnea:
Technik und Wissenschaft als 'Ideologie'. Suhrkamp, 1968.
26
polticas a uma soluo de racionalidade tcnica (discusso em torno da tese
da tecnocracia), da cientificizao da poltica
17
. O texto j uma outra
tentativa de explicar melhor a constelao que foi alterada, a partir de uma
reformulao dessa nova constelao, na qual Habermas j comea a
elaborar um novo marco terico, introduzindo a distino central entre dois
tipos de ao (instrumental e comunicativa)
18
.
No entanto, apesar de introduzir certas modificaes, mesmo
assim Habermas no encontra uma resposta satisfatria para explicar a
questo sobre a temtica da esfera pblica e sua relao emprica com a
poltica e a cincia nas sociedades capitalistas avanadas. Essa questo
continuar aberta enquanto no puder ser elaborada uma teoria (da crise) do
capitalismo avanado
19
. Em Legitimationsprobleme im Sptkapitalismus
20
, o
tema da esfera pblica, anteriormente analisado do ponto de vista histrico,
passa a ser visto agora sob os aspectos normativos e scio-tericos, o que
permite uma anlise das tendncias a crises sob as condies alteradas nas
sociedades do capitalismo avanado, e o problema da crise de acumulao e
as polticas compensatrias da interveno do Estado. A crescente
necessidade de conseguir lealdade e legitimao viria a se transformar na
maior ameaa ao mundo da vida. Se, desde o incio, Habermas est
17 Habermas, introduo nova edio de 1971 de Theorie und Praxis, pp. 11ss.
18 Habermas, Technik und Wissenschaft als 'Ideologie', p. 62.
19 Habermas, Theorie und Praxis, 1971, p. 14.
20 Habermas, Legitimationsprobleme im Sptkapitalismus. Suhrkamp, 1973.
27
interessado nas condies de comunicao sob as quais pode dar-se uma
formao discursiva da opinio e da vontade poltica, e com as condies para
o seu exerccio sob condies institucionais
21
, no entanto, encontra
dificuldades nas tentativas em recuperar o potencial normativo da esfera
pblica, ou melhor, um modo de fundament-lo nas instituies do capitalismo
avanado. Com problemas para prognosticar as possibilidades de
revitalizao de tal zona de conflitos que tendam para a revitalizao de uma
esfera pblica despolitizada, Habermas apenas apresenta tendncias gerais
para as crises intrnsecas estrutura do capitalismo avanado. A esta altura
da argumentao habermasiana, as intenes gerais sobre as possibilidades
de reabilitao da esfera pblica como espao de participao pblica nas
sociedades capitalistas avanadas tornam-se problemticas. Habermas no
consegue vislumbrar uma estrutura terico-metodolgica que sirva de sustento
para uma teoria normativa da legitimidade democrtica
22
. No encontra um
modo de fundamentar sua esperana para a realizao mais efetiva disto na
sua explicao das instituies efetivamente existentes do capitalismo
avanado. por isso que Habermas comea a se mover para um quadro
terico diferente: a teoria da ao comunicativa e a concepo dual de
sociedade como sistema e mundo da vida. A partir de ento, Habermas no se
restringe mais a procurar um potencial normativo para a esfera pblica no
21 Habermas, prefcio, p. 16.
22 Habermas, prefcio, p. 33.
28
conjunto de instituies situadas no tecido social, e sim numa rede de
comunicao e articulao de fluxos comunicativos, em que a formao da
opinio e da vontade vem a pblico. A noo de mundo da vida seria capaz
de fornecer essas condies
23
.
Na transio para o universo terico da Theorie des
kommunikativen Handelns, Habermas retoma o tema da esfera pblica no
segundo volume, enquanto discute a distino entre sistema e mundo da
vida
24
. O ponto de partida a distino terica entre sistema e mundo da
vida uma anlise da racionalizao social da perspectiva dual da sociedade
como um sistema e mundo da vida (Lebenswelt) , e uma clarificao do
modo no qual o princpio normativo da tica do discurso por meio do modelo
da ao comunicativa que se reflete, em vrios graus, nas instituies do
mundo da vida. Nesse quadro terico, a esfera pblica assume a funo
simblica de integrao social (solidariedade abstrata) e de assegurar a
autonomia do mundo da vida frente invaso dos imperativos sistmicos
25
.
No
entanto, a obra sobre a ao comunicativa no consegue dar uma resposta
convincente para a questo de como as estruturas do mundo da vida
(solidariedade, cultura e identidade) podem esboar um movimento contrrio,
23 Nesse sentido, ver: Lubenow, A despolitizao da esfera pblica em Jrgen Habermas.
Dissertao de Mestrado, UFPB, 2002. Com mesmo ttulo, in Garcia (ed.) Linguagem,
Intersubjetividade e Ao. Ed. Uniju, pp. 273-284. Iju.
24 Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns. Suhrkamp, 2vol, 1981.
25 Nesse sentido, ver: Lubenow, A reorientao da esfera pblica na 'Teoria do agir comunicativo' de
Jrgen Habermas, in Revista Ideao 14 (2005), pp. 37-59. Feira de Santana.
29
no apenas de resistncia, mas tambm de efetivao de uma prtica
social discursiva nos contextos sistmico-institucionais (embora Habermas cite
o exemplo da experincia de novos movimentos sociais). A esfera pblica no
est ligada diretamente aos complexos institucionais e, por isso, pode apenas
siti-los. Nesse sentido, Habermas novamente precisa repensar sua
estrutura terica. Para tanto, dois passos subseqentes so aqui importantes
para a soluo da questo envolvendo a esfera pblica, e que permanecem
em aberto: o prefcio terceira edio da Theorie, no qual Habermas
reconhece a necessidade de revigoramento do institucional por parte do
mundo da vida
26
, e a reformulao de questes pendentes sobre a esfera
pblica no prefcio nova edio de Strukturwandel, de 1990
27
.
O prefcio nova edio de Strukturwandel der ffentlichkeit o
momento central da reformulao do tema da esfera pblica em Habermas: a
reformulao do contedo da esfera pblica e uma reformulao do lugar que
ela ocupa na relao sistema-mundo da vida (da concepo dual de
sociedade). Estes dois momentos analticos ficam claros no texto do
prefcio. Alm disso, o prefcio tambm um importante exame
autocrtico: o reconhecimento das limitaes e deficincias da categoria
formulada anteriormente, seja por razes prprias, de entendimentos
diferentes sobre a possibilidade de legitimidade democrtica e de modos
26 Habermas, prefcio 3 edio de Theorie des kommunikativen Handelns, 1985.
27 Habermas, prefcio nova edio de Strukturwandel der ffentlichkeit, 1990.
30
diferentes de enquadramento terico, seja por observaes crticas externas,
como a reconceituao da categoria esfera pblica pela teoria social
contempornea. Com isso, temos no prefcio uma nova estratgia terica de
delegar esfera pblica um papel mais importante; posio relevante que est
vinculada tambm redescoberta da sociedade civil. E a questo que surge :
qual a chance de a sociedade civil canalizar influncias na esfera pblica e
promover mudanas no sistema poltico e administrativo? Como transformar
poder comunicativo em poder administrativo? Enfim, depois da reformulao
da categoria e depois da modificao da estrutura terica da esfera pblica,
como resolver a questo da nfase na institucionalizao? Da formulao
dessas respostas depende a compreenso da filosofia poltica habermasiana.
Aqui se abrem duas possibilidades de investigao. A primeira:
um programa de pesquisa emprica, pois Habermas afirma no prefcio que
estas questes no podem ser respondidas sem considervel pesquisa
emprica
28
. A segunda: a teorizao da esfera pblica politicamente influente,
empreendimento de Habermas j no artigo Volkssouveranitt als Verfahren.
Ein normativer Begriff der ffentlichkeit (1988), e, de modo mais detalhado
28 Cf. Habermas, prefcio, p. 47. Para um material emprico sobre esfera pblica e poltica
deliberativa: Acta Poltica. International Journal of Political Science, vol. 40, n. 2-3 (2005), editado
por A. Bchtiger e J. Steiner. Edio especial sobre Empirical Approaches to Deliberative
Democracy, com um artigo de Habermas, Concluding comments on empirical approaches to
deliberative politics [pp. 384-392]. Ver tambm outro artigo de Habermas (2006) Political
communication in media society. Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact
of normative theory on empirical research (Verso eletrnica disponvel em:
http://www.icahdq.org/Speech_by_Habermas.pdf); Nobre & Coelho (2004) Participao e
deliberao: teoria democrtica e experincias institucionais no Brasil contemporneo. Editora 34.
31
numa teoria da democracia, na obra Faktizitt und Geltung (1992)
29
. No
entanto, apesar do esboo de um novo quadro argumentativo no prefcio de
1990, com nfase na institucionalizao; apesar da tentativa de dar uma nova
articulao relao entre teoria e prxis (e aqui entra o conceito de
sociedade civil); apesar de introduzir esses elementos novos, o prefcio
ainda continua preso quela noo de sitiamento da teoria da ao
comunicativa
30
.
Em Faktizitt und Geltung, a categoria de esfera pblica
tematizada vinculada s novas discusses sobre a sociedade civil, assumindo
um papel mais ofensivo dentro de uma nova compreenso da circulao do
poder poltico, ancorado num amplo conceito procedimental e deliberativo de
democracia
31
. Nesse caminho, Habermas abandona a metfora do
sitiamento (Belagerung), sem inteno de conquista, e a substitui, adotando
o modelo das eclusas (Schleussen), com nfase na institucionalizao. Este
projeto de institucionalizao se orienta pelo paradigma procedimental de
democracia. No entanto, apesar do redimensionamento da esfera pblica, no
muda tanto a posio, a funo mediadora continua. O que muda so algumas
caractersticas constitutivas, de infra-estrutura interna, e muda a nfase da
orientao da esfera pblica, agora um carter mais ofensivo sobre o poltico.
29 Cf. Habermas, Ein Gesprch ber Fragen der politischen Theorie, in Die Normalitt einer Berliner
Republik, Suhrkamp, 1995, pp. 135-164. Vou explorar aqui esta segunda perspectiva da teorizao
da esfera pblica, e no o campo de investigao das abordagens empricas.
30 Cf. Habermas, prefcio, p. 44.
31 Habermas, Faktizitt und Geltung. Suhrkamp, 1992.
32
A esfera pblica continua sendo uma estrutura de mediao, mas que prioriza
as esferas informais do mundo da vida, as tematiza e as encaminha, via
processos deliberativos, para as instncias formais do sistema poltico e
administrativo. A esfera pblica uma estrutura de comunicao que elabora
temas, questes e problemas politicamente relevantes que emergem da esfera
privada e das esferas informais da sociedade civil e os encaminha para o
tratamento formal no centro poltico
32
. Nesse sentido, ela carrega a expectativa
normativa de abrir os processos institucionalizados s instncias informais de
formao da opinio e da vontade poltica. Esta expectativa normativa tem um
duplo carter: funda-se no jogo entre a formao da opinio e da vontade
constituda institucionalmente e os fluxos de comunicao espontneos e das
esferas informais do mundo da vida
33
. A prpria noo de esfera pblica
carrega essa dupla dimenso: um nvel informal, constitudo de fluxos de
comunicao e espaos informais de formao da vontade, ancorados na
sociedade civil e no mundo da vida, mas externos aos procedimentos
institucionalizados dos sistemas poltico e administrativo; e um nvel formal,
constitudo de mecanismos e competncias de ao que se situam, no no
centro, mas numa periferia interna ramificada do sistema poltico
institucionalizado. No entanto, a esfera pblica formal, apesar de abrir o
processo de institucionalizao, no institucionalizada, nem sistmica. No
32 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 432-35.
33 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 625.
33
final das contas, a prpria esfera pblica tem que resolver, por seus prprios
meios, a articulao recproca de como se d o engate entre as esferas
informais e formais.
Nesta articulao, a categoria do direito tambm assume uma
funo mediadora importante
34
. Com um papel claramente mais integrador em
Faktizitt... (do que na teoria da ao comunicativa), o direito responsvel
por traduzir a linguagem das estruturas comunicativas das interaes simples
do mundo da vida para as estruturas da interao abstrata. O direito funciona
como mediador entre as estruturas comunicativas das esferas privadas da
sociedade civil e do mundo da vida s estruturas institucionais especializadas;
ligando as estruturas das interaes simples para o mbito das interaes
abstratas. O direito vem a ser a instncia mediadora entre sistema e mundo da
vida, desempenhando o papel fundamental de transformador do poder
comunicativo em poder administrativo.
34 Sobre isso, ver: Lubenow & Neves (2007) Entre promessas e desenganos: lutas sociais, esfera
pblica e direito, in Nobre (Org.) Direito e democracia: Um guia de leitura. So Paulo: Ed. Malheiros
(no prelo).
34
Este precurso da categoria de esfera pblica em Habermas ajuda
a apresentar o tema, situar o problema e formular a questo envolvendo a
esfera pblica. explcito que a partir das reformulaes do prefcio de
1990, a compreenso da estrutura e funo da esfera pblica j no mais a
mesma em relao quela formulada anteriormente. E neste contexto de
uma nova formulao que surge uma srie de questes que precisam ser mais
bem elucidadas.
Reformulao significa um momento importante de autocrtica.
Mas, o que significam as alteraes de perspectiva introduzidas? Podemos
falar numa ruptura com as investigaes anteriores? Se sim, em que sentido?
Quais so os pontos que de fato mudaram? Como entender essas
reformulaes? Seria a reconstruo habermasiana uma autocrtica aos seus
escritos sobre a esfera pblica na obra sobre a ao comunicativa, ou com
todo bloco temtico anterior? Seria em relao ao contedo da esfera pblica
ou a sua posio na concepo da sociedade como sistema e mundo da vida?
A autocrtica pode ser explicada pelo rearranjo interno em relao esfera
pblica ou em relao ao seu papel dentro de uma macroestrutura terica da
teoria da ao comunicativa e da teoria da sociedade? Seria possvel abordar
o tema da esfera pblica juntando as duas perspectivas de leitura? Se sim, de
que maneira? Se no, porque no? E, por fim, qual seria o ncleo duro da
categoria de esfera pblica?
35
A retomada reconstrutiva do tema da esfera pblica pode ser
desdobrada em dois eixos que se correlacionam:
(a) Reformulao do contedo da esfera pblica, limitaes e
deficincias, agora com novas caractersticas, novos papis, uma penetrao
mais efetiva, ampliao da categoria de esfera pblica, alargamento da infra-
estrutura, da base social da esfera pblica (infra-estrutura social era restrita)
35
;
(b) Reformulao da relao sistema-mundo da vida, e o
reposicionamento da esfera pblica no conceito dual de sociedade, com
nfase na institucionalizao. O novo referencial terico da esfera pblica
politicamente influente se orienta pelo paradigma procedimental de
democracia, que tem por base a rejeio da tese do desacoplamento e a
substituio por um novo modelo de circulao do poder (eclusas),
intermediado tambm pelo direito
36
.
35 Para compreender esta transio, so importantes: Strukturwandel der ffentlichkeit (Luchterhand,
1962) e o Prefcio nova edio (Suhrkamp, 1990). O livro de Cohen & Arato, Civil society and
political theory (MIT Press, 1992) e a coletnea editada por Calhoun, Habermas and the public
sphere (MIT Press, 1992), esta com discusses crticas de comentadores, algumas das quais
incorporadas por Habermas, ajudam a elucidar esta reformulao.
36 Para compreender esta transio, so importantes: Theorie des kommunikativen Handelns
(Suhrkamp, 1981) e Faktizitt und Geltung (Suhrkamp, 1992). Alm disso, tambm so referncias
esclarecedoras dessa passagem, a entrevista de Habermas, Ein Gesprch ber Fragen der
politischen Theorie, in Die Normalitt einer Berliner Republik, (Suhrkamp, 1995), e a coletnea
editada por White, The Cambridge companion to Habermas (Cambridge Press, 1995). Ver ainda o
livro de Erik O. Eriksen (2003) Understanding Habermas: communicative action and deliberative
democracy. London: Continuum.
36
Como se v, temos aqui duas vias de leitura da reformulao da
esfera pblica, e o prefcio de 1990 faz a ligao entre estes dois momentos.
Nossa investigao trabalha com a hiptese de que possvel fazer as duas
coisas, de que ambas so importantes, e que nenhuma tem primazia sobre a
outra. A pergunta sobre a possibilidade de se juntar as duas perspectivas de
leitura surge de uma anlise da literatura sobre o tema da esfera pblica em
Habermas, leituras que do nfase ou ao aspecto do contedo da esfera
pblica, ou ao seu reposicionamento no contedo de uma teoria do direito e da
democracia - pois se trata de duas coisas distintas. Mas, apesar de serem
relativamente independentes uma da outra, as duas coisas andam
paralelamente. E, apesar de ir assumindo diferentes feies, a funo de
mediao e a dimenso ambivalente da esfera pblica permanecem o
potencial emancipatrio de gerar comunicativamente a legitimidade do poder,
e o potencial manipulativo de gerar lealdade pelo poder
37
. Este o movimento
terico central
38
.
37 Isso fica claro na introduo dos conceitos convergentes de opinio pblica (crtica e manipulativa)
em Strukturwandel..., na descrio da esfera pblica como constituda de dois processos que se
entrecruzam (comunicativo e manipulativo) na Theorie..., e em Faktizitt..., onde esfera pblica se
constitui nitidamente de duas dimenses (informal e formal). No entanto, isso no significa que as
dimenses ambivalentes se correspondam nos diferentes momentos. Por isso, Habermas
permanece com a inteno que guiou o estudo at aqui como um todo: a anlise e descrio
realista da esfera pblica infiltrada pelo poder, e a introduo da distino entre as funes crticas
e aquelas funes que pretendem influenciar as decises para mobilizar poder, lealdade ou
comportamento conformista. Habermas continua a acreditar que o conceito de esfera pblica
operativa no setor poltico, tal como desenvolvido em 1962, ainda prov uma perspectiva analtica
apropriada para o tratamento deste problema (Habermas, prefcio, p.28).
38 Nesse sentido, ver: Lubenow, Esfera pblica: sobre a modalidade da autocrtica em Habermas, in
Anais do II Encontro da Ps-Graduao do IFCH/Unicamp, Campinas, 2006.
37
A organizao da investigao da categoria de esfera pblica se
divide em dois momentos distintos, ambos constitudos de dois captulos:
A Parte I, composta pelos dois primeiros captulos, focaliza os
pressupostos tericos da categoria de esfera pblica e suas reformulaes
atravs do prefcio de 1990 a Strukturwandel der ffentlichkeit. O primeiro
captulo situa o ponto de partida do tema da esfera pblica em Habermas;
apresenta a gnese, a mudana estrutural e a decadncia do modelo liberal
de esfera pblica burguesa. Segundo as anlises de Habermas, este modelo
de esfera pblica apresenta problemas estruturais no mbito discursivo da
comunicao pblica. De um espao de discusso e exerccio da crtica, a
esfera pblica torna-se uma esfera dominada pelos meios de comunicao de
massa, infiltrada pelo poder. Este diagnstico negativo de uma esfera pblica
despolitizada apresenta o problema da efetiva realizao do princpio da
esfera pblica e as condies institucionais para o seu exerccio, e deixa em
aberto a questo sobre uma possvel repolitizao da esfera pblica, em
identificar possveis estratgias para preservar o princpio normativo da esfera
pblica, mas diferente das formas burguesas. No final do captulo, apresenta-
se alguns comentrios crticos, muitos dos quais responsveis pela
reorientao da categoria de esfera pblica sobre uma estrutura terica
diferente.
38
O segundo captulo pergunta pelas principais reformulaes
posteriores da categoria de esfera pblica no prefcio a Strukturwandel, de
1990, e que apontam para uma estrutura terica modificada. A retomada da
esfera pblica, vinculada discusso da redescoberta da sociedade civil na
dcada de 1980, fornece uma perspectiva terica para responder a questo
sobre a repolitizao da esfera pblica, introduzida, mas no resolvida em
Strukturwandel, de 1962 (sobre quais as possibilidades da sociedade civil
canalizar influncias e promover mudanas), tendo agora como referncia
terica certas garantias de novos arranjos institucionais, que poderiam ajudar
a responder a questo sobre a ao recproca entre solidariedade scio-
integrativa do mundo da vida com os procedimentos no nvel poltico. No final
do captulo, apresenta-se alguns discursos crticos bastante influentes nas
revises e apropriaes crticas.
A Parte II, composta pelos captulos 3 e 4, analisa a categoria de
esfera pblica medida que esta passa a ser incorporada no quadro mais
amplo da ao comunicativa, da concepo dual de sociedade e da teoria
poltica deliberativa. O terceiro captulo apresenta a transio da categoria de
esfera pblica desenvolvida na obra inicial para as formulaes especficas de
uma esfera pblica comunicativa e que tem um papel mediador importante na
compreenso dual de sociedade como sistema e mundo da vida. Pergunta
pela relao da esfera pblica com a noo de mundo da vida. O modelo de
39
uma esfera pblica despolitizada tornou-se questionvel por no fornecer um
critrio normativo plausvel sob o qual poderia emergir uma formao
discursiva da opinio e da vontade poltica e se desenvolver legitimidade
democrtica. Por isso, a elaborao de uma estrutura terica diferente na
Theorie. E nesta nova arquitetnica, Habermas passa ento a descrever uma
esfera pblica caracterizada por dois princpios opostos de gerao de
legitimidade que acabam colidindo sobretudo na esfera pblica. Na
reinterpretao em termos da ao comunicativa, a esfera pblica assume a
funo de proteger e garantir a autonomia do mundo da vida frente aos
imperativos sistmicos. No entanto, este modelo defensivo (como ser
mostrado) de esfera pblica dificulta as possibilidades de revigoramento e
democratizao do sistema poltico por parte da solidariedade social nascida
do mundo da vida. Nesse sentido, Habermas novamente precisa repensar sua
estrutura terica. E tambm aqui as vozes crticas tm um papel importante.
O quarto captulo pergunta pela nova funo da categoria de
esfera pblica no novo modo de compreender a circulao do poder poltico,
ancorado num amplo conceito procedimental de democracia. Nessa
contrapartida, a esfera pblica assume um carter mais ativo junto aos
complexos institucionalizados do sistema poltico. Analisa as reformulaes da
compreenso da relao entre sistema e mundo da vida, a estrutura e o
funcionamento da concepo procedimental de democracia, da concepo
40
procedimental de direito em relao com a categoria de esfera pblica
deliberativa. Por fim, os comentrios crticos levantam questes sobre a esfera
pblica que se tornaram problemticas para a literatura e que poderiam ser
melhor investigadas.
41
PARTE I
42
43
CAPTULO I:
A CATEGORIA DE ESFERA PBLICA: PRESSUPOSTOS TERICOS
O ponto de partida da discusso habermasiana sobre a categoria
de esfera pblica a tese de livre-docncia Strukturwandel der ffentlichkeit
39
.
Nesta obra, Habermas busca delinear a gnese scio-histrica da categoria
ffentlichkeit, uma reconstruo histrica do desenvolvimento da categoria
nas sociedades modernas. Uma anlise da estrutura e funo do modelo
liberal da esfera pblica: origem, evoluo e transformaes scio-estatais da
esfera pblica burguesa - traos de uma formao histrica que alcanou
hegemonia. O ponto nodal dessa trajetria a passagem do sculo XVIII ao
XX, que trata da emergncia de uma esfera da vida pblica esclarecida e
39 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit (Luchterhand 1962; Suhrkamp, 1990). A edio a ser
utilizada aqui se refere reedio publicada em 1990 pela Suhrkamp, com um novo prefcio.
Embora j tenha escrito algo anteriormente, como o captulo: Habermas, ber den Begriff der
politische Beteiligung, in Student und Politik, 1961, pp. 11-56.
44
politizada, principalmente no sculo XVIII europeu, e sua transformao, o
progressivo declnio e o desaparecimento das condies que alimentavam a
esfera pblica burguesa, no sculo XX. O resultado deste processo? O
fracasso do modelo liberal da esfera da opinio pblica que surgiu no sculo
XVIII e persistiu, debilmente, nas democracias do Estado social. A esfera
pblica surgiu como um espao pblico de discusso e exerccio da crtica,
cujo resultado aparece articulado na forma de opinio pblica. No entanto,
esta concepo crtica de opinio pblica reorientada para algo como
publicidade (j mais no sentido da Publizitt enquanto propaganda), na qual
a opinio pblica trabalhada com fins manipulativos. Crescentes direitos e
liberdades formais so, ento, compatveis com a crescente manipulao da
esfera pblica.
Habermas busca fazer uma leitura histrico-social da emergncia
de um centro potencial de comunicao pblica da sociedade civil burguesa
organizada em certos contextos nacionais como a Inglaterra, Frana e
Alemanha. Nessa trajetria, a esfera pblica surgiu como um espao de
discusso e exerccio da crtica, independente da (ou que no segue
puramente a) lgica do mercado e do Estado, e que foi capaz de impulsionar,
a partir de sua eficcia poltica, os desdobramentos necessrios para a
democratizao democracia aqui entendida como a capacidade de uma
comunidade poltica agir sobre si mesma das formas pr-burguesas de
45
dominao, racionalizando o poder vinculando a dissoluo da dominao
viso de uma publicidade, baseada no discurso crtico e racional. O interesse
de Habermas na configurao da categoria de esfera pblica, por que e como
chegou a formul-la, vem da seguinte questo de fundo: sob quais condies
de comunicao pblicas pode dar-se uma formao discursiva da opinio e
da vontade poltica (uma base, esprito sustentador), e sob que condies
ela pode ser institucionalizada Algo que tambm est ligado diretamente ao
modo de criao da legitimidade. O princpio da publicidade como teoria
emancipatria, baseada na idia kantiana de uso pblico da razo, foi
fundamental para a emergncia de uma esfera pblica autnoma de
discusso, raciocnio pblico e exerccio da crtica.
1.1 Estrutura e funo da esfera pblica em Strukturwandel der ffentlichkeit
A categoria de esfera pblica burguesa refere-se a uma esfera
pblica poltica, que teve sua existncia objetiva configurada a partir de uma
esfera pblica literria, do estabelecimento de um moderno Publikums literrio
que se constituiu em torno de conversaes sobre literatura e arte. A esfera
pblica literria se configura como uma esfera pblica sem conotao poltica,
46
mas que revela um raciocnio de natureza pblica. Da famlia burguesa fluem
as experincias de uma subjetividade que busca o debate pblico. O debate
pblico em relao s experincias privadas da subjetividade que se origina
da esfera ntima da famlia objetiva o esboo literrio de uma esfera pblica na
medida em que transformava suas conversaes em aberta crtica.
A configurao de uma esfera pblica literria, a partir de suas
instituies ou centros da crtica literria como os cafs, os sales e
associaes literrias, caracterizou uma anttese cultural - e posteriormente
poltica - sociedade aristocrtica. Caracterizou-se como uma esfera crtica
40
.
A institucionalizao de uma crtica cultural atravs dos jornais favoreceu a
publicidade de parte dessa crtica inicialmente cultural. Os jornais foram os
instrumentos publicitrios que possibilitaram a publicidade desaa crtica de
argumentao literria e cultural. Entretanto, o processo de efetivao de uma
publicidade da crtica cultural faz com que acontea uma espcie de
refuncionalizao da esfera pblica literria. O ingresso das discusses tanto
polticas como econmicas no raciocnio pblico cultural uma politizao da
cultura e da arte fez com que este pblico comeasse a se apropriar da
esfera do poder pblico controlado pela autoridade poltica e a se transformar
numa esfera que exerce a crtica contra o poder do Estado. A esfera pblica
40 A opinio das pessoas privadas viria a se tornar pblica pelo exerccio (procedimento) da
racionalidade crtica. Apenas a partir da o conceito de opinio pblica pensado em termos de
discurso e, com isso, um carter universal, abstrato (Hohendahl, ffentlichkeit - Geschichte eines
kritischen Begriffs, p. 18).
47
literria, seu conjunto de experincias, graas as suas prprias instituies e
plataformas de discusso, ingressa tambm na esfera pblica.
A conscincia de que a esfera pblica poltica tem de si mesma
intermediada pela conscincia institucional da esfera literria. Esta serve de
instncia mediadora para a efetivao daquela. A esfera pblica poltica, que
provm da literria, intermedia, atravs da opinio pblica, o Estado e as
necessidades da sociedade. A esfera pblica assume expressamente funes
polticas nesse campo tensional entre o Estado e a sociedade. Sua funo se
objetiva essencialmente como uma esfera de mediao da sociedade
burguesa com o poder estatal. Sua tarefa poltica a regulamentao da
sociedade civil a fim de enfrentar a autoridade do poder pblico estabelecido,
dirigindo-se contra a concentrao de poder que deveria ser compartilhado. A
esfera pblica ataca o princpio da dominao vigente, contrapondo prtica
do segredo do Estado o princpio da publicidade, enfrentando, com isso, pela
eficcia poltica, a autoridade estabelecida. Este pressuposto, a exigncia da
publicidade, revela uma esfera crtica que se apresenta na forma de opinio
pblica. Mas a esfera pblica poltica tambm reivindica ser regulamentada
pela autoridade a fim de discutir com ela as leis gerais de troca na esfera
fundamentalmente privada, mas publicamente relevante, ou seja, as leis do
intercmbio de mercadorias e do trabalho social: As leis gerais de intercmbio
privadas entre si tornam-se uma questo pblica. Na discusso que as
48
pessoas passaram a ter em torno dessa questo (intercmbio privado) com o
poder pblico, a esfera pblica chegou sua efetivao poltica
41
. Nesse
sentido, a inteno da esfera pblica burguesa resume-se em obter influncia
sobre as decises na esfera do poder pblico - visto que o intercmbio
econmico desenvolve-se de acordo com regras que tambm so elaboradas
pelo poder pblico poltico - apelando para a esfera da opinio pblica para
legitimar as normas e suas reivindicaes perante este frum. Durante o
sculo XVIII, a esfera pblica assume funes polticas: ela se torna
diretamente o princpio organizatrio dos Estados de direito burgueses com
forma de governo parlamentar. A esfera pblica politicamente ativa passa a
ser efetivamente subordinada ao mandamento democrtico de ser pblico
qualquer exerccio de poder social e de dominao poltica. A
institucionalizao da esfera pblica resulta da necessidade de fornecer
garantias jurdicas capazes de vincular as funes do Estado a normas gerais
atravs de garantias jurdicas do Estado de direito, vincular toda a atividade do
Estado a um sistema normativo legitimado pela opinio pblica. A atuao
poltica dessa esfera passa a ter um carter normativo de um rgo da esfera
do poder pblico e torna-se mediadora da sociedade burguesa com um poder
estatal que corresponda s suas necessidades.
41 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 206.
49
A idia habermasiana de publicidade, no que se refere ao uso
pblico da razo, remete a Kant. O exame da categoria de esfera pblica em
Strukturwandel... tem como pano de fundo orientador o modelo normativo
kantiano o uso pblico da razo, elaborado a partir dos pressupostos
kantianos da anlise da relao entre uso pblico e privado da razo,
tematizado no opsculo de Kant Was ist Aufklrung?
42
. O ponto de partida
a viso da esfera pblica, ou a descrio da esfera pblica no sentido
kantiano: a idia de um interesse geral (regras universais), de leis universais e
racionais. Habermas encontra em Kant uma idia amadurecida de esfera
pblica burguesa. Contra a idia hobbesiana do soberano, Kant reabilita o
raciocnio pblico em forma de lei da razo prtica; a legislao poltica
deveria ficar subordinada moralmente ao seu controle. A publicidade deve ser
considerada como aquele princpio nico de mediao capaz de garantir o
acordo entre a poltica e a moral
43
.
Na poca, Habermas achava que o modelo
liberal da esfera pblica burguesa seria portador dessa publicidade, esfera
de raciocnio pblico, crtico e racional
44
. No artigo Was ist Aufklrung?, Kant
define menoridade como a incapacidade de o homem fazer uso do
entendimento sem a direo do outro, sendo ele prprio o culpado se a causa
42 Sobre isso, ver: Onora ONeill, The Public Use of Reason, in Political Theory 14 (1986) [523-551], e
John Laursen, The Subversive Kant: The Vocabulary of Public and Publicity, in Political Theory
14 (1986) [584-603].
43 Cf. Kant, Was ist Auklrung?, in Textos seletos, pp. 101-17.
44 In: Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, pp. 178-80.
50
no for na falta de entendimento, mas na falta de determinao e coragem
45
.
Libertar-se dessa menoridade o que Kant chama de Esclarecimento. O que
importa que o Esclarecimento deve ser intermediado pela publicidade. Kant
concebe o Esclarecimento como uso pblico da razo, o qual permite a
exposio pblica da verdade. A razo precisa ter o direito de falar
abertamente, seno a verdade no iria aparecer luz do dia: Entendo como
uso pblico da sua prpria razo aquele que se faz enquanto pessoa instruda
perante o pblico leitor. Chamo de uso privado aquele que ele pode fazer de
sua razo num determinado posto ou cargo civil que lhe for confiado (...)
46
.
da que resulta o princpio da publicidade: O uso pblico da prpria razo
deve ser sempre livre e s isso pode fazer brilhar as luzes entre os homens; o
uso privado da razo deve ser, porm, com freqncia, bastante limitado, sem,
contudo, impedir especialmente atravs disso, o progresso do Esclarecimento
[...] Limitar a publicidade a causa desencadeadora das sociedades secretas.
Pois uma vocao natural da humanidade a intercomunicao em tudo
quanto diga respeito aos homens
47
.
Segundo Habermas, nos escritos sobre a crtica da razo pura,
Kant atribui a opinio pblica, especialmente ao consenso pblico, a funo de
um controle pragmtico da verdade: unidade inteligvel da conscincia
45 Kant, Textos seletos, p. 100.
46 In: Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 182.
47 In: Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, pp. 182-84.
51
transcendental corresponde a concordncia de todas as conscincias
empricas que se efetua na esfera pblica
48
. No pblico de pessoas privadas
pensantes que se desenvolve o que Kant chama de concordncia pblica.
Para Kant, as aes polticas s devem poder estar em concordncia com o
Direito e a Moral na medida em que as suas mximas tm ou exigem
publicidade. Todas as aes polticas devem poder ser remetidas s leis que
as fundamentam e que so comprovadas perante a opinio pblica como leis
universais e racionais. Num regime plenamente sujeito a normas, a lei natural
da dominao substituda pela soberania das leis jurdicas. Nesse caso, a
publicidade deve mediatizar poltica e moral num sentido especfico: nela deve
efetuar-se uma unificao inteligvel dos objetivos empricos de todos
49
.
Desse modo, no mbito da poltica, a inteno moral de uma ao precisa ser
controlada pelo seu possvel xito no mundo emprico. Quando as relaes
jurdicas so transformadas em nico modo de soberania, as leis gerais da
legislao poltica que se originam da razo prtica devem ficar subordinadas
moralmente ao controle da mesma razo prtica.
Entretanto, o advento da comunicao de massa, depois de Kant,
representaria uma mudana fundamental: a esfera pblica manipulada pelos
meios de comunicao de massa j no serviria ao interesse pblico, mas aos
interesses privados (regras utilitaristas) e isso afetaria a formao do
48 In: Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 184.
49 In: Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 193.
52
consenso crtico racional, silenciando-o. O trabalho manipulativo de relaes
pblicas acabaria por atrofiar (schrumpfen) os potenciais democrticos da
esfera pblica, despolitizando-a. Esses pressupostos acentuam a problemtica
da publicidade na esfera pblica burguesa tomada por Habermas: os
pressupostos de uma ordem sociolgica da esfera politicamente ativa no
correspondem mais a sua base social. Certos pressupostos limitaram aqui o
acesso esfera pblica: Ao pblico politicamente pensante, s os
proprietrios tem acesso, pois a sua autonomia est arraigada na esfera de
intercmbio de mercadorias e, por isso, tambm coincide com o interesse da
manuteno como uma esfera privada
50
.
Nesse caso, os assalariados so
obrigados a trocar a sua fora de trabalho como sua nica mercadoria,
enquanto os proprietrios privados se apresentam como donos de
mercadorias atravs da troca de artigos. Segundo Habermas, s estes so
seus prprios senhores; s eles tm o direito de votar, de fazer uso pblico da
razo em sentido modelar. Nesta passagem, Habermas cita o prprio Kant
notando o carter insatisfatrio dessa diferenciao: , eu o reconheo, um
tanto insatisfatrio determinar as condies que preciso preencher para
poder, na posio de concidado, ser o seu prprio senhor
51
. Desse modo, a
inteno liberal revela uma considervel desigualdade nas condies pelas
quais todos possam ter acesso participao na esfera pblica, como esfera
50 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 186.
51 In: Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 187.
53
politicamente atuante: Os no proprietrios esto excludos do pblico das
pessoas privadas politicamente pensantes. Nesse sentido, eles tambm no
so cidados, mas pessoas que, com talento, esforo e sorte, podem tornar-se
algum dia cidados
52
.
1.2 Limitaes da esfera pblica: sobre a contradio imanente
A esfera pblica poltica liberal burguesa funcionou
essencialmente como um rgo de mediao da sociedade civil burguesa para
com a esfera do poder pblico. Entretanto, as normas constitucionais,
vinculadas a normas gerais - idia de um interesse geral, como leis
universais e racionais - so fundadas num modelo de sociedade civil burguesa
que se revela contraditrio. A institucionalizao de normas de interesse geral
que deveria abolir toda e qualquer forma de dominao - objetivo da esfera
pblica poltica de racionalizar a dominao e neutralizar o poder acaba, no
entanto, revelando-se uma nova forma de dominao. Primeiro, porque a
sociedade civil burguesa busca se apropriar da esfera do poder poltico a fim
de proteger a esfera privada (troca de mercadorias e trabalho social) da
interferncia estatal. Segundo, porque contradiz o seu prprio princpio de
52 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 188.
54
acessibilidade universal. A contradio imanente esfera pblica burguesa
no garantia objetivamente que a racionalidade fosse salva s custas de um
outro momento, o da generalidade, que garantia a acessibilidade a todos. A
esfera publica burguesa no engloba toda a sociedade civil (esfera plebia,
no proprietrios). Isso tambm revela uma esfera pblica incompleta. A
esfera pblica burguesa desenvolveu de modo crvel a idia da dissoluo da
dominao que se vinculava na viso de uma opinio pblica, de ser
portadora da publicidade crtica. Entretanto, com a ajuda de seu princpio,
que de acordo com sua prpria idia, oposto toda dominao, era
fundamentada uma ordem poltica ficcional. Este pressuposto parece
compreender a fico de uma justia imanente ao livre intercmbio de
mercadorias, uma aparncia antagnica: Sob as fices liberais, repousara o
auto-entendimento da opinio pblica [...] Um conflito de interesse
pretensamente comum e universal dos proprietrios privados politicamente
pensantes. A opinio pblica das pessoas privadas reunidas num pblico no
conserva mais uma base para sua unidade e verdade
53
. A concepo de
esfera pblica burguesa no representa a esfera pblica, emancipada da
dominao e neutralizada quanto ao poder, de intercmbio de pessoas
privadas autnomas, capaz de converter autoridade poltica em autoridade
racional. A idia constitutiva da esfera pblica burguesa de ser portadora
53 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, pp. 196-97.
55
daquela publicidade crtica e racional revela-se como falsa conscincia que
esconde de si mesma o verdadeiro carter de mscara do interesse de classe
burgus. Este o carter antagnico da sociedade civil contraditoriamente
institucionalizado no Estado de direito burgus. O discurso burgus j no
atende com suficiente credibilidade promessa de igualdade e acesso
universal, apesar da tendncia de universalizao do sufrgio universal.
para este aspecto que aponta a crtica da ideologia burguesa, do carter
antagnico da sociedade civil denunciado por Hegel, de desmascarar o carter
burgus do Estado que se apresentava como universal, de que as fices
liberais em cuja base a esfera pblica poderia, mas no podia mais ser
conectada com o universal; bem como a crtica da ideologia burguesa
desmascarada por Marx: de que na poca, o que se ocultava atrs da fachada
do interesse geral, representado pela burguesia, era um conflito de interesses
sociais, conflito este que se estendia at o mbito do poder poltico.
Para Kant, existe uma base natural para o Estado de direito. Este
Estado de direito j existe por ser uma ordem natural decorrente do
desenvolvimento das disposies naturais dos indivduos
54
. Entretanto, Hegel
contesta essa ordem natural kantiana que, segundo ele, se adequa aos
interesses da esfera pblica burguesa. Hegel descobre a profunda diviso da
sociedade burguesa: pela sua desorganizao (e pela sua contradio), a
54 Kant, Idia de uma histria universal de um ponto de vista cosmopolita, Brasiliense, 1986, p. 25.
56
sociedade burguesa incapaz de dar conta da excluso que ela mesma cria
esse o sentido negativo. Hegel denuncia o carter antagnico da sociedade
civil, as fices liberais em cuja base a esfera pblica podia ser conectada.
Essa idia nem sequer foi uma relao com o universal; antes, era a esfera do
particular, do subjetivo. Hegel entendia a funo da esfera pblica como
racionalizao da dominao. Por isso, o autor desativa a concepo de
esfera pblica burguesa, porque a sociedade, antagnica, no representa a
esfera pblica, emancipada da dominao e neutralizada quanto ao poder, de
intercmbio de pessoas privadas autnomas, capaz de converter autoridade
poltica em autoridade racional
55
.
Para Marx (e aqui desconsideramos as
diferenas entre Hegel e Marx), essa crtica destri todas as fices a que
apela a idia de esfera pblica burguesa, pois faltam os pressupostos sociais
para a igualdade de oportunidades, para que qualquer um, com pertincia e
sorte, possa conseguir o status de proprietrio e, com isso, as qualificaes de
um homem privado admitido esfera pblica: formao cultural e
propriedades. A esfera pblica, com a qual Marx se v confrontado, contradiz
o seu prprio princpio de acessibilidade universal
56
.
Com a denncia da
contradio da esfera pblica institucionalizada no Estado de Direito burgus,
55 Cf. Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p.195.
56 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 203.
57
Marx j antecipava uma mudana de funo da esfera pblica burguesa que,
posteriormente, haveria de subverter o seu princpio
57
.
1.3 Transformaes na estrutura e funo da esfera pblica
A mudana estrutural e funcional da esfera pblica o tpico
central da segunda metade do livro Strukturwandel der ffentlichkeit. Depois
de configurada a categoria de esfera pblica at aqui, o movimento
argumentativo importante agora a anlise das condies para seu exerccio
sob condies institucionais avanadas. Para tanto, Habermas transfere a
idia de esfera pblica, capturada de um recorte scio-histrico, e a utiliza
como chave de leitura para analisar as grandes linhas da decadncia, da
subverso do princpio crtico e do comprometimento do potencial democrtico
e emancipatrio da esfera pblica nas sociedades capitalistas avanadas do
sculo XX, organizadas institucionalmente sob a forma de Estados de bem-
estar social. A esfera pblica, espao onde se do os debates para a formao
da opinio pblica (sentido crtico), sofre mudanas e, com isso, uma nova
conotao (sentido manipulativo).
57 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 205.
58
O primeiro fator importante que levou a uma mudana na estrutura
social e da funo poltica da esfera pblica foi a interpenetrao progressiva
entre o setor pblico e o setor privado. O crescente intervencionismo estatal
na esfera da vida privada, no final do sculo XIX, destri a base da esfera
pblica burguesa: a separao entre o Estado e a sociedade. A esfera pblica
burguesa sugeria a separao entre o setor privado e o setor pblico. Com a
interpenetrao progressiva entre estes dois setores, dissolve-se a relao
originria entre esfera pblica e esfera privada: decompem-se os contornos
da esfera pblica burguesa. Esta decomposio assinala a decadncia da
dimenso pblica. O intervencionismo estatal decorre da necessidade de uma
interveno reguladora na economia de livre-mercado para assegurar a
sobrevivncia do sistema capitalista de produo privado e neutralizar e
ocultar os conflitos emergentes desencadeados na esfera privada, que
emergiram para o mbito pblico. A esfera pblica perde a sua base estrutural
- a separao entre o setor pblico e o setor privado - e perde a sua funo
poltica - em princpio crtica. Surge uma esfera pblica repolitizada, que
escapa distino entre pblico e privado. Mas nem por isso torna-se intil.
Ela perde sua funo crtica, mas no perde a funo de ter uma funo.
Isso significa: ela tem sua funo reorientada. A esfera pblica, como espao
de formao da opinio e da vontade poltica sofre alteraes e, com isso,
uma nova formulao: de uma esfera crtica para uma esfera administrativa e
59
manipulativa. No lugar da discusso pblica orientada para a ilustrao e
formao da vontade poltica, surge o exerccio burocratizado do poder e da
dominao, complementado por uma esfera da opinio pblica organizada
com fins manipulativos. Com os meios de comunicao gerando o consenso
a partir de cima - quer dizer: no por meio do envolvimento discursivo dos
participantes -, a esfera pblica estava cada vez mais definida pelas formas
burocrtico-administrativas apresentadas pelo Estado. A esfera pblica perdia
seu carter mediador capaz de projetar uma crtica sistemtica, por meio da
sua transformao numa instituio que reforava a ordem vigente. A
refeudalizao da esfera pblica, - o que significa: a publicidade precisa ser
novamente representada; a necessidade de novamente representar uma
autoridade, um status, diante e para o pblico -, agora dominada por grupos
de poderosas organizaes, faz discorrer uma tenso entre a genuna
publicidade crtica e a publicidade que organizada com fins manipulativos. A
esfera pblica acaba manipulada atravs do trabalho de relaes pblicas;
uma dissoluo scio-psicolgica da categoria
58
.
O segundo fator importante foi a ampliao do pblico da esfera
pblica, a irrupo das massas na poltica. Esta ampliao do pblico da
esfera pblica deve-se essencialmente a trs fatores: a expanso do pblico-
leitor, a ampliao dos direitos polticos e a refuncionalizao da imprensa. O
58 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 343.
60
fator ampliao do pblico revela como na esfera pblica ampliada infiltram-
se interesses particulares e utilitaristas que desvirtuam o princpio crtico da
publicidade e sua funo poltica: Com a ampliao do pblico, interesses
arranjam a sua representao numa opinio pblica fragmentada e fazem da
opinio pblica, na configurao de uma opinio dominante, um poder
coercitivo [...]
59
Ela penetra esferas cada vez mais extensas da sociedade e,
ao mesmo tempo, perde a sua funo poltica, ou seja, submeter os fatos
tornados pblicos ao controle de um pblico crtico [...] A esfera pblica parece
perder a fora de seu princpio, publicidade crtica, medida que ela se amplia
enquanto esfera (...)
60
.
A expanso do pblico-leitor expressa o progressivo declnio
daquela esfera pblica literria, decadncia que se sintetiza neste fenmeno:
estreita-se o campo de ressonncia de uma camada culta criada para usar
publicamente a razo: No momento em que a camada culta desta esfera
pblica, a sua parcela literalmente produtiva, perde a sensao de que ela tem
uma misso a cumprir na sociedade. Tendo sido porta-voz da classe social, no
princpio, viu-se cortada dela e passou a sentir-se isolada entre as camadas
incultas e a burguesia que dela no mais necessitava
61
. O contexto de uma
minoria de especialistas, de um lado, e de uma grande massa de
59 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 213.
60 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, pp. 223-24.
61 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, pp. 265-66.
61
consumidores influenciados pela comunicao pblica de massa, do outro,
expressa a passagem de um pblico pensador de cultura para um pblico
simplesmente consumidor de cultura, da qual, ele mesmo, o grande pblico,
no mais, como no princpio, o sujeito. Nessa passagem, a publicidade
perde seu carter especfico do princpio: A esfera pblica passa a assumir
funes de propaganda
62
. Notemos nessa passagem como a relao
originria da esfera pblica literria se inverteu:
Originariamente, a publicidade garantia a correlao do
pensamento pblico tanto com a fundamentao legislativa da
dominao como tambm com sua superviso crtica sobre seu
exerccio. Entrementes ela possibilita a peculiar ambivalncia de
uma dominao sobre a opinio pblica: serve manipulao do
pblico na mesma medida que legitimao ante ele
63
.
Tambm a expanso dos direitos polticos atravs da
participao eleitoral - tema da reforma da justia eleitoral no sculo XIX - foi
outro aspecto importante que provocou uma alterao substancial da prpria
esfera pblica: ocasionou a ampliao do seu pblico. Como nem todos so
burgueses, estreita-se o campo tensional entre burgueses e no-proprietrios.
Estes reivindicam participar na esfera pblica, no sentido de se tambm
62 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 267.
63 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 270.
62
tornarem sujeitos da esfera pblica. Assim, ao avanar no sentido de se
tornarem sujeitos da esfera pblica, a estrutura desta ter de se alterar a partir
de sua base. Entretanto, a expanso dos direitos de igualdade poltica para
todas as classes ocorreu no mbito desta mesma sociedade de classes. Ou
seja, a esfera pblica ampliada no levou fundamentalmente superao
daquela sobre a qual o pblico de pessoas privadas tinha inicialmente
tencionado algo como uma soberania da opinio pblica. A esfera pblica
ampliada teve um duplo efeito. Por um lado, a ampliao do pblico da
esfera pblica teve um efeito positivo, com a expanso progressiva da esfera
pblica, ampliao do espectro de participao dos cidados na vida pblica.
Por outro, teve efeitos negativos, pois a expanso foi induzida de modo
manipulativo pelos meios de comunicao de massa. O objetivo do trabalho
de relaes pblicas a necessidade de pensar e avaliar rapidamente sobre a
formao e circulao da opinio (informaes) engendrar o consenso
entre os consumidores da cultura de massa. E isso afeta a formao da
opinio e do consenso pblico, racional e crtico, tolhendo as funes
democrticas da esfera pblica
64
.
64 Aqui se percebe nitidamente a preocupao de Habermas com os efeitos negativos da cultura de
massa, orientao original da Teoria Crtica, em especial, de Adorno. A crtica da indstria cultural
aqui retomada como crtica de uma despolitizao da comunicao pblica pela concentrao
de poder e capital. Mais tarde Habermas afirmaria que a crtica de Adorno da cultura de massa
deveria ter continuidade e ser reescrita (Habermas, Die Neue Unbersichtlichkeit, p. 246).
63
Por fim, a participao de amplas camadas na esfera pblica
tambm repousa ainda noutro aspecto: a refuncionalizao comercial da
imprensa. Esta precisa arranjar as massas de um modo geral, acesso
esfera pblica. Ento, no lugar da autntica esfera pblica literria, surge o
setor aparentemente privado do consumo cultural. A imprensa, de um
momento de simples informao evoluiu para uma imprensa de opinio, a
partir do jornalismo literrio. Entretanto, medida que evolui para um
empreendimento capitalista, cai no campo de interesses que procuram
influenci-la. Por isso, a imprensa torna-se manipulvel medida que se
comercializa. Com isso, a base originria das instituies jornalsticas
exatamente invertida: Enquanto antigamente a imprensa s podia intermediar
e reforar o raciocnio de pessoas privadas reunidas num pblico, este passa
agora, pelo contrrio, a ser cunhado primeiro pelos meios de comunicao de
massa
65
. Na medida em que estas instituies jornalsticas passam a se
concentrar em aspectos econmicos e tcnicos, cristalizam-se em complexos
com grande poder social. A indstria da publicidade toma conta dos rgos
publicitrios existentes. Assim, a publicidade, alm de uma influncia sobre a
deciso dos consumidores, tambm opera como presso poltica. As tcnicas
publicitrias ao nvel de ao poltica tornam-se um fenmeno-chave para o
diagnstico da esfera do setor poltico. A nova tarefa central dessa
65 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 284.
64
reorientao da publicidade engendrar o consenso: 'Trabalhar a opinio
pblica' [...] tambm expressa as intenes comerciais que o emissor esconde
sob o papel de algum interessado no bem comum. A manipulao dos
consumidores empresta as suas conotaes figura clssica de um pblico
culto de pessoas privadas e se aproveita de sua legitimao [...]
66
A
disponibilidade despertada nos consumidores mediada pela falsa
conscincia de que eles, como pessoas privadas que pensam, contribuam de
modo responsvel na formao da opinio pblica
67
.
Todavia, esse consenso fabricado no tem mais muito em comum
com a opinio pblica, com a concordncia final aps um laborioso processo
de recproca Aufklrung. O interesse geral, base do qual somente seria
possvel chegar a uma concordncia racional de opinies, desapareceu
medida que interesses privados o adotaram para si, a fim de se auto-
representarem atravs da publicidade. A crtica competente quanto s
questes politicamente discutidas cede lugar a um comportamento
conformista. Se outrora, publicidade significava a desmistificao da
dominao poltica perante o tribunal da utilizao da razo, agora, pelo
contrrio, ela subsume as reaes de um assentimento
descompromissado
68
. Ao invs de desenvolver a crtica, a opinio pblica
66 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, pp. 289-90.
67 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 291.
68 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, p. 292.
65
passa a ser organizada com fins manipulativos. O que significa uma
publicidade pr-fabricada e uma opinio no-pblica:
Outrora, a publicidade teve de ser imposta contra a poltica do
segredo praticada pelos monarcas: aquela 'publicidade'
procurava submeter a pessoa ou a questo ao julgamento
pblico e tornava as decises sujeitas a reviso perante a
instncia da opinio pblica. Hoje, pelo contrrio, a publicidade
se impe com a ajuda de uma secreta poltica de interesses [...]
A esfera pblica no 'h' mais, ela precisa ser 'fabricada'
69
.
Notemos como a ampliao do pblico esfacelou a esfera pblica
enquanto uma esfera de participao contnua na discusso e no pensamento
relativos ao poder pblico. A opinio pblica passa a ser definida em funo
daquela manipulao onde os politicamente dominantes procuram coadunar
as disposies e os resultados do processo contnuo de decises. A opinio
pblica tida antes como uma coero conformidade do que uma fora
crtica. O que se configura na esfera pblica manipulada apenas um clima
de opinio, de maneira geral, manipulada sobretudo pelo clculo scio-
psicolgico de tendncias inconscientes que, todavia, provocam reaes como
que previsveis. A opinio pblica aparece simplesmente como uma reao
69 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, pp. 299-300.
66
informe de massa. Para Habermas, rasgou-se o contexto comunicativo de um
pblico constitudo por pessoas privadas reunidas pelo raciocnio pblico:
O que, de acordo com a crena dos coevos, era, h cem anos,
um princpio coercitivo dos indivduos na sociedade (a opinio
pblica), tornou-se, ao longo do tempo, um lugar-comum
mediante o qual multido acomodada e espiritualmente
indolente apresentado o pretexto para escapar ao prprio
esforo de elaborao mental
70
.
Esta sntese das grandes linhas da decadncia da esfera pblica
burguesa mostra como o debate racional crtico da esfera pblica removido
do quadro institucional que sustentava a esfera pblica. A esfera pblica,
expoliada da sua concepo original, desenha o quadro de uma vida poltica
degradada, em que o contedo poltico do modelo liberal de opinio pblica foi
subvertido numa manipulao generalizada; em que a opinio pblica deixou
de ser medida como padro de legitimidade, para se dissolver num agregado
de opinies individuais pesquisadas, representativas apenas no sentido
estatstico. Se, no sculo XVIII, a opinio pblica era dada na forma de debate
racional crtico, ao menos na teoria, no sculo XX revelou-se como uma fora
manipuladora da prpria prtica poltica. A esfera pblica torna-se um cenrio
para interesses privados desenvolverem legitimidade, atravs de um processo
70 In: Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, pp. 347-48.
67
que aponta apenas para um equilbrio entre as foras de integrao social;
criao de legitimidade que procura encobrir a distino entre genunos
processos de comunicao pblica e aqueles que so subvertidos pelo poder.
Este diagnstico negativo de uma esfera pblica despolitizada apresenta o
problema da efetiva realizao do princpio da esfera pblica e as condies
para o seu exerccio sob condies institucionais
71
. Uma esfera pblica que
apresenta problemas estruturais de uma comunicao pblica distorcida. De
um espao de discusso e exerccio da crtica, com potenciais de
racionalizao do poder e emancipao da dominao, a esfera pblica
encontra-se dominada pelos meios de comunicao de massa e infiltrada pelo
poder. Como conseqncia, a esfera pblica apresenta o central problema da
legitimidade que forjada no seu bojo. A esfera pblica que se produz no
consegue ser um ncleo normativo efetivo de medida da legitimidade (ou
publicidade crtica). Apesar das potencialidades para a racionalizao do
poder, a legitimidade que se desenvolve na esfera pblica no consegue ser
uma base normativa efetiva para uma teoria da democracia. E aqui surgem
pelo menos dois problemas terico-metodolgicos para Habermas. Primeiro, a
chave de leitura do modelo crtico, ao ser transposto realidade das
sociedades capitalistas avanadas, no consegue ser um padro confivel de
71 Diagnstico negativo resultante da forte influncia da teoria da cultura de massa de Adorno, bem
como do resultado pessimista da investigao anterior sobre os estudantes e a poltica (Habermas,
prefcio, p.29). Sobre isso, ver tambm: Gadamer, Kultur und Medien, in Axel Honneth, et al
(1989) Zwischenbetrachtungen, pp.713-732; e H. Brunkhorst, Critical Theory and the Analysis of
Contemporary Mass Society, in Fred Rush (2004) The Cambridge Companion to Critical Theory,
pp. 248-279.
68
medida de legitimidade. Segundo, Habermas no tem no horizonte nada que
poderia substituir o fundamento sobre o qual intencionou a possibilidade de
revitalizao da esfera pblica. Ou seja, Habermas no tem outra base (a
cultura poltica liberal no serviu como base confivel), um esprito
sustentador sobre a qual poderia apoiar ou projetar alguma possvel
repolitizao da esfera pblica apesar dos potenciais de protesto
72
.
Por isso,
esta questo - a tentativa de Habermas em recuperar um potencial normativo
ou encontrar um modo de fundament-lo - fica aqui em aberto.
A perspectiva
analtica da esfera pblica (a introduo da distino entre as funes crticas
e manipulativas da esfera pblica) permanece ento como provisria. A
questo que permanece em aberto aqui identificar estratgias necessrias
para as sociedades capitalistas avanadas preservarem, sob as presentes
condies, o princpio da esfera pblica (publicidade crtica), embora no com
as formas burguesas. Este tambm o ponto de partida de propostas
alternativas de Habermas, como por exemplo, a configurao de um modelo
de esfera pblica proletria
73
.
No entanto, na poca, Habermas permaneceu
72 Esta parece ser uma ambigidade que emerge do quadro terico de Strukturwandel der
ffentlichkeit. Por um lado, o diagnstico negativo da decadncia da esfera pblica, linha de
compreenso fortemente enraizada na teoria da cultura de massa de Adorno. Por outro lado, -
diferente do diagnstico de Adorno - potenciais de protesto para uma possvel repolitizao da
esfera pblica. Num certo momento, Habermas sugere que a burocracia poltico estatal deve ser
limitada pela burocracia poltico social a partir de uma deliberao quase-parlamentar (cf.
Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, captulo 7).
73 Cf. Negt & Kluge (1972) ffentlichkeit und Erfahrung: zur Organisationsanalyse von brgerlicher
und proletarischer ffentlichkeit, Suhrkamp.
69
ctico em relao s possibilidades de uma luta de classes organizada
politicamente sob o capitalismo organizado estatalmente
74
.
Vrios comentrios e observaes crticas em relao s
concluses da obra sobre a mudana estrutural da esfera pblica surgiram em
seguida publicao
75
. No entanto, apesar de alguns pequenos comentrios
de reviso de Habermas
76
, seriam as observaes crticas mais contundentes,
principalmente da teoria social contempornea, que levariam Habermas a
revises mais profundas sobre a esfera pblica posteriormente, nas
reformulaes das teses centrais sobre o tema, no prefcio nova edio de
Strukturwandel der ffentlichkeit, publicada em 1990.
74 Para Habermas, no h mais uma classe privilegiada como portadora da racionalidade (Kultur und
Kritik, 1973, p. 76).
75 Para citar alguns: Adorno (1970) Meinungsforschung und ffentlichkeit, in Werke: Bd. 8.
Soziologische Schriften I. Suhrkamp, 2003 [532-537]; Niklas Luhmann, ffentliche Meinung, in
Politische Vierteljahresschrift, 1970 [2-28]; O. Negt & A. Kluge (1972) ffentlichkeit und Erfahrung:
zur Organisationsanalyse von brgerlicher und proletarischer ffentlichkeit. Suhrkamp; Wolfgang
Jger (1973) ffentlichkeit und Parlamentarismus. Eine Kritik an Jrgen Habermas. Stuttgart:
Kohlhammer Verlag; Hoibraaten, Helge (1973) Jrgen Habermas' Strukturwandel der ffentlichkeit.
The materialist conception of history and modern research on democracy. Bergen Universitt; B.
Willms (1973) Kritik und Politik. Jrgen Habermas oder das politische Defizit der kritischen
Theorie. Frankfurt/M; P. U. Hohendahl, Introduction to Habermas: the Public Sphere, in New
German Critique v.1, n.3 (1974) [45-48], e Critical Theory, Public Sphere and Culture, Jrgen
Habermas and his Critics, in New German Critique n.16 (1979) [89-118]; e T. McCarthy (1978) The
Critical Theory of Jrgen Habermas. Cambridge: MIT Press.
76 Habermas, Einleitung zur Neuausgabe, in Theorie und Praxis. Frankfurt/M: Suhrkamp, 4 ed., 1971;
The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964), in New German Critique v.1, n.3 (1974) [49-55];
Capitalism and Democracy. An Interview with Jrgen Habermas, in Telos 39 (1979) [163-172];
Interview with Habermas, in New German Critique 18 (1979) [29-43].
70
71
CAPTULO II:
REFORMULAES DA CATEGORIA DE ESFERA PBLICA
A retomada das teses centrais de Strukturwandel der ffentlichkeit
o momento-chave na reformulao da categoria de esfera pblica em
Habermas. A referncia o prefcio nova edio de 1990, denominado
Vorwort zur Neuauflage
77
. Por um lado, reformula questes pendentes sobre a
esfera pblica que Habermas pensou terem permanecido imprecisas at aqui,
e, por outro lado, j aponta o esboo de uma compreenso modificada da
esfera pblica que emerge no incio da dcada de 90. Nesse sentido, o
prefcio visa recordar o leitor dessas mudanas, j referindo a estudos
posteriores
78
.
77 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, Suhrkamp, 1990. H uma verso inglesa: Further
Reflections on the Public Sphere, in: Calhoun, Habermas and the public sphere, pp. 421-461, com
traduo de Thomas Burger.
78 Habermas, prefcio, p. 12. As referncias do Vorwort zur Neuauflage 1990 sero citadas como
prefcio.
72
No prefcio, o objetivo de Habermas no tanto reduzir a
distncia temporal que separa o autor da obra sobre a esfera pblica
publicada de 1962, mas tecer alguns comentrios sobre novos problemas e
questes que surgiram no decorrer de suas investigaes envolvendo o tema
da esfera pblica, desde a dcada de 60. E essa leitura, que retrospectiva,
tambm um momento importante de autocrtica. Um reconhecimento das
fraquezas, insuficincias e limitaes da compreenso da categoria de esfera
pblica. Muitas das mudanas significativas introduzidas no curso das
investigaes na dcada de 90 sobre o tema da esfera pblica e operadas j
no prefcio so tambm uma tentativa de responder aos questionamentos
oriundos de discursos crticos, alguns dos quais sendo incorporados por
Habermas ao longo das suas reformulaes da categoria de esfera pblica e
da teoria discursiva da democracia
79
.
79 O que se toma como referncia aqui so as contribuies reunidas num compndio editado por C.
Calhoun (1992) Habermas and the Public Sphere, que congrega as discusses sobre os principais
temas e aspectos que provocavam inquietaes, mas tambm contribuies crticas de
comentadores. Discusses entre Habermas, Nancy Fraser, et al, algumas das quais tiveram lugar
nos Estados Unidos, em setembro de 1989, em virtude da publicao da traduo inglesa The
Structural Transformation of the Public Sphere. Alm disso, ver: White (1988) The recent work of
Jrgen Habermas. Cambridge Univ. Press; Holub, Jrgen Habermas. Critic in the public sphere.
Routledge, 1991; e Cohen & Arato, Civil society and political theory, MIT Press, 1992.
73
2.1 Revises a apropriaes crticas
O prefcio o ponto de inflexo nas questes relativas esfera
pblica em Habermas. Um empreendimento terico de reviso das limitaes
e deficincias da compreenso da esfera pblica, da sociedade civil, e da
mediao entre Estado e sociedade. Uma reformulao do contedo da
categoria prpria de esfera pblica e uma reformulao da posio que a
categoria ocupa no quadro mais amplo da teoria da ao comunicativa e da
concepo de sociedade, como sistema e mundo da vida. Influenciada pela
reconceituao da categoria esfera pblica pela teoria social contempornea,
vinculada ao conceito de sociedade civil, temos agora a introduo de
elementos novos, como a ampliao do contedo da esfera pblica, um
alargamento da base social, com novos portadores, com novas caractersticas
e novos papis (a infraestrutura social era restrita)
80
. Mas, apesar de assumir
diferentes feies, a esfera pblica continua fazendo a mediao, e continua
sendo ambivalente. Este o movimento regulativo importante do prefcio.
Desde o incio, a perspectiva habermasiana da investigao da
mudana estrutural da esfera pblica tambm estava ligada a uma teoria da
democracia. O programa poltico de uma teoria da democracia seguido de
80 Habermas, prefcio, pp. 24-29.
74
uma anlise da esfera pblica e sua mudana estrutural nas sociedades
capitalistas avanadas. Isso significa dizer que j nos seus primeiros escritos
sobre a esfera pblica poltica, Habermas estava preocupado com as
condies de comunicao sob as quais poderia dar-se uma formao
discursiva da opinio e da vontade poltica. Estava interessado na base, na
estrutura, no esprito sustentador de uma auto-interpretao normativa,
baseado num processo crtico de comunicao pblica, atravs das vrias
organizaes que a mediatizam. A esfera pblica surgiu como um centro
potencial de comunicao pblica e teve certas implicaes normativas para
uma teoria da democracia; princpios normativos que se assentam no
potencial reflexivo, baseado no discurso pblico, crtico e racional. Esse
parece ser o ncleo normativo duro que acompanha desde sempre as
investigaes habermasianas sobre a esfera pblica e a teoria da democracia.
A contribuio de Strukturwandel der ffentlichkeit para uma
teoria da democracia levantava a dvida se, da pluralidade de interesses que
competiam entre si, poderia emergir um interesse geral para o qual a opinio
pblica (ou o uso pblico da razo) poderia ser tomada como um critrio
normativo ou uma base para a regulao racional dos conflitos de todas as
partes envolvidas. Habermas estava preocupado com a formao de
instituies capazes de julgar racionalmente interesses e afirmaes
conflitantes, com o modo de como se d a criao da legitimidade. A inteno
75
geral de Habermas, desde o incio, gira em torno das condies de
comunicao sob as quais pode emergir uma formao discursiva da opinio e
da vontade. Segundo Douglas Kellner, a estratgia de Habermas era usar o
primeiro modelo de democracia burguesa para criticar seu posterior declnio, e
assim desenvolver uma concepo normativa de democracia que pudesse
usar como padro para uma crtica imanente da democracia no Estado social
existente
81
.
No entanto, Habermas enfrenta problemas por no encontrar um
modo mais concreto de recuperar o potencial normativo ou um modo de
fundament-lo nas instituies polticas do capitalismo avanado. Por isso,
essa tentativa foi assumindo diferentes feies:
Sobre a base dos meios tericos avaliveis para mim na
ocasio, eu no poderia resolver este problema. Ulteriores
avanos eram necessrios para produzir uma estrutura terica
na qual posso agora reformular as questes e ao menos prover
o esboo de uma resposta
82
.
A questo-chave que havia permanecido pendente, desde
Strukturwandel..., diz respeito ao esprito sustentador de uma esfera pblica
no manipulada e no subvertida pelo poder, e que pode ser tomada como
base, como o que d sustentao para uma teoria da democracia cuja
81 D. Kellner, Habermas, Public Sphere, and Democracy, p. 261.
82 Habermas, prefcio, p. 33. (Grifo meu).
76
inteno normativa. Esta questo, central na obra de 1962, retomada no
prefcio de 1990, e vinculada ao tema da sociedade civil. Ela j pode ser
respondida com referncia s garantias de novos arranjos institucionais de um
Estado constitucional, nos quais certas igualdades formais j esto garantidas
constitucionalmente. Mas, segundo Habermas, uma esfera pblica poltica
precisa mais do que certas garantias institucionais; necessita tambm de uma
formao informal da opinio nas esferas pblicas autnomas
83
.
A configurao de uma nova esfera pblica tematizada e
discutida, principalmente pela teoria social nos anos 90, sob a rubrica da
redescoberta da sociedade civil (zivilgeselschaftliche Ausbruch)
84
. Resultante
de uma nova dinmica poltica, com um avano da sociedade civil sobre o
Estado, o crescimento das organizaes da sociedade civil indica o
fortalecimento de uma esfera pblica relativamente autnoma em relao ao
Estado. Esta nova dinmica poltica, com novas experincias democrticas,
promoveu um campo frtil para repensar categorias e renovar discusses
sobre temas como participao, democracia, sociedade civil, autonomia
cidad, direitos civis, direitos humanos, justia social, institucionalismo, entre
outros. Agora, o conceito de sociedade civil j no remete mais quele, a
saber, o que identificava sociedade burguesa como sendo a sociedade civil
em geral. O novo significado corrente de sociedade civil remete s
83 Habermas, prefcio, p.45.
84 Habermas, prefcio, p. 45.
77
associaes informais formadoras de opinio e da vontade, tais como
associaes culturais, de leitura e de debate, igrejas, instituies alternativas,
entre outras. Esferas pblicas autnomas, que no fazem parte do sistema
poltico-administrativo, mas que articulam e organizam influncia poltica por
meios pblicos de comunicao, participao e deliberao, contribuindo,
assim, para a tematizao, discusso pblica e tomada de decises.
O conceito de sociedade civil voltou tona principalmente com a
emergncia de foras dissidentes dos estados socialistas do leste europeu.
Movimentos sociais que mobilizaram transformaes em torno de demandas
de liberdades civis e polticas democrticas - algo que j estava assegurado,
ao menos formalmente (igualdade formal), nas sociedades ocidentais -, contra
a aniquilao totalitria da esfera pblica poltica e a inibio da emergncia
de esferas pblicas autnomas, de associaes formadoras de opinio, que
estavam sob controle do aparato da dominao. O conceito de sociedade civil
adquire uma conotao mais positiva.
Por conseguinte, surge a questo de como, com uma esfera
pblica dominada pelos meios de comunicao e infiltrada pelo poder, os
membros da sociedade civil podem ter a chance de canalizar influncias e
promover mudanas? Qual a chance de a sociedade civil colocar os temas e
determinar a orientao dos fluxos de comunicao, que poderiam culminar no
78
tratamento formal de temas novos e politicamente relevantes? Por um lado,
estas questes no podem ser respondidas sem considervel pesquisa
emprica
85
, visto que existem fortes evidncias atestando para o ambivalente
potencial democrtico de uma esfera pblica cuja infra-estrutura marcada
pela gradativa influncia constrangedora seletiva imposta pela comunicao
eletrnica de massa. E aqui Habermas retoma uma das causas da
decadncia e despolitizao da esfera pblica, tal como formulado em
Strukturwandel der ffentlichkeit: a influncia e manipulao dos meios de
comunicao de massa. Mas, por outro lado, Habermas haveria de teorizar a
categoria de esfera pblica mais influente politicamente num amplo conceito
procedimental de democracia
86
.
Nessa perspectiva, Habermas permanece com a inteno que
guiou o seu estudo at aqui como um todo: a anlise e descrio realista da
esfera pblica infiltrada pelo poder, e a introduo da distino entre as
funes crticas e aquelas funes que pretendem influenciar as decises para
mobilizar poder, lealdade ou comportamento conformista
87
. Habermas
continua a acreditar que a da categoria de esfera pblica operativa no setor
poltico, tal como desenvolvida em 1962, ainda prov uma perspectiva
analtica apropriada para o tratamento deste problema; que, apesar da
85 Habermas, prefcio, p.47.
86 Especialmente no artigo Volkssouveranitt als Verfahren. Ein normativer Begriff der ffentlichkeit
(1988), e na obra Faktizitt und Geltung (1992).
87 Habermas, prefcio, p.28.
79
fragmentao na estrutura de representao de interesses, de diferentes
espritos sustentadores, a categoria de esfera pblica poltica continua
apropriada para denotar as condies de comunicao sob as quais pode
emergir uma formao discursiva da opinio e da vontade. Diante disso, (no
prefcio de 1990) j se consegue vislumbrar um novo esprito sustentador,
potenciais de protesto de uma esfera pblica em reavivamento como um ponto
de sustentao plausvel sobre o qual Habermas apia uma estratgia terica
de repolitizao da esfera pblica e da formulao de uma teoria discursiva da
democracia.
2.2 Reformulaes da esfera pblica: estrutura terica modificada
O primeiro aspecto da reviso habermasiana tem a ver com a
releitura da categoria e da mudana estrutural da esfera pblica, sua bagagem
social e histrico-narrativa. Cohen e Arato criticam as inmeras restries da
noo da esfera pblica formulada na dcada de 60, em que o modelo de
esfera pblica burguesa foi idealizado e cuja infraestrutura social era restrita.
nesse sentido que os autores indicam a necessidade de ampliao da
concepo de esfera pblica, visto que tal conceituao no daria conta dos
80
novos fenmenos imputados pela poltica mundial da emergncia, crescimento
e avano das organizaes da sociedade civil, principalmente do leste
europeu, indicando o fortalecimento de uma esfera pblica relativamente
autnoma (embora em muitos casos de confrontao) em relao ao Estado.
Cohen e Arato retomam o tema da esfera pblica vinculado ao
conceito de sociedade civil (Zivilgesellschaft). Autores de um dos estudos
mais abrangentes sobre a concepo de sociedade civil elaborado na dcada
de 90
88
, Cohen e Arato se utilizam do conceito de sociedade civil vinculado
noo geral de esfera pblica para descrever, no apenas os movimentos de
comunicao estruturados democraticamente, mas tambm livres associaes
e corporaes intermedirias e movimentos sociais que emergem entre os
mbitos econmico e estatal. Formas democrticas de associao,
solidariedade e identidade que, diferentes das formas de associao
tradicionais, estabelecem novas formas de comunicao estruturadas, no
sobre os meios dinheiro e poder, mas sobre a comunicao pblica
89
.
Para Habermas, as reflexes posteriores sobre a gnese da
categoria de esfera pblica visam reconhecer as limitaes da descrio
habermasiana de esfera pblica inspirada nos sculos XVIII e XIX, e estilizada
88 Cohen & Arato, Civil society and political theory, MIT Press, 1992. Ver tambm: Cohen & Arato,
(1989) Politics and the Reconstruction of the Concept of Civil Society, in Honneth et al,
Zwischenbetrachtungen, pp.482-503.
89 Cohen & Arato, Civil society and political theory, p. 58.
81
num tipo-ideal. Uma esfera limitada, cuja idealizao acabou comprometendo
seu modelo (por exemplo, por que a infra-estrutura social era restrita: excluso
das mulheres, esfera plebia, entre outros). Por isso, a necessidade de
ampliar a concepo, alargar a base social, introduzindo elementos que antes
no estavam presentes
90
. Para o autor, a referncia global de mundos da vida
j no mais suficiente
91
. Aqui, Habermas tambm reconhece a dificuldade
em conseguir elaborar, na poca, uma categoria especfica de esfera pblica,
em fundamentar um argumento a partir dos desenvolvimentos histricos,
devido a grande complexidade da realidade social e aos problemas relativos
as deficincias empricas
92
.
Os problemas tericos so diferentes agora do que eles eram no
final dos 50 e no comeo dos anos 60 quando este estudo surgiu
[...] A cena contempornea tem mudado, isto , o contexto extra-
cientfico que forma o horizonte da experincia da qual a
pesquisa social deriva sua perspectiva. Minha prpria teoria,
finalmente, tem tambm mudado, embora menos em seus
fundamentos do que em seu grau de complexidade
93
.
90 Apesar de reconhecer o auge da esfera pblica quando a burguesia no sculo XVIII estava em
ascenso, a justificativa de Habermas deu-se nos seguintes termos: No a formao social que
lhe subjacente, mas o prprio modelo ideolgico que se manteve ao longo dos sculos sua
continuidade, uma continuidade exatamente nos termos da histria das idias (Strukturwandel der
ffentlichkeit, p. 57). Habermas considera indispensvel o princpio subjacente a esfera pblica
burguesa, mas no suas formas histricas, as quais incluram sempre elementos ideolgicos.
91 Habermas, prefcio, p. 45.
92 Habermas, prefcio, pp. 12 ss.
93 Habermas, prefcio, p.12.
82
Mas, embora por um lado Cohen e Arato desenvolvam um
conceito de sociedade civil adotando a arquitetura da distino terica entre
sistema e mundo da vida tal como proposto por Habermas na Theorie..., por
outro lado, os autores contestam a concepo de esfera pblica formulada em
Strukturwandel..., a saber, a tese da decadncia da esfera pblica, segundo a
qual a influncia manipulativa dos meios de comunicao de massa teria
destrudo a mediao entre sociedade civil e Estado, e a tese linear da
passagem de um pblico pensador de cultura para um pblico consumidor de
cultura, na qual os cidados constituem uma massa de indivduos, meros
receptores atomizados e despolitizados.
Habermas reconhece algumas deficincias na sua interpretao,
principalmente a partir das repercusses desses desenvolvimentos na esfera
privada, na estrutura da esfera pblica, bem como na composio e o
comportamento do pblico e no do processo de legitimao das democracias
de massa. Na releitura de Strukturwandel..., Habermas acaba relativizando a
tese de que a manipulao da esfera pblica por interesses privados na
comunicao teria destrudo a mediao entre sociedade civil e Estado. A
esfera pblica continua estabelecendo, de forma insubstituvel, a mediao
necessria entre a sociedade civil e o Estado e o sistema poltico
94
.
94 Habermas, prefcio, pp. 21ss.
83
Os argumentos em favor da mudana estrutural e funcional foram
desenvolvidos num quadro terico esboado na crtica filosofia do direito de
Hegel elaborada por Marx
95
. A sociedade capitalista liberal se baseava na
auto-regulao de uma sociedade economicamente organizada atravs de
atividades sob leis privadas apoiadas em um Estado constitucional. Entretanto,
a progressiva interpenetrao entre Estado e sociedade remove o fundamento
do modelo de sociedade assumido pela lei privada e pela viso liberal da
constituio. Nesse contexto, da radical eliminao da separao entre Estado
e sociedade, Habermas estava interessado nas repercusses desses
complexos desenvolvimentos para o Estado de bem-estar social e o
capitalismo organizado nas sociedades do tipo ocidentais, tendo como fio
condutor o potencial de auto-regulao social inerente esfera pblica
poltica.
A sociedade civil era, na concepo inicial, sempre contrastada
com a autoridade pblica ou governo. A esfera da troca de mercadorias e
trabalho social, bem como a casa e a famlia aliviadas das funes produtivas
pertenciam esfera privada da sociedade civil. A posio de donos privados
era a base para a autonomia privada que se situa na esfera ntima familiar.
Para as classes dependentes economicamente no havia essa relao.
Apenas com a gradual emancipao social das camadas mais baixas e com a
95 Habermas, prefcio, p. 21.
84
politizao dos conflitos de classe, esses dois reinos convergiram seus
propsitos. Com a universalizao dos direitos civis, a autonomia privada das
massas no poderia ter seu controle sobre a propriedade privada. Por mais
que a atualizao do potencial de auto-regulao social contido na expanso
da esfera pblica exigisse das massas polticas o uso de seus direitos para
comunicao e participao, Habermas observa que no se poderia esperar
que massas dependentes economicamente pudessem atingir o equivalente da
independncia social dos donos de propriedade privada. Para tanto, sua
autonomia privada tinha de ser garantida pelo Estado de bem-estar social.
Esta autonomia poderia funcionar como um equivalente da autonomia
privada original baseada no controle da propriedade privada
96
.
A infra-estrutura da esfera pblica mudou juntamente com a
emergncia dos meios eletrnicos de comunicao de massa, com as novas
formas de organizao, marketing, consumo de uma produo literria
especializada e com a imprensa. Com a crescente exigncia de capital e
escala organizacional, os canais de comunicao passaram a ter um novo tipo
de influncia: a do poder dos meios de comunicao usados para propsitos
privados de manipulao. Na esfera pblica, dominada pelos meios de
comunicao de massa, arena infiltrada pelo poder, se desenvolvem as
disputas sobre o controle do fluxo de comunicao que afeta o comportamento
96 Habermas, prefcio, p. 24.
85
da populao. Para uma descrio realista da esfera pblica infiltrada pelo
poder, Habermas introduziu a distino entre as funes crticas e
manipulativas da esfera pblica. Estas ltimas influenciam as decises dos
consumidores, eleitores, e passam a motivar neles um comportamento como
que previsvel. Assim, a publicidade gira seu princpio contra si mesmo,
reduzindo sua eficcia crtica. Essas tendncias foram avaliadas corretamente,
segundo Habermas. Por isso, mantm a descrio da infra-estrutura da esfera
pblica infiltrada pelo poder. Entretanto, faz algumas ressalvas em relao ao
comportamento do pblico. Habermas reconhece a insuficincia da sua
interpretao e justifica que no pde se mover muito na literatura da
Sociologia do comportamento poltico porque a sociologia do comportamento
eleitoral estava apenas emergindo na poca; mas j admite a relevncia da
pesquisa na Sociologia da influncia dos meios de comunicao. Confessa
que sua anlise do desenvolvimento linear de um pblico pensador de cultura
para um pblico consumidor de cultura por demais simplista, bem como o
pessimismo em relao ao poder de resistncia e ao potencial crtico de um
pblico de massa que poderia abalar as estruturas de classe
97
.
Por fim, Habermas esboou um modelo provisrio de esfera
pblica como sendo uma arena dominada pelos meios de comunicao.
Nesse esboo, procurou relacionar o diagnstico emprico do desarranjo da
97 Habermas, prefcio, p. 27. Ver tambm: Calhoun, Introduction: Habermas and the Public
Sphere, p. 33.
86
esfera pblica liberal com o aspecto normativo de uma viso democrtica
radical que considera a interveno funcional do Estado na sociedade. Dois
aspectos que refletem nos dois conceitos de opinio pblica: crtica e
manipulativa. Nesse contexto, a criao da legitimidade nas democracias de
massa procura encobrir a distino entre genunos processos de comunicao
e aqueles que so subvertidos pelo poder. Devido s transformaes nas
relaes entre Estado e sociedade, a esfera pblica tem se tornado mais uma
esfera manipulada do que um meio para estabelecer um debate crtico
racional. Se na poca a esfera pblica apareceu como um instrumento
potencial para uma comunicao pblica, no foi, entretanto, capaz de ser
regenerada, devido disputa de poder e interesses privados que nela se
configuravam
98
. Aqui est o gancho temtico tambm de outros
comentrios crticos, como Nancy Fraser e Seyla Benhabib: uma crtica
feminista ao entendimento elitista e burgus da dinmica interna da esfera
pblica liberal burguesa.
Nancy Fraser acentua as disparidades sociais e a excluso das
mulheres como constitutivas da esfera pblica habermasiana. Segundo
Fraser, a teoria da esfera pblica de Habermas , como ponto de partida, um
recurso indispensvel. Entretanto, requer uma interrogao e reconstruo
98 Habermas, prefcio, p. 31.
87
crtica
99
. Para a autora, o modelo habermasiano de esfera pblica formulado
em Strukturwandel..., interessa para a compreenso de uma poltica feminista,
a saber, a categoria de esfera pblica til para descrever o significado
poltico de novas formas de prxis que emergem com o movimento feminista
nas dcadas de 1970 e 1980. Atividades polticas que operam com estruturas
no-institucionais e que tm gerado projetos coletivamente descentralizados,
tais como grupos e publicaes feministas
100
. Esses fenmenos, se
articulados com a esfera pblica discursiva como categoria poltica central,
adquirem um carter emancipatrio, embora a categoria de esfera pblica, ou
seu desenvolvimento histrico, sempre tenha funcionado como instrumento
especfico de represso e distino
101
; o princpio formal burgus da igualdade
de participao, que busca suspender ou eliminar a diferena de status,
sempre foi problemtico. Por isso, Fraser no concorda com a concepo
sociolgica da esfera pblica habermasiana e, nesse sentido, invalida o
modelo liberal burgus de comunicao e participao pblica, que se
assentaria sobre uma base social desigual, que marginaliza mulheres e
classes plebias
102
. Isso lhe permite fazer uma crtica da excluso. Para
Fraser, o que se faz necessrio eliminar as disparidades sociais e as
diferenas de gnero.
99 Fraser, Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually existing democracy,
in Calhoun, Habermas and the public sphere, pp. 109-11.
100 Fraser, Rethinking the public sphere, p. 123. Ver tambm: Fraser, Whats critical about Critical
Theory? The case of Habermas and gender (1989).
101 Fraser, Rethinking the public sphere, p. 115.
102 Fraser, Rethinking the public sphere, pp. 117-19.
88
A condio necessria para igualdade participativa que as
desigualdades sociais sejam eliminadas. Isso no significa
necessariamente que todos devam ter exatamente a mesma
renda, mas requer um tipo de igualdade que inconsistente com
relaes de dominao geradas sistmicamente [...] Democracia
poltica requer substantiva igualdade social
103
.
Como contraproposta, Fraser sinaliza a necessidade do
reconhecimento efetivo de certos pblicos alternativos, subversivos ou
subaltern counterpublics, nos quais circulam discursos de oposio de alguma
forma discriminados e excludos da esfera pblica oficial
104
. E, nesse sentido,
a autora recusa a idia de que esses discursos alternativos e de oposio
deixem se abarcar em uma esfera pblica homognea, mas sim em vrias
esferas pblicas, autnomas, informais, que organizam e trazem cena
pblica temas e contribuies politicamente relevantes. Uma sociedade cada
vez mais pluralista, de enorme pluralizao da sociedade civil, de
fragmentao das estruturas de sociabilidade e solidariedade, na qual as
aspiraes emancipatrias vo sendo transferidas para outras (sub)
bandeiras, enfrenta tambm o problema da orientao comum dessas
esferas autnomas, com as dificuldades de se constituir uma esfera pblica
103 Fraser, Rethinking the public sphere, p. 121.
104 Nesse sentido, ver tambm: Mary Ryan, Gender and public acess: women's politics in the
nineteenth-century America, in Calhoun, Habermas and the public sphere, p. 259.
89
comum
105
.
Da a introduo fraseriana da distino entre weak publics e
strong publics
106
.
A leitura crtica de Seyla Benhabib tem algumas caractersticas
comuns com a de Fraser e Cohen e Arato. Todavia, Benhabib desloca o foco
da sua crtica ao modelo habermasiano de esfera pblica para o campo da
teoria poltica normativa, tentando evitar as inconsistncias histricas da
categoria. Para a autora, o movimento social feminista se apresenta a
Habermas apenas sob a alternativa da estratgia jurdica, porque o modelo
habermasiano de uma esfera pblica crtica tem como objetivo a
democratizao de normas sociais e instituies. Para o modelo discursivo
habermasiano, por ter como norma fundamental projetos de reciprocidade
igualitria (egalitarian reciprocity), a democratizao de normas sociais no
pode ser precedida pela democratizao de normas familiares (familial norms)
e normas que dirijam a diviso de gnero do trabalho. Para Benhabib,
necessrio no apenas ampliar o espectro da discusso, do contedo
interno, mas tambm apontar para a aceitao de fato de outras formas de
discusso pblicas. Nesse sentido, o movimento feminista deve desenvolver
105 Fraser, Rethinking the public sphere, pp.123ss.
106 Fraser, Rethinking the public sphere, p.132.
90
sua prpria dinmica, algo como uma feminizao (Feminisierung) do
discurso prtico que se desenrola nas esferas pblicas
107
.
Geof Eley tambm acentua o modo histrico-narrativo da
formulao habermasiana da esfera pblica. Para o autor, Habermas valoriza
demais o modo particular de comunicao racional conferido esfera pblica,
bem como sua pretendida unidade do debate crtico racional consensual da
esfera pblica burguesa
108
. Alm disso, tambm Peter Burke observa a
ausncia de traos caractersticos de formao de um debate pblico na
formulao habermasiana. Segundo Burke, Habermas comeou a sua histria
tarde demais, tratando o sculo XVIII como o incio e, portanto, ignorando,
por exemplo, o lugar do debate pblico nas cidades-Estado italianas dos
sculos XIV e XV. Segundo o autor, na Florena renascentista, artesos e
donos de lojas participavam at certo ponto do governo de sua cidade, de
modo que as discusses na piazza della Signoria podiam ter srias
conseqncias polticas
109
.
107 Benhabib, Models of public space: Hannah Arendt, the liberal tradition, and Jrgen Habermas,
pp.93-95. Ver tambm os livros escritos e editados por Benhabib (1986) Critic, Norm and Utopia. A
Study of the Fundations of Critical Theory, Columbia Univ. Press; (1996) Democracy and
Difference. Contesting the Boundaries of the Political. Princeton; (2002) Claims of Culture. Equality
and Diversity in the Global Culture. Princeton Univ. Press.
108 Geof Eley, Nations, publics and political cultures: placing Habermas in the nineteenth century, in
Calhoun, Habermas and the public sphere, p. 307. Tambm: K. Baker, Defining the public sphere
in eigteenth century France: variations on a theme by Habermas; David Zaret, Religion, science,
and printing in the public spheres in twenteenth-century England; Moishe Postone, Political
Theory and Historical Analysis; Peter Uwe Hohendahl, The Public Sphere: Modells and
Boundaries; para respostas, ver: Habermas, Concluding remarks, ambos in Calhoun, Habermas
and the public sphere, 1992.
109 Peter Burke, A esfera pblica 40 anos depois, in: Caderno Mais! Folha de S. Paulo, 24/03/2002.
91
Para Habermas, a esfera pblica plebia foi considerada, na
poca, meramente uma variante reprimida do processo histrico que, apesar
disso, se orientava pelos interesses da esfera pblica burguesa. Contudo,
agora observa que certas atividades das classes mais baixas, e trabalhadores
urbanos produziram, com a ajuda de intelectuais radicais, uma nova cultura
poltica com formas e prticas organizadas por elas mesmas. Essa
emergncia de uma esfera plebia conflitava com a esfera burguesa. Era uma
variante, entretanto, a toma como modelo, no sentido de se inspirar nela para
tambm desenvolver um potencial emancipatrio, que emerge dos extratos
mais baixos. Assim, a dinmica interna da cultura plebia no era apenas um
eco passivo da cultura dominante, mas que se revolta periodicamente como
uma oposio ao mundo oficial da dominao
110
.
Em relao excluso das mulheres, Habermas no tem dvida
sobre o carter patriarcal da famlia burguesa. A crescente literatura feminista
tem sido responsvel pela sensibilizao e alerta sobre o carter patriarcal da
prpria esfera pblica. Entretanto, apesar da relao entre esfera pblica e
privada ter mudado com a expanso do direito democrtico de participao e a
compensao do Estado-social para as classes mais desfavorecidas, esta
mudana no afetou o carter patriarcal da sociedade como um todo. Ou seja,
apesar de as mulheres terem conseguido novos papis sociais com a
110 Habermas, prefcio, p. 15.
92
aplicao dos direitos polticos, no se modificou seu status ligado ao gnero.
No entanto, as lutas feministas permitiam as mulheres alcanar uma igualdade
cvica formal, transformando as estruturas da esfera pblica a partir de um
discurso crtico interno
111
.
Alm disso, outras observaes crticas remetem ao tema dos
meios de comunicao de massa. Apesar da forte nfase nos efeitos dos
meios de comunicao de massa para a despolitizao da esfera pblica em
Strukturwandel..., este tema permaneceu no tematizado nos escritos
posteriores. Para Luke Goode, curioso que, dadas as conseqncias
explosivas atribudas por Habermas, a imprensa de massa, os meios de
comunicao tenham permanecido claramente no-teorizados em seu
trabalho como um todo
112
. Para Douglas Kellner, Habermas negligenciou a
funo crucial dos meios de comunicao e novas tecnologias na estrutura e
atividade das sociedades contemporneas. Habermas no teria teorizado a
funo da mdia na esfera pblica contempornea. Com isso, falhou em
explicar precisamente a funo normativa e institucional da mdia, conferindo
um carter limitado anlise da democracia procedimental e deliberativa, com
enfoque apenas no mundo da vida e na sociedade civil
113
.
111 Habermas, prefcio, p. 18.
112 Goode, Habermas, Democracy and Public Sphere, p. 142.
113 Kellner, Habermas, the public sphere, and democracy: a critical intervention, in Hahn (2000)
Perspectives on Habermas, pp. 274-79. Alm disso, ainda que no exaustiva, a bibliografia crtica
sobre a recepo do conceito de esfera pblica pelas realidades democrtico-institucionais
93
europia, latino-americana e brasileira com que trabalhei foi: Brunkhorst (2000) Globalisierung und
Demokratie. Wirtschaft, Recht, Medien. Suhrkamp; Brunkhorst (2002) Globalising democracy
without a State: weak public, strong public, global constitutionalism, in Millenium - Journal of
International Studies 31 [675-690]; Brunkhorst (2001) Globale Solidaritt: Inklusionsprobleme der
modernen Gesellschaft, in Wingert & Gnther (2001) Die ffentlichkeit der Vernunft und die
Vernunft der ffentlichkeit, pp 605626; Brunkhorst (2002) Solidaritt. Von der Brgerfreundschaft
zur globalen Rechtsgenossenschaft. Suhrkamp; Brunkhorst (2004) Peripherie und Zentrum in der
Weltgesellschaft. Rainer Hampp Verlag; Brunkhorst (2006) Internationale Verrechtlichung und
Demokratie. Frankfurt; Miniuci (2005) Ao Comunicativa e Relaes Internacionais, in Novos
Estudos Cebrap 73 [74-87]; Srgio Costa (2002) As cores de Erclia. Esfera pblica, democracia,
configuraes ps-nacionais. Ed. UFMG; Avritzer, (2002) Democracy and the Public Space in Latin
America. Princeton Univ. Press; Avritzer & Costa (2004) Teoria crtica, democracia e esfera pblica:
concepes e usos na Amrica Latina, in Revista Dados 47 [703-28]; Costa (1994) Esfera pblica,
redescoberta da sociedade civil e movimentos sociais no Brasil: uma abordagem tentativa, in
Novos Estudos Cebrap 38 [38-52]; Costa (1997) Dimensionen der Demokratisierung. ffentlichkeit,
Zivilgesellschaft und lokale Partizipation in Brasilien, Vervuert; Goetz Ottman (2004) Habermas e a
esfera pblica no Brasil: consideraes conceituais, in Novos Estudos Cebrap 68, pp. 61-68. Para
algumas discusses sobre esfera pblica, sociedade civil e democratizao no Brasil, embora no
apenas no sentido habermasiano, ver: Avritzer (2000) Teoria democrtica, esfera pblica e
participao local, in Sociologias, v.1, n.2 [18-43]; Wampler & Avritzer, Pblicos participativos:
sociedade civil e novas instituies no Brasil democrtico, in Nobre & Coelho (2004), pp. 210-238;
Costa (1997) Contextos da construo do espao pblico no Brasil, in Novos Estudos Cebrap 47
[179-192]; Costa (1997) Movimentos sociais, democratizao e construo de esferas pblicas
locais, in Revista Brasileira de Cincias Sociais 35; Dagnino (ed) (2002) Sociedade civil e espaos
pblicos no Brasil, Paz e Terra; Telles (1994) Sociedade civil e a construo de espaos pblicos
no Brasil, in Dagnino (ed) Os anos 90: poltica e sociedade no Brasil, Brasiliense; Lavalle (2003)
Sem pena nem glria: o debate da sociedade civil nos anos 90, in Novos Estudos Cebrap 66 [91-
110]; Lavalle (2004) Vida pblica e identidade nacional: leituras brasileiras, Globo.
94
95
PARTE II
96
97
CAPTULO III:
ESFERA PBLICA, AO COMUNICATIVA E O CONCEITO DUAL DE
SOCIEDADE (COMO SISTEMA E MUNDO DA VIDA)
As consideraes sobre a categoria de esfera pblica nos escritos
seguintes a Strukturwandel der ffentlichkeit caminham em direo a um outro
quadro terico. Os problemas terico-metodolgicos que emergem do quadro
terico da obra sobre esfera pblica levam Habermas a dar continuidade na
temtica sobre a despolitizao da esfera pblica, embora numa outra
direo. Esta segunda parte (captulos 3 e 4) trata dessa transio da
categoria de esfera pblica para um outro quadro terico mais amplo da teoria
98
da ao comunicativa (da relao da esfera pblica com a categoria de mundo
da vida), da concepo dual de sociedade como sistema e mundo da vida (o
lugar que a esfera pblica ocupa nessa relao), e da teoria da democracia.
Isso j possvel notar a partir do texto Technik und Wissenchaft als
Ideologie
114
,
com a abordagem do tema da esfera pblica sob o foco da
integrao do progresso tcnico em reas do mundo da vida, bem como a
reduo das tarefas prtico-polticas a uma soluo de racionalidade tcnica
(discusso em torno da tese da tecnocracia), da cientificizao da
poltica
115
. O texto j uma outra tentativa de explicar melhor a constelao
que foi alterada, a partir de uma reformulao desta nova constelao, na qual
Habermas j comea a elaborar um novo marco terico, introduzindo a
distino central entre dois tipos de ao: instrumental e comunicativa
116
.
114 Habermas, Technik und Wissenschaft als 'Ideologie'. O ttulo do artigo d nome coletnea:
Technik und Wissenschaft als 'Ideologie'. Suhrkamp, 1968. Este texto e mais alguns pequenos
escritos polticos da dcada de 60 e 70 tratam da emergncia e formulao de temas e questes
que viriam a ter uma forma mais sistemtica apenas na Theorie des Kommunikativen Handels
(1981). Cf. Peter U. Hohendahl, ffentlichkeit. Geschichte eines kritischen Begriffs, p. 105; e
Matthias Restorff, Die politische Theorie von Jrgen Habermas, p.14.
115 Habermas, introduo nova edio de 1971 de Theorie und Praxis, pp. 11ss.
116 Habermas, Technik und Wissenschaft als 'Ideologie', p. 62.
99
3.1 Esfera pblica e a cientificizao da poltica
Como vimos no captulo 1, dois fatores foram fundamentais para a
mudana estrutural e decadncia da esfera pblica burguesa: o crescente
intervencionismo estatal e o aumento do pblico da esfera pblica. No entanto,
nos escritos posteriores a Strukturwandel der ffentlichkeit, Habermas
incorporaria na sua discusso sobre o tema da categoria esfera pblica um
terceiro aspecto, a saber, a interdependncia da cincia e da tcnica
117
. Em
alguns pequenos escritos polticos, o autor analisa a integrao do progresso
tcnico em reas do mundo da vida, bem como a reduo das tarefas prtico-
polticas a uma soluo de racionalidade tcnica (tese da tecnocracia,
cientificizao da poltica)
118
. A crtica se dirige ao modelo cientificista de
poltica, tecnocrtico e decisionista.
Em Technik und Wissenschaft als Ideologie, Habermas d um
passo adiante na discusso sobre a mudana estrutural da categoria esfera
pblica, mas sob o foco da crescente racionalizao engendrada pela
117 Cuja tematizao teria continuidade em Theorie und Praxis (1963), na coletnea Technik und
Wissenschaft als Ideologie (1968), e outros pequenos escritos polticos.
118 Habermas, introduo nova edio de 1971 de Theorie und Praxis, pp. 11 ss. Os escritos so:
Praktische Folgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts (pp. 336-358) e Dogmatismus,
Vernunft und Entscheidung (pp. 307-335), in Theorie und Praxis; Technik und Wissenschaft als
'Ideologie' (pp.48-103), Technichen Fortschritt und soziale Lebenswelt (pp. 104-119) e
Verwissenschaftliche Politik und ffentliche Meinung (pp. 120-145), in Technik und Wissenschaft
als 'Ideologie'; Bedingungen fr eine Revolutionierung sptkapitalistischer Gesellschaftssysteme
(pp.24-44), in Marx und die Revolution (coletnea, 1970); Protestbewegung und Hochschulreform
(coletnea, 1969; 3 ed. 1970) e a introduo a Philosophisch-politischen Profilen (1971; 3 ed.
1981).
100
interpenetrao entre os setores pblico e privado e suas conseqncias no
processo de legitimao do poder.
Trata-se de uma outra maneira de formular
o quadro da interpenetrao entre Estado e sociedade civil. Tem-se, agora,
uma situao nova criada pelo capitalismo avanado: o processo de
transformao do capitalismo liberal para o capitalismo em fase avanada.
Acontecimentos que alteraram significativamente a relao entre Estado e
sociedade. O capitalismo depois da Segunda Guerra j no seria mais o
capitalismo liberal. Caracterizar-se-ia por um crescimento do Estado
intervencionista, uma progressiva racionalizao e burocratizao das
instituies e uma crescente interdependncia da cincia e da tcnica. Nesse
sentido, o texto de 1968 j uma outra tentativa de explicar melhor a
constelao que foi alterada, a partir de uma reformulao na qual Habermas
j comea a elaborar um novo marco terico, introduzindo a distino central
entre dois tipos de ao
119
. A introduo da distino entre ao instrumental
e ao comunicativa tenta se desfazer da noo holstica de totalidade
social, para Habermas, uma noo particularmente doente. Essa distino
seria a primeira verso da compreenso dual de sociedade como sistema e
mundo da vida
120
.
119 Habermas, Technik und Wissenschaft als 'Ideologie', p. 62.
120 Habermas, prefcio, p. 35.
101
A interpenetrao progressiva do setor pblico (Estado) com o
setor privado (sociedade) destri a base scio-estrutural constitutiva da esfera
pblica. Esta interpenetrao j expressa uma progressiva racionalizao e
burocratizao da vida social e das instituies. A mudana estrutural provoca
uma repolitizao do quadro institucional, o que significa a mudana na
forma de legitimao do quadro institucional. A mudana na estrutura social
responsvel pela mudana tambm da funo poltica da esfera pblica. Com
essa transformao desaparecem as condies que alimentavam a esfera
pblica. A esfera pblica liberal sugeria a separao entre Estado e sociedade.
Quando o setor pblico se interpenetra com o privado, esse modelo se torna
intil, perde suas funes de mediao. Ento, o quadro institucional precisa
ser repolitizado. Este processo tambm atinge, fatalmente, a esfera pblica,
numa influncia progressiva dos sistemas tecnocrticos sobre o quadro
institucional da sociedade. Isso significa: a despolitizao da esfera pblica, ou
seja, a excluso estrutural da possibilidade de discusso pblica nos quadros
institucionais da esfera do poder pblico, as decises polticas caem fora da
discusso racional da esfera pblica. Esse o ponto de partida para a crtica
habermasiana ao carter ideolgico e legitimador da tcnica e da cincia.
Crtica que demonstra que a cincia e a tecnologia, ao se tornarem a base
legitimadora do sistema capitalista avanado, excluem as questes prticas da
esfera pblica e reduzem o tratamento dos problemas polticos a uma soluo
102
de racionalidade tcnica. Assim, na medida em que as tarefas prticas so
substitudas por tarefas tcnicas, perde-se a referncia esfera pblica
politizada. O que subjaz na prtica poltica do Estado tecnocrtico a tcnica
de administrao racional determinada por regras cientficas. Segundo as
palavras de Habermas:
Hoje [...] o programa substitutivo dominante dirige-se s ao
funcionamento de um sistema regulado. Exclui as questes
prticas e assim a discusso acerca dos critrios que s
poderiam ser acessveis formao da vontade democrtica. A
soluo de tarefas tcnicas no est referida discusso
pblica. As discusses pblicas poderiam antes problematizar as
condies marginais do sistema, dentro das quais as tarefas da
atividade estatal se apresentam como tcnicas. A nova poltica
do intervencionismo estatal exige, por isso, uma despolitizao
da massa da populao, e, na medida em que h excluso das
questes prticas, fica tambm sem funes a opinio pblica
121
.
Nesse sentido, o fundamento legitimador do capitalismo tardio
estaria protegido pela despolitizao. A esfera pblica torna-se uma zona de
conflitos, na qual o quadro institucional procura continuamente legitimar-se:
Uma nova zona de conflitos [...] s pode surgir onde a sociedade tardo-
121 Habermas, Technik und Wissenschaft als 'Ideologie', p. 78.
103
capitalista tem de imunizar-se por meio da despolitizao das massas contra a
impugnao da sua ideologia tecnocrtica de fundo; justamente no sistema da
opinio pblica. Pois s aqui se pode garantir um ocultamento necessrio
122
.
A inteno de uma ilustrao poltica projetada numa esfera
pblica poltica suplantada pelo fundamento legitimador de uma dominao
ideolgico-tecnocrtica, que reduz gradualmente as matrias prtico-polticas
a problemas de decises tecnicamente apropriadas e que, por conseqncia,
torna a formao de uma vontade democrtica praticamente suprflua.
Entretanto, apesar de j enfatizar o crescente poder da razo
instrumental, aqui Habermas ainda acreditava que uma esfera pblica
revitalizada poderia contestar a marcha desta razo instrumental por meio da
reorganizao do poder social e poltico. Os movimentos de protesto recebem
uma definio emancipatria nos termos de sua capacidade de investir contra
a lgica sistmica, que se levantam e questionam as crises sistmicas
decorrentes do paternalismo estatal. Por isso, o autor acredita que a tendncia
potencialmente mais crtica da sociedade contempornea, capaz de destruir o
fundamento legitimador do capitalismo tardio, protegido apenas pela
despolitizao, a repolitizao da prpria esfera da opinio pblica
123
.
122 Habermas, Technik und Wissenschaft als 'Ideologie', p. 100.
123 Habermas, Technik und Wissenschaft als 'Ideologie', pp. 100-103.
104
Mas, apesar da indicao de potenciais de protesto de grupos de
estudantes, at aqui Habermas ainda no encontrou uma resposta satisfatria
para responder a questo normativa bsica: a partir de onde seria possvel
orientar uma revitalizao da esfera pblica dissecada (ausgetrockneten) nas
sociedades capitalistas avanadas? Esta questo permanecer aberta
enquanto no puder ser elaborada uma teoria do capitalismo tardio:
Todas estas investigaes em relao a relao emprica entre
cincia, poltica e opinio pblica nos sistemas sociais
capitalistas tardios permanecem insuficientes, enquanto
abordagens confiveis para uma teoria do capitalismo tardio
estiverem pouco elaboradas [...] At agora no desenvolvemos
hipteses suficientemente precisas e comprovveis para poder
responder estas questes empiricamente
124
.
124 Habermas, Theorie und Praxis, p. 14. Para Habermas, a perspectiva positivista (interesse tcnico,
que reduz a dimenso prtica perspectiva tcnica) no consegue prover uma estrutura conceitual
satisfatria para a compreenso da racionalizao moderna; pelo contrrio, ela ainda endossa
esse processo. Para uma crtica ao interesse tcnico e positivismo, ver: Habermas (1973)
Erkentnis und Interesse, 4 ed; e Habermas, Teoria analitica de la ciencia y dialctica e Contra o
racionalismo menguado de modo positivista, ambos in Adorno et al, La disputa del positivismo em
la sociologia alemana, Ediciones Grijalbo, 1972.
105
3.2 Esfera pblica e os problemas de legitimidade
Na obra Legitimationsprobleme im Sptkapitalismus, Habermas
tematiza de forma detalhada os crescentes problemas de legitimao
enfrentados pelo Estado intervencionista e analisa as tendncias a crises sob
as condies do capitalismo avanado
125
. Com o modelo de legitimao que
era prprio da esfera pblica em crise, a anlise dos crescentes problemas
de legitimao enfrentados pelo capitalismo avanado e sua crtica efetiva a
eles procura ser, de certa forma, uma tentativa habermasiana de responder a
pergunta sobre a possibilidade de revitalizao da esfera pblica. Nesse
sentido, o problema da esfera pblica que era analisado sob o ponto de vista
histrico na obra Strukturwandel..., passa a ser visto agora em
Legitimationsprobleme..., sob os aspectos normativos e scio-tericos.
Especialmente na segunda parte do livro, com a introduo de categorias
scio-tericas que permitiram a Habermas uma anlise das tendncias a
crises sob as condies alteradas nas sociedades do capitalismo avanado, e
o problema da crise de acumulao e as polticas compensatrias da
interveno do estado, o que leva a crises de legitimao nos nveis da
administrao racional, motivacional e legitimante.
125 Habermas (1973) Legitimationsprobleme im Sptkapitalismus, Suhrkamp; Legitimation, in
Habermas (1976) Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Suhrkamp [271-337]
106
Entretanto, a crescente necessidade de legitimao do Estado
intervencionista e a forma de consegui-la, apresentam problemas com o
avano do capitalismo avanado. O capitalismo avanado se caracteriza pela
suplementao e parcial substituio do mecanismo de mercado pela
interveno estatal, o que marca o fim do capitalismo liberal. No capitalismo
avanado, a ao do estado passa a regular diretamente o funcionamento
econmico mediante uma poltica econmica e social. A ideologia do livre
intercmbio substituda por uma poltica econmica do estado que visa
corrigir as tendncias auto-destrutivas do livre mecanismo de mercado. Os
objetivos desta nova poltica visam dominar as crises econmicas e manter o
crescimento econmico aceitvel. Isso exige o direcionamento dos problemas
polticos a uma soluo de racionalidade tcnica. O objetivo principal do
Estado capitalista tardio manter a produtividade e o crescimento e minimizar
os efeitos antifuncionais da acumulao de capital. Ou melhor, o Estado
assume para si a responsabilidade de compensar as disfunes do processo
acumulativo, preservando as condies de estabilidade que garantam,
simultaneamente, a segurana social e o crescimento econmico. A atividade
governamental busca evitar crises. Contudo, o crescimento capitalista
avanado no consegue resistir imune s suas contradies sistmicas
internas, enfrenta imperativos de orientao contraditrios, hesita
continuamente entre duas posies: garantir os custos do crescimento
107
econmico e compensar as suas vtimas. Como no consegue mais atender
s crescentes reivindicaes emergentes com suas polticas sociais, a partir
do papel que ele mesmo se atribuiu, o Estado intervencionista gradativamente
enfrenta dificuldades. Alcana, assim, os limites de sua capacidade
assistencialista
126
. Esta crise do Estado social, cujo projeto torna-se
problemtico no momento em que os meios burocrticos, administrativos e
econmicos com que procurou domar o capitalismo perdem a sua inocncia,
viria a transformar-se na maior ameaa esfera do mundo da vida
127
.
Nesse sentido, a necessidade de legitimao agora no mais se
refere tanto a uma legitimao que resulta da formao da vontade coletiva,
que se constitui e se desenvolve na esfera pblica, mas o resultado de uma
procura por legitimao, como elo final da cadeia de produo da lealdade
das massas, da qual se nutre o sistema poltico. Isto segmenta e reduz o papel
da participao poltica, que fica delegada apenas escolha dos dirigentes
poltico-administrativos. A esfera pblica fica desconectada dos processos
reais de formao discursiva da opinio e da vontade coletiva. Nos processos
126 tambm nesse sentido que Habermas fala da crise do Estado de bem-estar e do esgotamento
das suas energias utpicas; de que o projeto do Estado social teria tropeado nos seus prprios
obstculos: Desde a metade dos anos 70 os limites do projeto do Estado social ficam evidentes,
sem que at agora uma alternativa clara seja reconhecvel [...] A nova ininteligibilidade prpria de
uma situao na qual um programa de Estado social, que se nutre reiteradamente da utopia de
uma sociedade do trabalho, perdeu a capacidade de abrir possibilidades futuras de uma vida
coletivamente melhor e menos ameaada. (Habermas, Die Neue Unbersichtlichkeit. Die Krise
des Wohlfahrtsstaates und die Erschpfung Utopischer Energien, in Die Neue Unbersichtlichkeit,
p. 147).
127 Cf. Legitimationsprobleme im Sptkapitalismus (1973), o segundo volume da Theorie des
kommunikativen Handelns (1981) e Die Neue Unbersichtlichkeit (1985).
108
efetivos de deciso, a participao poltica fica vazia de contedos
legitimadores. Este seria o carter negativo da poltica nas sociedades
capitalistas avanadas.
3.3 Esfera pblica, ao comunicativa e a teoria da sociedade
Desde o incio das investigaes sobre o tema da esfera pblica,
Habermas est interessado nas condies de comunicao sob as quais pode
dar-se uma formao discursiva da opinio e da vontade poltica, e com as
condies para o seu exerccio sob condies institucionais
128
. Em
Strukturwandel der ffentlichkeit, o modelo de esfera pblica configurado e
diagnosticado por Habermas (como espao pblico de comunicao), no
estava livre de dominao e influncias externas, as condies de
comunicao no estavam livres de domnio. Por isso, Habermas busca
emancipar-se dessa dominao (manipulativa), situando as condies de
comunicao (a base do entendimento e consenso) num nvel mais profundo,
ampliando a base da estrutura terico-conceitual fundamental da esfera
pblica. Com isso, o lugar central no seria mais delegada esfera pblica,
128 Habermas, prefcio, p. 16.
109
mas ao mundo da vida, com nfase na prtica comunicativa do entendimento
que tem lugar no mundo da vida. Habermas est preocupado com uma base
institucional que sustente a esfera pblica. No entanto, apesar de perceber a
necessidade, encontra dificuldades em suas tentativas de recuperar um
potencial normativo da esfera pblica, ou melhor, um modo de fundament-lo
nas instituies do capitalismo avanado. Dificuldades estas que j
apareceram ao final da obra sobre a mudana estrutural da esfera pblica,
apareceram tambm na obra sobre o carter ideolgico da cincia e da
tcnica, e que aparecem de forma semelhante na anlise sobre os problemas
de legitimao. Com problemas para prognosticar as possibilidades de
revitalizao de tal zona de conflitos que tendam para a revitalizao de uma
esfera pblica dissecada, ou mesmo em encontrar um agente de
transformao identificvel
129
, Habermas se restringe a apresentar tendncias
muito gerais para as crises intrnsecas estrutura do capitalismo avanado. A
esta altura da argumentao habermasiana, as intenes gerais sobre as
possibilidades de reabilitao da esfera pblica como espao de participao
pblica nas sociedades capitalistas avanadas tornam-se problemticas. Ou
seja, Habermas no consegue vislumbrar, a partir do seu horizonte terico
disponvel naquele momento, uma soluo, uma estrutura terico-
metodolgica que sirva de sustento para uma teoria normativa da legitimidade
129 McCarthy, La Teora Crtica de Jrgen Habermas, p. 444.
110
democrtica
130
. Habermas no encontra um modo de fundamentar sua
esperana para a realizao mais efetiva disto na sua explicao das
instituies efetivamente existentes do capitalismo avanado. As tentativas de
resposta que se oferecem movimentam-se apenas na defensiva. Para Craig
Calhoun: No centro do impasse est a incapacidade de Habermas em
encontrar nas sociedades capitalistas avanadas uma base institucional para
uma efetiva esfera pblica poltica que corresponda em carter e funo
quela da primeira formao do capitalismo e do Estado, mas corresponda em
escala e participao s realidades do capitalismo e Estado avanados
131
.
Por causa dessa situao crtica, Habermas j comea a se mover para um
quadro terico diferente, deslocando o foco das suas investigaes sobre a
esfera pblica de uma anlise scio-histrica para uma abordagem mais
formal, incorporada na teoria da ao social comunicativa. A tarefa agora no
seria encontrar um agente social identificvel, mas iniciar um processo de
reflexo sobre normas e analisar contradies objetivas e possveis reas de
tenso e conflito. Esta transio significa uma mudana conceitual importante
no desenvolvimento terico do tema da esfera pblica em Habermas.
Nesse sentido, a partir da dcada de 70, Habermas comea a
formular a categoria de esfera pblica sobre um novo fundamento,
configurando uma estrutura terica reformulada: um modelo comunicativo de
130 Habermas, prefcio, p. 33.
131 Calhoun, Habermas and the Public Sphere, p. 30.
111
esfera pblica, alocado numa concepo dual de sociedade como sistema e
mundo da vida. O objetivo j no mais a busca institucional de uma esfera
pblica como base para a formao da vontade democrtica, mas sim as
estruturas argumentativas, as pretenses de validade implcitas nos processos
de comunicao. Na capacidade de entender a fala do outro, de submeter
fora de um melhor argumento e alcanar consenso, Habermas encontra uma
racionalidade comunicativa, quer dizer, uma estrutura racional para este tipo
de ao, e, atravs do discurso, como forma reflexiva da ao comunicativa,
gerar normas para criticar distores de comunicao em processos de
dominao e manipulao social e cultivar um processo de formao racional
da vontade. E embora continue enraizado na concepo habermasiana de
esfera pblica a crena no poder da razo por meio do debate pblico, ela
recebe, no entanto, uma moldura dialgica. O modelo normativo do uso
pblico da razo reorientado para a noo de discurso (caracterstica
formal da racionalidade). Segundo Axel Honneth, do ponto de vista filosfico,
fica evidente que o modelo inaugurado por Kant para o uso pblico da razo
possui, sem dvida, poder de persuaso suficiente para sugerir um conceito
de racionalizao discursiva que recorre aos melhores argumentos
132
.
Esta
virada, que culmina na obra sobre a ao comunicativa, no significa tanto um
abandono, mas mais uma reinterpretao da concepo kantiana de razo
132 Honneth, Jrgen Habermas, p. 16.
112
pblica, segundo Habermas centrada no paradigma monolgico da tica e da
poltica, em favor de uma concepo dialgica de comunicao intersubjetiva.
Com a retomada da esfera pblica vinculada ao papel do discurso e suas
possibilidades nas sociedades capitalistas avanadas, Habermas remove a
fora normativa da crtica social das condies histricas (o historiogrfico no
mais o central) para as caractersticas universais da comunicao humana
(ao comunicativa intersubjetiva). A esfera pblica no mais tanto o lugar,
o espao, mas uma rede pblica de comunicao discursiva. A esfera
pblica no est mais arraigada nas feies burguesas como a nica fonte de
legitimao. Isso significa: Habermas no se restringe mais a procurar um
potencial normativo para a esfera pblica no conjunto de instituies situadas
no tecido social, mas numa rede de comunicao e articulao de fluxos
comunicativos, na qual a formao da opinio e da vontade vm a pblico. A
noo de mundo da vida seria capaz de fornecer essas condies
133
.
Mas, o entendimento dessa transio no uma unanimidade. H
teses, nem sempre compatveis, que se baseiam em recortes diferentes para
compreender essa passagem. Para Axel Honneth, a mudana de foco
habermasiana operada na Theorie..., representa, da perspectiva da teoria
133 Embora seja importante do ponto de vista dos pressupostos tericos habermasianos de maneira
mais geral da teoria da ao social comunicativa, no vou me deter no deslocamento para esse
novo enfoque na qual Habermas acaba explorando as regras gerais de comunicao, as
pretenses de validade universais implcitas em toda linguagem, orientao para o consenso, entre
outros.
113
social, apenas uma reinterpretao do princpio da esfera pblica em termos
da teoria da ao comunicativa, um aprofundamento da categoria de esfera
pblica ancorado na teoria da ao. Segundo Honneth, Habermas deve seu
programa de uma renovao terico-comunicativa do conceito de razo
traduo emprica de uma intuio filosfica: a intuio da fora
racionalizadora do entendimento comunicativo.
Habermas a adquiriu [a intuio filosfica] nos meandros de uma
reinterpretao do princpio da esfera pblica (ffentlichkeit); e
essa idia o acompanha desde o incio de suas preocupaes
tericas, determinando desde ento o constante alargamento de
seu programa inicial, acrescido de novos elementos [...]
134
.
Aquilo que, originalmente sob a forma de uma atitude de
conscientizao reflexiva, pareceu ser uma segunda modalidade
de racionalidade que se opunha racionalidade instrumental,
torna-se agora visvel como sendo um potencial da razo, graas
ao aprofundamento do conceito de esfera pblica (ffentlichkeit),
ancorado na teoria da ao
135
.
Para Hauke Brunkhorst, apesar do movimento argumentativo
central da ao comunicativa, especialmente no primeiro volume, no se pode
desconsiderar toda a arquitetnica conceitual sobre a crtica habermasiana da
134 Honneth, Jrgen Habermas, p. 26.
135 Honneth, Jrgen Habermas, p. 16.
114
razo funcionalista fortemente carregada com a perspectiva da teoria social,
no segundo volume:
Um olhar sobre a histria da teoria social pode nos informar que
os conceitos filosficos fundamentais de modo algum
desaparecem, apenas so transformados e traduzidos numa
linguagem orientada emprica e pragmaticamente (...)
136
.
A Theorie... um tratado sociolgico, na qual muitos
esclarecimentos filosficos e excursos sobre racionalidade,
significado e teoria dos atos de fala esto a servio da formao
conceitual das cincias sociais
137
.
No entanto, Seyla Benhabib, diferentemente, entende este
deslocamento como uma ruptura entre o modelo de anlise social e o modelo
normativo.
Nos escritos de Habermas [sobre a teoria da ao comunicativa],
o modelo discursivo tem sido menos uma parte de sua crtica
social e teoria poltica do capitalismo tardio, e mais um
movimento para o centro da teoria moral comunicativa ou
discurso tico. Isto quase um dcalage, uma ruptura entre o
modelo normativo e anlise social, que j parecia estar implcita
em Strukturwandel der ffentlichkeit
138
.
136 Brunkhorst, Habermas, p. 36.
137 Brunkhorst, Habermas, p. 82.
138 Benhabib, Models of Public Space, p. 87.
115
Para Craig Calhoun, so apenas perspectivas diferentes de se ver
o mesmo objeto, na qual Habermas busca uma base menos histrica e mais
formal para sua teoria social.
Onde Strukturwandel der ffentlichkeit localizou a base para a
aplicao da razo prtica para poltica nas historicamente
especficas instituies da esfera pblica, a teoria da ao
comunicativa localiza-a nas transistricas, envolventes
capacidades comunicativas ou capacidades da razo concebida
intersubjetivamente como em sua essncia uma matria de
comunicao [...]
139
.
Habermas no renunciou a idia de uma crtica imanente. Antes,
removeu a imanncia das condies histricas especficas para
as caractersticas universais da comunicao humana
140
.
Por fim, para Douglas Kellner, esta reorientao uma tentativa
de Habermas em repolitizar a esfera pblica formulando uma nova base
filosfica, uma nova base normativa para a crtica social e democratizao. As
esferas da linguagem e comunicao ho de servir como um novo ponto de
referncia, capaz de fundamentar normas e desenvolver a crtica, e contribuir
como uma nova fora para promover novas formas de democratizao. Com
isso, Habermas desloca o foco de uma abordagem scio-histrica e
139 Calhoun, Habermas and the Public Sphere, p. 32.
140 Calhoun, Habermas and the Public Sphere, p. 40.
116
institucional para um trabalho terico de cunho mais filosfico
141
.
No entanto,
esse caminho gradual para a abstrao no significa necessariamente um
distanciamento da realidade
142
. Aqui abstrao significa um ganho na
medida em que permite uma ampliao da estrutura conceitual, da capacidade
explicativa, para dar conta dos novos fenmenos de uma sociedade altamente
complexa funcionalmente e pluralizada culturalmente.
Diante destas teses, parece-nos que o deslocamento de foco da
investigao habermasiana representa um modo de reconstruo interna.
Para Kenneth Baynes, embora o ponto de partida da discusso seja
Strukturwandel..., seria somente na Theorie..., e nos subseqentes ensaios
polticos, que os argumentos normativos e as categorias scio-tericas
convergem de tal maneira que os delineamentos ainda indefinidos de uma
esfera pblica ps-tradicional (quer dizer: diferente da esfera pblica
burguesa) podem ser discernidos
143
. Nesse novo quadro terico, a ao
comunicativa torna-se a base para a integrao social. Ela prov uma
alternativa ao dinheiro, poder e direito, como base para a integrao social.
Trata-se do poder scio-integrativo da solidariedade. Habermas acredita que
a linguagem comunicativa gerada no mundo da vida contm fora normativa
141 Kellner, Habermas, the public sphere, and democracy, in Hahn (2000) Perspectives on Habermas,
pp. 270-71.
142 Como tambm pensa Adrin G. Lavalle, Jrgen Habermas e a virtualizao da publicidade, in
Margem 16 (2002), p. 81.
143 Baynes, The Normative Grounds of Social Criticism, p. 172.
117
capaz de fundamentar e promover a integrao social. Por esse vis, se
esfora em reabilitar a esfera pblica como meio capaz de fornecer, atravs do
dilogo social, condies necessrias para gerar valores e interesses
compartilhados que fundamentam a integrao social. Desse modo, Habermas
procura, diante de uma sociedade gradativamente administrada, defender a
esfera pblica como medium pragmtico da comunicao, manter e assegurar
este campo de racionalidade autnomo. Neste caso, pensaria Habermas a
possibilidade de reavivamento da esfera pblica a partir de uma prtica
discursiva/interao dialgica e que tem lugar no mundo da vida?
144
Que lugar
a esfera pblica ocupa e que funo ela desempenha ao ser incorporada na
arquitetnica da Theorie des Kommunikativen Handelns?
3.4 Esfera pblica, sistema e mundo da vida
A evoluo posterior de Habermas sua transio para o universo
terico e epistemolgico que se expressa por inteiro na Theorie des
kommunikativen Handelns. Nesta obra, Habermas se move para um quadro
lgico-argumentativo diferente. A retomada do tema da esfera pblica
144 Kemp & Cook, Repoliticizing the 'public sphere': a reconsideration of Habermas, in Social Praxis 8
(1981) [125-142].
118
pressupe um completo assumir, por parte de Habermas, as conseqncias
da reviravolta lingstica na tradio analtica e suas relaes com o conceito
de mundo da vida da tradio fenomenolgica, em que o resultado a
elaborao de um novo conceito de racionalidade cujo mbito repensar as j
antigas anomalias constitutivas da esfera pblica e seu conceito de crise para
a sociedade contempornea. Nesse sentido, h uma radicalizao lingstica
da categoria de esfera pblica, atravs da crtica lingstica, na direo da
construo de uma pragmtica da linguagem ancorada na concepo
wittgensteiniana-austiniana da estrutura pragmtica da linguagem ancorada na
ao. A tambm se cruzam os termos de fenomenologia com o de
Lebenswelt, como ponto de ancoragem da atividade lingstica do sujeito do
agir comunicativo. Trata-se de uma reorientao da categoria de esfera
pblica para o de movimento comunicativo do espao pblico, que tem como
referncia o conceito de entendimento lingstico. Esta ampliao da moldura
terica fundamental busca superar o dficit categorial da esfera pblica,
atravs da nfase na prtica comunicativa do entendimento lingstico.
Habermas retoma o tema da esfera pblica no segundo volume da
Theorie... enquanto discute a distino entre sistema e mundo da vida, e onde
apresenta seu diagnstico do tempo. Esta retomada d-se, entretanto, num
outro quadro analtico, na concepo dual de sociedade como sistema e
mundo da vida, e na relao entre os dois nveis. Agora, o conceito de
119
sociedade remete a dois domnios diferenciados estruturalmente em sistema e
mundo da vida. No entanto, a relao sistema/mundo da vida no uma
transposio tal e qual da relao Estado/sociedade civil. O mundo da vida
envolve processos comunicativos de transmisso cultural, integrao social e
socializao, reproduo esta que requer instituies capazes de renovar e
preservar as tradies, solidariedades e identidades. Esta dimenso
institucional corresponde ao conceito de sociedade civil e, nesse sentido,
distingue-se da dimenso lingstico-simblica do mundo da vida
145
.
Na obra sobre a ao comunicativa, Habermas rene as
categorias normativas e scio-tericas de modo tal que os contornos at aqui
indefinidos de uma esfera pblica ps-tradicional podem ser esclarecidos e
sua importncia para uma crtica social normativa pode ser clarificada.
Primeiro, atravs da anlise da racionalizao social da perspectiva dual de
sociedade como um sistema e mundo da vida. Segundo, atravs de uma
clarificao do modo no qual o princpio normativo do discurso por meio do
modelo da ao comunicativa que se reflete, em vrios graus, no mundo da
vida
146
.
145 Cohen & Arato, Politics and the Reconstruction of the Concept of Civil Society, p. 495.
146 Alm da Theorie, a bibliografia de referncia aqui: K. Baynes: Rational reconstruction and
social criticism: Habermas model of interpretative social science; alguns ensaios em Honneth et
al, Kommunikatives Handeln, 1986; e White, The recent work of Jrgen Habermas, 1988, cap 5.
120
O conceito dual de sociedade refere-se relao de dois mundos
diferenciados estruturalmente pela racionalizao em sistema e mundo da
vida. Estas duas noes so utilizadas por Habermas para compreender a
sociedade moderna racionalizada. Refletem o duplo conceito de
racionalizao que desemboca em dois tipos de ao: instrumental e
comunicativa. Designam as funes de integrao na sociedade (sistmica e
social), nos diferentes contextos de ao (instrumental e comunicativa).
Habermas concebe a sociedade da perspectiva dos sujeitos
agentes que participam nela como mundo da vida de um grupo social, por
um lado, e da perspectiva de um no-implicado, como um sistema de aes,
que cobram um valor funcional segundo sua contribuio manuteno da
integridade ou consistncia sistmica, de outro. O mundo da vida o pano de
fundo da ao comunicativa, o horizonte de referncia em que os agentes
comunicativos j sempre se movem, o contexto da comunicao lingstica,
que permite as condies de possibilidade do entendimento e do consenso. O
sistema, por sua vez, integra diversas atividades mediante a regulao de
conseqncias no pretendidas. Refere-se capacidade de manipular regras
formais. Restringe-se a manter o funcionamento, a integrao entre os
elementos constituintes. nesta esfera sistmica que atua a razo
instrumental. A esfera sistmica funciona com base em imperativos que
limitam o mbito das decises voluntrias. A integrao sistmica no vista
121
como uma relao intencional entre os atores, mas como uma rede de
mecanismos funcionais que regulam as conseqncias no-intencionais
desses atores. Esta regulao automtica Habermas chama de integrao
sistmica. Os complexos de ao integrados sistemicamente impem a lgica
da razo instrumental a praticamente todas as esferas da sociedade. Os
mecanismos sistmicos de integrao so mecanismos de controle que se
compem de estruturas sociais isentas de contedo normativo. Estes
mecanismos acabam destruindo com sua complexidade as formas de
solidariedade, sem gerar ao mesmo tempo orientaes normativas que
poderiam assegurar a solidariedade social. As aes que se coordenam
atravs de meios deslingistizados fazem com que o marco normativo das
interaes venha abaixo. O mundo da vida, regido pela razo comunicativa,
acaba ameaado por esta viso sistmica, que desativa as esferas regidas
pela razo comunicativa. Esta sobreposio (bergewicht) do sistema no
mundo da vida, Habermas chama de colonizao do mundo da vida: a
instrumentalizao dos recursos comunicativos pelos imperativos sistmicos
dinheiro (econmico), poder (administrativo) e direito (juridificao), ao
avano colonizador dos sistemas no comunicativos, que vo anulando e
aniquilando os contextos do mundo da vida capazes de comunicao. A
colonizao reverte em patologias do mundo da vida induzidas
sistemicamente, fragmentando-o (em termos de reproduo cultural, social e
122
pessoal). Patologias que podem suspender ou reprimir a capacidade da ao
comunicativa (como exemplo, Habermas cita a crescente juridificao
[Verrechtlichung] da vida social). Esta estratgia de interpretao, de que a
modernizao social ocidental teria desenvolvido um potencial racional
unilateral (einseitige) provocando distores (a colonizao do mundo da
vida), permite a Habermas expor tanto as causas da nova intransparncia,
bem como formular sua perspectiva crtica
147
. Com essa tese de que a
instrumentalizao das esferas de comunicao conduz a crises de
legitimao Habermas liga o conceito filosfico de razo com a teoria
sociolgica da crise. Para Brunkhorst, a anlise das crises de legitimao
confirma empiricamente o que a explicao da razo comunicativa postula
conceitualmente
148
.
A fragmentao do mundo da vida permite a Habermas perceber
as anomalias constitutivas da esfera pblica e seu conceito de crise para a
sociedade contempornea. A esfera pblica parte constitutiva, uma
extenso do mundo da vida. A colonizao do mundo da vida tambm pode
ser entendida como uma colonizao da esfera pblica, resultado de uma re-
ideologizao da vida pblica, interpretada como resultando de uma extenso
exagerada da administrao pblica. A colonizao do mundo da vida vai
aniquilando os contextos capazes de comunicao, a integrao social por
147 Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, cap. 8; e Die Neue Unbersichtlichkeit, 1985.
148 Brunkhorst, Habermas, p. 76.
123
meio do entendimento lingstico. As interaes regidas pelos meios
sistmicos acabam exonerando a ao comunicativa como modo de
coordenao da ao, substituda por meios de comunicao
deslingistizados; uma instrumentalizao dos recursos comunicativos do
mundo da vida pelos imperativos sistmicos. O engate institucional dos
mecanismos de integrao sistmica no mundo da vida acaba solapando,
burocraticamente, o espao da formao discursiva da vontade coletiva, o
espao da opinio pblica. Isso significa a conseqente excluso das
discusses prtico-morais da esfera pblica.
A colonizao do mundo da vida no permite uma auto-
democratizao interna do sistema. Por isso, apesar dos mecanismos
sistmicos criarem suas prprias estruturas sociais isentas de contedo
normativo, ainda assim os mecanismos institucionais do sistema poltico
necessitam de legitimao. Ou seja, a esfera pblica continua necessria para
o procedimento de legitimao do ordenamento poltico. Com isso, Habermas
certamente quer mostrar que a legitimao do poder ainda se faz depender
dos contextos comunicativos do mundo da vida. Que a circunstncia de que os
meios de controle ainda necessitem de um engate institucional no mundo da
vida parece falar em favor de um primado dos mbitos de ao integrados
socialmente frente aos contextos sistematicamente reificados. Pois, apesar da
crescente interveno do Estado nos processos de reproduo da sociedade,
124
o poder precisa se justificar, dar razes para seu agir, expor seus motivos,
sendo passvel de contestao. Isso significa que o processo de legitimao
no pode ocorrer s margens da esfera pblica: A debilidade metodolgica
do funcionalismo sistmico, quando se apresenta com pretenses
universalistas, radica em que elege suas categorias como se esse processo
[...] estivera j encerrado, como se uma burocratizao total tivesse
desumanizado j por completo a sociedade
149
. Ou seja, o vnculo constitutivo
entre sistema e mundo da vida, atravs da legitimidade, impossibilita o
desligamento total do sistema em relao ao mundo da vida, para Habermas.
Com esta proposta de uma nova arquitetura terica, Habermas
empenha-se em situar as fundaes normativas num nvel mais profundo.
Agora, o objetivo j no se restringe busca de um potencial normativo para a
formao de uma esfera pblica nas manifestaes particulares, especficas
de uma poca, mas a virada para a ao comunicativa tenta tornar mais claro
o potencial racional intrnseco na prtica comunicativa cotidiana, presente nas
estruturas comunicativas e nas pretenses de validade implcitas nos
processos de comunicao, nas caractersticas universais da comunicao
humana (potencial racional denominado poder scio-integrativo da
solidariedade). Os atos comunicativos cumprem a funo de coordenar a
ao contribuindo para a estruturao das interaes. As relaes sociais
149 Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns II, p. 462.
125
organizadas de acordo com o princpio no qual a validade de cada norma de
conseqncias polticas elaborada com um consenso alcanado numa
comunicao livre de dominao. E a esfera pblica o horizonte de
racionalizao do consenso nos quadros da coordenao da ao (uso
pblico da razo).
Mas qual especificamente o lugar que a esfera pblica ocupa
depois de incorporada em termos da teoria da ao comunicativa, e qual sua
funo na relao entre sistema e mundo da vida?
Na interpretao em termos da teoria da ao comunicativa, a
categoria de esfera pblica retomada num outro quadro de referncia. Numa
primeira passagem, Habermas re-estabelece o vnculo com Strukturwandel
der ffentlichkeit, ligando as categorias de sociedade civil e mundo da vida:
A racionalizao do mundo da vida possibilita por um lado a
diferenciao de subsistemas independentes e ao mesmo tempo
abre o horizonte utpico de uma sociedade civil burguesa, na
qual os mbitos formalmente organizados de Bourgeois
(economia e aparato estatal) constituem os fundamentos para
um mundo da vida ps-tradicional de Homme (esfera privada) e
Citoyen (esfera pblica)
150
.
150 Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns II, p. 485.
126
Este vnculo vem resolver a ambigidade terminolgica numa
direo ps-marxista. Ao aplicar a dualidade sistema-mundo da vida ao
problema da sociedade civil, o resultado uma estrutura diferente da
concepo marxista de mediao entre sociedade civil e Estado. Esta nova
formulao habermasiana distingue a sociedade civil da economia privada
formulao que j teria sido antecipada em Strukturwandel der
ffentlichkeit
151
.
Numa segunda passagem, pelo vnculo relacional entre sistema e
mundo da vida, a esfera pblica tem agora as funes de proteger e garantir a
autonomia do mundo da vida frente aos imperativos sistmicos, bem como a
funo simblica de integrao social: a solidariedade nascida da cooperao.
Cabe a esfera pblica ser o espao social da prtica comunicativa que confere
vitalidade ao mundo da vida, da reproduo simblica do mundo da vida, visto
que o sistema no consegue desempenhar este papel. A esfera pblica
assume assim a funo simblica de integrao social e de assegurar a
autonomia do mundo da vida frente ao sistema administrado. Surge como uma
zona de conflitos, na qual conflitam princpios opostos de integrao social. A
seguinte passagem sintetiza o estatuto terico da categoria de esfera pblica
na Theorie des kommunikativen Handelns:
151 Cohen & Arato, Politics and the Reconstruction of the Concept of Civil Society, pp. 493-94.
127
Entre capitalismo e democracia se estabelece uma indissolvel
relao de tenses, pois competem pela primazia dos princpios
opostos de integrao social [...] Estes dois imperativos colidem
sobretudo na esfera da opinio pblico-poltica, na que h de se
acreditar a autonomia do mundo da vida frente ao sistema de
ao administrativo. A opinio pblica que se articula nessa
esfera significa da perspectiva do mundo da vida algo distinto
que da perspectiva sistmica do aparato estatal
152
.
Vejamos que na passagem Estes dois imperativos colidem
sobretudo na esfera da opinio pblico-poltica (...) no h nada de novo. Esta
zona de conflito j estava presente tanto em Strukturwandel..., como em
Technik und Wissenschaft als 'Ideologie'. A diferena est nessa passagem:
(...) na que h de se acreditar a autonomia do mundo da vida frente ao
sistema de ao administrativo (...). Agora, a esfera pblica tem essa outra
funo, embora mais defensiva, de assegurar a autonomia do mundo da vida
diante do sistema administrado. Diferentemente de Strukturwandel, a esfera
pblica tem agora uma posio de mediao entre sistema e mundo da vida,
em que sua normatividade implcita se realiza em um processo de sitiamento
do sistema pelo mundo da vida, mas sem pretenses de conquista. Ela
continua sendo a estrutura intermediria importante que faz a mediao entre
sistema poltico e administrativo, e mundo da vida e a sociedade civil.
152 Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns II, pp. 507-8.
128
3.5 Implicaes polticas da esfera pblica comunicativa
As concluses sobre o modelo comunicativo de esfera pblica e
de poltica que resultam do quadro terico da teoria da ao comunicativa
provocaram reaes diversas oriundas de discursos crticos
153
, o que levou
Habermas a posteriores esclarecimentos e ajustes
154
.
A obra sobre a ao
comunicativa levantou a dvida de como as estruturas do mundo da vida (que
se reproduzem a partir da fora scio-integrativa da solidariedade, da cultura e
da identidade) podem esboar um movimento contrrio que no seja apenas
defensivo, de resistncia, mas tambm ofensivo, de efetivao de uma prtica
social discursiva nos contextos sistmico-institucionais, de como o processo
poltico poderia ser submetido ao controle democrtico institucionalizado
155
.
153 Para comentrios crticos, ver: a coletnea de Honneth & Joas (1986) Kommunikatives Handeln:
Beitrge zu Jrgen Habermas Theorie des Kommunikativen Handelns, Suhrkamp; a coletnea de
Honneth et al (1989) Zwischenbetrachtungen. Im Proze der Aufklrung. Suhrkamp. E as
dissertaes de M. Rahman-Niaghi, Die politische Implikationen der Habermas' Theorie des
Kommunikativen Handelns. Freie Universitt Berlin, 1996; e Schuartz, Die Hoffnung auf radikale
Demokratie: Fragen an die Theorie des Kommunikativen Handelns. Frankfurt Universitt, 1999.
154 Para comentrios de Habermas, ver: A Reply to My Critics, in Thompson & Held (1982)
Habermas Critical Debates, MIT Pres [pp.219-283]; (1984) Vorstudien und Ergnzungen zur
Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp; Questions and Counterquestions, in Praxis
International 4 (1984) [229-49]; Dialektik der Rationalisierung, in Kleine Politische Schriften V,
Suhrkamp (1985) [167-208]; Ein Interview mit der New Left Review, in Kleine politische Schriften
V, Suhrkamp (1985) [213-257]; Special Issue on Jrgen Habermas, in New German Critique 35
(1985); (1985) Der Philosophische Diskurs der Moderne, Suhrkamp; e Entgegnung, in Honneth &
Joas (1986) Kommunikatives Handeln [327-405].
155 P. Dews, Faktizitt, Geltung und ffentlichkeit, in Deutsche Zeitschrift fr Philosophie 41 (2, 1993),
p. 361.
129
Vimos que a perspectiva crtica habermasiana formulada,
primeiro, a partir da demarcao do mbito que separa a esfera sistmica da
esfera do mundo da vida. Demarcao significa aqui a possibilidade de um
mbito comunicativo discursivo livre de domnio (herrschaftsfreier Diskurs).
Esferas de comunicao livre de poder (machtfreien kommunikationssphren)
e livre organizao de normas de ao (normfreien Handlungsorganizationen).
Com isso, certamente Habermas retoma as intenes de Strukturwandel der
ffentlichkeit. Como concluso, Strukturwandel... apresentou o problema de
que as condies de comunicao no estavam livres de interferncias de
domnio externas. Por isso, Habermas busca situar as condies de
comunicao num nvel mais profundo: na prtica comunicativa do
entendimento lingstico. No entanto, esse deslocamento de foco levanta
dvidas sobre suas possibilidades efetivas. Axel Honneth descreve a inteno
de Habermas como falschplatzierten Konkretismus
156
. E, segundo, apesar da
esfera pblica ter o papel defensivo de proteger o mundo da vida, a crtica
habermasiana formulada tambm pela sinalizao de potenciais de protesto
que emergem como respostas alternativas colonizao do mundo da vida, e
reagem como novas formas de oposio social os novos movimentos
sociais
157
.
156 Honneth, Kritik der Macht, p. 282.
157 Sobre os novos movimentos sociais: Habermas, Theorie des Kommunikativen Handelns II, pp.
576-83; Neue soziale Bewegungen, in sthetik und Kommunikation 12, p.158 [trad. inglesa: New
Social Movements, in Telos 49, p.33]; Kleine politische Schriften V, pp.155-60.
130
O modelo comunicativo de esfera pblica que resulta do quadro
terico da ao comunicativa apresenta uma restrita capacidade de efetivao
de uma prtica social discursiva nos contextos institucionais. O poder scio-
integrativo (integrao social) da ao comunicativa e o poder comunicativo
(poder de influncia) no remetem diretamente aos procedimentos
democrticos no nvel poltico-institucional. A esfera pblica no est ligada
diretamente aos complexos institucionais e, por isso, pode apenas siti-los.
Isso acaba comprometendo tanto o modelo de esfera pblica (o potencial
poltico do discurso de uma esfera pblica comunicativa), quanto o modelo de
relao entre sistema e mundo da vida que resulta do quadro terico da
Theorie. Para Thomas McCarthy, apesar da indicao dos novos movimentos
de protesto, essa viso negativa da capacidade de esboar uma reao mais
consistente talvez seja ainda uma desconfiana de Habermas em relao s
garantias mais duradouras dos potenciais de protesto, muitas vezes apenas
latentes, espordicos, que inflam e em seguida se dissolvem
158
.
Mas, para
Stephen White, essa posio de Habemas mais implcita que explcita.
Enquanto a concluso de Legitimationsprobleme... apresentava o problema da
possibilidade da re-emergncia de uma esfera pblica crtica, na obra sobre a
ao comunicativa seria possvel perceber algum ganho, no necessariamente
em termos de sucesso para a crtica poltica, mas em saber que tipo de
158 McCarthy, Komplexitt und Demokratie, in Honneth et al, Zwischenbetrachtungen, p. 197.
131
entendimento auto-normativo uma poltica crtica necessita, embora
Habermas no tenha elaborado isso mais detalhadamente. Para o autor, se
Habermas falha nesse sentido, no se pode negar, entretanto, que os novos
movimentos sociais eram na poca a melhor esperana de uma
institucionalizao equilibrada dos potenciais normativos da modernidade,
expressos nas formas democrticas de coordenao da ao
159
.
Diante disso, Habermas precisa novamente repensar sua
estrutura terica. Para tanto, dois passos subseqentes so aqui importantes
para a soluo da questo envolvendo a esfera pblica, e que a Theorie
deixou em aberto. Primeiro, o prefcio terceira edio da Theorie..., onde
Habermas reconhece a necessidade de revigoramento do institucional por
parte de um refluxo do mundo da vida
160
. Segundo, com a modificao da
estrutura terica da esfera pblica formulada de modo impreciso at aqui
161
.
159 White, The Recent Work of Jrgen Habermas, pp. 125-27.
160 Prefcio 3
ed. da Theorie des kommunikativen Handelns, 1985.
161 Habermas, prefcio, in Strukturwandel der ffentlichkeit, Suhrkamp, 1990. Interessante observar
que j em outubro de 1981, logo aps a publicao da obra sobre a ao comunicativa, Habermas
afirma ter em mente naquele momento dois empreendimentos tericos mais gerais: escrever textos
sobre teoria da modernidade (o que resultou em O Discurso Filosfico da Modernidade, 1985) e
algo como uma outra mudana estrutural da esfera pblica (o que resultou no Prefcio, 1990).
Habermas, Dialektik der Rationalisierung, in sthetik und Kommunikation 12 (1981), p.157.
[posteriormente publicada em Die Neue Unbersichtlichkeit, 1985, pp.167-208].
132
3.6 Reformulaes da esfera pblica comunicativa
No prefcio da Theorie de 1985, Habermas aceita a crtica dirigida
por J. Berger e j reconhece que a relao sistemamundo da vida precisa ser
tambm de refluxo, de dupla mo. Na formulao original, prevalecia a relao
ou um fluxo de mo nica do sistema sobre o mundo da vida. Mas, com a
preocupao com quem revigoraria o institucional, Habermas acaba aceitando
posteriormente a necessidade de revigorao do institucional, um influxo a
partir do carter no-institucional do mundo da vida. Segundo Habermas, a
tarefa defensiva (formulada anteriormente) tinha o objetivo de barrar os
imperativos sistmicos. Apenas a partir da seria possvel pensar um caminho
inverso, de como esferas pblicas autnomas poderiam ser capazes de se
auto-organizar atravs de processos democrticos de formao da vontade e
influenciar os mecanismos de regulao sistmicos. Nesse sentido, embora
defensiva, a mudana na direo/controle (Umsteuerung) no poderia ter xito
sem uma democratizao radical
162
. Tambm noutro momento Habermas
reconheceria o derrotismo da concepo de poltica e do modelo de
acoplamento que resultaram da obra sobre a ao comunicativa
163
.
162 Habermas, Entgegnung, in Honneth et al, Kommunikatives Handeln, 1986, pp. 392-93.
163 Habermas, Ein Gesprch ber Fragen der politischen Theorie, in Die Normalitt einer Berliner
Republik, p.139.
133
Mas as principais modificaes na estrutura terica da esfera
pblica, e do redimensionamento na relao sistema-mundo da vida, seriam
esboadas na segunda parte do prefcio nova edio de Strukturwandel
der ffentlichkeit, de 1990
164
. Estas reformulaes visam situar uma estrutura
terica modificada a partir da qual Habermas descreve uma esfera pblica
tambm modificada. O ponto nodal que emergiu da obra sobre a ao
comunicativa foi a necessidade de se pensar um modelo de esfera pblica no
apenas defensivo, mas tambm da inverso da direo dos fluxos de
comunicao que se entrecruzam na esfera pblica, de influncia e de
efetivao do potencial poltico do modelo comunicativo de esfera pblica nos
arranjos poltico-institucionais. Isso implica perguntar, ento, sob que
condies uma formao discursiva da opinio e da vontade pode ser
institucionalizada? Para respond-la, Habermas vai voltar suas atenes
tericas para o estudo dos mecanismos e arranjos institucionais, uma
investigao crtica dos elementos constitutivos do funcionamento do
ordenamento poltico institucionalizado. Para o autor, o ajuste das questes
polticas depende da institucionalizao da prtica do debate racional.
preciso ter garantias institucionais que assegurem a racionalidade dos
procedimentos democrticos da formao discursiva da opinio e da vontade
poltica, procedimentos legais que garantam uma aproximada realizao das
164 Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, Suhrkamp, 1990.
134
pr-condies exigidas de comunicao requeridas para a comunicao
pblica, dentro dos parmetros do debate racional
165
.
No entanto, o contedo normativo de um conceito de democracia
no pode se restringir a arranjos constitucionais do Estado constitucional
democrtico
166
. Por isso, a referncia discusso da esfera pblica vinculada
redescoberta da sociedade civil. A formao da opinio precisa ser por eles
(os arranjos) facilitada, mas no pode ser formalmente organizada em sua
totalidade e, nesse sentido, tambm no organizada. A expectativa
normativa resulta de uma aproximao terica baseada na inter-relao entre
uma formao da vontade poltica constituda constitucionalmente e o fluxo
espontneo de comunicao que emerge do mundo da vida. Entretanto, no
esboo da reformulao habermasiana da esfera pblica ainda no est to
clara a articulao entre esferas pblicas informais e esfera pblica formal, de
como elas se comportam reciprocamente e de como se d a traduo do
poder comunicativo em poder administrativo. A idia de discurso continua
problematizada na ao recproca entre opinio pblica construda
informalmente e tomada de deciso institucionalizada. Problema conceitual
que obriga Habermas a repensar a mediao entre espontaneidade social e
complexidade funcional, aqui apenas indicada como o impasse em torno do
165 Habermas, prefcio, p. 41.
166 Habermas, prefcio, p. 43.
135
conflito sobre o controle dos fluxos de comunicao que percorrem o limiar
entre sistema e mundo da vida, e colidem sobretudo na esfera pblica.
dessa nova arquitetnica que Habermas passa ento a
descrever uma esfera pblica, agora caracterizada por dois processos que se
entrecruzam. Por um lado, gerar comunicativamente a legitimidade do poder e,
por outro, gerar a lealdade pelo poder manipulativo dos meios de
comunicao
167
. So dois princpios diferentes de gerao de legitimidade que
acabam colidindo na esfera pblica. E aqui j se v que nessa renovada
compreenso da esfera pblica o conflito vai girar em torno no somente da
influncia, mas tambm sobre o controle dos fluxos de comunicao que
discorrem entre o sistema e o mundo da vida. Como podemos ver, a esfera
pblica continua ambivalente.
E depois de precisar algumas questes e mudar algumas
premissas, Habermas formula uma nova perspectiva terica. Mas, apesar da
nfase nos procedimentos institucionais, e de um ancoramento na base social
do mundo da vida e da sociedade civil, a categoria de esfera pblica esboada
no prefcio, de 1990, ainda continua preso idia de sitiamento. Isso fica
claro nessa passagem:
167 Habermas, prefcio, pp. 45ss.
136
Discursos no governam. Eles geram um poder comunicativo
que no pode tomar o lugar da administrao, mas pode
somente influenci-la. A influncia est limitada obteno e
retirada de legitimao. Poder comunicativo no pode prover um
substituto para a sistemtica lgica interna das burocracias
pblicas. Antes, ela causa um impacto nessa lgica de uma
maneira sitiada
168
.
168 Habermas, prefcio, p. 44.
137
CAPTULO IV:
ESFERA PBLICA E DEMOCRACIA DELIBERATIVA
Na obra sobre direito e democracia, de 1992, os desdobramentos
sobre a esfera pblica, at aqui esboados, recebem um detalhamento mais
apurado do papel da esfera pblica e sua penetrao mais efetiva sobre o
poltico, traduzido numa nfase na institucionalizao. O exame dos processos
institucionais tambm uma investigao mais sistemtica acerca do
potencial poltico do discurso, e uma outra tentativa, mais realista, de
responder a questo sobre a ao recproca entre solidariedade scio-
integrativa do mundo da vida com os procedimentos no nvel poltico e
administrativo. Esta investigao mais sistemtica tambm uma estratgia
habermasiana de responder s crticas e mostrar que a Theorie no cega
para a realidade das instituies
169
.
169 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 11. Ceticismo institucional da Theorie que seria superado
em Faktizitt und Geltung (cf. Kantner & Tietz, Dialektik, Dialog und Institutionskritik, in Labere
(2003) Schne neue ffentlichkeit. Beitrge zu Habermas 'Strukturwandel der ffentlichkeit',
p.127).
138
A reformulao da relao entre sistema e mundo da vida prepara
o caminho para um novo modelo de circulao do poder poltico (i), um
conceito procedimental de democracia (ii), no qual intermediado com o direito
(iii), a esfera pblica aparece como categoria normativa chave (iv).
4.1 Mundo da vida e sistema: novo modelo de circulao do poder
As crticas impreciso das implicaes institucionais da
concepo habermasiana de esfera pblica da Theorie... levam Habermas a
sinalizar para uma reformulao da relao sistema-mundo da vida, com a
necessidade de um duplo fluxo, capaz de revigorar as instituies. A idia de
sitiamento fragiliza a concepo de poltica que resulta do quadro terico da
Theorie des kommunikativen Handelns.
A concepo de poltica que resulta da
obra sobre a ao comunicativa no permitia uma autodemocratizao interna
do sistema. Por isso, a pergunta-chave aqui para Habermas : quem revigora
as instituies? Impasse conceitual que obriga Habermas a repensar a
articulao entre espontaneidade social e complexidade funcional, o nexo
entre poder comunicativo gerado comunicativamente e o poder administrativo
formalmente organizado no sistema poltico.
139
A partir da segunda metade da dcada de 80, Habermas introduz
mudanas significativas no curso de suas investigaes sobre a esfera pblica
ao voltar a colocar nfase na questo da institucionalizao
170
. Nesse
caminho, reformula a relao sistema-mundo da vida e altera as
caractersticas da esfera pblica, redimensionando-a dentro de um sistema de
eclusas. Em Theorie des kommunikativen Handelns, Habermas tematiza a
esfera pblica como constitutiva do mundo da vida, responsvel por garantir
sua autonomia e proteg-lo frente ao sistema administrado. Uma esfera de
carter defensivo que, no mximo, poderia sitiar o sistema, mas sem
grandes pretenses de conquista. J em Faktizitt und Geltung, Habermas
confere esfera pblica um carter mais ofensivo, abandona a metfora do
sitiamento e a substitui adotando o modelo das eclusas
171
. Ao reformular a
relao entre sistema e mundo da vida, acaba tambm modificando, no tanto
a posio, mas o carter ofensivo da esfera pblica. Sendo assim, onde se
localiza e que funo desempenha a esfera pblica modificada nesse novo
modo de ver a ao recproca entre sistema e mundo da vida?
170 Cf. prefcio 3 ed. da Theorie..., 1985.
171 Aqui Habermas acaba optando por reproduzir o cerne do modelo de tomada de deciso de B.
Peters, em vez do modelo de um socialismo democrtico radical de Nancy Fraser (William E.
Scheuerman, Between Radicalism and resignation: democratic theory in Habermass Between
Facts and Norms, in Dews, Habermas: a Critical Reader, p. 163). Para Habermas, a concepo
das eclusas prov mais democratizao do que a do sitiamento (Die Normalitt einer Berliner
Republik, pp. 139-40; 152-3). Embora continue em Peters um modelo representativo, com a
diferena de conferir mais qualidade ao procedimento decisrio (cf. Peters, Deliberative
ffentlichkeit, p. 674, nota 20).
140
Na contrapartida ofensiva do novo modelo de circulao do poder
poltico, a categoria de esfera pblica redimensionada dentro deste novo
modelo de eclusas e assume um papel mais amplo e mais ativo junto aos
processos formais mediados institucionalmente. Com o novo modelo de
acoplamento, os processos de comunicao e deciso do sistema poltico so
estruturados atravs de um sistema de eclusas, no qual os processos de
comunicao e deciso j esto ancorados no mundo da vida por uma
abertura estrutural, permitida por uma esfera pblica sensvel, permevel,
capaz de introduzir no sistema poltico os conflitos existentes na periferia.
Agora, o sistema poltico j no mais pensado auto-poiticamente, mas
constitui um centro polirquico. Aqui, Habermas reconhece que a imagem de
uma fortaleza sitiada democraticamente que aplicou ao Estado nos anos 80 na
Theorie..., pode induzir ao erro, pois ela no permite uma autodemocratizao
interna do sistema
172
. A seguinte passagem deixa claro o abandono da tese do
desacoplamento entre sistema e mundo da vida e a formulao de uma
concepo diferente de poder e de sistema poltico em Faktizitt und Geltung:
O ncleo do sistema poltico formado pelos seguintes
complexos institucionais, j conhecidos: a administrao
(incluindo o governo), o judicirio e a formao democrtica da
opinio e da vontade (incluindo as corporaes parlamentares,
eleies polticas, concorrncia entre partidos, etc). Portanto,
172 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 531.
141
esse centro, que se perfila perante uma periferia ramificada,
atravs de competncias formais de deciso e de prerrogativas
reais, formado de modo polirquico. No interior do ncleo, a
capacidade de ao varia, dependendo da densidade da
complexidade organizatria. O complexo parlamentar o que se
encontra mais aberto para a percepo e a tematizao dos
problemas sociais [...] Nas margens da administrao forma-se
uma espcie de periferia interna, que abrange instituies
variadas, dotadas de tipos diferentes de direitos de auto-
administrao ou de funes estatais delegadas, de controle ou
de soberania (universidades, sistemas de seguros,
representaes de corporaes, cmaras, associaes
beneficentes, fundaes, etc). Tomado em seu conjunto, o
ncleo possui uma periferia exterior, a qual se bifurca, grosso
modo, em compradores e fornecedores
173
.
A contrapartida ofensiva da esfera pblica sobre o poltico assenta
na nfase nos processos de institucionalizao. Para Habermas, tal
desencadeamento est amarrado a um processo de normatizao, que se
inicia pela formao da opinio e da vontade nas esferas pblicas informais,
acaba desaguando, pelo caminho procedimental, nas instncias formais de
deliberao e deciso. Este processo de abertura para a institucionalizao
est ancorado num amplo conceito de democracia procedimental e
deliberativa.
173 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 430.
142
4.2 Democracia procedimental e poltica deliberativa
Habermas pode no ter sido o primeiro a escrever sobre
deliberao
174
, mas talvez seja o mais proeminente defensor da teoria
deliberativa de democracia
175
. Na dcada de 90, Habermas coloca forte peso
na questo da institucionalizao. Em Faktizitt und Geltung, formula um
projeto de institucionalizao que se orienta pelo paradigma procedimental de
democracia. Com isso, quer resolver o problema de como a formao
discursiva da opinio e da vontade pode ser institucionalizada, da ao
recproca entre as esferas informais do mundo da vida com as esferas formais
dos processos de tomadas de deciso institucionalizados, de como
transformar poder comunicativo em poder administrativo. O pensamento
poltico habermasiano dirige-se a uma teoria da democracia, agora pensada
em termos institucionais. Por isso, a ateno com os pressupostos, os arranjos
institucionais, os mecanismos de controle poltico. Para tanto, Habermas
elabora uma teoria da democracia procedimental e deliberativa, a partir do
modelo das eclusas.
174 Cf. Nobre, Participao e deliberao na teoria democrtica: uma introduo, in Nobre & Coelho,
Participao e Deliberao, p. 34.
175 As investigaes de Habermas sobre poltica deliberativa influenciaram muitas discusses sobre
teoria democrtica e se estenderam para um vasto campo de discusso. Nesse sentido, note-se
que a maior parte da literatura sobre democracia deliberativa est datada posteriormente a
Faktizitt und Geltung (1992).
143
A concepo de poltica deliberativa uma tentativa de formular
uma teoria da democracia a partir de duas tradies terico-polticas: a
concepo de autonomia pblica da teoria poltica republicana (vontade geral,
soberania popular), com a concepo de autonomia privada da teoria liberal
(interesses particulares, liberdades individuais). Ela pode ser concebida,
simultaneamente, como um meio-termo e uma alternativa aos modelos
republicano e liberal
176
. No entanto, embora o tema geral seja o mesmo, h
diferentes vises de democracia deliberativa, que conferem diferentes nveis
dos processos democrticos, e modos diferentes de compreender as fronteiras
entre a autonomia privada e autonomia pblica. Embora no possamos prestar
contas aqui das diferenciaes internas pormenorizadas dessas diferentes
compreenses, h, por um lado, autores que buscam reformular internamente
elementos do modelo liberal de democracia, e por um lado, h aqueles que
refutam o paradigma liberal apresentando novas alternativas
177
. Mas,
diferentemente de quem rejeita veemente a tradio liberal, Habermas ainda
176 J. Souza (2000) A singularidade Ocidental como aprendizado reflexivo: Jrgen Habermas e o
conceito de esfera pblica, in A Modernidade Seletiva. Braslia: Ed. UnB, p. 59.
177 Para bibliografia sobre democracia deliberativa, ver: Joshua Cohen, Deliberation and Democratic
Legitimacy, in Hamlin & Pettit (1989) The Good Polity. Blackwell, pp. 17-34; J. Fishkin (1991)
Democracy and Deliberation. New Haven, Yale; J. Bohman (1996) Public Deliberation, Compexity,
and Democracy. MIT Press; J. Dryzek (2000) Deliberative Democracy and Beyond. Oxford Univ.
Press; Fishkin & Laslett (2002) Debating Deliberative Democracy. GB Verlag; G. Palazzo (2002)
Die Mitte der Demokratie. ber die Theorie deliberativer Demokratie von Jrgen Habermas. Nomos
Verlag. E as coletneas: S. Benhabib (1996) Democracy and Difference. Contesting the Boundaries
of the Political. Princeton; Bohman & Regh (1997) Deliberative Democracy. MIT Press; J. Elster
(ed.) (1998) Deliberative Democracy. Cambridge Univ. Press; Rosenfeld & Arato (1998) Habermas
on Law and Democracy. University of California Press; Gutmann & Thompson (1994), Democracy
and Disagreement. Harward Univ. Press; J. Gastil, & L. Peter (2005) The Deliberative Democracy
Handbook. WJS Verlag; Schaal, Gary & Strecker, David (1999) Die politische Theorie der
Deliberation: Jrgen Habermas, in: Brodocz & Schaal, Politische Theorien der Gegenwart. Opladen
[69-93].
144
busca conciliar as tradies liberal e republicana. No entanto, se a teoria
deliberativa uma alternativa frente aos modelos liberal e republicano, o que
ela introduz de novo? O modelo deliberativo pode fazer a diferena?
178
Deliberao uma categoria normativa que sublinha uma
concepo procedimental de legitimidade democrtica, segundo Habermas.
Esta concepo normativa gera uma matriz conceitual diferente para definir a
natureza do processo democrtico
179
, sob os aspectos regulativos (ou
exigncias normativas) da publicidade, racionalidade e igualdade
180
.
Embora
tambm tenha um carter emprico-explicativo, a nfase da concepo
habermasiana de democracia procedimental assenta no carter crtico-
normativo. A concepo procedimental de democracia uma concepo
formal e assenta nas exigncias normativas da ampliao da participao dos
indivduos nos processos de deliberao e deciso e no fomento de uma
cultura poltica democrtica. Por ser assim, esta concepo est centrada nos
procedimentos formais que indicam quem participa, e como faz-lo (ou est
178 Sobre a diferena do modelo procedimental em relao aos outros modelos, ver: Habermas,
Faktizitt und Geltung, pp. 363ss; Habermas, Drei normative Modelle der Demokratie, in Die
Einbeziehung des Anderen, pp. 277-292 [Ver cap. 5, Was heit Deliberativer Politik]; Habermas,
Three Models of Democracy, in Constellations 1 (1 1994) [1-10]. Para a discusso Habermas-
Rawls, ver: The Journal of Philosophy, XCII, n.3 (1995). Alm disso, ver: Held (1987) Models of
Democracy. Standford University Press; Gutmann & Thompson, Why Deliberative Democracy is
Different?, in Social Philosophy & Policy 17 (2000) [161-180]; S. Benhabib, Deliberative Rationality
and Models of Democratic Legitimacy, in Constellations 1 (1994) [26-52]; M. Cooke, Five
Arguments for Deliberative Democracy, in Political Studies 48 (2000) [947-969]; Nobre,
Participao e deliberao na teoria democrtica: uma introduo, in Nobre & Coelho, (2004)
Participao e Deliberao, pp. 31-37.
179 Habermas, Drei normative Modelle der Demokratie, p. 277.
180 Habermas, Political Communication in Media Society, p. 4.
145
legitimado a participar ou faz-lo), mas no diz nada sobre o que deve ser
decidido. Ou seja, as regras do jogo democrtico (eleies regulares, princpio
da maioria, sufrgio universal, alternncia de poder) no fornecem nenhuma
orientao nem podem garantir o contedo das deliberaes e decises.
Para Habermas, dois modelos normativos de democracia
dominaram o debate at aqui, o liberal e o republicano. Diante destes, prope
um modelo alternativo, o procedimental
181
. A dimenso poltica comparativa
tomada pelo autor a formao democrtica da opinio e da vontade
182
.
Alm
disso, o entendimento distinto do processo democrtico carrega tambm
compreenses normativas distintas de estado e sociedade, e para a
compreenso da legitimidade e da soberania popular.
No modelo liberal, o processo democrtico tem por objetivo
intermediar a sociedade (um sistema estruturado segundo as leis do mercado,
interesses privados) e o Estado (como aparato da administrao pblica).
Nesta perspectiva, a poltica tem a funo de agregar interesses sociais e os
impor ao aparato estatal; essencialmente uma luta por posies que
permitam dispor de poder administrativo, uma autorizao para que se
ocupem posies de poder. O processo de formao da vontade e da opinio
poltica determinado pela concorrncia entre agentes coletivos agindo
181 Habermas, Drei normative Modelle der Demokratie, p. 277.
182 Habermas, Drei normative Modelle der Demokratie, p. 285.
146
estrategicamente em manter ou conquistar posies de poder. Por esse modo,
esta compreenso de poltica opera com um conceito de sociedade centrado
no Estado (como cerne do poder poltico). Como no possvel eliminar a
separao entre Estado e sociedade, visa-se super-la apenas via processo
democrtico. No entanto, a conotao normativa de equilbrio de poder e
interesses frgil e precisa ser complementada estatal e juridicamente. Mas
ela se orienta pelo lado output da avaliao dos resultados da atividade
estatal. O xito em tal processo medido pela concordncia dos cidados em
relao a pessoas e programas, quantificado em votos
183
.
No modelo republicano, o processo democrtico vai alm dessa
funo mediadora. Apresenta a necessidade de uma formao da opinio e da
vontade e da solidariedade social que resulte da reflexo e conscientizao
dos atores sociais livres e iguais. Nessa perspectiva, a poltica no obedece
aos procedimentos do mercado, mas s estruturas de comunicao pblica
orientada pelo entendimento mtuo, configuradas num espao pblico. Este
exerccio de auto-organizao da sociedade pelos cidados por via coletiva
seria capaz de emprestar fora legitimadora ao processo poltico. Por esse
vis, da auto-organizao poltica da sociedade, esta compreenso de poltica
republicana opera com um conceito de sociedade direcionado contra o Estado
183 Habermas, Drei normative Modelle der Demokratie, p. 277.
147
(sociedade o cerne da poltica). Orienta-se pelo input de uma formao da
vontade poltica
184
.
O modelo deliberativo, por sua vez, acolhe elementos de ambos
os lados e os integra de uma maneira nova e distinta num conceito de
procedimento ideal para deliberaes e tomadas de deciso. Esta
compreenso do processo democrtico tem conotaes normativas mais
fortes que o modelo liberal, mas menos normativas do que o modelo
republicano. Como o republicanismo, a teoria discursiva da democracia
reserva uma posio central ao processo poltico de formao da opinio e da
vontade, entretanto sem entender como algo secundrio a constituio
jurdico-estatal
185
. Como o modelo liberal, tambm na teoria discursiva da
democracia os limites entre Estado e sociedade so respeitados.Todavia,
aqui, a sociedade civil, como base social das opinies pblicas autnomas,
distingue-se tanto dos sistemas de ao econmicos quanto da administrao
pblica. Dessa compreenso do procedimento democrtico resulta
normativamente a exigncia de um deslocamento dos pesos que se aplicam a
cada um dos elementos na relao entre os trs recursos, a saber, dinheiro,
poder administrativo e solidariedade, a partir das quais as sociedades
modernas preenchem sua necessidade de integrao e de regulao. As
implicaes normativas so evidentes: a fora scio-integrativa da
184 Habermas, Drei normative Modelle der Demokratie, p. 277.
185 Habermas, Drei normative Modelle der Demokratie, p. 287.
148
solidariedade, que no pode mais ser obtida, mas ser extrada apenas das
fontes da ao comunicativa, precisa desenvolver-se em espaos pblicos
autnomos diversos e procedimentos de formao democrtica da opinio e
da vontade poltica institucionalizados jurdico-estatalmente; e ser capaz de se
afirmar contra os outros dois poderes, dinheiro e poder administrativo
186
.
O princpio procedimental da democracia visa amarrar um
procedimento de normatizao (o que significa: um processo de
institucionalizao da formao racional da opinio e da vontade), atravs do
carter procedimental, que garante formalmente igual participao em
processos de formao discursiva da opinio e da vontade e estabelece, com
isso, um procedimento legtimo de normatizao. Nesse caminho via
procedimento e deliberao, que constitui o cerne do processo democrtico,
pressupostos comunicativos de formao da opinio e da vontade funcionam
como a eclusa mais importante para a racionalizao discursiva das
decises no mbito institucional. Procedimentos democrticos proporcionam
resultados racionais na medida em que a formao da opinio e da vontade
institucionalizada sensvel aos resultados de sua formao informal da
opinio que resulta das esferas pblicas autnomas e que se formam ao seu
redor. As comunicaes pblicas, oriundas das redes perifricas, so
186 Habermas, Drei normative Modelle der Demokratie, pp. 288-89.
149
captadas e filtradas por associaes, partidos e meios de comunicao, e
canalizadas para os foros institucionais de resoluo e tomadas de deciso:
A chave da concepo procedimental de democracia consiste
precisamente no fato de que o processo democrtico
institucionaliza discursos e negociaes com o auxlio de formas
de comunicao as quais devem fundamentar a suposio de
racionalidade para todos os resultados obtidos conforme o
processo
187
.
Como se v nessa passagem, do ponto de vista normativo, o que
empresta fora legitimadora ao procedimento justamente o percurso ou a
base argumentativa de fundamentao discursiva que se desenrola na esfera
pblica. Este percurso visa garantir o uso eqitativo das liberdades
comunicativas, conferindo por esse modo tambm fora legitimadora ao
processo de normatizao. Ou seja, a compreenso procedimental de
democracia tenta mostrar que os pressupostos comunicativos e as condies
do processo de formao da opinio so a nica fonte de legitimao; que a
formao democrtica da opinio e da vontade tira sua fora legitimadora dos
pressupostos comunicativos e dos procedimentos democrticos.
Procedimentos que fundamentam uma medida para a legitimidade da
influncia exercida por opinies pblicas sobre a esfera formal do sistema
187 Habermas, Faktizitt und Geltung, p 368.
150
poltico. Para serem legtimas, as decises tm que ser reguladas por fluxos
comunicativos que partem da periferia e atravessam as comportas dos
procedimentos prprios democracia. A prpria presso da esfera pblica
consegue forar a elaborao de questes e, com isso, atualizar
sensibilidades em relao s responsabilidades polticas
188
.
Na perspectiva de uma teoria da democracia, a esfera pblica
tem que reforar a presso exercida pelos problemas, ou seja,
ela no pode limitar-se a perceb-los, e a identific-los, devendo,
alm disso, tematiz-los, problematiz-los e dramatiz-los de
modo convincente e eficaz, a ponto de serem assumidos e
elaborados pelo complexo parlamentar
189
.
Mas, nesse movimento da esfera pblica deliberativa, uma outra
categoria tambm assume um papel mediador importante: o direito. No
obstante o que interessa aqui no tanto o carter procedimental do direito,
mas sim, a sua funo especfica como mediador e transformador.
188 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 432-33.
189 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 435.
151
4.3 Direito procedimental e esfera pblica
A obra sobre direito e democracia mostra claramente uma nova
compreenso habermasiana da natureza e da funo do Direito
190
. Enquanto
que na Theorie..., o Direito exercia uma funo mais colonizadora sobre o
mundo da vida, como responsvel pela crescente juridificao
(Verrechtlichung) da vida social (o crescente incremento de regulao legal),
em Faktizitt..., pelo contrrio, o Direito, reconstrudo por vias discursivas,
exerce um papel (invertido) mais integrador, claramente mais positivo,
responsvel por traduzir a linguagem e transportar as estruturas comunicativas
das interaes simples para o nvel da interao abstrata. esta dimenso
transformadora que o Direito assume nesse rearranjo que viria a ser
importante no quadro terico da democracia procedimental habermasiana.
A caracterizao de Habermas dos dois paradigmas do Direito
hoje existentes e em competio (a saber, o paradigma liberal e o paradigma
social) permite delinear no apenas a sua proposta de um paradigma
procedimental do Direito, mas tambm a sua concepo de democracia, de
modo a localizar nesse novo quadro terico a nova posio que nele ocupa a
categoria de esfera pblica. Contudo, no cabe aqui acompanhar em toda sua
190 Sobre a correo da juridificao, ver tambm: Habermas, Die Normalitt einer Berliner
Republik, p. 159.
152
extenso uma srie de consideraes de ordem conceitual sobre a formulao
da concepo procedimental do Direito
191
.
Para nossos propsitos, interessa a
segunda perspectiva: qual a relao entre o direito e a esfera pblica?
No quadro terico da obra sobre direito e democracia, a formao
discursiva da opinio e da vontade poltica, embora tambm tenha um carter
formal, de responsabilidade institucional, no deve se restringir, todavia, aos
arranjos institucionais; precisa se abastecer tambm nos contextos informais
de formao da opinio
192
. E, para isso, a esfera pblica fundamental como
um espao de ressonncia, a qual pode captar os problemas que emergem da
sociedade civil, e conduzi-los para as instncias formais do sistema poltico e
administrativo. A esfera pblica se utiliza das suas estruturas comunicativas,
que formam uma ampla rede de sensores que reagem presso dos
problemas que emergem da sociedade e que so condensadas em opinies
pblicas, transformando-se em poder comunicativo capaz de influenciar as
esferas de deciso. Estruturas comunicativas so formas generalizadas,
191 Uma boa apresentao da teoria discursiva do direito feita por Dutra (2005) Razo e consenso
em Habermas, Ed. da UFSC, cap. 5. Alm disso, ver: Nobre, Habermas e a teoria crtica da
sociedade: sobre o sentido da introduo da categoria do direito no quadro da teoria da ao
comunicatica, in Oliveira & Souza, Justia e Poltica: homenagem a Otfried Hffe. Edipucrs [373-
392]; Nobre, Introduo, in Nobre & Terra (org.) Direito e democracia: Um guia de leitura. So
Paulo. Ed. Malheiros, 2007. Para outros comentrios ou observaes crticas, ver: Pinzani, A.
(2000) Diskurs und Menschenrechte: Habermas Theorie der Rechte im Vergleich. Hamburg: Kovac
Verlag; Marsh, James L. (2001) Injust Legality: a Critique os Habermas's Philosophy of Law.
Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. E as coletneas organizadas por: Deflem, Mathias
(1996) Habermas, Modernity and Law. SAGE Publications; Krawietz, Werner (1998) System der
Rechte, demokratischer Rechtsstaat und Diskurstheorie des Rechts nach Jrgen Habermas. Berlin:
Duncker & Humblot (Habermas-Sonderheft); Rosenfeld, Michael & Arato, Andrew (1998) Habermas
on Law and Democracy. University of California Press.
192 Habermas, Faktizitt und Geltung, "Nachwort, pp. 629-31.
153
abstratas, desacopladas dos contextos das interaes simples. Abstrao
aqui significa o desligar das esferas pblicas de seus espaos concretos, o
passar das estruturas espaciais das interaes simples para a generalizao
da esfera pblica. nesse sentido que Habermas usa metforas
arquitetnicas tais como foros, arenas, entre outras
193
.
As estruturas comunicativas esto muito ligadas aos domnios da
esfera da vida privada. A esfera pblica, por sua vez, capta e tematiza os
problemas que surgem e transparecem na presso social exercida pelos
problemas que surgem das experincias de vida que se situam na esfera
privada. Os canais de comunicao da esfera pblica engatam-se nas esferas
da vida privada, de modo que as estruturas espaciais das interaes simples
podem ser ampliadas e abstradas. O limiar entre esfera privada e esfera
pblica definido, no atravs de temas e relaes fixas, mas atravs de
condies de comunicao modificadas. So estas condies de comunicao
que canalizam o fluxo de temas de uma esfera para outra. E o direito permite
esse movimento, no qual as estruturas de reconhecimento concretizadas no
agir comunicativo passam do nvel das interaes simples para o nvel
abstrato das relaes organizadas
194
. O direito funciona como um mediador
atravs do qual o nvel das interaes simples passa para o das relaes
abstratas e annimas. O direito o mediador que possibilita o translado das
193 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 437.
194 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 527-28.
154
estruturas de reconhecimento recproco para os complexos e cada vez mais
annimos domnios de ao de uma sociedade altamente complexa e
diferenciada funcionalmente
195
. O direito funciona como uma correia de
transmisso que transporta as estruturas de reconhecimento recproco
existentes entre conhecidos e em contextos concretos do agir comunicativo
para o nvel das interaes annimas entre estranhos
196
. Nesse sentido,
tambm estabelece uma relao entre a abordagem emprica e a normativa
197
.
Na reconstruo por vias discursivas, o direito se apia num
conceito de racionalidade procedimental. No entanto, o direito no consegue
seu sentido normativo por si mesmo, atravs de sua forma, mas atravs de um
procedimento que instaura o direito gerado legitimamente
198
. A compreenso
procedimental do direito tenta mostrar que os pressupostos comunicativos e
as condies do processo de formao democrtica da opinio e da vontade
so a nica fonte de legitimao
199
. Para Habermas, o que garante a justia da
lei a gnese democrtica e no os princpios jurdicos a priori
200
.
Legitimidade que est ligada aos pressupostos comunicativos pretensiosos de
arenas polticas, que, no entanto, no se limitam formao da vontade
institucionalizada em corporaes parlamentares, mas tambm se estendem
195 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 386-87.
196 Habermas, Faktizitt und Geltung, "Nachwort, p. 662.
197 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 527.
198 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 169; "Nachwort, pp. 678-680.
199 Habermas, Faktizitt und Geltung, "Nachwort, p. 664.
200 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 232.
155
esfera pblica poltica, ao seu contexto cultural e sua base social. Por esse
vis, o direito tambm pode tornar-se eficiente como transformador e
amplificador dos impulsos sociais.
A legitimidade do direito positivo no deriva mais de um direito
moral superior: porm ele pode consegui-la atravs de um
processo de formao da opinio e da vontade, que se presume
racional. Eu analisei esse processo democrtico que empresta
fora legitimadora ao estabelecimento do direito em meio ao
pluralismo das cosmovises e das sociedades sob pontos de
vista da teoria do discurso. E, neste trabalho, apoiei-me no
princpio segundo o qual podem pretender legitimidade as
regulaes normativas e modos de agir merecedores do
assentimento de todos os possveis envolvidos enquanto
participantes de discursos racionais. luz desse princpio do
discurso, os sujeitos examinam quais os direitos que eles
deveriam conceber aos outros. Enquanto sujeitos do direito, eles
tm que ancorar esta prtica da auto-legislao ao medium do
prprio direito; eles tm que institucionalizar juridicamente os
prprios pressupostos comunicativos e os procedimentos de um
processo de formao da opinio e da vontade, no qual
possvel aplicar o princpio do discurso. Por conseguinte, o
estabelecimento do cdigo do direito, levado a cabo como auxlio
do direito geral a liberdades subjetivas de ao, tem que ser
completado atravs de direitos de comunicao e de
participao, os quais garantem um uso pblico e eqitativo de
liberdades comunicativas. Por este caminho, o princpio do
156
discurso assume a figura jurdica de um princpio da
democracia
201
.
Como se v nessa passagem, o direito adquire em Habermas um
duplo carter. Por um lado, ele tem um aspecto sistmico. Mas, por outro lado,
o direito no encapsulado unicamente pela lgica instrumental do sistema.
Tem de ser capaz de captar e traduzir os influxos comunicativos do mundo da
vida em termos especializados, sistmicos. Essa dupla face do direito permite
a ele ser o transformador do poder comunicativo em poder administrativo.
Com isso, o medium do direito contribui na criao de um vnculo entre
processos de formao discursiva da opinio e da vontade e procedimentos
de tomada de deciso; o direito acopla, via procedimentos jurdicos, discursos
pblicos a processos decisrios. Aqui tambm aparece mais claramente a
relao entre o direito e a esfera pblica. O direito surge agora tambm como
um mediador. Porm, isso no significa necessariamente que a poltica seja
colonizada pelo direito, ou que o direito tome a funo mediadora da esfera
pblica. Significa apenas que h outros mediadores, com funes mais ou
menos equivalentes; ambos operam na articulao entre facticidade e
validade:
201 Habermas, Faktizitt und Geltung, "Nachwort, p. 674.
157
E, para impedir, em ltima instncia, que um poder ilegtimo se
torne independente e coloque em risco a liberdade, no temos
outra coisa a no ser uma esfera pblica desconfiada, mvel,
desperta e informada, que exerce influncia no complexo
parlamentar e insiste nas condies da gnese do direito
legtimo. Com isso, atingimos o ncleo do paradigma
procedimental do direito, pois a combinao universal e a
mediao recproca entre a soberania do povo institucionalizada
juridicamente e a no-institucionalizada so a chave para se
entender a gnese democrtica do direito. O substrato social,
necessrio para a realizao do sistema de direitos, no
formado pelas foras de uma sociedade de mercado operante
espontaneamente, nem pelas medidas de um Estado de bem-
estar que age intencionalmente, mas pelos fluxos comunicativos
e pelas influncias pblicas que procedem da sociedade civil e
da esfera pblica poltica, os quais so transformados em poder
comunicativo pelos processos democrticos (...)
202
.
No paradigma procedimentalista do Direito, a esfera pblica
tida como uma ante-sala do complexo parlamentar e como a
periferia que inclui o centro poltico, no qual de originam os
impulsos: ela exerce influncia sobre o estoque de argumentos
normativos, porm sem a inteno de conquistar partes do
sistema poltico. Atravs dos canais de eleies gerais e de
formas de participao especficas, as diferentes formas de
opinio pblica convertem-se em poder comunicativo, o qual
exerce um duplo efeito: a) de autorizao sobre o legislador, e b)
de legitimao sobre a administrao reguladora (...)
203
.
202 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 532.
203 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 533.
158
Para a teoria democrtica deliberativa, os processos e
pressupostos comunicativos de formao democrtica da opinio e da vontade
funcionam como a eclusa mais importante para a racionalizao discursiva
das decises de um governo e de uma administrao vinculados ao direito e
lei
204
. E o direito funciona como o mediador atravs do qual o poder
comunicativo se transforma em poder administrativo. Segundo Habermas, a
formao poltica da vontade culmina em decises sobre polticas e leis, que
precisam ser formuladas na linguagem do direito
205
. No final das contas, os
interesses das comunicaes pblicas acabam desaguando nas decises das
corporaes legislativas
206
. Os programas polticos de legislao seriam os
canais atravs dos quais os contedos concretos migram para o direito.
A mediao entre as esferas informais do mundo da vida e da
sociedade civil e formais do sistema poltico-administrativo d-se sob o
aspecto da nfase na institucionalizao. Esta institucionalizao toma o
percurso da socializao horizontal para formas verticais de organizao. O
direito operacionaliza este procedimento de institucionalizao
207
.
Ou seja,
novos programas so implementados pela institucionalizao de
procedimentos do direito, pelas vias da institucionalizao jurdica. O direito
o transformador na circulao da comunicao entre mundo da vida e
204 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 364.
205 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 207.
206 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 211.
207 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 517.
159
sistemas sociais funcionais
208
.
Assim, a fora legitimadora do processo
democrtico atribuda no somente ao carter discursivo da formao da
vontade e da opinio, mas tambm a forma jurdica delineadora, que integra
discursos a processos decisrios.
A contribuio dada pelo mdium do direito enquanto tal
fora legitimadora do processo democrtico consiste em que ele
acopla processos decisrios (no sentido estrito de
procedimentos jurdicos) a busca cooperativa da verdade,
atribuindo a ela uma nova funo, qual seja, atuar na preparao
discursiva das decises
209
.
Alm disso, o conceito de institucionalizao tambm se refere
diretamente a um comportamento esperado do ponto de vista normativo. E, no
seu modo de funcionar, a esfera pblica funciona como uma categoria
normativa.
Da lgica dos discursos da justia e do auto-entendimento
resultam argumentos normativamente cogentes para abrir a
formao institucionalizada, porm porosa, da opinio e da
vontade poltica aos crculos informais da comunicao poltica
em geral. No quadro de uma discusso de princpios do Estado
de direito, trata-se do significado constitucional de um conceito
normativo de esfera pblica
210
.
208 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 78; 108.
209 Habermas, Apndice a 'Faktizitt und Geltung', in Die Einbeziehung des Anderen, pp. 350-51.
210 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 225.
160
Como vimos at aqui, somente as condies processuais da
gnese democrtica das leis asseguram a legitimidade do direito, e a
legitimidade das normas jurdicas mede-se pela racionalidade do processo
democrtico da legislao poltica, para Habermas
211
. Mas como avaliar as
formas concretas de institucionalizao de princpios que resultam da lgica
da diviso de poderes, por exemplo? Tomando como exemplo o tribunal
constitucional, Habermas afirma que os meios disponveis para o processo de
normatizao jurdica tm de ser utilizados sob as condies da poltica
deliberativa, que fundam legitimidade. Este tribunal tem o papel de prestar
ateno aos procedimentos e normas organizacionais dos quais depende a
eficcia legitimadora do processo democrtico; tem que tomar precaues
para que permaneam intactos os canais para o processo inclusivo de
formao da opinio e da vontade, atravs do qual uma comunidade jurdica
democrtica se auto-organiza. Segundo a compreenso procedimental de
Constituio, o tribunal constitucional precisa examinar os contedos e normas
controvertidas especialmente no contexto dos pressupostos comunicativos e
condies procedimentais do processo de legislao democrtico
212
.
211 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 285.
212 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 320.
161
4.4 Esfera pblica deliberativa
No h dvidas de que a concepo normativa da esfera pblica
deliberativa formulada em Faktizitt und Geltung significa uma reorientao do
foco terico em relao s formulaes anteriores. O novo papel da esfera
pblica dentro de uma teoria procedimental da democracia enfatiza ainda mais
a ampliao da categoria esfera pblica, j esboada no prefcio de 1990,
mas agora com uma influncia mais efetiva nos contextos formais e
institucionalizados de deliberao e deciso polticos
213
. Mas, embora esta
concepo modificada de esfera pblica seja abordada da perspectiva
normativa, no trata apenas de postulados normativos, j que tambm tem
referncias empricas
214
. Se, por um lado, a categoria do direito importante
para a auto-compreenso normativa do Estado de direito (que trata da tenso
interna, da validade), por outro lado, a categoria de esfera pblica a
contrapartida fundamental para a compreenso da facticidade social dos
processos polticos (que trata da tenso externa, da facticidade). esta
213 Alm da racionalizao do poder, agora tambm uma racionalizao da economia. Entretanto, um
agir mais efetivo permaneceu apenas no campo poltico. A esfera da economia continuou sem
interveno. Na verdade, ela continua a ser indireta. Faz-se via poltica, que pode estabelecer
regulaes na economia. Para comentrios crticos, ver: The public sphere, civil society, and the
rule of capital, in J. Marsh (2001) Unjust Legality. A Critique of Habermas's Philosophy of Law, pp.
123-152; The Limitations of Habermas's Social and Political Argument, in Sitton (2003) Habermas
and Contemporary Society, pp. 121-140.
214 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 451.
162
perspectiva que interessa esclarecer aqui: qual mesmo a especificidade da
categoria de esfera pblica em Faktizitt und Geltung?
Na linguagem habermasiana, o procedimento da poltica
deliberativa constitui o mago do processo democrtico
215
. A esfera pblica,
por sua vez, a categoria normativa chave do processo poltico deliberativo
habermasiano. A esfera pblica uma estrutura intermediria que faz a
mediao entre o Estado e o sistema poltico e os setores privados do mundo
da vida
216
. Uma estrutura comunicativa, um centro potencial de comunicao
pblica, que revela um raciocnio de natureza pblica, de formao da opinio
e da vontade poltica, enraizada no mundo da vida atravs da sociedade civil.
A esfera pblica tem a ver com o espao social do qual pode emergir uma
formao discursiva da opinio e da vontade poltica
217
. No seu bojo colidem
os conflitos em torno do controle dos fluxos comunicativos que percorrem o
limiar entre o mundo da vida e a sociedade civil e o sistema poltico e
administrativo. A esfera pblica constitui uma caixa de ressonncia
218
,
dotada de um sistema de sensores sensveis ao mbito de toda sociedade
219
,
e tem a funo de filtrar e sintetizar temas, argumentos e contribuies, e
transport-los para o nvel dos processos institucionalizados de resoluo e
215 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 359.
216 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 451.
217 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 436.
218 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 400; 417.
219 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 364.
163
deciso, de introduzir no sistema poltico os conflitos existentes na sociedade
civil, a fim de exercer influncia e direcionar os processos de regulao e
circulao do poder do sistema poltico
220
, atravs de uma abertura estrutural,
sensvel e porosa, ancorada no mundo da vida
221
.
Esfera ou espao pblico um fenmeno social elementar do
mesmo modo que a ao, o ator, o grupo ou a coletividade;
porm, ele no arrolado entre os conceitos tradicionais
elaborados para descrever a ordem social. A esfera pblica no
pode ser entendida como uma instituio, nem como uma
organizao, pois ela constitui uma estrutura normativa capaz de
diferenciar entre competncias e papis, nem regula o modo de
pertena a uma organizao, etc. Tampouco ela constitui um
sistema, pois mesmo que seja possvel delinear seus limites
internos, exteriormente ela se caracteriza atravs de horizontes
abertos, permeveis e deslocveis. A esfera pblica pode ser
descrita como uma rede adequada para a comunicao de
contedos, tomadas de posio e opinies; nela os fluxos
comunicativos so filtrados e sintetizados, a ponto de se
condensarem em opinies pblicas enfeixadas em temas
especficos. Do mesmo modo que o mundo da vida tomado
globalmente, a esfera pblica se reproduz atravs do agir
comunicativo, implicando apenas o domnio de uma linguagem
natural; ela est em sintonia com a compreensibilidade geral da
prtica comunicativa cotidiana. Descobrimos que o mundo da
vida um reservatrio para intenes simples; e os sistemas de
220 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 364; 398; 435; 532-33.
221 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 429-30.
164
ao e de saber especializados, que se formam no interior do
mundo da vida, continuam vinculados a ele. Eles se ligam a
funes gerais de reproduo do mundo da vida (como o caso
da religio, da escola e da famlia), ou a diferentes aspectos de
validade do saber comunicado atravs da linguagem comum
(como o caso da cincia, da moral e da arte). Todavia, a esfera
pblica no se especializa em nenhuma destas direes; por
isso, quando abrange questes politicamente relevantes, ela
deixa ao cargo do sistema poltico a elaborao especializada. A
esfera pblica constitui principalmente uma estrutura
comunicativa do agir orientado pelo entendimento, a qual tem a
ver com o espao social gerado no agir comunicativo, no com
as funes nem com os contedos da comunicao cotidiana
222
.
No entanto, apesar dessa definio mais geral, como determinar
qual a sua especificidade, fixar a extenso ou os limites internos e externos,
estabelecer o que est dentro e o que est fora? Seno vejamos essa outra
passagem:
Ela [a esfera pblica] representa uma rede supercomplexa que
se ramifica num sem nmero de arenas internacionais,
nacionais, regionais, comunais e sub-culturais, que se
sobrepem umas s outras; essa rede se articula objetivamente
de acordo com pontos de vista funcionais, temas crculos, etc.,
assumindo a forma de esferas pblicas mais ou menos
especializadas, porm, ainda acessveis a um pblico de leigos
(por exemplo, esferas pblicas literrias, eclesisticas, artsticas,
222 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 435-36.
165
feministas, ou ainda, esferas pblicas alternativas da poltica de
sade, da cincia e de outras); alm disso, ela se diferencia por
nveis, de acordo com a densidade da comunicao, da
complexidade organizacional e do alcance, formando trs tipos
de esfera pblica: esfera pblica episdica (bares, cafs,
encontros de rua), esfera pblica da presena organizada
(encontros de pais, pblico que freqenta teatro, concertos de
rock, reunies de partidos ou congressos de igrejas) e esfera
pblica abstrata, produzida pela mdia (leitores, ouvintes e
espectadores singulares e espalhados globalmente). Apesar
dessas diferenciaes, as esferas pblicas parciais, constitudas
atravs da linguagem comum ordinria, so porosas, permitindo
a ligao entre elas. Limites sociais internos decompem o
texto da esfera pblica, que se estende radicalmente em todas
as direes [...] No interior da esfera pblica geral, definida
atravs de sua relao com o sistema poltico, as fronteiras no
so rgidas em princpio
223
.
Estas duas passagens acima so elucidativas aqui e sintetizam o
estatuto normativo da categoria de esfera pblica deliberativa, formulado na
obra sobre direito e democracia. A esfera pblica tem como caracterstica
elementar ser um espao irrestrito de comunicao e deliberao pblica, que
no pode ser anteriormente estabelecido, limitado ou restringido, os elementos
constitutivos no podem ser antecipados. Em princpio, est aberta para todo
mbito social. No existem temas ou contribuies a priori englobados ou
223 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 452.
166
excludos. A esfera pblica sempre indeterminada quanto aos contedos da
agenda poltica e aos indivduos e grupos que nela podem figurar. por isso
que Habermas no quer (nem pode) descrever, precisamente, quais as linhas
internas e externas, quais as fronteiras da esfera pblica, embora necessite,
por outro lado, de uma certa auto-limitao, para, por exemplo, no ficar a
merc de toda e qualquer forma de manifestao pblica (como formas de
comunicao estratgicas). Esse o duplo carter constitutivo da esfera
pblica, pelo qual ela acaba oscilando entre a exigncia de livre participao e
circulao de temas e contribuies e uma certa auto-limitao
224
. Para tanto,
Habermas prope a adoo da idia procedimental de deliberao pblica,
pela qual os contornos da esfera pblica se forjam durante os processos de
identificao, filtragem e interpretao acerca de temas e contribuies que
emergem das esferas pblicas autnomas e so conduzidos para os foros
formais e institucionalizados do sistema poltico e administrativo
225
. nesse
carter procedimental de justificao da legitimidade que se realiza a
normatividade da esfera pblica
226
. da inter-relao entre as esferas
pblicas informais e a esfera pblica formal qual seja, dos fluxos
224 Sobre essa dual politics, ver: Cohen & Arato (1992) Civil Society and Political Theory, pp. 460 ss;
Demirovic, Hegemonie und ffentlichkeit, in Das Argument 4-5 (1994), p. 689.
225 Com isso, Habermas quer resolver tambm um problema que j aparecia na obra seminal da
esfera pblica de 1962. O poder da sociedade civil no pode ser associado idia de um povo
concreto que tem no Estado sua corporificao institucional (a contraparte institucional da
sociedade civil) - influncia direta no institucional que caracteriza a concepo republicana de
soberania popular (como acontecia na obra de 1962). Esta influncia precisa ser mediada, se dar
atravs de meios, precisa ser procedimentalizada. Sobre isso, ver: L. Avritzer (1993) Alm da
dicotomia estado/mercado: Habermas, Cohen e Arato, in Novos Estudos Cebrap, n. 36.
226 Regh & Bohman (2002) Discourse and Democracy: the formal and informal bases of legitimacy in
Between facts and Norms, in Schomberg & Baynes, Discourse and Democracy, pp. 31-60.
167
comunicativos e influncias pblicas que emergem das esferas pblicas
informais, autnomas, e so transformados em poder comunicativo e
transportados para a esfera formal , que deriva a expectativa normativa da
esfera pblica.
A expectativa normativa [...] se funda no jogo que se estabelece
entre a formao poltica da vontade, constituda
institucionalmente, e os fluxos comunicativos espontneos de
uma esfera pblica no organizada e no programada para
tomar decises, os quais no so absorvidos pelo poder. Neste
contexto, a esfera pblica funciona como uma categoria
normativa
227
.
Mas como se d especificamente esse engate das esferas
pblicas informais com a esfera pblica formal? Segundo Habermas, atravs
de diferentes nveis da esfera pblica, como a formao informal da opinio
nas esferas pblicas informais, nas associaes, no interior dos partidos,
participao em eleies gerais, corporaes parlamentares e governo
228
.
Para tanto, h uma necessidade de complementar a formao da opinio e da
vontade parlamentar e dos partidos, atravs de uma formao informal da
opinio e da vontade na esfera pblica
229
. Mas, apesar de possuir este
227 Habermas, Faktizitt und Geltung, "Nachwort, p. 625.
228 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 170; 445.
229 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 212.
168
aspecto formal, de conduzir institucionalizao via partidos, eleies e outros
foros, a esfera pblica no institucionalizada, nem sistmica:
A esfera pblica no pode ser entendida como uma instituio
[...] Tampouco ela constitui um sistema, pois, mesmo que seja
possvel delinear seus limites internos, exteriormente ela se
caracteriza atravs de horizontes abertos, permeveis e
deslocveis
230
.
No entanto, se a esfera pblica poltica a categoria central da
compreenso habermasiana do procedimento poltico deliberativo, no o ,
entretanto, no seu todo. O contedo normativo da esfera pblica no se
restringe aos arranjos institucionais, depende tambm das esferas pblicas
informais. E aqui se v claramente o papel dos fruns informais integrantes
da esfera pblica que j se encontravam presente na Theorie . Embora as
tomadas de deciso e a filtragem das razes via procedimento formal
parlamentar ainda permanecem tarefas da esfera pblica formal, so as
esferas informais que tm a responsabilidade de identificar e interpretar os
problemas sociais. E aqui aparece uma certa hierarquizao que segue dois
caminhos de formao da opinio e da vontade: o informal e o
institucionalizado. O caminho procedimental da institucionalizao da prtica
230 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 435.
169
da autodeterminao da sociedade civil segue da socializao horizontal para
formas verticais de filtragem e organizao de temas relevantes.
O princpio da teoria do discurso desloca as condies para a
formao poltica da opinio e da vontade: ela as retira das
motivaes e decises de atores ou grupos singulares e as
transporta para o nvel social de processos institucionalizados de
resoluo e deciso. E aqui emerge o ponto de vista
estruturalista: processos democrticos e arranjos comunicativos
podem funcionar como filtros que selecionam temas e
contribuies, informaes e argumentos, de tal modo que
somente contam os que so vlidos e relevantes
231
.
At aqui vimos que a concepo de poltica deliberativa
abordada principalmente sob o aspecto da legitimao
232
. Vimos tambm que
a noo de procedimento da poltica deliberativa o cerne do processo
democrtico habermasiano. Ao ser forjado na esfera pblica, o procedimento
(e o que dele resulta) fornece a base elementar de medida da legitimidade, e,
nesse sentido, tambm o fundamento ou a justificao normativa. O sentido
normativo da esfera pblica conferir fora legitimadora ao procedimento da
231 Habermas, Faktizitt und Geltung, "Nachwort, p. 679. Neste aspecto, Schmalz-Bruns chama
ateno para a necessidade de ampliar os mecanismos institucionalizados de formao da vontade
poltica. Segundo o autor, preciso conectar os processos de discusso com os de deliberao
pblica, horizontalizar os processos decisrios, assegurar fruns deliberativos e lhes conferir
poderes efetivos no apenas de discusso, mas tambm de deliberao (Schmalz-Bruns, Zivile
Gesellschaft und Reflexive Demokratie, in Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 1 (1994),
pp. 18-34. Sobre isso, ver tambm: Schmalz-Bruns (1995) Reflexive Demokratie. Nomos.
232 Restorff (1997) Die Politische Theorie von Jrgen Habermas, p. 76.
170
poltica deliberativa; o sentido normativo reside na fora legitimadora do
processo de discusso e deliberao que se desenrola no seu interior. O
processo democrtico da deliberao carrega o fardo da legitimao
233
. E
daqui brota o poder comunicativo. O poder comunicativo o poder que
resulta do procedimento deliberativo de discusso e deliberao, que toma
forma na esfera pblica e que geralmente contraposto esfera do poder
poltico-administrativo
234
. No entanto, em Faktizitt..., a esfera pblica no
exerce poder, mas influncia. Esta a diferena em relao idia de
sitiamento da Theorie. A figurao na esfera pblica no pretende o (nem o
conflito gira mais em torno do) sitiamento, mas os diferentes tipos de
influncia. essa influncia que precisa ser mediada. Para tanto,
fundamental o princpio da soberania popular como procedimento
235
.
Soberania popular a idia-chave para entender a concepo
deliberativa de esfera pblica. A concepo normativa de esfera pblica est
apoiada na idia procedimental de soberania popular. Para Habermas, o
233 Habermas, Faktizitt und Geltung, "Nachwort, p. 664.
234 Sobre como a cultura poltica democrtica serve como base elementar de sustentao da
democracia deliberativa, ver: G. Palazzo (2000) Die Mitte der Demokratie. ber die Theorie
deliberativer Demokratie von Jrgen Habermas. Nomos Verlag.
235 Sobre a reconstruo do conceito de soberania popular e a mudana de compreenso de uma
esfera pblica representativa (central em Strukturwandel...) para uma esfera pblica deliberativa
(central em Faktizitt...), ver: Habermas, (1988) Volkssouveranitt als Verfahren: Ein Normativer
Begriff der ffentlichkeit, in Die Moderne ein unvollendetes Projekt. Philosophische-politische
Aufstze 1977-1990. Leipzig: Reclam Verlag [180-212] (ed. ampliada de 1992); tb. em Faktizitt
und Geltung (4 ed. 1994) [600-631]; Habermas, Drei normative Modelle der Demokratie, in Die
Einbeziehung des Andere, pp. 277-292; Brunkhorst, Hauke (1994) The Public Sphere and the
Contradictions of the Current Epoch. From Representation to Deliberation, in Bouman (ed.) And
Justice for All. Maastricht [58-71].
171
procedimento deliberativo toma por base o princpio da soberania popular,
capaz de fornecer o substrato de medida da legitimidade.
No entanto, para
prevenir circunstncias de um alargamento de oportunidades formais que
poderiam emergir de interesses especiais ou grupos especficos, perturbando
ou controlando os fluxos de comunicao, Habermas sugere que a soberania
popular seja procedimentalizada. A soberania popular dissolvida em
procedimentos capazes de garantir as condies que possibilitam aos
processos de comunicao pblica tomarem a forma de discurso e serem
conduzidos aos foros de deliberao e deciso formalmente institudos. Nesse
sentido, a soberania popular no pode manter-se apenas no nvel dos
discursos pblicos informais. Para gerar poder poltico sua influncia tem de
abranger tambm as deliberaes de instituies democrticas de formao
da opinio e da vontade
236
. Nesse sentido, embora fixe o resultado de uma
formao discursiva da opinio apenas de modo provisrio, a regra da
maioria constitui, para Habermas, um bom exemplo para o aspecto
importante de uma regulao jurdica de processos de deliberao. Todos os
membros tm que poder tomar parte nos processos de deliberao e deciso,
mesmo que de modos diferentes; mas, por razes tcnicas, os procedimentos
deliberativos tm que ser conduzidos representativamente. Conduzidos desse
modo, os procedimentos deliberativos tm que ser porosos e sensveis aos
236 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 209-10; "Nachwort, p. 626.
172
estmulos, temas e contribuies, informaes e argumentos fornecidos por
uma esfera pblica pluralista, prxima base
237
.
O princpio da soberania pode ser considerado diretamente sob
o aspecto do poder. A partir deste ngulo, ele exige a
transmisso da competncia legislativa para a totalidade dos
cidados que so os nicos capazes de gerar, a partir de seu
meio, o poder comunicativo de convices comuns. Ora, a
deciso fundamentada e obrigatria sobre polticas e leis exige,
de um lado, consultas e tomadas de deciso face to face. De
outro lado, nem todos os cidados podem unir-se no nvel das
interaes simples e diretas, para uma tal prtica exercitada em
comum. O princpio parlamentar de corporaes deliberativas
representativas oferece uma sada alternativa
238
.
Para Habermas, a poltica deliberativa obtm sua fora
legitimadora da estrutura discursiva de um processo pblico de formao da
opinio e da vontade poltica, a qual preenche sua funo social integradora
graas expectativa da qualidade racional de seus resultados. Para tanto, o
nvel discursivo das comunicaes polticas observveis pode ser tomado
como medida para avaliar a eficcia da razo procedimentalizada
239
. Por isso,
o nvel discursivo do debate pblico constitui a varivel mais importante
240
.
237 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 220-25.
238 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 210.
239 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 414-15; 438.
240 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 369.
173
Mas, como se mede a qualidade e o nvel discursivo das formas de
comunicao pblicas? Para o autor, a influncia da maioria fornece aqui
uma alternativa e constitui uma grandeza emprica.
Na esfera pblica, as manifestaes so escolhidas de acordo
com temas e tomadas de posio em termos de posio pr ou
contra; as informaes e argumentos so elaborados na forma
de opinies focalizadas. Tais opinies so transformadas em
opinio pblica atravs do modo como surgem e atravs do
amplo assentimento de que gozam. Uma opinio pblica no
representativa no sentido estatstico. Ela no constitui um
agregado de opinies individuais pesquisadas uma a uma ou
manifestadas privadamente; por isso, ela no pode ser
confundida com os resultados da pesquisa de opinio. A
pesquisa de opinio poltica pode fornecer um certo reflexo da
opinio pblica, se o levantamento for precedido por uma
formao da opinio atravs de temas especficos num espao
pblico mobilizado (...). Nos processos pblicos de comunicao
no se trata, em primeiro lugar, da difuso de contedos e
tomadas de posio atravs de meios de transmisso efetivos. A
ampla circulao de mensagens compreensveis, estimuladoras
da ateno, assegura certamente uma incluso suficiente de
participantes. Porm, as regras de uma prtica comunicativa,
seguida em comum, tm um significado muito maior para a
estruturao da opinio pblica. O assentimento de temas e
contribuies s se forma como resultado de uma controvrsia
mais ou menos ampla, na qual propostas, informaes e
argumentos podem ser elaborados de forma mais ou menos
174
racional. Com esse mais ou menos em termos de elaborao
racional de proposta, de informaes e de argumentos, h
geralmente uma variao no nvel discursivo da formao da
opinio e na qualidade do resultado. Por isso, o sucesso da
comunicao pblica no se mede per se pela produo de
generalidade, e sim, por critrios formais do surgimento de uma
opinio pblica qualificada. As estruturas da esfera pblica
encampadas excluem discusses fecundas e esclarecedoras. A
qualidade da opinio pblica constitui uma grandeza emprica,
na medida em que ela se mede por qualidades procedimentais
de seu processo de criao. Vista pelo lado normativo, ela
fundamenta uma medida para a legitimidade da influncia
exercida por opinies pblica sobre o sistema poltico.
Certamente, a influncia ftica e a influncia legtima no
coincidem, assim como no h coincidncia entre a legitimidade
e a f na legitimidade. Porm, esses dois conceitos permitem
abrir uma perspectiva, a partir da qual se torna possvel
pesquisar empiricamente a relao entre influncia real e a
qualidade procedimental de opinies pblicas
241
.
Esta questo da influncia da maioria tambm seria retomada
numa outra passagem:
Entre os procedimentos decisrios, a regra da maioria
(qualificada, de acordo com certas exigncias) particularmente
importante, porque a 'racionalidade procedimental' que se atribui
a ela (associada ao carter discursivo dos aconselhamentos
241 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 437-8.
175
precedentes) confere fora legitimadora s decises da maioria.
Decises democrticas da maioria tratam de criar cesuras em
um processo argumentativo (temporariamente) interrompido sob
risco de se tomar uma deciso e cujos resultados podem ser
aceitos como base para uma prxis obrigatria, tambm pela
minoria derrotada nas votaes. Pois a aceitao factual no
significa que a minoria tivesse de aceitar o contedo dos
resultados como sendo racional, ou seja, que ela tivesse que
modificar suas convices. O que ela pode fazer, no entanto,
aceitar por certo tempo a opinio da maioria como orientao
obrigatria para a sua ao, desde que o processo democrtico
lhe reserve a possibilidade de dar continuidade discusso
interrompida, ou ento retom-la, bem como a possibilidade de
mudar a situao da maioria em virtude de argumentos
(supostamente) melhores. A regra da maioria deve sua fora
legitimadora a uma racionalidade procedimental 'incompleta' mas
'pura' (no sentido de Rawls). Ela incompleta porque o processo
democrtico est institudo de tal maneira que d direito a supor
resultados racionais, sem poder garantir a correo dos
resultados (o que ocorre, por exemplo, em um procedimento
perfeito ligado a um caso em particular). Por outro lado, trata-se
de um caso de justia procedimental pura, porque no processo
democrtico no se pode dispor de quaisquer critrios de
correo independentes do procedimento e porque a correo
das decises depende to-somente do cumprimento factual do
procedimento
242
.
242 Habermas, Apndice a 'Faktizitt und Geltung', p. 327. No entanto, aqui Habermas vai chamar a
ateno para uma carncia de interpretao, o reconhecimento de uma fraqueza na sua
interpretao da neutralidade do procedimento democrtico: o fato de no ter investigado em seus
pormenores as tendncias que hoje fazem do processo democrtico o instrumento de uma
dominao das maiorias que trata de excluir minorias fortes (uma tirania da maioria); uma
176
Por fim, a procedimentalizao da soberania popular e a ligao
do sistema poltico s redes perifricas da esfera pblica poltica tambm
implica a imagem de uma sociedade descentrada
243
. A concepo de
democracia procedimental parte da imagem de uma sociedade descentrada.
Diferente dos modelos de democracia tradicionais (que operam com conceitos
de totalidade social e de sociedade e poltica centrados no Estado), Habermas
trabalha com um conceito de sociedade descentrada. O conceito
procedimental de democracia empresta idia da auto-organizao da
sociedade a figura de uma comunidade jurdica que se organiza a si mesma.
No entanto, isso no significa que o sistema poltico gire em torno de si
mesmo. Segundo a teoria discursiva da democracia, o sistema poltico
constitudo pelo Estado de direito no o centro, nem o pice, muito menos o
modelo estrutural da sociedade. Ele um sistema de ao ao lado de
outros
244
.
hegemonia cultural de uma forma de vida que acaba se afirmando sobre minorias (p. 379). Mas,
essa questo fica aqui em aberto e precisa ser melhor examinada.
243 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 362.
244 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 366.
177
4.5 Comentrios crticos
At aqui procuramos elucidar a formulao habermasiana da
categoria deliberativa de esfera pblica e de poltica. Em relao ao captulo
anterior, esta reorientao terica tem como diferencial a nfase na
institucionalizao; um projeto de institucionalizao que se orienta pelo
paradigma procedimental de democracia, intermediado pelo direito.
Para explicar a concepo de democracia procedimental e de
poltica deliberativa, Habermas serve-se de uma concepo normativa de
discurso racional. No entanto, esta concepo no entendida como um ideal
filosfico. Ela tem um carter reconstrutivo: de uma sociologia procedimental
reconstrutiva, com o objetivo de elucidar nas prticas polticas elementos
incorporados, mesmo que distorcidos, da razo existente
245
.
Com esta proposta procedimental de democracia, vemos uma
opo explcita de Habermas. A descrio do procedimento deliberativo serve
como pano de fundo para a proposta de circulao e implantao do poder
comunicativo, ancorado num sistema de eclusas (como vimos, os canais pelos
quais so transpostos os fluxos comunicativos). Estes fluxos podem migrar
tanto do centro para a periferia quanto da periferia para o centro, dependendo
245 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 349.
178
de quem determina ou controla a orientao dos fluxos de comunicao. Mas,
apesar desses dois modos de elaborar temas, questes e problemas,
interessa a Habermas o caminho que culmina no tratamento formal de temas
novos e politicamente relevantes que emergem do mundo da vida e da esfera
privada da sociedade civil, e que migram da periferia ao centro. Como
podemos ver nessa passagem:
A idia de democracia repousa, em ltima instncia, no fato de
que os processos polticos de formao da vontade, que no
esquema aqui delineado tem um status perifrico ou
intermedirio, devem ser decisivos para o desenvolvimento
poltico
246
.
Entretanto, apesar da contrapartida ofensiva, os impulsos
oriundos da sociedade civil, que passam pela esfera pblica, garantem uma
margem de ao muito limitada para as formas no institucionalizadas de
expresso poltica
247
. Para Neidhardt, apesar de j estar estruturalmente
mediada, a mobilizao dos atores sociais na esfera pblica ainda relativa e
fracamente integrada; os movimentos sociais ainda so fracos nesse
sentido
248
. O prprio Habermas chega a compartilhar com Cohen e Arato uma
246 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 432.
247 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 449.
248 Neidhardt, ffentlichkeit, ffentliche Meinung, soziale Bewegung, pp. 32-34.
179
certa dose de ceticismo em relao s possibilidades oferecidas pelas esferas
pblicas tradicionais dominadas pelo poder e pelos meios de comunicao de
massa, de que os sinais emitidos e os impulsos que fornecem so geralmente
pouco ativos e influentes para despertar e reorientar os processos de deciso
do sistema poltico. O prprio modo de operar destes meios na elaborao de
estratgias e mecanismos de comunicao acaba afetando a esfera pblica,
diminuindo o nvel discursivo da circulao pblica da comunicao, podendo
despolitiz-la. Esta submisso a maior preocupao compartilhada por
Habermas tambm com a sociologia da comunicao, o que faz aumentar
ainda mais o seu ceticismo em relao s chances da sociedade civil vir a
exercer influncia sobre o sistema poltico
249
.
No entanto, apesar de latente, isso no quer dizer que a esfera
pblica no possa comear a reavivar o seu potencial intrnseco e provocar
alteraes nos fluxos de comunicao pblica. Pelo contrrio, apesar das
desvantagens estruturais diante da complexidade funcional, os atores da
sociedade civil podem, em certas circunstncias
250
, chegar a assumir um
papel mais ativo e tentar inverter a direo dos fluxos comunicativos ( como
249 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 455-58. Sobre isso, ver tambm: H. Brunkhorst (2001)
Globale Solidaritt: Inklusionsprobleme der modernen Gesellschaft, in Wingert & Gnther, Die
ffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft der ffentlichkeit, pp. 605-626; Brunkhorst (2002)
Globalising Democracy Without a State: Weak Public, Strong Public, Global Constitutionalism, in
Millenium - Journal of International Studies 31, pp. 675-690; Brunkhorst (2003) Demokratie in der
Weltgesellschaft. Hegemoniales Recht, schwache ffentlichkeit, Menschenrechtspolitik, in Bloch-
Jahrbuch, pp.147-162.
250 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 451.
180
vimos na obra sobre direito e democracia). Por estarem localizados na
periferia, os atores tm a vantagem de serem mais sensveis aos novos
problemas que emergem da sociedade civil, de capt-los e identific-los antes
que os centros da poltica. Este seria o potencial latente da esfera pblica
251
.
Nas esferas pblicas polticas, mesmo nas que foram mais ou
menos absorvidas pelo poder, as relaes de fora modificam-se
to logo a percepo de problemas sociais relevantes suscita
uma conscincia de crise na periferia. E, se nesse momento, os
atores da sociedade civil se reunirem, formulando um tema
correspondente e o propagarem na esfera pblica, sua iniciativa
pode ter sucesso porque a mobilizao endgena da esfera
pblica coloca em movimento uma lei, normalmente latente,
inscrita na estrutura interna de qualquer esfera pblica e sempre
presente na auto-compreenso normativa dos meios de
comunicao de massa, segundo a qual, os que esto jogando
na arena devem seu assentimento a sua influncia ao
assentimento da galeria
252
.
Entretanto, dado seu estado de latncia, a esfera pblica continua
organizada mesmo em momentos em que no h demanda, movimento
social? Parece-nos que a esfera pblica, e a sociedade civil, s tm relevncia
num momento de crise, quando existe uma demanda como, por exemplo,
tornar o Estado e o sistema poltico mais reflexivos. Parece-nos que quando a
251 Hinton, Sam. The Potential of the Latent Public Sphere. Verso eletrnica disponvel em:
<http://www.anu.edu.au/~951611/papers/potential.html>
252 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 461.
181
existncia institucional est garantida, dissipa-se. Quando a sociedade civil
reconhecida, ela passa a perder importncia. Os recursos da sociedade civil e
da esfera pblica so tirados dos momentos de crise, de renovao poltica.
Tem momentos que a sociedade civil ganha mais relevncia porque
chamada cena. Mas, depois que se estabelece uma normalidade, ou quando
se consolida uma normalidade, no h mais necessidade de ficar evocando a
esfera pblica. Nesse sentido, como entender a normalidade da esfera
pblica? Ela continua existindo estruturalmente? Talvez o importante aqui seja
analisar qual o conflito, como se estrutura, qual a posio dos atores, se
mais ativa ou defensiva, se institucional ou no.
Alm disso, apesar da definio e diferenciao interna de papis
da esfera pblica; apesar da tentativa mais realista de analisar os processos
concretos de formao da opinio e da vontade nos contextos das interaes
entre sistema e mundo da vida, e j precisar melhor esta relao, mesmo
assim alguns autores chamam a ateno para o fato de que o engate entre a
verso 'fraca' e 'forte' da esfera pblica no estaria inteligvel. Embora se saiba
qual a orientao dos fluxos de comunicao (nfase na institucionalizao),
os mecanismos de transformao no estariam muito claros. Alm disso,
haveria uma distncia ou um desprendimento dos processos informais do
mundo da vida e da sociedade civil das instncias formais de tomada de
deciso, o que acarretaria um dficit estrutural da esfera pblica deliberativa,
182
o que faz com que as reivindicaes e as aes alternativas, ou seja, uma
crtica prtica, permaneam restritas e limitadas
253
.
Para Mark Warren, apesar do discurso racional ser central
poltica democrtica, no se pode pens-lo como uma forma institucional de
formao da vontade democrtica. Em sua opinio, Habermas no est
discutindo que discurso pode ser um princpio organizador de instituies.
Antes, um princpio organizador de julgamento e legitimidade democrtica
254
.
O discurso pode ser vlido, por exemplo, para uma avaliao coletiva e crtica
das instituies e normas de sua sociedade, mas no pode ser
institucionalizado. O que se impe, nesse caso, o consenso em torno de
regras procedimentais do jogo democrtico, pois numa realidade onde
negociaes e acordos estratgicos parecem ser os caminhos mais comuns
para se resolver conflitos e chegar a um acordo, preciso assegurar um
espao que oferea condies efetivas de participao e promoo da
igualdade, para a formao discursiva da opinio pblica.
253 B. Peters, Der Sinn der ffentlichkeit, pp. 48-9; Peters, Deliberative ffentlichkeit, p. 657; K.
Baynes, Democracy and the Rechtsstaat: Habermas's 'Faktizitt und Geltung', in White, The
Cambridge Companion to Habermas, p. 216; Sitton, The Limitations of Habermas's Social and
Political Argument, in J. Sitton, Habermas and the Contemporary Society, pp. 121-140.
254 M. Warren, The self in discursive democracy, in White, The Cambridge Companion to Habermas,
p. 171.
183
Para Simone Chambers, no se pode pensar o procedimento do
discurso como um procedimento decisivo visando um determinado resultado.
O elemento constitutivo do discurso no pode ser identificado com o
procedimento de deciso; ele no apropriado para a tomada de decises,
para todas as decises polticas. Segundo a autora, o discurso um processo
de formao do consenso a longo prazo e no um processo de deciso. O
elemento democrtico do discurso no deveria ser identificado muito de perto
com o cotidiano procedimento de deciso e fazer poltica [...] preciso
visualizar o discurso como um lugar onde interpretaes coletivas so
construdas
255
. preciso entender o discurso, a longo prazo, como um
processo de formao de consenso e no um processo de deciso, visto que
as estruturas de comunicao da esfera pblica no possuem o tipo de poder
poltico pelo qual podem ser tomadas decises institucionalizadas.
255 S. Chambers, Discourse and democratic practice, in White, The Cambridge Companion to
Habermas, p. 250.
184
Os argumentos a favor da concepo deliberativa de esfera
pblica e de poltica tm sido alvo de muitas crticas. Muitos tericos que se
ocupam com teorias democrticas tm questionado as assunes bsicas da
teoria poltica deliberativa que resulta da obra sobre direito e democracia,
apontando vrios pontos frgeis: o seu incansvel procedimentalismo; o
carter idealista; de que a proposta de uma reforma democrtica das
instituies no seria to radical assim; a incapacidade de fornecer princpios
substantivos de justia social; de que, apesar da intencionalidade prtica,
Habermas no explicita nenhum destinatrio em particular (a quem ele se
enderea); que as caractersticas ou pressupostos deliberativos se manifestam
apenas em formas especficas e restritas; entre outros
256
.
256 Sobre as vantagens e as dificuldades da deliberao, ver: Nobre & Coelho (2004) Participao e
deliberao. Ed. 34; B. Peters, Deliberative ffentlichkeit, in Wingert & Gnther (2001), p. 651; W.
Scheuerman, Between radicalism and resignation: democratic theory in Habermass 'Between
Facts and Norms', in Dews (1999), p. 153; Chambers, The Politics of Critical Theory, in Rush
(2004) p. 233; K. Baynes (2005) Deliberative democracy and public reason (Manuscrito). Alm
disso, ver as coletneas editadas por: A. Bchtiger et al, Empirical Approaches to Deliberative
Democracy, in Acta Politica 40, n.2-3 (2005); J. Fishkin (1991) Democracy and Deliberation. Yale;
Gutmann & Thompson (1994) Democracy and Disagreement. Harward Univ. Press; S. Benhabib
(1996) Democracy and Difference. Princeton; J. Bohman (1996) Public Deliberation, Complexity, and
Democracy. MIT Press; Bohman & Regh (1997) Deliberative Democracy. MIT Press; J. Elster (1998)
Deliberative Democracy. Cambridge Univ. Press; Rosenfeld & Arato (1998) Habermas on Law and
Democracy. Univ. of California Press; J. Dryzek (2000) Deliberative Demcoracy and Beyond. Oxford
Univ. Press; Fishkin & Laslett (2002) Debating Deliberative Democracy. GB Verlag; Neidhardt
(1994) ffentlichkeit, ffentliche Meinung, soziale Bewegung. Westdeutschland Verlag; Wingert &
Gnther (2001) Die ffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft der ffentlichkeit. Suhrkamp;
Crossely & Roberst (2004) After Habermas: new perspectives on the public sphere. Blackwell; J.
Parkinson (2006) Deliberating in the real world: problems of legitimacy in deliberative democracy,
Oxford Univ. Press; S. Macedo (1999) Deliberative politics: essays on democracy and
disagreement. Oxford Univ. Press; P. Markell (1997) Contesting consensus: rereading Habermas
on the public sphere, in Constellations 3 [377-400]; B. Lsch (2005) Deliberative Politik. Moderne
Konzeptionen von ffentlichkeit, Demokratie und politischer Partizipation. Westflisches
Dampfboot; W. Daele & F. Neidhardt (1996) Kommunikation und Entscheidung. Politische
Funktionen ffentlicher Meinungsbildung und diskursiver Verfahren. Berlin: Sigma; M. Neves (2001)
Do consenso ao dissenso: o estado democrtico de direito a partir e alm Habermas, in Souza,
Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrtica contempornea. Ed. UnB, p. 111.
185
No podemos acompanhar aqui em sua amplitude a bibliografia
crtica sobre democracia deliberativa e, portanto, no vamos reproduzir de
modo mais detalhado as discusses e controvrsias sobre a fundamentao
do princpio moral e a fundamentao de uma teoria da justia, o debate de
Habermas com as abordagens filosfico-normativas e sociolgico-
observadoras, entre liberais, comunitaristas e procedimentalistas. Estas
discusses entre Habermas, Rawls, Taylor, Dworkin, Luhmann, e as
observaes de comentadores, permanecem incompletas
257
. Para nossos
propsitos, vamos aqui nos limitar apenas a alguns comentrios sobre
deliberao, especialmente aqueles envolvendo a esfera pblica deliberativa.
257 Sobre isso, ver: Habermas (1994) Anerkennungskmpfe im demokratischen Rechtsstaat, in Taylor
et al (1994) Multikulturalism und die Politik der Anerkennung. Fischer [147-196]; Habermas (1996)
Politischer Liberalismus. Eine Auseinandersetzung mit John Rawls [65-127], Inklusion. Einbeziehung
oder Erschliessen? Zum Verhltnis von Nation, Rechtsstaat und Demokratie [154184], Kampf um
Anerkennung im demokratischen Rechtsstaat [237276], ambos in Die Einbeziehung des Anderen.
Suhrkamp; J. Rawls (1971) A Theory of Justice. Harvard Univ. Press; Rawls (1996) Political
Liberalism. Columbia Univ. Press; Rawls (1995) Reply to Habermas, in The Journal of Philosophy,
XCII, n. 3; C. Taylor et al (1994) Multikulturalism und die Politik der Anerkennung. Fischer [147-196];
R. Dworkin (1986) Laws empire, Harvard Univ. Press; Dworkin (1990) Fundations of Liberal Equality.
Cambridge; Dworkin (2000) A Matter of Principle, Harvard Univ. Press; Luhman (1992)
Beobachtungen der Moderne. Westdeutscher Verlag; Luhmann (1995) Das Recht der Gesellschaft.
Suhrkamp; R. Forst (2004) Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jenseits von
Liberalismus und Kommunitarismus. Suhrkamp, 2 ed.; McCarthy (1994) Kantian Constructivism and
Reconstructivism: Rawls and Habermas in Dialogue, in Ethichs 105 [44-63]; McCarthy (1992) Practical
discourse: on the relation of morality to politics, in Calhoun, Habermas and the Public Sphere [51-
72]; K. Baynes (2001) Practical reason, the spaces of reasons, and pblic reason, in Bohman &
Regh, Pluralism and the pragmatic turn. MIT Press; Kukathas & Petit (1990) Rawls: A Theory of Justice
and its Critics. Polity; A. de Vita (2000) A Justia Igualitria e seus Crticos. Ed. Unesp; Brunkhorst
(2002) Rawls and Habermas, in Baynes & Schomberg, Discourse and Democracy. [153-161]; J.
Dryzek (2000) Deliberative Democracy and Beyond. Oxford Univ. Press; R. Talisse (2005)
Democracy after liberalism: pragmatism and deliberative politics. New York Univ. Press; E. Charney
(1998) Political liberalism, deliberative democracy, and the public sphere, in American Political
Science Review 92; Gerhards (1997) Diskursive versus liberale ffentlichkeit. Eine empirische
Auseindersetzung mit Jrgen Habermas, in Klner Zeitschrift fr Sozialforschung und
Sozialpsichologie 49 [1-34]. E, ainda, as coletneas: S. Felipe (1998) Justia como eqidade:
fundamentao e interlocues polmicas. Insular; Dutra & Pinzani (2005) Habermas em Discusso.
Ed. UFSC.
186
A introduo do princpio da legitimidade deliberativa no processo
democrtico significa o reconhecimento, por parte dos atores, de que os
motivos introduzidos no procedimento de discusso e deliberao e de que o
resultado alcanado deu-se sob os holofotes normativos. No entanto, as
dvidas que surgem so: os procedimentos deliberativos so apenas
procedimentos de argumentao racional ou tambm remetem a
consideraes racionais substantivas? A nfase da deliberao nos
elementos normativos e consensuais do modelo deliberativo ou uma nfase
realista os interesses e no potencial de conflito neles contido? Os mecanismos
procedimentais deliberativos realmente conseguem proteger a formao
poltica da opinio e da vontade das influncias? O modelo deliberativo
consegue neutralizar e suspender disparidades econmicas, sociais, culturais,
cognitivas, entre outras, e promover um resultado satisfatrio, de igualdade e
justia? Seu aspecto cognitivo realmente introduz uma gradual abolio destas
desigualdades e disparidades, promove igualdade e produz resultados
polticos justos? Enfim, trata-se de processos de deliberao ideal ou de
deliberao efetiva?
187
Para autores como John Dryzek, James Bohman e Mark Warren,
o modelo de democracia deliberativa que se assenta no princpio
procedimental de soberania popular est muito concentrado, ou direcionado
por demais, na arquitetnica institucional. Em contrapartida, tais autores tm
em comum a tentativa de desenvolver modelos de democracia que se ocupam
com um conceito ps-habermasiano de soberania popular. Um conceito de
democracia que, embora articulado na sociedade civil e na esfera pblica,
seja, no entanto, mais amplo e mais descentrado dos liames institucionais
258
.
Para Simone Chambers, embora Habermas seja um radical
democrata procedimental, no , no entanto, um radical democrata social, e,
por isso, incapaz de fornecer princpios substantivos de justia social
259
.
Para Kenneth Baynes, o modelo deliberativo no pode ignorar completamente
princpios substantivos de justia
260
. Parece-nos que nesse sentido que
emergem as objees mais contundentes concepo deliberativa de esfera
pblica e de poltica habermasiana.
258 J. Dryzek (2000) Deliberative Democracy and Beyond. Oxford Univ. Press; J. Bohman (1997)
Pluralismus, Kulturspezifizitt und kosmopolitische ffentlichkeit im Zeichen der Globalisierung, in
Deutsche Zeitschrift fr Philosophie 45.6 [927-941]; M. Warren (2002) What can Democratic
Participation mean Today?, in Political Theory 30 [677-702].
259 Chambers, The Politics of Critical Theory, p. 233.
260 Baynes, Deliberative democracy and public reason, p. 35.
188
Para William Scheuerman, Habermas teria falhado em no
encarar de modo suficiente o potencial radical da democracia deliberativa
(democracia radical). Por exemplo, desigualdades sociais seriam barreiras
para que os membros de uma comunidade poltica sejam aptos a participar da
gerao da legitimidade do poder. As condies materiais das sociedades
globalizadas, com suas dinmicas complexas, suas condies internas (poder,
consumismo, mdia, por exemplo) acabam privando a autntica participao
democrtica. Segundo o autor, interaes exigem um certo nvel, tem que se
dar sob certas condies, sem coaes externas (econmicas ou de poder,
por exemplo). Por isso, tornam-se necessrios certos nveis de igualdade e
respeito entre os participantes da comunicao pblica; mecanismos capazes
de evitar as influncias das desiguais condies scio-econmicas. Para o
autor, o modelo deliberativo no consegue fornecer condies estruturais de
comunicao pblica isentas de certos tipos de influncia que desvirtuam ou
afetam a qualidade e o resultado do processo deliberativo. O modelo
deliberativo no consegue cumprir todas as exigncias normativas da
publicidade, racionalidade e igualdade nos mais diferentes nveis e arenas da
esfera pblica
261
.
261 Ver: W. E. Scheuerman (1999) Between Radicalism and Resignation: Democratic Theory in
Habermass 'Between Facts and Norms', in Dews, Habermas: a Critical Reader, Oxford: Blackwell,
pp. 153-177; N. Fraser (1992) Rethinking the Public Sphere: a Contribution to the Critique of the
Actually Existing Democracy, in Calhoun, Habermas and the Public Sphere. Cambridge: MIT Press.
189
A concepo deliberativa da democracia considera a participao
dos cidados nas deliberaes e nas tomadas de deciso o elemento central
da compreenso do processo democrtico. Nesse sentido, focaliza os
elementos formais e normativos, como a exigncia do aumento da
participao dos cidados nos processos de deliberao e deciso e o
fomento de uma cultura poltica democrtica. O procedimento da deliberao
no apenas uma etapa de discusso que antecede a tomada de deciso.
Mais do que isso, ela tem o objetivo de justificar as decises a partir de razes
que todos poderiam aceitar. Esse o procedimento deliberativo da razo
pblica: fornecer um espectro de razes que poderiam ser aceitas por todos
os possveis atingidos, ainda que nem todos compartilhem com o tema ou
assunto em questo, ou com a mesma filosofia de vida. Segundo Marcos
Nobre:
O procedimento, para Habermas, formal, mas no em
oposio a contedos determinados, de que ele seria a
abstrao, ou em relao aos quais ele seria vazio, mas o
processo capaz de permitir o surgimento do maior nmero
possvel de vozes, de alternativas de ao e de formas de vida,
garantindo seu direito de expresso e de participao. Ele
formal tambm no sentido de que o processo de deliberao
poltica no pode ser orientado por nenhuma forma de vida
determinada, por nenhum modelo concreto do que deva ser a
190
sociedade ou os cidados que vivem em um Estado
Democrtico de Direito
262
.
Como podemos ver, a deliberao um procedimento que indica
quem deve participar e como, mas no tem nada a dizer sobre o
preenchimento dos contedos normativos. Por esse modo, o princpio formal
da deliberao democrtica no pode ser confundido ou reduzido a outros
bens, tambm valiosos, como justia social, Estado de direito, direitos
sociais e direitos culturais, mais prximos das teorias explicativas da
democracia, fundados nos interesses e nas preferncias dos indivduos
(preferncias e interesses substantivos: ou sociais, ou materiais, ou culturais,
ou ainda outros). Os procedimentos deliberativos escapam das restries de
uma nica dimenso da razo prtica, seja moral, tica ou pragmtica
263
.
Nesse sentido, os aspectos procedimentais do uso pblico da razo, ao
confiarem mais no procedimento deliberativo de uma formao da opinio e da
vontade, podem deixar questes em aberto.
A concepo procedimental de democracia carrega no seu bojo
uma tenso entre facticidade e validade. Esta relao entre ambas constitui-
se numa constante tenso encontrada nos pressupostos pragmticos
262 Nobre, Introduo, in Nobre e Terra (2007) Direito e democracia: um guia de leitura, p. 18.
263 D. Werle, Democracia deliberativa e os limites da razo pblica, in Nobre & Coelho (2004)
Participao e Deliberao, pp. 148-49.
191
contrafactuais que, mesmo carregado de pressupostos idealizadores, tm que
ser admitidos factualmente por todos os participantes quando estes desejam
participar de uma argumentao discursiva a fim de justificar ou negar
pretenses de validade. Os pressupostos idealizadores de incluso,
acesso universal, direitos comunicativos iguais, participao sob igualdade de
direitos, igualdade de chances para todas as contribuies, ausncia de
coaes apenas tm o carter de garantir formalmente uma pressuposio
ftica para gozar chances iguais
264
. Para Habermas, esta tenso
desconsiderada pelas teorias normativistas (que correm o risco de perder o
contato com a realidade social) e as teorias objetivistas (que correm o risco de
serem incapazes de focalizar normas)
265
.
A tenso, o conflito, a disputa poltica que se desenrola nas
esferas pblicas so inerentes ao prprio procedimento, um jogo no qual j
sempre estamos envolvidos como participantes quando pretendemos discutir,
justificar ou negar pretenses de validade. Este conflito se alimenta de um
jogo que envolve uma esfera pblica ancorada na sociedade civil e a formao
institucionalizada no complexo parlamentar, um jogo que envolve a formao
da vontade formal e institucionalizada e a formao informal da opinio
266
.
A
tenso gira em torno dos fluxos comunicativos, ou melhor, de quem determina
264 Habermas, Apndice a 'Faktizitt und Geltung', pp. 340-41.
265 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 21.
266 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 374.
192
o sentido dos fluxos de comunicao e que elaboram pretenses normativas
na sociedade e no sistema poltico. Uma tenso entre o poder comunicativo
gerado na base social do mundo da vida e o poder administrativo gerado no
sistema poltico.
A prpria esfera pblica entendida, por caracterstica, como um
espao irrestrito de comunicao pblica. Nada pode ser estabelecido ou
restringido de antemo. Qualquer assunto ou questo problematizvel pode
ser tematizado publicamente, no qual os contornos da esfera pblica vo
sendo forjados nos processos de escolha, circulao e proposta de temas, e
os contedos normativos vo sendo preenchidos dependendo de quem
controla ou orienta os fluxos de comunicao que figuram na esfera pblica
267
.
A qualidade da deliberao que se configura na esfera pblica depende de um
procedimento no qual os cidados disputam interpretaes de contribuies
por tanto tempo at que cada um esteja convencido de que foram empregados
os melhores argumentos. Este processo garantido pelo carter
procedimental da deliberao. No entanto, o resultado desse processo
permanece provisrio. Isso significa: caso sejam encontrados argumentos
melhores, o procedimento de crtica pblica pode ser reaberto. Esse o
carter reflexivo (e crtico) da esfera pblica deliberativa. Segundo Nobre:
267 Peters, Der Sinn der ffentlichkeit, p. 62.
193
Se a deliberao e a participao devem encontrar seu lugar no
Estado Democrtico de Direito, ser necessrio aceitar um jogo
entre, de um lado, os espaos pblicos autnomos e as novas
formas de institucionalidade que projetam, e, de outro,
macroestruturas definidoras do regime democrtico, que sero
cada vez mais testadas em seus limites e suas configuraes
presentes. Entretanto [acentua Nobre], no se trata de um livre
jogo entre os dois plos, mas uma disputa poltica que s
mostrar avanos emancipatrios se for capaz de afastar, a
cada vez, em cada conflito concreto, o jugo determinante do
dinheiro e poder administrativo
268
.
Esta compreenso falvel do paradigma procedimental tem
implicaes sobre a compreenso da justia e o sentido da igualdade. Em
primeiro lugar, uma esfera pblica, ou de modo mais abrangente, um mundo
da vida racionalizado, exige uma base social material e simblica por meio da
superao das barreiras criadas pela estratificao social e pela explorao
sistemtica. E aqui nos parece claro que a nfase da teoria democrtica
habermasiana gira em torno no apenas da democracia poltica (os
pressupostos formais, como direitos de cidadania, participao, e outros), mas
tambm reivindica democracia social. Como podemos ler nas seguintes
passagens de Faktizitt und Geltung:
268 Nobre, Participao e deliberao na teoria democrtica: uma introduo, in Nobre & Coelho,
Participao e deliberao, p. 37.
194
Desigualdades econmicas, ou a ausncia de medidas
institucionais para reparar conseqncias dessas desigualdades,
podem solapar a igualdade exigida nas ordens deliberativas
269
.
A esfera pblica precisa contar com uma base social na qual os
direitos iguais dos cidados conseguiram eficcia social. Para
desenvolver-se plenamente, o potencial de um pluralismo
cultural sem fronteiras necessita desta base, que brotou por
entre barreiras de classe, lanando fora os grilhes milenares da
estratificao social e da explorao, e se configurou como um
potencial que, apesar de seus inmeros conflitos, produz formas
de vida capazes de gerar novos significados
270
.
Em segundo lugar, a inteno de Habermas no fornecer um
princpio substantivo de justia, como j vimos. Pelo contrrio, os esforos
empregados em Faktizitt und Geltung visam justamente abolir princpios
substantivos, em favor de procedimentos deliberativos, e mostrar a
correlao equilibrada entre a compreenso da autonomia pblica e
autonomia privada. Para Habermas, essa concatenao interna (e recproca)
entre autonomia privada e pblica, quando a entendemos corretamente,
constitui o mago normativo do paradigma procedimental
271
.
269 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 371.
270 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 374.
271 Habermas, Apndice a 'Faktizitt und Geltung', p. 391.
195
Em terceiro lugar, esta crtica habermasiana visa explicitar as
debilidades normativas dos modelos liberal e republicano, que, por exemplo,
fixam de antemo a escolha sobre o sentido da igualdade jurdica; ou fixam de
antemo quais assuntos so privados e quais so pblicos. Com o paradigma
procedimental, a determinao do sentido da igualdade lanado no campo
poltico de comunicao pblica. O contedo da igualdade jurdica deve ser
considerado objeto de uma disputa poltica. Um conflito no qual o sentido da
igualdade decidido num processo de comunicao pblica, conduzido pelos
prprios participantes e possveis afetados por meio do exerccio pblico de
formao democrtica da opinio e da vontade. O modelo deliberativo
considera os prprios concernidos como responsveis pela definio dos
critrios de igualdade a serem aplicadas ao sistema de direitos.
Com isso, a fundamentao de igualdades materiais
incorporada na teoria democrtica como uma disputa poltica em torno do que
precisa ser reconhecido. Uma luta pelo reconhecimento jurdico de
necessidades e exigncias normativas peculiares em relao ao conjunto de
toda a comunidade jurdica, na qual os grupos interessados procuram
apresentar aos demais as experincias particulares de excluso social,
discriminao e carncias em vista do convencimento sobre a necessidade de
um tratamento jurdico formalmente diferenciado. Segundo o princpio amplo
da igualdade do contedo do direito, aquilo que igual sob aspectos
196
relevantes deve ser tratado de modo igual, e aquilo que diferente deve ser
tratado de modo diferente
272
.
Essa perspectiva procedimental abre a possibilidade de avaliao
motivada pela prpria experincia sofrida com a no realizao de direitos,
das alternativas existentes em relao permanncia no paradigma social ou
um retorno ao paradigma liberal. Nesse sentido, Habermas encontra a
emergncia do paradigma procedimental j enraizada em algumas vertentes
da prtica jurdica contempornea, que se v encurralada entre a crtica ao
modelo social e a rejeio do retorno ao modelo liberal
273
. No entanto, em
certos desenvolvimentos de movimentos feministas de esquerda norte-
americanos que Habermas encontra a melhor expresso das exigncias
normativas, da necessidade de uma orientao procedimentalista da prtica
jurdica contempornea: o movimento feminista, ao ter experimentado as
limitaes especficas de ambos os paradigmas anteriores, estaria agora em
condies de negar a cegueira em relao s desigualdades factuais do
modelo paternalista social. Nesse caso, as diferentes interpretaes sobre a
identidade dos sexos e suas relaes mtuas tm de se submeter a
discusses pblicas constantes, no qual as prprias concernidas podem
reformular o tema ou assunto em questo a ser reconhecido, e elas mesmas
272 Habermas, Faktizitt und Geltung, p. 499.
273 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 494-99.
197
decidirem quais as necessidades que precisam ser corrigidas pelo medium do
direito
274
.
274 Habermas, Faktizitt und Geltung, pp. 504-15. Sobre o debate feminista, ver: Y.M.Young (1990)
Justice and the Politics of Difference. Princeton; Young (2001) Inclusion and Democracy.
Cambridge Univ. Press; N. Fraser (1997) Justice Interruptus. Critical Reflections on the
Postsocialist Condition. Routledge; S. Benhabib (ed.) (1996) Democracy and Difference. Princeton
Univ. Press, e Benhabib (2002) Claims of Culture. Princeton Univ. Press. Alm disso, ver: C.
Pateman (1970) Participation and democratic theory. Cambridge Univ. Press; Philips, Anne (ed.)
(1987) Feminism and Equality. Oxford: New York Univ. Press; Rhode, L. D. (1989) Justice and
Gender. Cambridge; J. Landes (1992) Jrgen Habermas, the structural transformation of the public
sphere: a feminist inquiry, in Praxis International 12 [106-127].
198
199
CONSIDERAES FINAIS
Esta tese teve por objetivo elucidar qual o estatuto da
reformulao da categoria de esfera pblica em Jrgen Habermas, a partir do
novo prefcio edio de Strukturwandel der ffentlichkeit, de 1990. O
recorte terico feito no percurso da tese permitiu-nos mostrar que as
reformulaes da esfera pblica podem ser lidas numa dupla perspectiva, sob
dois momentos analiticamente distintos, mas complementares: da esfera
pblica por si mesma e do lugar que ela ocupa num quadro terico mais amplo
da macroteoria habermasiana. Essa perspectiva de leitura tambm permitiu-
nos mostrar os elementos constitutivos prprios da esfera pblica e de seu
papel-chave no arcabouo terico da ao comunicativa, da teoria da
sociedade e da teoria da democracia.
200
A concluso de Strukturwandel der ffentlichkeit deixou em aberto
a necessidade de pensar meios e possibilidades de repolitizao da esfera
pblica. Os esforos posteriores de Habermas, apesar das diferentes feies
que a categoria de esfera pblica foi assumindo, so tentativas de encontrar
uma chave de leitura que permita uma leitura mais adequada possvel dos
contextos a partir dos quais uma esfera pblica poltica poderia ser
tematizada. Neste sentido, as reformulaes da dcada de 90 tomadas como
ponto de partida e como fio condutor da investigao habermasiana so um
passo importante na readequao da categoria de esfera pblica s novas
questes e problemticas que vo sendo incorporadas na discusso sobre o
tema da esfera pblica, suas caractersticas, suas funes, seus portadores,
suas articulaes com outras esferas e instncias mediadoras. A reformulao
da categoria de esfera pblica no prefcio de 1990 a Strukturwandel der
ffentlichkeit, e em Faktizitt und Geltung (com uma nfase maior sobre o
institucional, e a reformulao da noo de sistema poltico, mais aberto e
mais poroso), uma tentativa de melhor contextualizar e compreender as
novas articulaes mediadoras que emergiram entre as esferas do mundo da
vida e da sociedade civil, e as esferas institucionais do sistema poltico e
administrativo. Trata-se de reavaliar os mecanismos de participao
democrtica, os elementos argumentativos e o peso que exercem nos
processos de formao da opinio e da vontade e nos novos arranjos
201
institucionais. Nesse sentido, Habermas pode no ter explicitado nenhum
destinatrio em particular, mas as reformulaes da esfera pblica da dcada
de 90 resgatam a importncia e o papel da sociedade civil, outorgando-lhe o
direito participao e argumentao, ao impacto crescente da reflexividade e
democracia formal.
No entanto, a partir deste cenrio terico da nova compreenso
da circulao do poder poltico, da concepo deliberativa de esfera pblica e
de poltica, que tambm emergem as objees crticas mais contundentes
sobre as implicaes prticas, possibilidades de efetividade e influncia na
institucionalizao de reivindicaes que emergem das mais diversas
organizaes da sociedade civil, e que sejam capazes de promover mudanas
no sistema poltico-administrativo. Nas discusses sobre a categoria de esfera
pblica deliberativa at aqui, algumas questes j foram levantadas como
vimos nos comentrios crticos no final do captulo 4 , e outras precisam ser
melhor investigadas, como o caso das controvrsias sobre as possibilidades
de uma esfera pblica ps-nacional, o campo de investigao sobre a mdia e
sua influncia na infra-estrutura dos processos de comunicao pblica, e a
relao do modelo normativo e suas referncias empricas.
202
a) Nos Estudos Preliminares e Complementos e no Posfcio
quarta edio de Faktizitt und Geltung
275
, na entrevista Faktizitt und
Geltung. Ein Gesprch ber Fragen der politischen Theorie
276
, e no Apndice
a Faktizitt und Geltung
277
, Habermas retoma e busca elucidar as
controvrsias acerca da esfera pblica e da poltica deliberativa, a relao
entre esferas informais do mundo da vida e as esferas formais do sistema
poltico institucionalizado, e o modo como no seu bojo se articula essa
mediao. No entanto, parece-nos que esta tentativa de melhor esclarecer a
articulao entre a auto-compreenso normativa do estado de direito e a
facticidade dos processos polticos j se movimenta sob um modificado pano
de fundo terico da esfera pblica. Depois da obra Faktizitt und Geltung, as
discusses habermasianas sobre as possibilidades prticas do modelo
deliberativo de esfera pblica foram aos poucos sendo aplicadas para o
campo poltico ps-nacional. Especialmente a partir de Die Einbeziehung des
Andere (1996), so tematizadas novas questes e problemas envolvendo a
esfera pblica, mas j pensadas e empregadas num contexto mais amplo e
vinculadas a temas como multiculturalismo, tolerncia, reconhecimento,
redistribuio, fundamentalismo, secularizao, entre outros
278
. Mas, como
275 Habermas, Faktizitt und Geltung (4 ed., 1994), "Vorstudien und Ergnzungen, e "Nachwort;
276 Habermas, Faktizitt und Geltung. Ein Gesprch ber Fragen der politischen Theorie, in Die
Normalitt einer Berliner Republik (1995), p. 133.
277 Habermas, Apndice a Faktizitt und Geltung, in Die Einbeziehung des Anderen (1996), p.309.
278 Habermas (1996) Die Einbeziehung des Anderen, Suhrkamp; Habermas (1998) Die postnationale
Konstellation, Suhrkamp; Habermas (2001) Zeit der bergange, Suhrkamp; Habermas (2004) Der
203
entender esse deslocamento? Seria uma nova reformulao? Seria uma
transferncia? Ou seria um outro campo de aplicao? Ou como entend-lo?
Parece-nos que a categoria de esfera pblica e questes como a relao entre
autonomia pblica e privada, entre soberania popular e direitos humanos,
entre democracia e Estado de direito, so pensadas num contexto aplicativo
modificado, o mbito internacional (de uma esfera pblica ps-nacional e de
uma teoria poltica universalista). Mas, isso precisa ser melhor investigado.
As recentes transformaes nos panoramas social, poltico,
econmico, cultural e religioso, refletem uma nova dinmica envolvendo
estados nacionais que se juntam em comunidades regionais e supranacionais,
de sociedades pluralistas nas quais a intolerncia multicultural se agudiza, e
na qual os cidados esto sendo empurrados e incorporados
involuntariamente numa sociedade mundial, e classificados em centro e
periferia. A expanso do debate sobre a esfera pblica para um mbito global
(Weltffentlichkeit) significa que o contexto terico especfico que at aqui
serviu de base para a discusso e descrio das possibilidades de uma esfera
pblica (cultura poltica comum engenhada no mbito territorial nacional,
estado-nao ou a autoridade do estado como endereo poltico do pblico,
Gespaltene Westen, Suhrkamp; Habermas (2005) Zwischen Naturalismus und Religion, Suhrkamp;
Habermas (2005) A political constitution for pluralist world society? (Manuscrito). Alm disso, ver:
Habermas (2001) Die Zukunft der Menschlichen Natur, Suhrkamp; Habermas (2001) Glauben und
Wissen, Suhrkamp; Habermas (2003) Zeitdiagnosen: Zwlf Essays, Suhrkamp; Habermas (2005)
Dialektik der Skularisierung. ber Vernunft und Religion, Herder Verlag; Habermas & Derrida
(2003) Philosophy in a time of terror: dialogues with Jrgen Habermas and Jacques Derrida,
Univerrsity of Chicago Press.
204
soberania popular, estado democrtico de direito, constituio, direito), j no
seria mais suficientemente para compreender a nova dinmica engendrada
pelo processo de globalizao do capital e da poltica em termos
internacionais, ou as repercusses em escala mundial como a queda do
socialismo de estado nos pases do leste europeu que engendraram novas
experincias de democratizao, o movimento feminista crescente em termos
mundiais, e os movimentos de democratizao na China
279
e na frica
280
.
A
reorientao habermasiana para um mbito temtico ps-nacional visa discutir
as possibilidades e formas de um projeto constitucional de um estado
democrtico e de democracia deliberativa que envolvam a esfera pblica no
nvel global. Habermas parte do princpio de que os estados nacionais no
conseguem mais dar conta dos problemas de legitimao da poltica, (ou dos
efeitos colaterais de outras esferas de ao, como a economia), decorrentes
da movimentao transnacional, e que acaba afetando, de uma forma ou de
outra, os mecanismos de legitimao institucionalizados nos estados
nacionais. Nesta perspectiva, a estrutura terica de base da esfera pblica
formulada em Faktizitt und Geltung j necessitaria de uma outra
reformulao: ser compreendida e aplicada nos contextos europeu e global.
Uma esfera pblica deliberativa ps-nacional, de dimenses ampliadas, seria
uma arena mais adequada para a tematizao de problemas relevantes
279 Hohendahl, ffentlichkeit - Geschichte eines kritischen Begriffs, p.114.
280 Igwe, Ukoro Theophilus (2004) Communicative rationality and deliberative democracy of Jrgen
Habermas: toward consolidatiom of democracy in Africa. Mnster: Lit Verlag.
205
comuns, e para fornecer uma melhor soluo aos atuais problemas de
legitimao enfrentados pelas instncias normativas legais internacionais
institucionalizadas. A tese geral de Habermas a compreenso de uma esfera
pblica global como sendo uma extenso das caractersticas de uma cultura
poltica nacional, no entanto, apenas aplicadas para os nveis europeu e
mundial, respectivamente.
Desde a metade dos anos 90, Habermas e os tericos da
deliberao tm se ocupado com as possibilidades e dificuldades de
procedimentos deliberativos nas arenas internacionais da esfera pblica e da
poltica. Por um lado, estudos indicam que a categoria de esfera pblica
deliberativa prov uma perspectiva analtica apropriada para analisar
procedimentos deliberativos em pequenos grupos; que questes de
participao e deliberao funcionam melhor em interaes locais, conferindo
modos mais efetivos de participao democrtica
281
. Por outro lado, estudos
indicam que h evidncias de que a concepo de esfera pblica deliberativa
281 Sobre isso, ver os artigos in Acta Politica 40, n. 3 (2005), Parte III (Deliberation among Citizens):
Conover & Searing, Studing everiday political talk in the deliberative sistem [269-283]; Fishkin &
Luskin, Experimentig with democratic ideal: deliberative pooling and public opinion [284-298];
Kriesi, Argument-based strategies in direct-democratic votes: the Swiss experience [299-316]; Kies
& Jansen, Online forums and deliberative democracy: hypotheses, variables and methodologies
[317-335]. Alm disso, ver: H. Kriesi (1994) Akteure, Medien, Publikum. Die Herausforderung
direkter Demokratie durch Transformation der ffentlichkeit, in Neidhardt, ffentlichkeit, ffentliche
Meinung, Soziale Bewegungen, pp. 234-259; M. Hajer & H. Wagenaar (2003) Deliberative Policy
Analysis. Cambridge University Press; Fischer, Frank (2003) Reframing public policy: discursive
politics and deliberative practices. Oxford Univ.Press; M. Ottersbach (2004) Auerparlamentarische
Demokratie. Neue Brgerbewegungen als Herausforderung an die Zivilgesellschaft. Campus
Verlag; W. Baber & R. Bartlett (2005) Deliberative environmental politics: democracy and ecological
rationality. Cambridge: MIT Press; J. Roloff (2006) Sozialer Wandel durch deliberative Prozesse.
Metropolis Verlag.
206
prov uma perspectiva analtica apropriada para analisar tambm
procedimentos deliberativos nas esferas nacionais e internacionais - Embora
nesse nvel haja tambm falhas evidentes nos procedimentos deliberativos de
uma esfera pblica poltica dominada por uma comunicao pblica mediada
pelos meios de comunicao de massa e estruturas de poder, pois as
dinmicas de comunicao de massa so dirigidas pelo poder seletivo da
mdia e pelo uso estratgico do poder social e poltico para influenciar a
triagem e o estabelecer da agenda dos assuntos pblicos
282
.
Sendo assim, como os tericos lidam com procedimentos
deliberativos que se estendem para alm das interaes simples e se
configuram num contexto de aplicao mais amplo, mais complexo e mais
pluralista? Como conciliar a necessidade de participao e de procedimentos
deliberativos em contextos de interao social que exibem um incremento
282 Sobre isso, ver os artigos in Acta Politica 40, n.2 (2005), Parte I (A systemic vision of
deliberation): Goodin, Sequencing deliberative moments [182-196]; Dryzek, Handle with care: the
deadly hermeneutics of deliberative instrumentation [197-211]; Rosemberg, The empirical study of
deliberative democracy: setting a research agenda [212-224]; os artigos da Parte II (Deliberation in
formal arenas): A. Bchtiger et al, The deliberative dimensions of legislatures [225-238]; Holzinger,
Context or conflict types: which determines the selection of communication mode [239-254]. Sobre
Deliberation at the International Level, ver: Acta Poltica 40, n.3, Parte IV: D. Porta, Deliberation n
movement: why and who to study deliberative democracy and social movements [336-350]; Ulbert
& Risse, Deliberative changing of discourse: what does making arguing effective? [351-367]; Nanz
& Steffek, Assessing the democratic quality of deliberation in international governance: criteria and
research strategies [368-383]. Alm disso, ver: N. William (2000) The Institutions of Deliberative
Democracy, in Social Philosophy & Policy 17 [181-202]; Gerhards et al (2002) Shaping abortion
discourse: democracy and the public sphere in Germany and United States, Cambridge Univ.
Press. E alguns artigos in: Nobre & Coelho, Participao e deliberao, Ed. 34, entre eles: A. Fung,
Receitas para esferas pblicas: oito desenhos institucionais e suas conseqncias [173-209], D.
Vitale, Democracia direta e poder local: a experincia brasileira do oramento participativo [239-
254], P. Matos, Regulao econmica e social e participao pblica no Brasil [313-342], e A.
Lavalle et al, Lugares e atores da democracia: arranjos institucionais participativos e sociedade civil
em So Paulo [343-367].
207
impressionante no volume da comunicao poltica, e que precisa lidar com
dimenses to ampliadas? Como so pensadas a participao e a deliberao
democrtica no nvel global? Como pensada a interconexo entre as esferas
do mundo da vida situadas localmente com processos de comunicao pblica
a nvel global? Como poderia dar-se essa conexo? Ao tematizar a
Weltffentlichkeit, Habermas ainda se move na chave terica da teoria dual da
sociedade como sistema e mundo da vida? Num certo momento Habermas
afirma que a deliberao na esfera pblica, como um mecanismo de soluo
de problemas e resoluo de conflitos, ainda est fracamente
institucionalizada nesse nvel
283
. Esta uma primeira srie de questes que
permanecem aqui em aberto e precisam ser mais bem investigadas.
283 Habermas, Concluding Comments on Empirical Approaches to Deliberative Politics, in Acta
Poltica. International Journal of Political Science, vol. 40, n.3, p. 386. E este o ponto de partida
da maioria dos estudos, tericos e empricos, sobre os procedimentos deliberativos na esfera
internacional da poltica. Alm da bibliografia citada no final do cap. 2, ver tambm: H. Brunkhorst
(2005) Jenseits von Zentrum und Peripherie. Zur Verfassung der fragmentierten Weltgesellschaft.
Rainer Hampp Verlag; Brunkhorst (2006) Vlkerrechtspolitik. Recht, Staat und Internationale
Gemeinschaft im Blick auf Kelsen. Hamburg: Liszt Verlag; Brunkhorst (2006) Europa im Kontext der
Weltgesellschaft. (Manuscrito); Brunkhorst (2006) Legitimationskrise in der Weltgesellschaft.
(Manuscrito); J. Bohman (1997) Pluralismus, Kulturspezifizitt und kosmopolitische ffentlichkeit im
Zeichen der Globalisierung, in Deutsche Zeitschrift fr Philosophie 45.6 [927-941]; D. Held (1995)
Democracy an the global order. From the modern state to cosmopolitam governance, Polity Press;
K. Eder (2000) Zur Transformation nationalstaatlicher ffentlichkeit in Europa, in Berliner Journal
fr Soziologie, n. 2 [167-184]; N. Fraser (2002) Transnationalizing the public sphere. New York
(Manuscrito); P. Kraus (2005) Democracy, communication and language in Europes transnational
political space, Wissenschaftzentrum Berlin; O. Hffe (1999) Demokratie im Zeitalter der
Globalisierung. Mnchen: Beck; P. Nanz (2005) European Community without a demos? Rethinking
conceptions of the public sphere. Berlin: Wissenschaftszentrum; Di Fbio, Udo (2001) Der
Verfassungstaat in der Weltgeselschaft. Tbingen: Mohr; Lescano, Andreas Fischer (2005)
Globalverfassung. Die Geltungsbegrndung der Menschenrechte. Weilerswist: Velbrck
Wissenschaft; Lutz-Bachman, Mathias & Bohman, James (2002) Weltstaat oder Staatwelt? Fr und
wider die Idee einer Weltrepublik. Suhrkamp; Mller, Friedrich (2003) Demokratie zwischen
Staatsrecht und Weltrecht. Nationale, staatlose und globale Formen menschenrechtsgesttzer
Globalisierung. Elemente einer Verfassungstheorie VIII. Berlin: Duncker & Humblot; Stichweh, R.
(2000) Die Weltgesellschaft. Suhrkamp; Teubner, G. (2003) Globale Zivilverfassungen: Alternativen
zu Staatszentrierten Verfassungstheorie, in Zeitschrift fr auslndisches Recht und Vlkerrecht. Bd.
208
b) A segunda questo que nos interessa aqui o ambivalente
potencial democrtico da esfera pblica e sua relao com os meios de
comunicao. Este tema permaneceu uma lacuna investigativa no prprio
Habermas. A concluso de Strukturwandel der ffentlichkeit apontou para
uma esfera pblica despolitizada, infiltrada pelo poder e dominada pelos meios
de comunicao de massa. Este diagnstico negativo mostrou os problemas
estruturais de uma esfera pblica incapaz de ser um critrio de regulao
racional de conflitos existentes e, com isso, no consegue ser uma base
normativa efetiva para uma teoria da legitimidade democrtica, na qual a
esfera pblica a categoria-chave. No entanto, apesar da forte nfase nos
efeitos dos meios de comunicao de massa para a despolitizao da esfera
pblica, este tema permaneceu no tematizado nos escritos posteriores.
O
que ganhou nfase foi o tema da legitimao e seus problemas enfrentados
por uma esfera pblica infiltrada pelo poder. Entretanto, se bem observarmos,
a ateno de Habermas para a influncia da mdia depois de Strukturwandel...
no foi totalmente abandonada; ela foi suspensa, pelo menos at ser
retomada no prefcio nova edio de Strukturwandel, de 1990
284
.
63, n.1; Giesen, Klaus-Gerd (2001) Habermas, a Segunda Modernidade e a Sociedade Civil
Internacional, in Novos Estudos Cebrap 60 [87-96]; Farias (2001) Globalizao e estado
cosmopolita: antinomias de Jrgen Habermas, Ed. Cortez; B. Herbort & P. Niesen (eds.) (2007)
Anarchie der kommunikativen Freiheit. Jrgen Habermas und die Internationalen Politik. Suhrkamp.
284 Aqui Habermas retoma uma das causas da decadncia e despolitizao da esfera pblica, tal
como formulado em Strukturwandel der ffentlichkeit, a saber, a influncia e manipulao dos
meios de comunicao de massa (a outra era uma esfera pblica infiltrada pelo poder decorrente
da interferncia estatal), e que na Theorie des kommunikativen Handelns permaneceu implcita.
209
No prefcio, a retomada do tema da comunicao de massa e
sua relao com a esfera pblica d-se em forma de proposta a ser
investigada empiricamente. Para Habermas, sobram dvidas sobre qual a
chance de, numa esfera pblica dominada pelos meios de comunicao e
infiltrada pelo poder, os membros da sociedade civil poderem canalizar
influncias e promover mudanas, pois existem fortes evidncias atestando
para o ambivalente potencial democrtico de uma esfera pblica cuja infra-
estrutura marcada pela gradativa influncia constrangedora seletiva imposta
pela comunicao eletrnica de massa
285
. No entanto, aqui se tem apenas a
formulao de uma proposta de pesquisa a partir do referencial terico
esboado no prefcio de 1990.
Em Faktizitt und Geltung, esse referencial terico da esfera
pblica seria desenvolvido em seus pormenores dentro de uma concepo de
poltica deliberativa. A obra sobre direito e democracia formula um referencial
terico de uma esfera pblica como uma estrutura comunicativa de formao
discursiva da vontade e opinio poltica, que se realiza atravs de
procedimentos formais de formao institucionalizada da opinio e da vontade,
ou apenas informalmente, nas redes perifricas da esfera pblica
286
. No
entanto, embora Habermas tenha retomado o tema sobre a regulao da
285 Habermas, prefcio, p. 49.
286 Habermas, Faktizitt und Geltung, p.366.
210
mdia (o quarto poder)
287
, uma anlise mais pormenorizada do uso do
modelo deliberativo de comunicao pblica permanece uma lacuna
investigativa. O prprio Habermas reconhece que no se ocupou com isso
288
.
O campo de investigao sobre a mdia eletrnica e sua influncia na infra-
estrutura dos processos de comunicao pblica, do poder da mdia e suas
dinmicas de comunicao de massa ainda permanece no tematizado de
modo suficiente em Habermas. Mas, segundo Habermas, o tema dos meios
de comunicao tambm no abordado de modo suficiente pelos estudos
empricos. Ou melhor, no que o tema no seja abordado. H muitas
anlises sobre os novos recursos e tecnologias que influenciam de diferentes
maneiras os meios de comunicao. No entanto, segundo Habermas, haveria
uma falta de interesse, por exemplo, por parte dos autores de abordagens
empricas, pelo tema dos meios de comunicao de massa, como sendo um
aspecto relevante de presso sobre o estabelecer da agenda e de influncia
sobre a formao de opinies pblicas em conflito
289
. Para Habermas,
permanece um dficit na introduo de elementos deliberativos na
comunicao eletrnica. As discusses orientadas na internet, como por
exemplo, salas de bate-papo, ou coisas do gnero, provem uma unidade
discursiva abstrata, espontnea, isolada e fracamente institucionalizada, que
287 Habermas, Faktizitt und Geltung, p.455.
288 Habermas, Die Normalitt einer Berliner Republik, pp. 80-81.
289 Habermas, Concluding Comments, pp. 388-89.
211
pode ser analisada de modo paralelo ao amplo contexto poltico
290
. Nesse
caso, o que Habermas reclama a ausncia de propostas de mecanismos de
deliberao que possam primar por mais democratizao dos meios de
comunicao de massa; sobre quais os reais potenciais de democratizao da
mdia, que lidam com questes de acesso, distribuio das chances de
participao e discurso, meios e oportunidades (enquanto que as principais
mdias esto nas mos de interesses privados). Este tema da esfera pblica
e sua relao com os meios de comunicao de massa um segundo campo
de investigao que permanece aberto e pode ser mais explorado
291
.
290 Habermas, Concluding Comments, in Acta Poltica 40, n.3, p. 384. Para comentrios crticos,
ver: K. Baynes (1994) Communicative ethics, the public sphere and communication media, in
Critical Studies in Mass Communication 11 [315-326]; D. Kellner (2000) Habermas, the Public
Sphere, and Democracy: A Critical Intervention, in Hahn, Perspectives on Habermas. Open Court,
p. 259; L. Goode (2005) Jrgen Habermas. Democracy and the public sphere. Pluto Press.
291 Alguma bibliografia neste sentido: Habermas (2006) Political communication in media society.
Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical
research (Manuscrito); P. Klier (1990) Im Dreieck von Demokratie, ffentlichkeit und
Massenmedien. Dunker & Humblot; J. Keane (1991) The Media and Democracy. Univ. of
Westminster; J. Peters (1991) Media Ethics and the Public Sphere, in Communication 12, pp. 197-
215; Brunkhorst (2000) Globalisierung und Demokratie. Wirtschaft, Recht, Medien. Suhrkamp
(cap.3); Brunkhorst, Critical Theory and the Analysis of Contemporary Mass Society, in Rush (2004)
The Cambridge Companion to Critical Theory. Cambridge Univ. Press, pp. 248-279; C. Sunstein
(2001) Das Fernsehen und die ffentlichkeit, in Wingert & Gnther (2001) Die ffentlichkeit der
Vernunft und die Vernunft der ffentlichkeit. Suhrkamp [678-701]; J. Bohman, Expanding dialogue:
the internet, the public sphere and prospects for transnational democracy, in Crossley & Roberst
(2004) After Habermas: new perspectives on the public sphere, pp. 131-155; S. Costa, Der Kampf
um ffentlichkeit: Begrife, Akteure, politische Dynamiken, in Jahrbuch Lateinamerika. Medien und
ihre Mittel 28 (2004), pp. 13-31; A. Thornton (2000) Does Internet creates Democracy? [Verso
eletrnica disponvel em: http://www.wr.com.au/democracy/thesis.html]; D. Gaynor (2003)
Democracy in the Age of Information: A Reconception of the Public Sphere. [Verso eletrnica
disponvel em: http://www.georgetown.edu/faculty/bassr/gaynor.htm].
212
c) A concepo deliberativa de esfera pblica tambm possibilita
investigar melhor sua relao com as referncias empricas, como a
instrumentalizao e operacionalizao do modelo deliberativo de esfera
pblica e de poltica (por exemplo, experincias institucionais e informais). As
expectativas polticas de uma esfera pblica normativa esto depositadas na
fora crtica do modelo deliberativo de comunicao pblica e de circulao do
poder. Mas, embora este modo de comunicao pblica carregue fortes
expectativas normativas de entendimento e de consenso, as limitaes para a
realizao de tais condies de comunicao so bem conhecidas. H
exemplos, observveis na bibliografia, de pressupostos limitadores, internos e
externos. Dissensos, formas no-discursivas de comunicao pblica,
desigualdades, assimetrias, estratificao social, estruturas de poder,
fragmentao do universo simblico, diversidade de modos de vida cultural,
pluralismo das vises de mundo, convices religiosas, temas controversos,
os efeitos de certas formas de comunicao estratgica, ou interesses
especficos relacionados a classes, grupos, comunidades tnicas,
comunidades religiosas, ou sub-culturas com orientaes especficas ou
alternativas. Estes elementos, s vezes difusos, levam a perguntar quais as
condies pelas quais certos temas e contribuies podem ser captados e
articulados na esfera pblica? Quais temas so realmente importantes? Quais
so secundrios? Quais os mecanismos internos de escolha de temas? Que
213
tipos de mecanismos de escolha de temas para a agenda pblica interessam?
Quais os mecanismos internos de distribuio de papis e de controle? Quem
faz surgir e estabelece o qu? Quem pertence ou participa do pblico? Quais
os mecanismos internos de diferenciao e estratificao do pblico? Quais os
efeitos reais da comunicao pblica? Em que medida os processos de
comunicao pblica podem cumprir a funo no apenas de publicidade, mas
tambm de legitimidade? Quais as garantias (pressupostos) da efetividade
sobre processos de tomada de deciso polticos? Como a esfera pblica se
relaciona (se comporta) diante das estruturas de processos de tomada de
deciso estabelecidas? Enfim, quais os aspectos do modelo normativo
deliberativo que mais necessitam serem investigados empiricamente? Embora
seja possvel identificar elementos normativos, orientaes da ao, prticas e
estruturas institucionais que correspondam ou que carregam elementos
normativos, ainda no se tem, ou ainda se sabe muito pouco sobre as
condies de realizao das condies de comunicao dessa ordem. Para
Bernhard Peters, uma perspectiva razovel de suprir este dficit seria recorrer
s abordagens empricas
292
.
Para os tericos que se ocupam com o modelo deliberativo, a
deliberao existe no mundo real e joga um papel importante no processo
poltico democrtico, como a ampla e irrestrita participao, dilogo reflexivo,
292 Peters, Der Sinn der ffentlichkeit, p. 663-677.
214
justificao de argumentos, idias e posies, mais qualidade na prtica
poltica discursiva, na busca do entendimento e consenso acerca de
reivindicaes de validade, entre outros
293
.
A maior reivindicao dos tericos
deliberativos a de que os processos deliberativos possam melhorar a prtica
democrtica e a qualidade da poltica pblica, produzir cidados melhores e
neutralizar a crise da democracia representativa
294
.
H evidncias empricas
de que a deliberao poltica desenvolve potenciais cognitivos de aprendizado
coletivo. Existem estudos com grupos que configuram comunicao poltica
como um mecanismo para realar o aprendizado cooperativo e a resoluo
coletiva de problemas. Os resultados mais ou menos corroboram o impacto
esperado da deliberao sobre a formao de opinies polticas consideradas:
aprendizado atravs de processos comunicativos de deliberao pblica;
decises finais que so bastante diferentes das opinies expressadas
inicialmente; mudana de opinies que refletem nveis de informao,
ampliao de perspectivas, expanso da formao da vontade poltica;
definio mais clara e precisa dos temas.
As abordagens empricas analisam os problemas metodolgicos,
o nvel, a qualidade, as chances e os resultados da deliberao poltica nos
mais diferentes nveis e arenas da esfera pblica. Evidncias do impacto do
293 Acta Poltica 40, n. 2-3 (2005); Habermas, Political Communication in Media Society (2006); B.
Peters, Deliberative ffentlcihkeit (2001).
294 Acta Politica, Introduction, p. 153.
215
procedimento deliberativo sobre a formao de preferncias polticas podem
ser conferidas tanto em estudos empricos com pequenos grupos, dos efeitos
do aprendizado a partir de refletidas conversaes polticas entre cidados na
vida cotidiana, quanto em estudos sobre deliberao em esferas pblicas e
instituies, nos nveis nacional e internacional
295
. nesse sentido que a
formulao da categoria de esfera pblica deliberativa prov uma perspectiva
analtica apropriada: um sistema de comunicao pblico intermedirio entre
deliberaes formalmente organizadas e deliberaes em contextos
informais
296
.
No entanto, se estudos oferecem evidncias para o potencial
cognitivo da deliberao poltica e para dissipar dvidas sobre o contedo
emprico e a aplicabilidade do modelo deliberativo, no obstante, o modelo
deliberativo, quando submetido a um espectro amplo de investigaes
empricas, tambm revela fraquezas e, com isso, que precisa ser melhorado,
aperfeioado. Ou seja, se estudos identificam alguns traos de deliberao
nos processos de comunicao pblica nas mais diversas arenas da esfera
pblica, ao mesmo tempo revelam tambm uma expressiva ausncia dos
mesmos. Por isso, diz Chambers, a teoria normativa pode aprender com a
pesquisa emprica; por exemplo, ajudar a formular uma nova tipologia de
publicidade para ajudar a compreender as condies sob as quais ela refora
295 Cf. Notas 281 e 282, pp. 203-204, respectivamente.
296 Habermas, Political Communication in Media Society, p. 10.
216
ou prejudica a qualidade da deliberao
297
. O modelo deliberativo e suas
referncias empricas um terceiro campo de investigao a ser melhor
explorado, pois estudos mais sistemticos esto apenas engatinhando
298
.
d) Por fim, a ltima questo situa-se no eixo temtico da teoria
crtica habermasiana. A partir da dcada de 70, Habermas busca remover a
crtica social arraigada nas condies historiogrficas para as caractersticas
universais da ao comunicativa intersubjetiva. Esta reorientao uma
estratgia para ampliar a capacidade explicativa e dar conta das novas
dinmicas e fenmenos que surgem e que desafiam a compreenso do
vnculo teoria-prxis. Nesse sentido, importante a reformulao da categoria
de esfera pblica, do resgate da importncia da sociedade civil e da sua
nfase institucional no quadro da teoria deliberativa da democracia nos anos
90. Mas, apesar disso, as implicaes prticas para uma extenso da
categoria deliberativa de esfera pblica e democracia procedimental se
tornaram problemticas nas sociedades funcionalmente complexas e
culturalmente pluralistas, e exigem uma anlise mais realista, uma retomada
de um vnculo mais concreto com uma orientao emancipatria da prxis.
297 Chambers (2005) Measuring publicity's effect: reconciling empirical research and normative
theory, in Acta Politica 40, n. 2, p. 256. Nesse sentido, tambm: Neblo, Michael A. (2005) Thinking
trough democracy. Between theory and practice of deliberative politics, in Acta Politica, vol. 40, n.2
[169-181].
298 Por exemplo, como resolver questes sobre deliberao que envolvem problemas como a
verificao da autenticidade/veracidade, as anlises em diferentes nves, da comparao da
qualidade deliberativa entre sociedade civil e instituies formais do governo, dos efeitos no-
intencionais e perversos das comunicaes pblicas, entre outros (Cf. Acta Politica, n. 2, p. 162).
217
Conferir filosofia poltica habermasiana uma dimenso mais prtica, um
contedo poltico mais concreto, capaz de lidar melhor com a diferena, a
diversidade e o conflito
299
.
por esse vis que se movem alguns autores com
um vnculo mais estreito com a tradio temtica da teoria crtica, como Axel
Honneth, Seyla Benhabib, Nancy Fraser e Rainer Forst
300
. Esta uma
quarta questo que poderia ser melhor investigada.
299 Chambers, The Politics of Critical Theory, in Rush (2004) The Cambridge Companion to Critical
Theory. Cambridge University Press.
300 Honneth (1985) Kritik der Macht. Suhrkamp; Honneth (1992) Kampf und Anerkennung. Suhrkamp;
Fraser, Rethinking Recognition, in New Left Review 3 (2000) [107-120]; Fraser & Honneht (2003)
Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse. Suhrkamp; Benhabib
(2002) Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Culture. Princeton Univ. Press;
Benhabib (ed) (1996) Democracy and Difference. Princeton; Chambers, The Politics of Critical
Theory, in Rush (2004) The Cambridge Companion to Critical Theory, pp. 219-247; Forst, Rainer
(1996) Kontexte der Gerechtigkeit. Suhrkamp; Forst (2003) Toleranz im Konflikt. Suhrkamp. Alm
disso, ver: Cannon, Bob (2001) Rethinking the normative content of critical theory. Palgrave; Erd,
Rainer (2002) Kritische Theorie und ffentlichkeit. Suhrkamp; Hanks, James K. (2002) Refiguring
critical theory: Jrgen Habermas and the possibilities of political change. Lahnam: University Press
of America; Freundlieb, Dieter (2004) Critical Theory after Habermas: encounters and departures.
Leiden: Brill Verlag; Michael Theunissen, A critical of Critical Theory, Axel Honneth, The social
dynamics of disrespect: situating Critical Theory today, e James Bohman, Habermas, marxism
and social theory: the case for pluralism in critical social science, ambos in Dews (1999)
Habermas: a Critical Reader. Blackwell; James L. Marsh, Whats critical about Critical Theory?, in
Hahn (2000) Perspectives on Habermas. Chicago: Open Court. Alm disso, ver: M. Nobre (2003)
Luta por Reconhecimento. Axel Honneth e a Teoria Crtica, in Honneth, Luta por Reconhecimento.
Ed. 34 [7-19]; Nobre (2004) A Teoria Crtica, Zahar.
218
219
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Acta Poltica. International Journal of Political Science 40 (2-3, 2005). Empirical
Approaches to Deliberative Democracy [Ed. Andr Bchtiger & J Steiner].
Adorno, Theodor W. (1969) Die Positivismusstreit in der Deutschen Soziologie.
Neuwied (3 ed. 1971).
_____, (1970/2003) Meinungsforschung und ffentlichkeit, in Soziologische
Schriften I. Suhrkamp [532-537].
Arato & Gebhardt (eds.) (1998) The Essential Frankfurt School Reader. New
York: Continuum.
Arajo, Luiz B. L. (2005) Razo pblica, democracia deliberativa e pluralismo
em Habermas, in Dutra & Pinzani (2005) Habermas em Discusso. Ed.
UFSC [140-68].
220
Avritzer, Leonardo (1993) Alm da Dicotomia Estado/Mercado: Habermas,
Cohen e Arato, in Novos Estudos Cebrap 36.
_____, (1996) A Moralidade da democracia: ensaios sobre teoria
habermasiana e teoria democrtica. Perspectiva/UFMG.
_____, (1999) Teoria Crtica e Teoria Democrtica, in Novos Estudos Cebrap
53 [167-188].
_____, (2000) Teoria Democrtica, Esfera Pblica e Participao Local, in
Sociologias. v.1, n. 2 [18-43]. Porto Alegre.
_____, (2001) Democracia Deliberativa, in Metapoltica, v. 5, n. 18 [50-65].
_____, (2002) Democracy and the Public Space in Latin America. Princeton
University Press.
____, & Costa (2004) Teoria Crtica, Democracia e Esfera Pblica:
Concepes e Usos na Amrica Latina, in Revista Dados 47 [703-28].
Baber, W. F. & Bartlett, R. W. (2005) Deliberative environmental politics:
democracy and ecological rationality. Cambridge: MIT Press.
Bchtiger, Andre et al (2004) Deliberative Politics in Action. Analyzing
Parliamentary Discourse. Cambridge University Press.
_____, et al (2005) The deliberative dimensions of legislatures, in Acta Politica
40, n.2 [225-238].
221
Balkenhol, N. (1991) Kommunikative Rationalitt und politische Institutionen
in der Gesellschaftstheorie von Jrgen Habermas. Hamburg: Kovac.
Baynes, Kenneth (1992) The Normative Grounds of Social Criticism. Kant,
Rawls and Habermas. State University of New York Press.
_____, (1994) Communicative ethics, the public sphere and communication
media, in Critical Studies in Mass Communication 11 [315-326].
_____, (1997) Democracy and the Rechtsstaat: Habermass 'Faktizitt und
Geltung', in White, The Cambridge Companion to Habermas. Cambridge
Press.
_____, (2001) Practical Reason, the 'Space of Reasons', and 'Public Reason',
in Bohman & Regh, Pluralism and the Pragmatic Turn: the Transformation
of the Critical Theory. MIT Press.
_____, (2002) Deliberative democracy and the limits of the Liberalism, in
Schomberg & Baynes, Discourse and Democracy [15-30].
_____, & Schomber (2002) Discourse and Democracy: Essays on Habermass
"Between Facts and Norms". New York: State University Press.
_____, (2005) Deliberative democracy and Public Reason. Verso eletrnica:
http://www.esferapublica.net/images/stories/Arquivos/kenneth%20baynes.pdf
222
Benhabib, Seyla (1986) Critique, Norm und Utopia. A Study of the Fundations
of Critical Theory. New York: Columbia University Press.
_____, (1992) Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition,
and Jrgen Habermas, in Calhoun, Habermas and the Public Sphere. MIT
Press.
_____, (1994) Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimicy, in
Constellations 1 [26-52].
_____, (ed.) (1996) Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the
Political. Princeton.
_____, (2002) Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Culture.
Princeton University Press.
Bohman, James (1994) Complexity, pluralism and the constitutional state: on
Habermas' 'Faktizitt and Geltung', in Law and Society Review 28 [897-
930].
_____, (1996) Public Deliberation, Complexity, and Democracy. MIT Press.
_____, & Regh (1997) Deliberative Democracy. Essays on Reason and
Politics. Cambridge: MIT Press.
_____, (1997) Pluralismus, Kulturspezifizitt und kosmopolitische ffentlichkeit
im Zeichen der Globalisierung, in Deutsche Zeitschrift fr Philosophie 45.6
[927-941].
223
_____, (1998) The Comming Age of Democracy, in The Journal of Political
Philosophy 6 [400-425].
_____, (2004) Expanding Dialogue: the Internet, the Public Sphere and
Prospects for Transnational Democracy, in Crossley & Roberst, After
Habermas: New Perspectives on the Public Sphere [131-155];
Bolte, Gerhard (1989) Unkritische Theorie: gegen Habermas. Klampen.
Brunkhorst, Hauke (1981) Parteilichkeit fr Vernunft. Philosophische und
politische Schriften von Jrgen Habermas, in Zeit und Bild 33 [Frankfurter
Rundschau am Wochenende], p. 4.
_____, (ed.) (1994) Demokratie und Differenz. Vom klassischen zum
modernen Begriff des Politischen. Frankfurt/M: Fischer.
_____, (1994) The Public Sphere and the Contradictions of the Current Epoch.
From Representation to Deliberation, in Bouman (ed.) And Justice for All...
Maastricht [58-71].
_____, (1997) Kritische Theorie als Theorie praktischer Idealisierungen, in:
Zeitschrift fr kritische Theorie, vol. 4 [81-100].
_____, (ed.) (1998) Demokratischer Experimentalismus. Politik in der
komplexen Gesellschaft. Frankfurt/M: Suhrkamp.
224
_____, (ed.) (1999) Recht auf Menschenrecht. Menschenrechte, Demokratie
und Internationale Politik. Frankfurt/M: Suhrkamp.
_____, (ed.) (2000) Globalisierung und Demokratie. Wirtschaft, Recht, Medien.
Frankfurt/M: Suhrkamp.
_____, (2000) Einfhrung in die Geschichte politischer Ideen. Fink Verlag.
_____, (2001) Globale Solidaritt: Inklusionsprobleme der modernen
Gesellschaft, in Wingert & Gnther, Die ffentlichkeit der Vernunft und die
Vernunft der ffentlichkeit. Frankfurt/M: Suhrkamp [605 - 626].
_____, (2002) Globalising Democracy without a State: Weak Public, Strong
Public, Global Constitutionalism, in Millenium - Journal of International
Studies 31 [675-690].
_____, (2002) Solidaritt. Von der Brgerfreundschaft zur globalen
Rechtsgenossenschaft. Frankfurt/M: Suhrkamp.
_____, (2002) Rawls and Habermas, in Baynes & Schomberg, Discourse and
Democracy [153-161].
_____, (2003) Demokratie in der Weltgesellschaft. Hegemoniales Recht,
schwache ffentlichkeit, Menschenrechtspolitik, in Bloch-Jahrbuch [147-
62].
_____, (ed.) (2004) Peripherie und Zentrum in der Weltgesellschaft. Mnchen,
Mering: Rainer Hampp Verlag.
225
_____, (2004) Critical Theory and the Analysis of Contemporary Mass Society,
in Rush, The Cambridge Companion to Critical Theory. Cambridge
University Press [248-279].
_____, (ed.) (2005) Jenseits von Zentrum und Peripherie. Zur Verfassung der
fragmentierten Weltgesellschaft. Mnchen/Mering: Rainer Hampp Verlag.
_____, (2005) Solidarity. From Civic Friendship to a Global Legal Community.
Cambridge/London: MIT Press.
_____, (2005) Demokratie in der globalen Rechtsgenossenschaft - Einige
berlegungen zur poststaatlichen Verfassung der Weltgesellschaft, in
Deutsche Zeitschrift fr Soziologie [Sonderheft Weltgesellschaft].
_____, (2005) Demokratie als globales Projekt, in Himmelmann & Lange (eds.)
Demokratiekompetenz. Beitrge aus Politikwissenschaft, Pdagogik und
politischer Bildung. Verlag fr Sozialwissenschaften [100-113].
_____, (ed.) (2006) Internationale Verrechtlichung und Demokratie. Zum 60.
Geburstag von Hauke Brunkhorst. Frankfurt.
_____, (2006) Verrechtlichung der Souvernitt. Hans Kelsens Rechts- und
Staatsverstndnis. Nomos Verlag.
_____, (2006) Vlkerrechtspolitik. Recht, Staat und Internationale
Gemeinschaft im Blick auf Kelsen. Hamburg: Liszt Verlag.
_____, (2006) Habermas. Reclam Verlag.
226
Burke, Peter (2002) A esfera pblica 40 anos depois, in Caderno Mais! Folha
de S. Paulo, 24/03/2002.
Calhoun, Craig (ed.) (1992) Habermas and the Public Sphere. MIT Press.
_____, (1993) Civil society and the public sphere, in Public Culture 5 [267-280].
Cannon, Bob (2001) Rethinking the Normative Content of Critical Theory:
Marx, Habermas and Beyond. Palgrave.
Chambers, Simone (1996) Reasonable Democracy. Jrgen Habermas and the
Politics of Discourse. Cornell University Press.
_____, (1997) Discourse and democratic practice, in White, The Cambridge
Companion to Habermas. Cambridge University Press [233-259].
_____, (2000) Deliberation, Democracy, and the Media. Rowman & Littlefield.
_____, (2004) The Politics of Critical Theory, in Rush (2004) The Cambridge
Companion to Critical Theory. Cambridge University Press [219-247].
_____, (2005) Measuring Publicity's Effects: reconciling Empirical Research
and Normative Theory, in Acta Politica, vol. 40, n. 2 [255-266].
Charney, Evan (1998) Political Liberalism, Deliberative Democracy, and the
Public Sphere, in American Political Science Review 92 [].
227
Cohen, Jean (1988) Discourse Ethics and Civil Society, in Philosophy and
Social Criticism 14 [315-337].
_____, & A. Arato (1989) Politics and the Reconstruction of the Concept of
Civil Society, in Axel Honneth (ed.), Zwischenbetrachtungen. Frankfurt/M:
Suhrkamp [482-503].
_____, & Arato (1992) Civil Society and Political Theory. London: MIT Press.
Cohen, Joshua (1989) Deliberation and Democratic Legitimacy, in A. Hamlin &
P. Pettit (eds.) The Good Polity. Oxford: Blackwell [17-34].
Conover, P. J. & Searing, D. D. (2005) Studing everiday political talk in the
deliberative system, in Acta Politica 40, n. 3 [269-283]
Cooke, Maeve (2000) Five Arguments for Deliberative Democracy, in Political
Studies 48 [947-969].
Costa, Srgio (1994) Esfera pblica, redescoberta da sociedade civil e
movimentos sociais no Brasil. Uma abordagem tentativa, in Novos
Estudos Cebrap 38 [38-52].
_____, (1997) Dimensionen der Demokratisierung. ffentlichkeit,
Zivilgesellschaft und lokale Partizipation in Brasilien. Frankfurt, Vervuert.
228
_____, (1997) Contextos da Construo do Espao Pblico no Brasil, in Novos
Estudos Cebrap 47 [179-192].
_____, (1997) Movimentos sociais, democratizao e construo de esferas
pblicas locais, in Revista Brasileira de Cincias Sociais 35. So Paulo.
_____, (2002) As cores de Erclia. Esfera pblica, democracia, configuraes
ps-nacionais. Editora da UFMG.
_____, (2004) Der Kampf um ffentlichkeit: Begriffe, Akteure, politische
Dynamiken, in Jahrbuch Lateinamerika 28 [13-31].
Crossely, Nick (ed.) (2004) After Habermas: new perspectives on the public
sphere. Blackwell.
Daele, W. van den & Neidhardt, F. (1996) Kommunikation und Entscheidung.
Politische Funktionen ffentlicher Meinungsbildung und diskursiver
Verfahren. Berlin: Sigma.
Dagnino, Evelina (ed.) (2002) Sociedade civil e espaos pblicos no Brasil.
Paz e Terra/Fundao Ford/IFCH/Unicamp.
229
Della Porta, D (2005) Deliberation n movement: why and who to study
deliberative democracy and social movements, in Acta Poltica 40, n.3
[336-350].
Demirovic, Alex (1994) Hegemonie und ffentlichkeit, in Das Argument 36
[675-691].
Dews, Peter (1993) Faktizitt, Geltung und ffentlichkeit, in Deutsche
Zeitschrift fr Philosophie 41 [359-364].
_____, (1999) Habermas: a Critical Reader. Oxford: Blackwell.
Di Fbio, Udo (2001) Der Verfassungstaat in der Weltgeselschaft. Tbingen:
Mohr Verlag.
Douramanis, Demetrius (1995) Mapping Habermas: A Bibliography of Primary
Literature 1952-1995. University of Sidney.
Dryzek, John S. (1990) Discursive Democracy. Cambridge University Press.
_____, (2000) Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics,
Contestations. Oxford University Press.
230
_____, (2004) Legitimidade e economia na democracia deliberativa, in Nobre
& Coelho, Participao e Deliberao [41-63].
Dutra, Delamar V. (2005) Razo e consenso em Habermas. Ed. UFSC. 2 ed.
_____, & Pinzani, A. (2005) Habermas em Discusso. Ed. UFSC.
Dworkin, R. (1978) Taking Rights Seriously. London: Duckworth.
_____, (1986) Laws Empire. Harvard University Press.
_____, (1990) Fundations of Liberal Equality. The Tanner Lectures on Human
Values. Cambridge.
_____, (2000) A Matter of Principle. Harvard University Press.
Erd, Rainer (2002) Kritische Theorie und ffentlichkeit. Frankfurt/M: Suhrkamp.
Eder, Klaus (2000) Zur Transformation nationalstaatlicher ffentlichkeit in
Europa, in Berliner Journal fr Soziologie, n. 2 [167-184].
Edgar, Andrew (2005) The Philosophy of Habermas. Continental European
Philosophy.
Elster, Jon (ed.) (1998) Deliberative Democracy. Cambridge Univ. Press.
231
Eriksen, Erik O. (2003) Understanding Habermas: communicative action and
deliberative democracy. London: Continuum.
Farias, F. B (2001) Globalizao e estado cosmopolita: antinomias de Jrgen
Habermas. Ed. Cortez;
Fischer, Frank (2003) Reframing Public Policy. Discursive Politics and
Deliberative Practices. Oxford Univ. Press.
Fishkin, James S. & Laslett, Peter (2002) Debating Deliberative Democracy.
GB Verlag.
_____, & Luskin, R. C. (2005) Experimentig with democratic ideal: deliberative
pooling and public opinion, in Acta Politica 40, n. 3 [284-298];
Forester, John (1986) Critical Theory and Public Life. MIT Press.
Forst, Rainer (1996) Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jenseits
von Liberalismus und Komuntarismus. Suhrkamp (2 ed. 2004).
232
Fraser, Nancy (1992) Rethinking the Public Sphere: a Contribution to the
Critique of the Actually Existing Democracy, in Calhoun, Habermas and
the Public Sphere. MIT Press.
_____, (1997) Justice Interruptus. Critical Reflections on the Postsocialist
Condition. Routledge.
_____, (2002) Transnationalizing the public sphere. New York (Manuscrito).
Freundlieb, Dieter (2004) Critical Theory after Habermas: encounters and
departures. Leiden: Brill Verlag.
Fung, Archon (2004) Receitas para esferas pblicas: oito desenhos
institucionais e suas conseqncias, in Nobre & Coelho, Participao e
deliberao, Ed. 34 [173-209].
Gadamer, Hans-Georg (1989) Kultur und Medien, in Honneth et al,
Zwischenbetrachtungen [713-732].
Gastil, John & Peter, Levine (2005) The Deliberative Democracy Handbook.
Wiley John Sons Verlag.
233
Gaynor, Denis (2003) Democracy in the Age of Information: A Reconception of
the Public Sphere. Verso eletrnica disponvel em:
<http://www.georgetown.edu/faculty/bassr/gaynor.htm>
Gerhards, Jrgen & Neidhardt, F. (1990) Strukturen und Funktionen moderner
ffentlichkeit. Wissenschaftszentrum Berlin.
_____, (1997) Diskursive versus liberale ffentlichkeit. Eine empirische
Auseindersetzung mit Jrgen Habermas, in Klner Zeitschrift fr
Sozialforschung und Sozialpsichologie 49 [1-34].
_____, et al (2002) Shaping Abortion Discourse. Democracy and the Public
Sphere in Germany and the United States. Cambridge Univesity Press.
_____, et al (2002) Four models of the public sphere in modern democracies,
in Theory and Society 31, n.3 (2002) [289 324].
Giesen, Klaus-Gerd (2001) Habermas, a Segunda Modernidade e a Sociedade
Civil Internacional, in Novos Estudos Cebrap 60 [87-96].
Goode, Luke (2005) Jrgen Habermas. Democracy and the Public Sphere.
Pluto Press.
234
Grtzen, Ren (1982) Jrgen Habermas: Eine Bibliographie seiner Schriften
und der Sekundrliteratur 1952-1981. Frankfurt/M: Suhrkamp.
Grodnick, Stephen (2005) Rediscovering radical democracy in Habermass
Between Facts and Norms, in Constellations 12, n. 3 [392 408].
Gutmann, Amy & Thompson, Dennis (1996) Democracy and Disagreement.
Harvard University Press.
_____, & Thompson (2000) Why Deliberative Democracy is Different?, in
Social Philosophy & Policy 17 [161-180];
_____, & Thompson (2004) Why Deliberative Democracy? Univ. Press of CA.
Habermas, Jrgen (1961) Student und Politik. Neuwied/ Berlin: Luchterhand.
_____, (1962) Strukturwandel der ffentlichkeit. Berlin/Neuwied: Luchterhand.
(Suhrkamp, 1990).
_____, (1968) Technik und Wissenschaft als 'Ideologie'. Suhrkamp.
_____, (1971) Einleitung zur Neuausgabe, in Theorie und Praxis. 4 ed.
Suhrkamp.
_____, (1973) Legitimationsprobleme im Sptkapitalismus. Suhrkamp.
_____, (1973) ffentlichkeit, in Kultur und Kritik. Suhrkamp [61-69].
235
_____, (1974) The Public Sphere: An Encyclopedia Article, in New German
Critique 3 [49-55].
_____, (1976) Legitimation, in Zur Rekonstruktion des Historischen
Materialismus. Suhrkamp.
_____, (1979) Capitalism and Democracy. An Interview with Jrgen Habermas,
in Telos 39 [163-172]. [Special Issue of his 50th Birthday; Ed. por Angelo
Bolaffi]. Tambm in Kleine politische Schriften I-IV (1981) [491-510].
_____, (1979) Interview with Jrgen Habermas, in New German Critique 18
[29-43]. [D. Horster e W. van Reijen]. Tambm in Kleine politische
Schriften I-IV (1981) [511-532].
_____, (1981) Theorie des Kommunikativen Handelns. 2 vol. Suhrkamp (4.
ed., 1987).
_____, (1981) Kleine politische Schriften (I-IV). Suhrkamp.
_____, (1981) Neue soziale Bewegungen, in sthetik und Kommunikation 12
[158-61].
_____, (1982) A Reply to My Critics, in Thompson & Held, Habermas Critical
Debates. Cambridge: MIT Press [219-283].
_____, (1984) Questions and Counter-questions, in Praxis International 4/3.
_____, (1985) Der philosophische Diskurs der Moderne. Suhrkamp.
_____, (1985) Die neue Unbersichtlichkeit. Kleine politische Schriften V.
Suhrkamp.
236
_____, (1985) Special Issue on Jrgen Habermas, in New German Critique 35.
_____, (1985) Ein Interview mit der New Left Review, in Kleine politische
Schriften V. Suhrkamp [213-257]. [Ed. Peter Dews, Perry Anderson].
_____, (1986) Entgegnung, in Honneth et al, Kommunikatives Handeln.
Suhrkamp [327-405].
_____, (1986) Autonomy and Solidarity: Interviews with Jrgen Habermas.
London: Verso [219]. [Ed. Peter Dews]
_____, (1987) Eine Art Schadensabwicklung. Kleine politische Schriften VI.
Suhrkamp.
_____, (1990) Die Moderne - Ein unvollendetes Projekt: Philosophisch-
politische Aufstze. Leipzig: Reclam Verlag (ampliada em 1992).
_____, (1990) Vorwort zur Neuauflage, in Strukturwandel der ffentlichkeit.
Suhrkamp.
_____, (1990) Die Nachholende Revolution. Kleine politische Schriften VII.
Suhrkamp.
_____, (1990) Volkssouveranitt als Verfahren: Ein normativer Begriff der
ffentlichkeit, in Die Moderne ein unvollendetes Projekt. Leipzig:
Reclam [180-212]. (ed. Ampliada, 1992; 3 ed. 1994).
_____, (1992) Concluding Remarks, in Calhoun, Habermas and the Public
Sphere. Cambridge: MIT Press.
237
_____, (1992) Faktizitt und Geltung. Beitrge zur Diskurstheorie des Rechts
und des demokratischen Rechtsstaats. Suhrkamp.
_____, (1994) Vorstudien und Ergnzungen, e Nachwort, in Faktizitt und
Geltung. 4 ed.
_____, (1994) Three Models of Democracy, in Constellations 1 (1994) [1-10].
_____, (1994) Anerkennungskmpfe im demokratischen Rechtsstaat, in Taylor
(1994) Multikulturalism und die Politik der Anerkennung. Fischer [147-196].
_____, (1995) Die Normalitt einer Berliner Republik. Kleine politische Schriften
VIII. Suhrkamp.
_____, (1995) Faktizitt und Geltung: Ein Gesprch ber Fragen der politischen
Theorie, in Die Normalitt einer Berliner Republik. Suhrkamp [133-164].
_____, (1996) Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie.
Suhrkamp.
_____, (1996) Drei normative Modelle der Demokratie, in Die Einbeziehung des
Anderen. Suhrkamp [277-293].
_____, (1998) Die postnationale Konstellation. Politische Essays. Suhrkamp.
_____, (1998) Proceduralist Paradigm of Law [13-25]; Habermas Responds to
His Critics [381-452], in Rosenfeld & Arato, Habermas on Law and
Democracy: Critical Exchanges. University of California Press.
_____, (2001) Zeit der bergnge. Kleine politische Schriften IX. Suhrkamp.
_____, (2003) Zeitdiagnosen. Zwlf Essays (1980-2001). Suhrkamp.
238
_____, (2003) Philosophy in a time of terror: dialoges with Jrgen Habermas
and Jacques Derrida. Univ. of Chicago Press. [Ed. Giovanna Borradori).
_____, (2004) Der gespaltene Westen. Kleine politische Schriften X.
Suhrkamp.
_____, (2005) Zwischen Naturalismus und Religion. Suhrkamp.
_____, (2005) ffentlicher Raum und politische ffentlichkeit, in Zwischen
Naturalismus und Religion. Suhrkamp [15-26].
_____, (2005) Concluding Comments on Empirical Approaches to Deliberative
Politics, in Acta Politica. International Journal of Political Science 40, n. 3
(Set/2005) [384-392].
_____, (2005) A political constitution for pluralist world society? (Manuscrito).
_____, (2006) Political Communication in Media Society. Does Democracy still
enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on
Empirical Research (Manuscrito).
Hahn, Lewis E. (ed.) (2000) Perspectives on Habermas. Chicago: Open Court.
Hanks, James Craig (2002) Refiguring Critical Theory: Jrgen Habermas and
the possibilities of political change. Lanham: University Press of America.
239
Hajer, Maarten A. & Wagenaar, Hendrik (2003) Deliberative Policy Analysis.
Cambridge University Press.
Held, David (1987) Models of Democracy. Standford University Press.
_____, (1995) Democracy and the global order. From the modern state to
cosmopolitan governance. Polity Press.
Heming, Ralf (1997) ffentlichkeit, Diskurs und Gesellschaft. Zum analytischen
Potential und zur Kritik des Begriffs der ffentlichkeit bei Habermas.
Deutscher Universitt Verlag.
Herbort, Benjamin & Niesen, Peter (eds.) (2007) Anarchie der kommunikativen
Freiheit. Jrgen Habermas und die Internationalen Politik. Suhrkamp
Hinton, Sam (2000) The Potential of the Latent Public Sphere. Verso
eletrnica: http://www.anu.edu.au/~951611/papers/potential.html
Hirschfeld, Dieter & Debatin, Bernhard (1989) Antinomien der ffentlichkeit.
Hamburg: Das Argument.
240
Hohendahl, Peter Uwe (1974) Jrgen Habermas: the Public Sphere, in New
German Critique 3 [45-48].
_____, (1979) Critical Theory, Public Sphere and Culture: Jrgen Habermas
and His Critics, in New German Critique 16 [89-118].
_____, (1992) The Public Sphere: Modells and Boundaries, in Calhoun,
Habermas and the Public Sphere. Cambridge: MIT Press.
_____, (2000) ffentlichkeit, Geschichte eines kritischen Begriffs. Stuttgart:
Metzler Verlag.
Hoibraaten, Helge (1973) Jrgen Habermas' Strukturwandel der ffentlichkeit.
The materialist conception of history and modern research on democracy.
Bergen Universitt.
Holub, Robert (1991) Jrgen Habermas. Critic in the Public Sphere. London:
Routledge.
Holzinger, K. (2005) Context or conflict types: which determines the selection
of communication mode, in Acta Politica 40, n.2 [239-254].
241
Honneth, Axel (1985) Kritik der Macht. Frankfurt/M: Suhrkamp.
_____, & H. Joas (1986) Kommunikatives Handeln: Beitrge zu Jrgen
Habermas Theorie des Kommunikativen Handelns. Frankfurt: Suhrkamp.
_____, et al (1989) Zwischenbetrachtungen. Im Proze der Aufklrung. Jrgen
Habermas zum 60. Geburtstag. Frankfurt: Suhrkamp.
_____, (1992) Kampf um Anerkennung. Frankfurt/M: Suhrkamp.
_____, (1999) Jrgen Habermas: percurso acadmico e obra, in Revista
Tempo Brasileiro, 138 [9-32].
Horster, Detlef (2001) Jrgen Habermas zur Einfhrung. Hamburg: Junius.
Igwe, Ukoro Theophilus (2004) Communicative rationality and deliberative
democracy of Jrgen Habermas: toward consolidatiom of democracy in
Africa. Mnster: Lit Verlag.
Jger, Wolfgang (1973) ffentlichkeit und Parlamentarismus. Eine Kritik an
Jrgen Habermas. Stuttgart: Kohlhammer.
Kant, I. (1974) Textos seletos (Edio Bilnge). Petrpolis, Ed. Vozes.
______, (1986) Idia de uma histria universal de um ponto de vista
cosmopolita. Brasiliense.
242
Kellner, Douglas (2000) Habermas, the Public Sphere, and Democracy: A
Critical Intervention, in Hahn, Perspectives on Habermas. Open Court.
Kemp, R. & Cook, P. (1981) Repoliticizing the 'public sphere': a reconsideration
of Habermas, in Social Praxis 8 [125-142].
Keulartz, Jozef (1995) Die verkehrte Welt des Jrgen Habermas. Hamburg:
Junius Verlag.
Kies, R. & Jansen, D. (2005) Online forums and deliberative democracy:
hypotheses, variables and methodologies, in Acta Politica 40, n. 3 [317-
335].
Koopmans, Rud & Erbe, Jessica (2004) Towards a European public sphere?
Vertical and horizontal dimensions of Europeanized political
communication, in Innovation 17 (2, 2004) [97-118].
Kraus, Peter (2005) Democracy, Communication and Language in Europe's
Transnational Political Space. Wissenschaftzentrum Berlin.
243
Krawietz, Werner (ed.) (1998) System der Rechte, demokratischer Rechtsstaat
und Diskurstheorie des Rechts nach Jrgen Habermas. Berlin: Duncker &
Humblot (Habermas-Sonderheft).
Kriesi, Hanspeter (1994) Akteure, Medien, Publikum. Die Herausforderung
direkter Demokratie durch Transformation der ffentlichkeit, in Neidhardt,
ffentlichkeit, ffentliche Meinung, Soziale Bewegungen [234-259].
_____, (2005) Argument-based strategies in direct-democratic votes: the Swiss
experience, in Acta Politica 40, n. 3 [299-316].
Kukathas, Chandran & Petit, Philip (1990) Rawls: A Theory of Justice and its
Critics. Standford University Press.
Laberenz, Lennart (ed.) (2003) Schne neue ffentlichkeit. Beitrge zu Jrgen
Habermas Strukturwandel der ffentlichkeit. VSA-Verlag.
Landes, Joan (1992) Jrgen Habermas: The Structural Transformation of the
Public Sphere. A Feminist Inquiry, in Praxis International 12 [106-127].
Laursen, John (1986) The Subversive Kant: The Vocabulary of Public and
Publicity, in Political Theory 14 (1986) [584-603].
244
Lavalle, Adrin G. (2002) Jrgen Habermas e a virtualizao da publicidade, in
Margen, n.16 [65-82].
_____, (2003) Sem Pena nem glria: o debate da sociedade civil nos anos
1990, in Novos Estudos Cebrap 66 [91-110].
_____, (2004) Vida pblica e identidade nacional: leituras brasileiras. Globo.
_____, et al (2004) Lugares e atores da democracia: arranjos institucionais
participativos e sociedade civil em So Paulo, in Nobre & Coelho,
Participao e deliberao, Ed. 34 [343-367].
Lescano, Andreas Fischer (2005) Globalverfassung. Die Geltungsbegrndung
der Menschenrechte. Weilerswist: Velbrck Wissenschaft.
Lsch, Bettina (2005) Deliberative Politik. Moderne Konzeptionen von
ffentlichkeit, Demokratie und politischer Partizipation. Westflisches
Dampfboot.
Lubenow, Jorge A. (2003) A despolitizao da esfera pblica em Habermas, in
Garcia (ed.) Linguagem, Intersubjetividade e Ao. Ed. Uniju [273-284].
_____, (2005) A reorientao da esfera pblica na 'Teoria do agir
comunicativo', in Revista Ideao 14 [37-59].
245
______, (2006) Esfera pblica: sobre a modalidade da autocrtica em
Habermas, in Anais do II Encontro da Ps-Graduao do IFCH/Unicamp.
_____, & Neves, R. (2007) Entre promessas e desenganos: lutas sociais,
esfera pblica e direito, in Nobre & Terra, Direito e democracia: um guia
de leitura. So Paulo: Malheiros (no prelo).
Luhmann, N. (1970) ffentliche Meinung, in Politische Vierteljahresschrift [2-8].
_____, (1971) Soziologische Aufklrung. 2 ed. Kln.
_____, (1992) Beobachtungen der Moderne. Opladen: Westdeutscher Verlag.
_____, (1995) Das Recht der Gesellschaft. Suhrkamp.
Lutz-Bachman, Mathias & Bohman, James (2002) Weltstaat oder Staatwelt?
Fr und wider die Idee einer Weltrepublik. Suhrkamp.
Macedo, Stephen (ed.) (1999) Deliberative Politics. Essays on Democracy and
Disagreement. Oxford University Press.
Markell, Patchen (1997) Contesting Consensus: Rereading Habermas on the
Public Sphere, in Constellations 3 [377-400].
246
Marsh, James L. (2001) Injust Legality: a Critique os Habermas's Philosophy of
Law. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
Matos, Paulo (2004) Regulao econmica e social e participao pblica no
Brasil, in Nobre & Coelho, Participao e deliberao, Ed. 34 [313-342].
McCarthy, Thomas A. (1992) Practical Discourse: On the Relation of Morality
to Politics, in Calhoun, Habermas and the Public Sphere. MIT Press.
_____, (1994) Kantian Constructivism and Reconstructivism: Rawls and
Habermas in Dialogue, in Ethichs n.105 [44-63];
_____, (1995) La Teora Critica de Jrgen Habermas. 3 ed. Madrid: Tecnos.
Miniuci, G. (2005) Ao Comunicativa e Relaes Internacionais, in Novos
Estudos Cebrap 73 [74-87].
Mller, Friedrich (2003) Demokratie zwischen Staatsrecht und Weltrecht.
Nationale, staatlose und globale Formen menschenrechtsgesttzer
Globalisierung. Elemente einer Verfassungstheorie VIII. Berlin: Duncker &
Humblot.
247
Nanz, Patrizia I. (2005) European Community without a demos? Rethinking
conceptions of the public sphere. Berlin: Wissenschaftszentrum.
_____, & Steffek, J. (2005) Assessing the democratic quality of deliberation in
international governance: criteria and research strategies, in Acta Poltica
40, n.3 [368-383].
Neblo, Michael A. (2005) Thinking trough Democracy. Between Theory and
Practice of Deliberative Politics, in Acta Politica, vol. 40, n.2 [169-181].
Negt, Oskar (1968) Die Linke antwortet Jrgen Habermas. Frankfurt:
Europishe Verlagsanstalt.
_____, & Kluge (1972) ffentlichkeit und Erfahrung: zur Organisationsanalyse
von brgerlicher und proletarischer ffentlichkeit. Frankfurt/M: Suhrkamp.
Neidhardt, Friedhelm (ed.) (1994) ffentlichkeit, ffentliche Meinung, soziale
Bewegung. Opladen: Westdeutschland Verlag.
Neves, Marcelo (2001) Do consenso ao dissenso: o estado democrtico de
direito a partir e alm Habermas, in Souza, Democracia Hoje: Novos
Desafios para a Teoria Democrtica Contempornea. Ed. UnB, p. 111.
248
_____, (2005) Der demokratische Rechtstaat in der heutigen komplexen
Gesellschaft. Bregriffsmodell und empirische Bedingungen, in Zeitschrift
fr Philosophie und Soziologie 1 [27-49].
Nobre, Marcos (2003) Habermas e a Teoria Crtica da Sociedade: sobre o
sentido da introduo da categoria do direito no quadro da teoria da ao
comunicativa, in: Oliveira & Souza, Justia e Poltica: homenagem a
Otfried Hffe. Edipucrs [373-392].
_____, (2003) Luta por Reconhecimento. Axel Honneth e a Teoria Crtica, in
Honneth, Luta por Reconhecimento. Ed. 34 [7-19]
____, (2004) A Teoria Crtica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
_____, & Coelho, Vera S. (ed.) (2004) Participao e Deliberao: Teoria
Democrtica e Experincias Institucionais no Brasil Contemporneo. So
Paulo: Editora 34.
_____, (2004) Participao e deliberao na teoria democrtica: uma
introduo, in Nobre & Coelho, Participao e Deliberao [21-40].
_____, & Terra, R. (ed.) (2007) Direito e democracia: Um guia de leitura. So
Paulo. Ed. Malheiros.
_____, Introduo, in Nobre & Terra (ed.) (2007) Direito e democracia: um
guia de leitura. So Paulo. Ed. Malheiros.
249
Oliveira, Nythamar F. de & Souza, Draiton G. de (ed.) (2003) Justia e Poltica.
Homenagem a Otfried Hffe. Porto Alegre: Edipucrs.
ONeill, Onora (1986) The Public Use of Reason, in Political Theory 14 [523-
551].
Ottersbach, Markus (2004) Auerparlamentarische Demokratie. Neue
Brgerbewegungen als Herausforderung an die Zivilgesellschaft. Campus
Verlag.
Ottman, Goetz (2004) Habermas e a esfera pblica no Brasil: consideraes
conceituais, in Novos Estudos Cebrap 68 [61-68].
Outhwaite, William (ed.) (2000) The Habermas Reader. Polity Press.
Palazzo, Guido (2002) Die Mitte der Demokratie. ber die Theorie deliberativer
Demokratie von Jrgen Habermas. Nomos Verlag.
Parkinson, John (2006) Deliberating in the real world: problems of legitimacy in
deliberative democracy. Oxford University Press.
250
Pateman, Carole (1970) Participation and Democratic Theory. Cambridge
University Press.
Peters, Bernhard (1997) On Public Deliberation and Public Culture. Reflections
on the Public Sphere. Bremen.
_____, (1997) Der Sinn der ffentlichkeit, in Neidhardt, ffentlichkeit,
ffentliche Meinung, soziale Bewegung, pp. 42-76.
_____, (2001) Deliberative ffentlichkeit, in Wingert & Gnther, Die
ffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft der ffentlichkeit [655-676].
Philips, Anne (ed.) (1987) Feminism and Equality. New York University Press.
Pinzani, Alessandro (2000) Diskurs und Menschenrechte: Habermas Theorie
der Rechte im Vergleich. Hamburg: Kovac Verlag.
Postone, Moishe (1992) Political Theory and Historical Analysis, in Calhoun,
Habermas and the Public Sphere. Cambridge: MIT Press.
Rahman-Niaghi, M. (1996) Die politische Implikationen der Habermas' Theorie
des Kommunikativen Handelns. Dissertation. Freie Universitt Berlin.
251
Rasmussen, David M. & Swindal, J. (2002) Jrgen Habermas. Cambridge
University Press.
Rawls, John (1971) A Theory of Justice. Harvard University Press.
_____, (1995) Reply to Habermas, in The Journal of Philosophy, XCII, n. 3.
_____, (1996) Political Liberalism. Columbia University Press.
Reese-Schfer, Walter (2001) Jrgen Habermas. Frankfurt/M: Campus Verlag.
Regh, W. & Bohman, J. (2002) Discourse and Democracy: the formal and
informal bases of legitimacy in Between facts and Norms, in Schomberg
& Baynes, Discourse and Democracy, pp. 31-60.
Restorf, Matthias (1997) Die politische Theorie von Jrgen Habermas.
Marburg: Tectum Verlag.
Revista Tempo Brasileiro 98 (1989): Jrgen Habermas: 60 Anos [Caderno
Especial]. Rio de Janeiro.
Revista Tempo Brasileiro 138 (1999): Jrgen Habermas: 70 Anos [Caderno
Especial]. Rio de Janeiro.
252
Rhode, D. L. (1989) Justice and Gender. Sex Discrimination and the Law.
Cambridge. Harvard University Press.
Roloff, Julia (2006) Sozialer Wandel durch deliberative Prozesse. Metropolis
Verlag.
Rosenfeld, Michael & Arato, Andrew (1998) Habermas on Law and
Democracy. University of California Press.
Rush, Fred (2004) The Cambridge Companion to Critical Theory. Cambridge
University Press.
Ryan, Mary (1992) Gender and public acess: women's politics in the
nineteenth-century America, in Calhoun, Habermas and the public sphere
[259-288].
Schaal, Gary & Strecker, David (1999) Die politische Theorie der Deliberation:
Jrgen Habermas, in: Brodocz & Schaal, Politische Theorien der
Gegenwart. Opladen [69-93].
253
Scheuerman, W. E. (1997) Globalization and Deliberative Democracy: The
Antinomies of Habermasian Theory, in Dryzek et al (1997) Oxford
Handbook of Political Theory. Oxford University Press.
_____, (1999) Between Radicalism and Resignation: Democratic Theory in
Habermas Between Facts and Norms, in Dews, Habermas: a Critical
Reader. Oxford: Blackwell.
Scheyli, Martin (2000) Politische ffentlichkeit und deliberative Demokratie
nach Habermas. Nomos Verlag.
Schmalz-Bruns, Rainer (1994) Zivile Gesellschaft und Reflexive Demokratie, in
Forschungsjournal Neue Sozialle Bewegungen n.1.
_____, (1995) Reflexive Demokratie. Nomos Verlag.
Schuartz, L. F. (1999) Die Hoffnung auf radikale Demokratie: Fragen an die
Theorie des Kommunikativen Handelns.Dissertation, Frankfurt Universitt.
Siebeneichler, Flvio B. (1994) Jrgen Habermas. Razo comunicativa e
emancipao. Tempo Brasileiro.
Sitton, John F. (2003) Habermas and Contemporary Society. Palgrave.
254
Souza, Jess (2000) A Modernidade Seletiva. Braslia: Ed. UnB.
_____, (2000) A singularidade Ocidental como aprendizado reflexivo: Jrgen
Habermas e o conceito de esfera pblica, in Souza, A Modernidade
Seletiva. Braslia: Editora da UnB [59-93].
_____, (2001) Democracia Hoje: Novos Desafios para a Teoria Democrtica
Contempornea. Braslia: Ed. UnB.
Sunstein, Cass (2001) Das Fernsehen und die ffentlichkeit, in Wingert &
Gnther, Die ffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft der
ffentlichkeit. Suhrkamp [678-701].
Talisse, Robert B. (2005) Democracy after liberalism: pragmatism and
deliberative politics. New York University Press.
Taylor, Charles et al (1992) Multiculturalism: Examining the Politics of
Recognition. New York: Princeton University Press.
Thompsom, J. B. (1993) The Theory of the Public Sphere, in Theory, Culture &
Society 10 [173-190].
_____, (1995) Media and Modernity. Polity Press.
255
Thornton, Alinta (2000) Does Internet creates Democracy?, Verso eletrnica
disponvel em: http://www.wr.com.au/democracy/thesis.html.
Ulbert, C. & Risse, T. Deliberative changing of discourse: what does making
arguing effective?, in in Acta Poltica 40, n.3 [351-367].
Vita, lvaro de (2000) A Justia Igualitria e seus Crticos. Ed. Unesp.
_____, (2004) Democracia Deliberativa ou igualdade de oportunidades?, in
Nobre & Coelho, Participao e deliberao [107-130].
Vitale, Denise (2004) Democracia direta e poder local: a experincia brasileira
do oramento participativo, in Nobre & Coelho, Participao e deliberao
[239-254].
Wampler & Avritzer (2004) Pblicos participativos: sociedade civil e novas
instituies no Brasil democrtico, in Nobre & Coelho, Participao e
deliberao, pp. 210-238;
Warren, Mark (1997) The Self in Discursive Democracy, in White, The
Cambridge Companion to Habermas. Cambridge Press.
256
_____, (2002) What can Democratic Participation mean Today?, in Political
Theory 30 [677-702].
Werle, Denlson (2004) Democracia deliberativa e os limites da razo pblica,
in Nobre & Coelho, Participao e deliberao [131-156].
White, S. (1988) The Recent Work of Jrgen Habermas. Cambridge Press.
_____, (1997) The Cambridge Companion to Habermas. Cambridge Press.
Wiggershaus, Rolf (2004) Jrgen Habermas. Hamburg: Rowohlt.
William, Nelson (2000) The Institutions of Deliberative Democracy, in Social
Philosophy & Policy 17 [181-202].
Willms, Bernhard (1973) Kritik und Politik. Jrgen Habermas oder das
politische Defizit der kritischen Theorie. Frankfurt/M.
Wingert, Lutz & Gnther, Klaus (2001) Die ffentlichkeit der Vernunft und die
Vernunft der ffentlichkeit. Festschrift fr Jrgen Habermas 70.
Geburtstag. Frankfurt/M: Suhrkamp.
257
Young, Iris Marion (1990) Justice and the Politics of Difference. Princeton.
_____, (2000) Inclusion and Democracy. Oxford University Press.
Zeitschrift fr Philosophie und Soziologie n.1 (2005). Flensburg Universitt.
[Edio Especial: Demokratische Rechtsstaat und Globalisierung].
Você também pode gostar
- Herbert Marcuse - Dossiê UNICAMPDocumento203 páginasHerbert Marcuse - Dossiê UNICAMPVinicius Scoralick100% (1)
- Historia Da Saúde Publica No Brasil PDFDocumento34 páginasHistoria Da Saúde Publica No Brasil PDFSocorro Carneiro100% (1)
- Desmitologizando Heidegger - A Hermenêutica Radical de Jhon D. CaputoDocumento8 páginasDesmitologizando Heidegger - A Hermenêutica Radical de Jhon D. CaputoAntonioAinda não há avaliações
- Facticidade e validade: contribuições para uma teoria discursiva do direito e da democraciaNo EverandFacticidade e validade: contribuições para uma teoria discursiva do direito e da democraciaAinda não há avaliações
- O Consenso em Jürgen Habermas e o Dissenso em Jean François Lyotard como Narrativa de Legitimação do Conhecimento Científico: Em Busca de um diálogo epistemológico interculturalNo EverandO Consenso em Jürgen Habermas e o Dissenso em Jean François Lyotard como Narrativa de Legitimação do Conhecimento Científico: Em Busca de um diálogo epistemológico interculturalAinda não há avaliações
- Teoria da ação comunicativa - 2 volumes: Racionalidade da ação e racionalização social | Para a crítica da razão funcionalistaNo EverandTeoria da ação comunicativa - 2 volumes: Racionalidade da ação e racionalização social | Para a crítica da razão funcionalistaAinda não há avaliações
- Educação Ambiental, Conservação e Disputas de HegemoniaNo EverandEducação Ambiental, Conservação e Disputas de HegemoniaAinda não há avaliações
- Justificação e crítica: Perspectivas de uma teoria crítica da políticaNo EverandJustificação e crítica: Perspectivas de uma teoria crítica da políticaAinda não há avaliações
- Da Ontologia À Tecnologia - Herbert MarcuseDocumento10 páginasDa Ontologia À Tecnologia - Herbert MarcuseAlírioAinda não há avaliações
- Aulas - Teoria Democrática (Contratualismo)Documento37 páginasAulas - Teoria Democrática (Contratualismo)Marcela OliveiraAinda não há avaliações
- Teoria Da Ação Comunicativa de Habermas e Uma Nova PropostaDocumento8 páginasTeoria Da Ação Comunicativa de Habermas e Uma Nova PropostapaolatheoAinda não há avaliações
- Escola de FrankfurtDocumento6 páginasEscola de FrankfurtdouglasAinda não há avaliações
- Teoria Crítica e A Crítica Ao PositivismoDocumento15 páginasTeoria Crítica e A Crítica Ao PositivismoRosi GiordanoAinda não há avaliações
- "A Era Do Humanismo Está Terminando" (A Mbembe)Documento6 páginas"A Era Do Humanismo Está Terminando" (A Mbembe)Tatiana PoggiAinda não há avaliações
- Dominação e Emancipação em Marcuse PDFDocumento122 páginasDominação e Emancipação em Marcuse PDFBacchini BacAinda não há avaliações
- Mito Da Marginalidade PDFDocumento16 páginasMito Da Marginalidade PDFRenata VasconcelosAinda não há avaliações
- A Noção de Capitalismo Tardio Na Obra de Jürgen HabermasDocumento243 páginasA Noção de Capitalismo Tardio Na Obra de Jürgen Habermasjuandiegog12100% (2)
- Teoria ContemporãneaDocumento17 páginasTeoria ContemporãneaFabricio NevesAinda não há avaliações
- Ementa Teoria ContemporâneaDocumento17 páginasEmenta Teoria Contemporâneayurisb13Ainda não há avaliações
- Comunicação, Política e Reconhecimento Social: Reconstrução e CríticaNo EverandComunicação, Política e Reconhecimento Social: Reconstrução e CríticaAinda não há avaliações
- Artigo Reconstrução e Interseccionalidade - PublicadoDocumento22 páginasArtigo Reconstrução e Interseccionalidade - PublicadoEdgar AzevedoAinda não há avaliações
- DE CAUX, L.Ph. Reconstruà à o e Crã-Tica em Axel Honneth (Dissertaã à O)Documento216 páginasDE CAUX, L.Ph. Reconstruà à o e Crã-Tica em Axel Honneth (Dissertaã à O)RafaelSilvaAinda não há avaliações
- Teorias Da Esfera Pública - Programa 2019Documento4 páginasTeorias Da Esfera Pública - Programa 2019PedroaboAinda não há avaliações
- VOIROL, Olivier - A Esfera Pública e As Lutas Por Reconhecimento de Habermas A HonnethDocumento24 páginasVOIROL, Olivier - A Esfera Pública e As Lutas Por Reconhecimento de Habermas A HonnethEros TartarugaAinda não há avaliações
- Fichamento Durham Pesquisas UrbanasDocumento6 páginasFichamento Durham Pesquisas UrbanasAngela CarballalAinda não há avaliações
- Christina Andrews Capítulo I - Racionalidade e Ação ComunicativaDocumento37 páginasChristina Andrews Capítulo I - Racionalidade e Ação Comunicativajoaomoretti.4545Ainda não há avaliações
- Ensaio Crítico - Sociologia e Sociedade Perspectivadas Pelas Correntes ContemporâneasDocumento20 páginasEnsaio Crítico - Sociologia e Sociedade Perspectivadas Pelas Correntes ContemporâneasGonçalo MarquesAinda não há avaliações
- Tex TotsDocumento8 páginasTex TotsLara SampaioAinda não há avaliações
- MINAYO-O Desafio Do ConhecimentoDocumento3 páginasMINAYO-O Desafio Do ConhecimentoLarissa FerroAinda não há avaliações
- Farganis, James - Leituras em Teoria Social - Da Tradição Clássica Ao Pós-ModernismoDocumento725 páginasFarganis, James - Leituras em Teoria Social - Da Tradição Clássica Ao Pós-ModernismoMaría Cecilia IparAinda não há avaliações
- Resenha Ideologia e Cultura ModernaDocumento5 páginasResenha Ideologia e Cultura ModernaEduardo MoncayoAinda não há avaliações
- SMA - Ecologia PolíticaDocumento10 páginasSMA - Ecologia PolíticaRaquel ValadaresAinda não há avaliações
- Dialogos 6 JoseRoberto AdjairDocumento18 páginasDialogos 6 JoseRoberto AdjairLilia FernandesAinda não há avaliações
- Suprev,+t02 4498 13178 1 PBDocumento10 páginasSuprev,+t02 4498 13178 1 PBBÁRBARA PAZAinda não há avaliações
- Jürgen HabermasDocumento8 páginasJürgen HabermasFernando Maia da CunhaAinda não há avaliações
- Centro de Educação E Ciências Humanas Departamento de Filosofia E Metodologia Das Ciências Programa de Pós-Graduação em Filosofia Da UfscarDocumento132 páginasCentro de Educação E Ciências Humanas Departamento de Filosofia E Metodologia Das Ciências Programa de Pós-Graduação em Filosofia Da UfscarRichiele AbadeAinda não há avaliações
- 108Documento9 páginas108Ronaldo HernandesAinda não há avaliações
- Globalização, Democracia E Direitos Humanos: Os Movimentos Sociais E O Processo de Construção de Uma Esfera Pública Plural E Democrática MundialDocumento648 páginasGlobalização, Democracia E Direitos Humanos: Os Movimentos Sociais E O Processo de Construção de Uma Esfera Pública Plural E Democrática MundialMarcos Mauricio Lopes LopesAinda não há avaliações
- O Problema Do Pós-Humanismo Na Filosofia Contemporânea e o Questionamento de FeenbergDocumento395 páginasO Problema Do Pós-Humanismo Na Filosofia Contemporânea e o Questionamento de FeenbergAlysson ClementeAinda não há avaliações
- A - PROGRAMA DO CURSO - Teoria Sociológica III - Prof. Edemilson Paraná - 2022-1Documento13 páginasA - PROGRAMA DO CURSO - Teoria Sociológica III - Prof. Edemilson Paraná - 2022-1Victória NobreAinda não há avaliações
- AVRITZER - Leonardo COSTA - Sergio-art-Teoria Crítica, Democracia e Esfera PúblicaDocumento26 páginasAVRITZER - Leonardo COSTA - Sergio-art-Teoria Crítica, Democracia e Esfera PúblicaLaercio Monteiro Jr.Ainda não há avaliações
- Cultura ThompsonDocumento5 páginasCultura ThompsonLuana Michalski De Almeida BertollaAinda não há avaliações
- Esfera Publica e Comunicacao PDFDocumento7 páginasEsfera Publica e Comunicacao PDFAlessandra OlindaAinda não há avaliações
- 2 201003 Competência Comunicativa e Racionalidade PedagógicaDocumento11 páginas2 201003 Competência Comunicativa e Racionalidade PedagógicaligiamourafotoAinda não há avaliações
- Rica - Balanço TéoricoDocumento20 páginasRica - Balanço TéoricoWellington Lima AmorimAinda não há avaliações
- Programa de Teoria Política III-Barbara 2017Documento3 páginasPrograma de Teoria Política III-Barbara 2017Felipe EngAinda não há avaliações
- Domínios Da HistóriaDocumento11 páginasDomínios Da HistóriatiagojjalvesAinda não há avaliações
- 272-Texto Do Artigo-974-2-10-20190103Documento23 páginas272-Texto Do Artigo-974-2-10-20190103Viny MadureiraAinda não há avaliações
- Voirol - 1930 - Teoria CríTiCa e Pesquisa Social Da dialéTiCa À reConsTrução PDFDocumento19 páginasVoirol - 1930 - Teoria CríTiCa e Pesquisa Social Da dialéTiCa À reConsTrução PDFLuis GaleãoAinda não há avaliações
- Botelho Ronaldo Duas TeoriasDocumento11 páginasBotelho Ronaldo Duas TeoriasManuela BarretoAinda não há avaliações
- Josebvicente,+23 APR 1356Documento12 páginasJosebvicente,+23 APR 1356messias sorteAinda não há avaliações
- AEMS 63f54d99b1310Documento15 páginasAEMS 63f54d99b1310Julia Pontes Marcicano RibeiroAinda não há avaliações
- Pesquisa Administrativa X Teorias CríticasDocumento11 páginasPesquisa Administrativa X Teorias CríticasPatricia Umbarila Laiton0% (1)
- 14.teoria - Aã Ao - Comunicativa REZENDE (Grif)Documento16 páginas14.teoria - Aã Ao - Comunicativa REZENDE (Grif)Andreia BrianoAinda não há avaliações
- Programa - (Renato Ordem - No - Pensamento - Político - e - Moral - de - Jean-Jacques - Rousseau)Documento2 páginasPrograma - (Renato Ordem - No - Pensamento - Político - e - Moral - de - Jean-Jacques - Rousseau)Alexandre TovelaAinda não há avaliações
- TODOS!Documento27 páginasTODOS!tiagojjalvesAinda não há avaliações
- Além Da Gramática FormalistaDocumento19 páginasAlém Da Gramática FormalistaJorge Acosta JrAinda não há avaliações
- Teoria Critica e Epistemologia FeministaDocumento14 páginasTeoria Critica e Epistemologia FeministaClarissa Mendes CyrenoAinda não há avaliações
- Tractatus Practico-TheoreticusDocumento368 páginasTractatus Practico-TheoreticusNythamar de Oliveira100% (3)
- SOBOTTKA. Liberdade, Reconhecimeto e EmancipaçãoDocumento27 páginasSOBOTTKA. Liberdade, Reconhecimeto e EmancipaçãoKamille MattarAinda não há avaliações
- A Questão Ambiental Na Contemporaneidade - Entrevista Com o Prof. Dimas Floriani PDFDocumento16 páginasA Questão Ambiental Na Contemporaneidade - Entrevista Com o Prof. Dimas Floriani PDFDimas FlorianiAinda não há avaliações
- A Teoria MaxistaDocumento102 páginasA Teoria MaxistacarlosivanxAinda não há avaliações
- A intersubjetividade na ética do discurso de HabermasNo EverandA intersubjetividade na ética do discurso de HabermasAinda não há avaliações
- O Transcendental e o Pragmático: sobre o método dual, a redução pragmática e a veracidade a partir do pensamento de HabermasNo EverandO Transcendental e o Pragmático: sobre o método dual, a redução pragmática e a veracidade a partir do pensamento de HabermasAinda não há avaliações
- Barões Da FederaçãoDocumento2 páginasBarões Da FederaçãoLuma DonéAinda não há avaliações
- Como Os Capitalistas Financiaram o Nazismo de Hitler e o Fascismo de MussoliniDocumento18 páginasComo Os Capitalistas Financiaram o Nazismo de Hitler e o Fascismo de MussoliniwaldemirsouzaAinda não há avaliações
- SalazarismoDocumento3 páginasSalazarismodiliagasparAinda não há avaliações
- A Grécia AntigaDocumento2 páginasA Grécia AntigaFernando Antifascista Vieira100% (1)
- Gazeta de Votorantim, Edição 186Documento16 páginasGazeta de Votorantim, Edição 186Gazeta de VotorantimAinda não há avaliações
- Gazeta de Votorantim, Edição 205Documento16 páginasGazeta de Votorantim, Edição 205Gazeta de VotorantimAinda não há avaliações
- Publication BemparanaDocumento18 páginasPublication BemparanaAlex De Britto RodriguesAinda não há avaliações
- A Fábula Do Feixes de LenhaDocumento4 páginasA Fábula Do Feixes de LenhaBianca MichelonAinda não há avaliações
- ZWETSCH - Comites Pop Rua Locais - P3 Consultoria SDH-UNESCODocumento42 páginasZWETSCH - Comites Pop Rua Locais - P3 Consultoria SDH-UNESCOBinô ZwetschAinda não há avaliações
- Tse-116 2018 PDFDocumento93 páginasTse-116 2018 PDFeduardoasouzaAinda não há avaliações
- Em Defesa Do Socialismo - Florestan FernandesDocumento11 páginasEm Defesa Do Socialismo - Florestan FernandesNatan JuniorAinda não há avaliações
- Jornal Da Cidade 93 - AraruamaDocumento10 páginasJornal Da Cidade 93 - AraruamaLara MooreAinda não há avaliações
- "É Um Crime o Currículo Lattes", Diz Marilena Chauí - Pensador AnônimoDocumento5 páginas"É Um Crime o Currículo Lattes", Diz Marilena Chauí - Pensador AnônimoBeano de BorbujasAinda não há avaliações
- Lei Orgânica Do Município de Jataí de 05 de Abril de 1990Documento69 páginasLei Orgânica Do Município de Jataí de 05 de Abril de 1990Trabalho AmbientalAinda não há avaliações
- António José Saraiva e o 25 de AbrilDocumento17 páginasAntónio José Saraiva e o 25 de AbrilOlhão BigEyeAinda não há avaliações
- Prova Objetiv Apism 3Documento21 páginasProva Objetiv Apism 3Mary CastroAinda não há avaliações
- Protocolo Do Registro de Comissão Provisória Do PSDB-DFDocumento5 páginasProtocolo Do Registro de Comissão Provisória Do PSDB-DFMetropolesAinda não há avaliações
- RESUMO Liberalismo Velho e NovoDocumento11 páginasRESUMO Liberalismo Velho e NovoSantossangra SantosAinda não há avaliações
- Plano de Aula Sobre o Regime MilitarDocumento10 páginasPlano de Aula Sobre o Regime MilitarSilvia Miranda NagataAinda não há avaliações
- A Estética Dos Cabelos Crespos em SalvadorDocumento111 páginasA Estética Dos Cabelos Crespos em SalvadorVanessa MarinhoAinda não há avaliações
- ATUAL ECIVIL p16Documento200 páginasATUAL ECIVIL p16Teodol Equipamentos de PrecisãoAinda não há avaliações
- Socialismo e Comunismo - Quadro GeralDocumento2 páginasSocialismo e Comunismo - Quadro GeralJosué SilvaAinda não há avaliações
- ARRETCHE, Marta. Federalismo e Políticas Sociais No BrasilDocumento10 páginasARRETCHE, Marta. Federalismo e Políticas Sociais No BrasilAntonio_HPSAinda não há avaliações
- Acordao 25 CC 2019 PDFDocumento486 páginasAcordao 25 CC 2019 PDFBartolomeu ChichavaAinda não há avaliações
- Centro de Perícias Científicas Do Pará - 2007 - UnamaDocumento17 páginasCentro de Perícias Científicas Do Pará - 2007 - UnamaMaria Rosa SilvaAinda não há avaliações
- Estado e Administração Pública EDVALDocumento30 páginasEstado e Administração Pública EDVALRafael BettioAinda não há avaliações