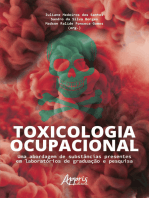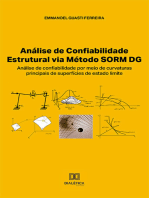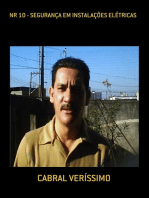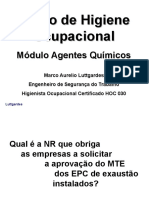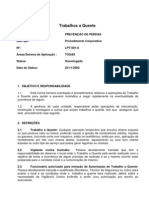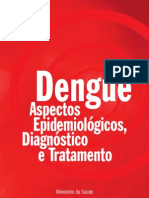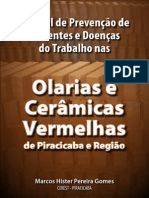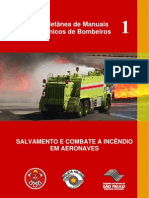Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Livros Aude Web
Livros Aude Web
Enviado por
Anonymous 2IkzNNDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Livros Aude Web
Livros Aude Web
Enviado por
Anonymous 2IkzNNDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Governo Federal
Secretaria de Assuntos Estratgicos da
Presidncia da Repblica
Ministro Wellington Moreira Franco
Presidente
Marcio Pochmann
Diretor de Desenvolvimento Institucional
Fernando Ferreira
Diretor de Estudos e Relaes Econmicas
e Polticas Internacionais
Mrio Lisboa Theodoro
Diretor de Estudos e Polticas do Estado,
das Instituies e da Democracia
Jos Celso Pereira Cardoso Jnior
Diretor de Estudos e Polticas Macroeconmicas
Joo Sics
Diretora de Estudos e Polticas Regionais, Urbanas
e Ambientais
Liana Maria da Frota Carleial
Diretor de Estudos e Polticas Setoriais, de Inovao,
Regulao e Infraestrutura
Mrcio Wohlers de Almeida
Diretor de Estudos e Polticas Sociais
Jorge Abraho de Castro
Chefe de Gabinete
Persio Marco Antonio Davison
Assessor-chefe de Imprensa e Comunicao
Daniel Castro
URL: http://www.ipea.gov.br
Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria
Fundao pbl i ca vi ncul ada Secr et ar i a de
Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica,
o Ipea fornece suporte tcnico e institucional s
aes governamentais possibilitando a formulao
de inmeras polticas pblicas e programas de
desenvol vi mento brasi l ei ro e di sponi bi l i za,
para a sociedade, pesquisas e estudos realizados
por seus tcnicos.
Ministro do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi
FUNDACENTRO - Fundao
Jorge Duprat Figueiredo de
Segurana e Medicina do Trabalho
Fundao pblica vinculada ao Ministrio
do Trabalho e Emprego, a Fundacentro
produz e difunde conhecimentos sobre
Segurana e Sade no Trabalho e Meio
Ambiente para fomentar, entre os parceiros
soci ai s, a i ncorporao do tema na
elaborao e na gesto de polticas que
visem ao desenvolvimento sustentvel
com crescimento econmico, promoo da
equidade social e proteo do meio ambiente.
Presidente
Eduardo de Azeredo Costa
Assessor Especial da Presidncia
Jorge Luiz Ramos Teixeira
Diretor Executivo Substituto
Hilbert Pfaltzgraff Ferreira
Diretor Tcnico
Jlo Moreira Lima Junior
Diretor de Administrao e Finanas
Hilbert Pfaltzgraff Ferreira
Assessora de Comunicao Social
Substituta
Maisa Lacerda Nazario
URL: www.fundacentro.gov.br
Braslia, 2011
Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ipea 2011
Sade e segurana no trabalho no Brasil : aspectos institucionais,
sistemas de informao e indicadores / organizadores: Ana Maria
de Resende Chagas, Celso Amorim Salim, Luciana Mendes Santos
Servo. Braslia : Ipea, 2011
396 p. : grfs., tabs.
Inclui bibliograa.
ISBN 978-85-7811-102-1
1. Segurana no Trabalho. 2. Poltica de Sade. 3. Trabalhadores.
4. Sistemas de Informao. 5. Indicadores. 6.Brasil. I. Chagas, Ana
Maria de Resende. II. Salim, Celso Amorim. III. Servo, Luciana Mendes
Santos. IV. Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada.
CDD 331.0981
As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e inteira responsabilidade
dos autores, no exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto
de Pesquisa Econmica Aplicada ou da Secretaria de Assuntos Estratgicos da
Presidncia da Repblica.
permitida a reproduo deste texto e dos dados nele contidos, desde que
citada a fonte. Reprodues para fins comerciais so proibidas.
SUMRIO
AGRADECIMENTOS
APRESENTAO
INTRODUO
PARTE I A INSTITUCIONALIDADE DA SEGURANA E SADE NO
TRABALHO NO BRASIL
CAPTULO 1
O MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SADE E SEGURANA
NO TRABALHO ................................................................................................................. 21
Adolfo Roberto Moreira Santos
CAPTULO 2
O MINISTRIO DA PREVIDNCIA SOCIAL E A INSTITUCIONALIDADE NO
CAMPO DA SADE DO TRABALHADOR ............................................................................ 77
Remgio Todeschini, Domingos Lino e Luiz Eduardo Alcntara de Melo
CAPTULO 3
MINISTRIO DA SADE: A INSTITUCIONALIDADE DA SADE DO
TRABALHADOR NO SISTEMA NICO DE SADE ............................................................... 89
Carlos Augusto Vaz de Souza e Jorge Mesquita Huet Machado
CAPTULO 4
SADE E SEGURANA NO TRABALHO NO BRASIL: OS DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES
PARA ATUAO DO EXECUTIVO FEDERAL ...................................................................... 113
Luciana Mendes Santos Servo, Celso Amorim Salim e Ana Maria de Resende Chagas
CAPTULO 5
A CONSTRUO DO PERFIL NACIONAL DA SEGURANA E SADE DO TRABALHADOR:
ELEMENTOS E SUBSDIOS ................................................................................................ 133
Rogrio Galvo da Silva
PARTE II AS FONTES DE INFORMAO PARA A SEGURANA E SADE DO
TRABALHO NO BRASIL
CAPTULO 6
SISTEMAS DE INFORMAO DO MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO RELEVANTES
PARA A REA DE SADE E SEGURANA NO TRABALHO RAIS, CAGED, SFIT .................. 153
Maria Emilia Piccinini Veras, Maria das Graas Parente Pinto e Adolfo Roberto Moreira Santos
CAPTULO 7
MINISTRIO DA PREVIDNCIA SOCIAL: FONTES DE INFORMAO
PARA A SADE E SEGURANA DO TRABALHADOR NO BRASIL ....................................... 201
Eduardo da Silva Pereira
CAPTULO 8
AS FONTES DE INFORMAO DO SISTEMA NICO DE SADE
PARA A SADE DO TRABALHADOR ................................................................................. 233
Dcio de Lyra Rabello Neto, Ruth Glatt, Carlos Augusto Vaz de Souza, Andressa Christina Gorla
e Jorge Mesquita Huet Machado.
CAPTULO 9
INDICADORES DA SADE E SEGURANA NO TRABALHO: FONTES DE
DADOS E APLICAES .................................................................................................... 289
Ana Maria de Resende Chagas, Luciana Mendes Santos Servo e Celso Amorim Salim
CAPTULO 10
SISTEMAS DE INFORMAO E ESTATSTICAS SOBRE SADE E SEGURANA
NO TRABALHO: QUESTES, PERSPECTIVAS E PROPOSIO INTEGRAO .................... 331
Celso Amorim Salim, Ana Maria de Resende Chagas e Luciana Mendes Santos Servo
CAPTULO 11
A FUNDAO SEADE E OS ESTUDOS SOBRE MORTALIDADE POR ACIDENTES
DE TRABALHO NO ESTADO DE SO PAULO ........................................................................... 363
Bernadette Cunha Waldvogel, Rosa Maria Vieira de Freitas e Monica La Porte Teixeira
LISTA DE SIGLAS ..................................................................................... 379
SOBRE OS AUTORES ............................................................................... 387
AGRADECIMENTOS
Este livro fruto de um compromisso interinstitucional que comeou com uma
parceria entre o Ipea e a Fundacentro, mas que logo ganhou vida e corpo com a
importante adeso de pessoas vinculadas aos Ministrios da Previdncia Social, do
Trabalho e Emprego e da Sade, bem como da equipe da Fundao Seade. Todos
se mostraram interessados em contribuir para uma publicao que pretende apoiar
as discusses e o aprimoramento das polticas de sade e segurana no trabalho
no Brasil. Esse compromisso dos gestores com a poltica pblica e a melhoria
das condies de sade e segurana dos trabalhadores brasileiros est refetido no
grande esforo feito, o qual incluiu muitas horas extras, em um perodo de muito
trabalho e em ano de transio de governo. Contamos ainda com o apoio de uma
revisora que se dedicou muito para viabilizar a concluso desta fase do trabalho
ainda em 2010. A possibilidade de reunir-nos para este empreendimento comum,
quando, aps a realizao de uma ofcina de trabalho, a maioria dos contatos
seguintes foi feita via e-mail, tambm foi muito gratifcante e, nas palavras de
um dos autores, esta foi uma oportunidade fundamental para que realizssemos
essas snteses de nossos cotidianos de trabalho. Ns, como organizadores
do livro e autores de alguns de seus captulos, s compreendemos a dimenso
da proposta ao longo do processo de sua execuo. O esforo foi grande, mas
muito recompensador. Em 2011, apresentamos ao pblico o resultado deste
trabalho coletivo.
Obrigado a todos por este livro.
Ana Maria de Resende Chagas
Celso Amorim Salim
Luciana Mendes Santos Servo
Organizadores
APRESENTAO
com grande satisfao que apresentamos o presente livro, fruto de um esforo
conjunto de especialistas das instituies colaboradoras e resultado do processo
de trabalho para desenvolvimento das pesquisas integrantes do Acordo de Coo-
perao Tcnica frmado, em 2008, entre o Ipea e a Fundacentro. Este Acordo
prev a elaborao de estudos na rea de Segurana e Sade no Trabalho em linhas
de pesquisa que se referem construo de um perfl nacional, estimativa de
custos dos acidentes de trabalho e integrao das bases de dados e dos sistemas
de informao relacionados, em algum grau, aos aspectos da SST. Os trabalhos
realizados nas Ofcinas de Trabalho para a viabilizao das duas ltimas linhas
de pesquisas mencionadas suscitaram a idia de sistematizar em um nico docu-
mento as informaes afns para a compreenso do que vem a ser a rea de SST e
como ela se estrutura no Brasil, com um foco maior sobre o mbito federal.
Nos trabalhos iniciais de cooperao e de discusso das questes relevan-
tes para a elucidao das intrincadas mincias operacionais dos sistemas e das
bases de dados necessrios s pesquisas que seriam realizadas, contou-se com a
colaborao de tcnicos dos Ministrios do Trabalho e Emprego, da Sade e da
Previdncia Social, da Fundao Seade, do Ipea e da Fundacentro, muitos dos
quais assinam os captulos deste livro.
O que torna este livro especial reunir no apenas todo o arcabouo relativo
aos aspectos institucionais da organizao da SST no Brasil, mas tambm toda a
informao necessria ao entendimento do que so os sistemas e as bases de dados
que colaboram, ou que podem vir a colaborar, na estruturao de um sistema
integrado de informaes para a rea de SST. Muito ainda necessita ser feito para o
alcance da coordenao institucional na rea de SST, bem como para a integrao
dos sistemas de informao, e este livro mais uma contribuio a esta fnalidade.
A participao de especialistas com longa vivncia na rea, na elaborao dos cap-
tulos, possibilita a grata surpresa de encontrar em suas pginas relatos detalhados
s possveis aos muito ntimos com os temas tratados.
Pretende-se com esta publicao disponibilizar, ao pblico afeito rea de
SST e aos estudantes que venham a se formar para atuar na rea, informaes
relevantes que, esperamos, frutifquem para o aprimoramento da SST.
Boa leitura!
Marcio Pochmann
Presidente do Ipea
Eduardo de Azeredo Costa
Presidente da Fundacentro
INTRODUO
Este livro um dos resultados do Acordo de Cooperao Tcnica frmado entre o
Ipea e a Fundacentro ao fnal de 2008, com vigncia inicial de cinco anos, tendo
como objetivo precpuo a implementao de aes conjuntas que assegurem a
realizao de estudos e de pesquisas de interesse mtuo, principalmente a respeito
de temas concernentes s polticas de Sade e Segurana no Trabalho (SST).
Em termos operacionais, este Acordo est sendo executado por meio de
trs linhas de pesquisa, que, por sua vez, compreendem cinco projetos, assim
distribudos: Linha 1 Estatsticas e indicadores em SST, sob a coordenao da
Fundacentro e composta pelos projetos Prospeco e diagnstico tcnico dos
bancos de dados e remodelagem das estatsticas e indicadores sobre a sade do
trabalhador (PRODIAG Fase II) Projeto piloto e Pesquisa sobre mortalidade
por acidentes do trabalho nos Estados de So Paulo e Minas Gerais; Linha 2
Custos econmicos e sociais dos acidentes de trabalho, que, coordenada pelo
Ipea, tambm inclui dois projetos: Custos econmicos dos acidentes de trabalho
no Brasil: uma abordagem exploratria a partir de bases de dados secundrios
e Custos econmicos dos acidentes de trabalho: estimativa nos setores de
transportes e da construo civil de Minas Gerais; Linha 3 Avaliao de
polticas pblicas em SST, sob responsabilidade da Fundacentro, com o projeto
Perfl Nacional da Segurana e Sade no Trabalho.
A par dos arranjos interinstitucionais em curso, postos como pr-requisitos
execuo dos projetos citados, h que se destacar, por ora, a realizao de duas
ofcinas de trabalho envolvendo, alm de tcnicos e pesquisadores do Ipea e
da Fundacentro, participantes dos Ministrios da Previdncia Social, Sade
e Trabalho e Emprego. Estas ofcinas, fundamentadas no tema Integrao de
Bases de Dados Relacionadas Sade do Trabalhador no Brasil, propiciaram no
apenas uma avaliao do estado da arte das informaes na rea, como tambm
se constituram em instncias para se debaterem aspectos relevantes remetidos
aos meandros da chamada institucionalidade em SST. Importante que ambas as
ofcinas balizaram novas perspectivas em relao ao avano da integrao das aes
interministeriais na rea, sendo este livro, estruturado em duas partes principais,
um de seus desdobramentos imediatos.
Antes, porm, de se apresentarem os captulos que o compem, registre-se
a sua insero contributiva no cenrio atual, quando o pas busca formular e
implementar a sua Poltica Nacional de Segurana e Sade no Trabalho (PNSST)
visando, sobretudo, a promoo da sade e a melhoria da qualidade de vida do
trabalhador, a preveno de acidentes e de danos sade advindos ou relacionados
ao trabalho ou que ocorram no curso dele, preconizando, nesta direo, a elimi-
nao ou reduo dos riscos nos ambientes de trabalho, conforme o documento
da Comisso Tripartite de Sade e Segurana no Trabalho (CT-SST), elaborado
em 2010. Seus princpios so os seguintes: a universalidade; a preveno; a pre-
cedncia das aes de promoo, proteo e preveno sobre as de assistncia,
reabilitao e reparao; o dilogo social; a integralidade.
Por conseguinte, sob o mote do objetivo e dos princpios dessa Poltica, este
livro, ao encerrar contribuies focais de tcnicos e pesquisadores no mbito da
Administrao Federal e da Fundao Seade de So Paulo, busca especialmente
resgatar trajetrias que, embora aqui particularizadas, so arroladas sob a premissa
da pertinncia de se ter na transversalidade de aes o requisito para se atingir a
sua maior efccia e efcincia, ou seja, por meio das instncias governamentais
que se articulam acerca do tema SST.
Exatamente por isso, um livro que, ao tempo que resgata a SST sob a pers-
pectiva de mecanismo de proteo social, direito e oportunidade, perpassando
pela estrutura produtivo-tecnolgica de informaes, prope-se a trazer a pblico
elementos para uma melhor compreenso tanto da insero institucional dessa
rea nos ministrios supracitados como uma descrio dos sistemas de informa-
o disponveis nos rgos federais que permitem realizar anlises na rea. Em
outras palavras, busca descrever o processo histrico e as recentes mudanas na
institucionalizao da SST no pas; sistematizar informaes afns e facultar o
seu uso na elaborao das aes tpicas; descrever os sistemas de informao e
disseminar informaes sobre a natureza e as especifcidades dos mesmos.
Justifca-se tal procedimento na medida em que trs ministrios vm apre-
sentando mudanas na insero e na institucionalizao do tema SST, incluindo a
criao de estruturas funcionais especfcas, a mudana de enfoque da poltica e a
reorganizao e a redistribuio interna de responsabilidades. Adicionalmente, h
vrios sistemas de informaes gerenciados por rgos do governo federal e que
deveriam apoiar a elaborao de polticas e programas em SST.
Em resumo, a documentao e a descrio desses processos de instituciona-
lizao e de sua correlao, bem como dos sistemas de informao apresentam-
se como uma oportunidade tanto para ampliar o conhecimento sobre o tema,
quanto para discusses sobre a coordenao e a integrao das aes em SST. Da
a participao direta dos tcnicos dos ministrios mencionados, aos quais foram
solicitadas duas abordagens distintas. Uma com o histrico da institucionaliza-
o da SST e suas mudanas recentes, incluindo neste processo a elaborao das
polticas de cada rgo. Outra descrevendo tecnicalidades inerentes e produtos
de cada um dos sistemas de informao sob os seus respectivos raios de ao.
Em complemento, textos de tcnicos e pesquisadores do Ipea e da Fundacentro
reportam-se a assuntos como o balano das condies institucionais, os subsdios
e elementos construo do perfl nacional de SST, os indicadores mais usuais
e alternativas sua remodelagem, os problemas, as perspectivas e a proposio
integrao das informaes, alm de metodologias e experincias com a vincula-
o de dados.
Uma observao pontual: por falta de unanimidade e, sobretudo, em res-
peito s colocaes originais dos prprios autores, mantm-se aqui as expresses
segurana e sade no/do trabalho, sade e segurana do/no trabalho no propria-
mente como sinnimos, mas tal como grafadas pelos autores dos captulos deste
livro. O mesmo vale para acidente de/do trabalho.
. . .
A primeira parte, dedicada s dimenses setoriais da institucionalidade da
SST no Brasil, prope-se a apresentar a evoluo e a situao vigente em cada um
dos ministrios mencionados.
Inicia-se com o artigo de Santos, que explora amide, entre as atribuies
do Ministrio do Trabalho e Emprego, a fscalizao do trabalho, a aplicao
de sanes previstas em normas legais ou coletivas, bem como as aes de SST.
Nesta direo, aporta importantes exemplos histricos, destaca a estrutura
e as competncias do Ministrio e o papel da OIT. Tambm faz uma anlise
da tendncia normativa, incluindo um balano dos aspectos constitucionais e
infraconstitucionais, seguido de uma apresentao das Normas Regulamentadoras
de SST. Na sequncia, destaca o papel da inspeo do trabalho, incluindo o seu
surgimento e desenvolvimento no mundo, para, em seguida, se deter na anlise
do modelo atualmente aplicado no Brasil, assim como o seu melhor planejamento
na rea de SST. Ademais, so discutidas dimenses especfcas da articulao
intragovernamental e com outros atores sociais. Ao fnal, tece consideraes sobre
a realidade atual, associando-as a desafos e perspectivas.
Todeschini, Lino e Melo, aps anlise sucinta da evoluo histrica dos
benefcios acidentrios em face do quadro de acidentes e doenas do trabalho,
detm-se nas mudanas mais recentes na institucionalidade do Ministrio
da Previdncia Social no campo da sade do trabalhador, como o combate
subnotifcao das doenas profssionais com o Nexo Tcnico Epidemiolgico
Previdencirio (NTEP), o novo seguro de acidente do trabalho e a implantao
do Fator Acidentrio de Preveno (FAP), alm da criao, em 2007, do
Departamento de Polticas de Sade e Segurana Ocupacional (DPSO),
tambm responsvel pela revitalizao e estudos sobre reabilitao profssional.
Sequencialmente, analisam o papel da CT-SST na reviso e na ampliao da
proposta da PNSST. Por fm, a exemplo dos pases da OCDE, sugerem discusses
sobre a necessidade de uma Agncia Nacional de Trabalho e Sade, de forma a
ampliar a institucionalidade governamental. No mbito da DPSO, aventam
a importncia de se criar uma Superintendncia de Riscos Profssionais.
Por sua vez, Souza e Machado, ao reterem a incluso da Sade do Trabalha-
dor como campo de prticas institucionais no SUS, destacam a participao dos
trabalhadores na gesto e nas aes de assistncia, por intermdio da avaliao
dos impactos das tecnologias, da informao sobre os riscos nos ambientes de tra-
balho, da reviso peridica da listagem ofcial de doenas originadas no processo
de trabalho, alm da garantia de interdio em situaes de risco no ambiente de
trabalho. Neste sentido, do nfase s aes de promoo e vigilncia sobre os
processos e ambientes de trabalho ante as aes curativas. Ainda discorrem sobre a
evoluo da insero institucional da Sade do Trabalho no Ministrio da Sade,
a criao e a estruturao da RENAST cujo eixo integrador, mas sob a perspec-
tiva de descentralizao de aes, seria a rede do CEREST , o processo de devo-
luo da 3 Conferncia Nacional de Sade do Trabalhador, o papel da articulao
intersetorial e, por fm, a proposta da PNSST.
No captulo 4, Servo, Salim e Chagas buscam uma anlise da institucio-
nalidade inerente trade Trabalho-Previdncia-Sade, a partir de suas particu-
laridades anteriormente apresentadas. O foco sobre a atuao federal em SST.
Reapresentam, sumariamente, as discusses de atribuies, os processos anteriores
de articulao e a Poltica Nacional de Segurana e Sade no Trabalho (PNSST)
e fazem referncia aos desafos para a sua efetiva implementao. Neste sentido,
discutem, tambm, as possibilidades de resposta frente a um mercado de trabalho
heterogneo, no qual convivem trabalhadores com carteira de trabalho assinada,
com trabalhadores sem carteira, autnomos, empregados domsticos, rurais,
entre outros. A partir de rpido resumo das principais questes apresentadas ao
longo do texto e de sua limitao por realizar a anlise sob a perspectiva federal,
apresentam suas consideraes fnais.
Finalizando esta seo, Galvo da Silva, a partir de um amplo levantamento
bibliogrfco e documental, sustenta a complexidade inerente formulao de
polticas pblicas e a defnio de planos, estratgias e aes em SST. Nesta dire-
o, destaca a pertinncia de amplos diagnsticos, sob a forma de perfs nacionais,
para o fortalecimento da capacidade dos pases e para o planejamento de polticas,
planos e programas nacionais na rea. Para isso, apresenta aspectos conceituais,
discorre sobre as recomendaes da OIT e as aes da OMS por meio de sua
Rede Global de Centros Colaboradores em Sade Ocupacional, para indicar
os principais elementos a serem contemplados na construo do perfl nacional
de SST. Enfm, um resgate oportuno de iniciativas internacionais, sendo que o
aprimoramento do conjunto de descritores e indicadores dos perfs, atrelados aos
recursos dos sistemas de informao, deve ser contemplado sob uma estratgia de
longo prazo, preferencialmente com datao predeterminada.
. . .
A segunda parte enfoca aspectos mais operacionais de cada um dos sistemas
de informao, alm de priorizar um delineamento de problemas remetidos inte-
grao de dados e s discusses sobre as perspectivas nesta rea, seguido do registro
de experincias j realizadas acerca da vinculao de dados de fontes diversas.
No mbito do Ministrio do Trabalho e Emprego, Veras, Pinto e Santos
apresentam os sistemas de informao relevantes para a rea de SST: Rais, CAGED
e SFIT. Para os dois primeiros, so apresentados conceitos, metodologias, princi-
pais indicadores, o seu uso e potencialidades para a SST, alm de algumas limita-
es. Ambos compem o Programa de Disseminao de Estatsticas do Trabalho
(PDET), com acessos alternativos e fns diversos. Por sua vez o SFIT suporta as
atividades de inspeo das normas de proteo, segurana e medicina do traba-
lho, reunindo dados sob a forma modular. O mdulo Investigao de Acidente
de Trabalho foi includo em 2001. composto por dois submdulos: um com
informaes estritas do acidente, denominado Dados do Acidente, e outro com
as do(s) acidentado(s), denominado Dados do Acidentado. Desde ento, a anlise
dos acidentes passou a ser uma das prioridades da inspeo trabalhista, sobretudo
os acidentes graves fatais e no fatais comunicados ao MTE.
Em relao s informaes sobre acidentes de trabalho da Previdncia Social,
Pereira observando a sua importncia ao longo das ltimas quatro dcadas no
registro, no armazenamento e na produo de dados e estatsticas sobre sade e
segurana do trabalhador no Brasil apresenta os principais sistemas de informao
que as coletam e armazenam, acrescentando sua utilizao na anlise dos acidentes
de trabalho e as limitaes que lhe so inerentes. Nesta direo, pela ordem, mas
pontuando os ajustes e os aperfeioamentos que as qualifcam no tempo, parti-
cularmente quanto s melhorias da cobertura e da disponibilidade de dados, dis-
corre sobre a Comunicao de Acidente do Trabalho (CAT), seguida do Cadastro
Nacional de Informaes Sociais (CNIS) e da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informaes Previdncia Social (GFIP). Com detalhes, dispe as variveis que
compem estes sistemas, o que induz novas alternativas produo de estatsticas e
indicadores em SST. Em adio, pondera questes na perspectiva de novos avanos
destes sistemas.
Na esfera do Ministrio da Sade, como resultado de todo um trabalho de
equipe i. , Rabello Neto, Glatt, Souza, Gorla e Machado , sob o marco da
evoluo das informaes na vigilncia de agravos relacionados ao trabalho, so
analisadas, com riqueza de detalhes, as principais fontes de informao do SUS
para a sade do trabalhador, ou seja, o Sistema de Informao de Agravos de
Notifcao (Sinan), o Sistema de Informao sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema
de Informaes Hospitalares (SIH). Detalhes que incorporam um histrico e
caractersticas gerais de cada sistema, seus objetivos, os dados disponveis, bem
como suas possibilidades de uso na rea de Sade do Trabalhador. So sistemas
que, ao incorporarem importantes ajustes, hoje aportam contribuies especfcas
no rol das fontes que delimitam a produo de estatsticas e indicadores sobre os
agravos sade remetidos aos ambientes de trabalho. O conjunto de variveis que
os conformam essencial melhoria das informaes requeridas no campo da SST.
A anlise dos indicadores mais usuais em SST realizada por Chagas, Servo
e Salim, onde se privilegiam suas principais fontes de dados, suas aplicaes e
possibilidades. Nesta oportunidade, so apresentados aqueles sugeridos pela OIT,
bem como os utilizados pela OMS e pelos ministrios detentores da informao.
Ressalta-se a evoluo da norma que induz ao aprimoramento dos indicadores.
Alguns de seus limites so destacados, assim como a discusso de alternativas
pontuais para a sua melhoria, ou seja, a construo de novos indicadores que
refitam as circunstncias em que o trabalho exercido como jornada excessiva,
formao educacional, formao especfca , alm de outros indicadores
compostos ou sintticos mais abrangentes, que busquem retratar a qualidade no
trabalho, todos sob a perspectiva de sua relevncia social e propriedades desejveis
no que tange sua instrumentalidade na avaliao de aes tpicas em SST.
O captulo 10, elaborado por Salim, Chagas e Servo, busca contribuir com
elementos tcnicos e subsdios analticos acerca da harmonizao do conjunto
de informaes sobre sade e segurana no trabalho no Brasil, destacando, em
especial, a anlise dos pontos crticos no processo de planejamento de um sistema
interorganizacional para o setor pblico e sua convergncia com as diretrizes da
PNSST. Para isso, pressupe a quebra de paradigmas na sua concepo, construo
e gerenciamento em um ambiente colaborativo, ou seja, atravs de uma maior
integrao das organizaes afns, ampliando, por conseguinte, as discusses sobre
um problema de interesse maior para a sociedade, que ainda carece do devido
equacionamento. Situao justifcada por razes tcnicas, por interesses setoriais e
pela falta de prioridades. Questes relativas importncia da intersetorialidade
e da transversalidade das aes, assim como a interdisciplinaridade e a aplicao
de tecnologias de informao so aqui retomadas.
Por ltimo, mas importante pela efetividade de seus pressupostos
metodolgicos, registrem-se as pesquisas e as atividades desenvolvidas pela
Fundao Seade, sobretudo remetidas sua experincia histrica com a
vinculao (linkage) de base de dados, apresentadas por Waldvogel, Freitas
e Teixeira. So contribuies pioneiras, cabendo, em especial, citar o
dimensionamento dos acidentes de trabalho fatais a partir da vinculao
das informaes da CAT com as da Declarao de bito , o que possi-
bilitou o desenvolvimento de um modelo de vinculao, sobretudo por
intermdio de projeto desenvolvido em parceria com a Fundacentro.
Enfm, uma oportuna descrio sobre o desenvolvimento e o aprimo-
ramento de uma nova perspectiva de pesquisa, especialmente com a apli-
cao de tcnicas de vinculao determinstica a diferentes bases de dados
passveis de serem adaptados s especifcidades de cada fonte utilizada.
E mais, por utilizar registros administrativos, a aplicao desta metodologia
apresenta vantagens como baixo custo e contnua periodicidade.
. . .
Embora inicialmente se traduzisse como fruto da parceria interinstitucional
entre o Ipea e a Fundacentro, o presente livro, inequivocamente, tem o seu marco
institucional ampliado pela decisiva participao dos Ministrios da Sade, da
Previdncia Social e do Trabalho e Emprego, alm da Fundao Sistema Estadual
de Anlise de Dados (Seade).
De fato, sem a aquiescncia de suas direes setoriais, que designaram nomes
e consignaram responsabilidades pontuais aos chamados realizados na elaborao
dos captulos, no teria sido possvel a concluso desta tarefa e tampouco a sua
publicao em um tempo efetivamente curto. Sendo assim, registre-se a gratido
dos organizadores a todas as instituies que tornaram possvel esta obra,
especialmente pelas contribuies relevantes dos autores colaboradores, que, sem
dvida, alargaram os horizontes proposta inicial deste livro.
Neste sentido, espera-se que compromissos possam ter continuidade e
que prximas e necessrias aes conjuntas possam ser retomadas na busca de
melhorias do desempenho e da convergncia das aes que compreendem o vasto
campo da SST no pas, marcadamente em relao produo e disseminao
de conhecimentos que possam suport-las como um todo.
Ana Maria de Resende Chagas
Celso Amorim Salim
Luciana Mendes Santos Servo
Organizadores
Parte I
A INSTITUCIONALIDADE
DA SEGURANA E SADE
NO TRABALHO
NO BRASIL
CAPTULO 1
O MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SADE
E SEGURANA NO TRABALHO
Adolfo Roberto Moreira Santos
1 APRESENTAO
Na atual estrutura organizacional do Estado brasileiro compete ao Ministrio do
Trabalho e Emprego (MTE), entre outras atribuies, a scalizao do trabalho, a
aplicao de sanes previstas em normas legais ou coletivas sobre esta rea, bem
como as aes de segurana e sade no trabalho (BRASIL, 2003a).
Embora na esfera das relaes sade/trabalho exista alguma sobreposio
de atribuies com o Ministrio da Sade (MS) e o Ministrio da Previdncia
Social (MPS), ca basicamente a cargo do MTE a regulamentao complementar
e a atualizao das normas de sade e segurana no trabalho (SST), bem como
a inspeo dos ambientes laborais para vericar o seu efetivo cumprimento.
De modo mais especco, o MTE atua sobre as relaes de trabalho nas quais
h subordinao jurdica entre o trabalhador e o tomador do seu servio
(exceto quando expressamente estabelecido em contrrio nas normas legais
vigentes). sobre estas suas duas atividades, normatizao e inspeo trabalhista,
principalmente na rea de SST, que se tratar ao longo do presente captulo.
Nesta explanao, as expresses sade no/do trabalho, sade e segurana
do/no trabalho (e vice-versa) so utilizadas como sinnimos. O mesmo vale para
inspeo do trabalho (ou trabalhista), scalizao trabalhista (ou do trabalho) e
auditoria scal no trabalho. No se utilizar a denominao vigilncia em sade
do trabalhador, embora de uso corrente em textos da rea da sade Os dados,
as normas vigentes, a estrutura administrativa, entre outros, informados no
presente captulo, tm como referncia o ms de junho de 2010, exceto quando
expressamente armado em contrrio.
22
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
2 CONSIDERAES HISTRICAS
Que o trabalho fonte de leses, adoecimento e morte fato conhecido desde a
Antiguidade. Embora de modo esparso, h citaes de acidentes de trabalho em
diversos documentos antigos. H inclusive meno a um deles no Novo Testamento
de Lucas (o desabamento da Torre de Silo), no qual faleceram dezoito provveis
trabalhadores. Alm dos acidentes de trabalho, nos quais a relao com a atividade
laboral mais direta, tambm existem descries sobre doenas provocadas pelas
condies especiais em que o trabalho era executado. Mais de dois mil anos antes da
nossa era, Hipcrates, conhecido como o Pai da Medicina, descreveu muito bem
a intoxicao por chumbo encontrada em um trabalhador mineiro. Descries
do sofrimento imposto aos trabalhadores das minas foram feitas ainda no tempo
dos romanos (ROSEN, 1994, p. 39-40, p. 45-46; MENDES, 1995, p. 5-6).
Em 1700, o mdico Bernardino Ramazzini publicou seu famoso livro De Morbis
Articum Diatriba, no qual descreve minuciosamente doenas relacionadas ao
trabalho encontradas em mais de 50 atividades prossionais existentes na poca
(RAMAZZINI, 1999). Apesar dessas evidncias, no h informao de qualquer
poltica pblica que tenha sido proposta ou implementada para reduzir os riscos
a que esses trabalhadores estavam submetidos. Nesses perodos, as vtimas dos
acidentes/doenas relacionadas ao trabalho eram quase exclusivamente escravos e
pessoas oriundas dos nveis considerados como os mais inferiores da escala social.
Durante a Revoluo Industrial, iniciada na Inglaterra em meados do sculo
XVIII, houve um aumento notvel do nmero de agravos relacionados ao trabalho.
Isso decorreu do uso crescente de mquinas, do acmulo de operrios em locais
connados, das longas jornadas laborais, da utilizao de crianas nas atividades
industriais, das pssimas condies de salubridade nos ambientes fabris, entre
outras razes. Embora o assalariamento tenha existido desde o mundo antigo, sua
transformao em principal forma de insero no processo produtivo somente
ocorreu com a industrializao.
A conjuno de um grande nmero de assalariados com a percepo coletiva
de que o trabalho desenvolvido era fonte de explorao econmica e social,
levando a danos sade e provocando adoecimento e morte, acarretou uma
inevitvel e crescente mobilizao social para que o Estado interviesse nas relaes
entre patres e empregados, visando reduo dos riscos ocupacionais. Surgem
ento as primeiras normas trabalhistas na Inglaterra (Lei de Sade e Moral dos
Aprendizes, de 1802), que posteriormente foram seguidas por outras semelhantes
nas demais naes em processo de industrializao (ROSEN, 1994, p. 302-315).
A criao da Organizao Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, logo aps
o nal da Primeira Grande Guerra, mudou acentuadamente o ritmo e o enfoque
das normas e prticas de proteo sade dos trabalhadores, sendo atualmente a
grande referncia internacional sobre o assunto.
23
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
No Brasil, o mesmo fenmeno ocorreu, embora de forma mais tardia em
relao aos pases de economia central. Durante o perodo colonial e imperial
(1500-1889), a maior parte do trabalho braal era realizada por escravos
(ndios e negros) e homens livres pobres. A preocupao com suas condies
de segurana e sade no trabalho era pequena e essencialmente privada.
O desenvolvimento de uma legislao de proteo aos trabalhadores surgiu
com o processo de industrializao, durante a Repblica Velha (1889-1930).
Inicialmente esparsa, a legislao trabalhista foi ampliada no Governo Vargas
(1930-1945) com a Consolidao das Leis do Trabalho (CLT), instituda pelo
Decreto-Lei n
o
5.452, de 1
o
de maio de 1943 (BRASIL, 1943). Dentro da linha
autoritria, com tendncias fascistas, que ento detinha o poder, essa legislao
buscou manter as demandas sociais e trabalhistas sob o controle do Estado,
inclusive com a criao do Ministrio do Trabalho, Indstria e Comrcio, em
26 de novembro de 1930 (MUNAKATA, 1984, p. 62-82). Boa parte dessa
legislao original foi modicada posteriormente, inclusive pela Constituio
da Repblica Federativa do Brasil (CRFB), de 10 de outubro de 1988 (BRASIL,
1988c). Porm, muitos dos seus princpios e instituies continuam em vigor,
tais como os conceitos de empregador e empregado, as caractersticas do vnculo
empregatcio e do contrato de trabalho, a Justia do Trabalho e o Ministrio
Pblico do Trabalho, a unicidade e a contribuio sindical obrigatria, entre
outros. A scalizao do trabalho, ento formalmente instituda, s passou a ter
ao realmente efetiva vrios anos depois.
3 O MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO ESTRUTURA E COMPETNCIAS
Criado em novembro de 1930, logo aps a vitria da Revoluo de 30, o
Ministrio do Trabalho, Indstria e Comrcio foi organizado em fevereiro do
ano seguinte (Decreto n
o
19.667/31). Nos anos posteriores (1932-1933) foram
criadas as Inspetorias Regionais e as Delegacias do Trabalho Martimo, sendo
que as primeiras passaram a ser denominadas Delegacias Regionais do Trabalho
(DRT) em 1940. Em 1960, com a criao do Ministrio da Indstria e Comrcio,
passou a ser denominado Ministrio do Trabalho e Previdncia Social (MTPS),
j que, naquela poca, as Caixas de Aposentadorias e Penses dos empregados
privados estavam sob a subordinao desse ministrio.
Em 1966, por meio da Lei n
o
5.161, foi criada a Fundao Centro Nacional
de Segurana, Higiene e Medicina do Trabalho (Fundacentro), hoje Fundao
Jorge Duprat Figueiredo, de Segurana e Medicina do Trabalho (Fundacentro),
para realizar estudos e pesquisas em segurana, higiene, meio ambiente e medicina
do trabalho, inclusive para capacitao tcnica de empregados e empregadores.
Em 1
o
de maio de 1974, o MTPS passou a ser Ministrio do Trabalho
(MTb), com a vinculao da Fundacentro (fundao de direito pblico) a este e
24
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
o desmembramento da Previdncia Social, que foi constituda como um minis-
trio parte. Durante breve perodo, entre 1991 e 1992 (no Governo Collor)
houve novamente a fuso desses dois ministrios. Em 13 de maio de 1992, com
o novo desmembramento, passou a ser denominado Ministrio do Trabalho e
da Administrao Federal. Outra mudana ocorreu em 1
o
de janeiro de 1999,
quando passou a ser Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), que a sua atual
denominao (MTE, 2010a).
A atual estrutura regimental do MTE foi dada pelo Decreto n
o
5.063, de
3 de maio de 2004, tendo como competncia as seguintes reas (BRASIL, 2004):
poltica e diretrizes para a gerao de emprego e renda e de apoio ao trabalhador;
poltica e diretrizes para a modernizao das relaes do trabalho;
scalizao do trabalho, inclusive do trabalho porturio, bem como
aplicao das sanes previstas em normas legais ou coletivas;
poltica salarial;
formao e desenvolvimento prossional;
segurana e sade no trabalho;
poltica de imigrao; e
cooperativismo e associativismo urbanos.
Dentro do MTE, as aes de segurana e sade no trabalho esto
particularmente afeitas Secretaria de Inspeo do Trabalho (SIT), um dos seus
rgos especcos singulares, como pode ser observado na gura 1, embora outras
secretarias possam, subsidiariamente, ter algum papel nessa rea. A SIT tem, entre
outras, as atribuies descritas a seguir.
1. Formular e propor as diretrizes da inspeo do trabalho, inclusive do tra-
balho porturio, priorizando o estabelecimento de polticas de combate
ao trabalho forado, infantil, e a todas as formas de trabalho degradante.
2. Formular e propor as diretrizes e normas de atuao da rea de segurana
e sade do trabalhador.
3. Propor aes, no mbito do Ministrio, que visem otimizao de sis-
temas de cooperao mtua, intercmbio de informaes e estabeleci-
mento de aes integradas entre as scalizaes federais.
4. Promover estudos da legislao trabalhista e correlata, no mbito de sua
competncia, propondo o seu aperfeioamento.
25
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
5. Acompanhar o cumprimento, em mbito nacional, dos acordos e con-
venes raticados pelo Governo brasileiro junto a organismos inter-
nacionais, em especial OIT, nos assuntos de sua rea de competncia.
6. Baixar normas relacionadas com a sua rea de competncia.
A SIT tem duas divises. Ao Departamento de Inspeo do Trabalho (DEFIT)
compete subsidiar a SIT, planejar, supervisionar e coordenar as aes da secretaria
na rea trabalhista geral (vnculo empregatcio, jornadas de trabalho, intervalos in-
tra e interjornadas, pagamento de salrios, concesso de frias, descanso semanal,
recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio etc.). O Departamento
de Segurana e Sade no Trabalho (DSST) tem atribuies similares, embora na
rea de segurana e sade no trabalho (servios de segurana das empresas, controle
mdico ocupacional, equipamentos de proteo individual e coletiva, fatores de risco
presentes nos ambientes de trabalho, condies sanitrias nos locais de trabalho etc.).
FIGURA 1
Organograma do Ministrio do Trabalho e Emprego
Fonte: MTE.
26
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Cada um dos 26 estados da Federao, alm do Distrito Federal, conta
com uma Superintendncia Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), que at
3 de janeiro de 2008 era denominada Delegacia Regional do Trabalho (DRT).
A estas unidades descentralizadas, subordinadas diretamente ao MTE, competem
a execuo, a superviso e o monitoramento das aes relacionadas s polticas
pblicas de responsabilidade deste ministrio, na sua rea de circunscrio,
obedecendo s diretrizes e aos procedimentos dele emanados e, inclusive, como
responsveis pela maior parte das aes de scalizao trabalhista. A sede da SRTE
ca localizada na capital do estado.
Com exceo de quatro SRTE localizadas em estados de menor populao
(Amap, Rondnia, Roraima e Tocantins), todas as demais possuem subdivises
na sua jurisdio as Gerncias Regionais do Trabalho e Emprego (GRTEs),
atualmente num total de 114. So Paulo, o mais populoso estado da Federao,
tem 25 GRTEs, alm da rea sob a responsabilidade direta da superintendncia.
Alm disso, existem mais de 400 Agncias Regionais do Trabalho (Artes), nas
mais diversas cidades do pas.
4 REFERENCIAL NORMATIVO EM SADE E SEGURANA NO TRABALHO
O primeiro cdigo trabalhista brasileiro, a Consolidao das Leis do Trabalho
(CLT) foi inspirada na Carta del Lavoro, conjunto de normas laborais promulgada
em 1927 pelo regime fascista italiano. Embora submetida a diversas mudanas
ao longo dos anos, vrios dos seus princpios gerais ainda continuam em vigor.
Contudo, no que se refere s normas de SST, tratadas especicamente no Captulo V
do Ttulo II, houve uma alterao fundamental com a nova redao determinada
pela Lei n
o
6.514, de 22 de dezembro de 1977 (BRASIL, 1977). A partir de ento,
as inuncias mais importantes para a normatizao em SST vm das convenes
elaboradas pela OIT, com reexo em toda a regulamentao posterior.
4.1 O papel da Organizao Internacional do Trabalho
A OIT uma agncia multilateral ligada Organizao das Naes Unidas
(ONU) e especializada nas questes do trabalho. Tem, entre os seus objetivos, a
melhoria das condies de vida e a proteo adequada vida e sade de todos os
trabalhadores, nas suas mais diversas ocupaes. Busca promover uma evoluo
harmnica das normas de proteo aos trabalhadores. Desempenhou e continua
desempenhando papel fundamental na difuso e padronizao de normas e
condutas na rea do trabalho.
Tem representao paritria de governos dos seus 183 Estados-membros,
alm de suas organizaes de empregadores e de trabalhadores. Com sede em
Genebra, Sua, a OIT tem uma rede de escritrios em todos os continentes.
dirigida pelo Conselho de Administrao, que se rene trs vezes ao ano em
27
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
Genebra. A Conferncia Internacional do Trabalho um frum internacional
que ocorre anualmente (em junho, tambm em Genebra) para: i) discutir temas
diversos do trabalho; ii) adotar e revisar normas internacionais do trabalho;
e iii) aprovar as suas polticas gerais, o programa de trabalho e o oramento.
Nessas conferncias, com representaes tripartites dos pases liados
(representantes dos governos, empregadores e empregados), so discutidas e
aprovadas convenes sobre temas trabalhistas. As recomendaes so instrumentos
opcionais que tratam dos mesmos temas que as convenes e estabelecem
orientaes para a poltica e a ao dos Estados-membros no atendimento destas.
Aps aprovao nas conferncias plenrias, devem ser apreciadas, num prazo de
18 meses, pelos rgos legislativos dos seus pases, que podem ou no ratic-las
(ALBUQUERQUE, 2010, p. 1-3).
Embora tal raticao no seja obrigatria, as linhas gerais de suas
recomendaes tm sido implementadas, em maior ou menor grau, em praticamente
todos os pases industrializados, principalmente no ocidente capitalista.
A OIT elaborou 188 convenes desde 1919, das quais 158 esto atualizadas.
Destas, o Brasil raticou 96, embora 82 estejam em vigor, tendo a ltima raticao,
da Conveno 151, ocorrido em 15 de junho de 2010.
1
A ttulo de comparao,
temos que, at meados de junho de 2010, a Noruega tinha raticado 91 convenes,
a Finlndia, 82, a Sucia, 77, a Alemanha, 72, o Reino Unido, 68, a Dinamarca,
63 e os Estados Unidos, apenas 14. Ou seja, o Brasil est entre os pases que mais
seguem, pelo menos formalmente, as convenes da OIT (ILO, 2010a).
No Brasil, a raticao ocorre por ato de governo, mediante decreto, depois
de aprovado o texto pelo Congresso Nacional. Embora seja norma infraconstitu-
cional, uma conveno aprovada pode alterar ou revogar normas em vigor, desde
que no dependa de regulamentao prvia e j esteja em vigor internacionalmente.
As convenes da OIT tm sua vigncia iniciada doze meses aps o registro
de duas raticaes, com durao indeterminada. O prazo de validade de cada
raticao de dez anos. Ao trmino, cada Estado-membro pode denunci-la,
cessando sua responsabilidade, em relao mesma, 12 meses aps. No tendo
sido denunciada at 12 meses do trmino da validade da raticao, renova-se a
validade tacitamente por mais dez anos (SSSEKIND, 2007, p. 30-48).
Das 82 convenes raticadas e em vigor no Brasil, podemos dizer que 20 tra-
tam especicamente de SST. Esta diviso um tanto arbitrria, j que difcil separar
1. Entre as convenes mais recentes, com enfoque na rea de SST, ainda no raticadas pelo Brasil, temos a 184, de
2001 (segurana e sade na agricultura), com recomendaes j incorporadas na legislao nacional, e a 187, de 2006
(estrutura de promoo da segurana e sade no trabalho), que serviu de base para a elaborao da Poltica Nacional
de Segurana e Sade no Trabalho, em implementao.
28
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
normas de sade e segurana de outras exigncias trabalhistas tais como controle de
jornadas, condies para trabalho em minas, intervalos para repouso e alimentao,
entre outras. As Convenes 148 e 155 da OIT, j raticadas pelo Brasil, podem ser
consideradas as mais amplas e paradigmticas na abordagem de questes de SST.
A Conveno 148 contra riscos ocupacionais no ambiente de trabalho
devidos a poluio do ar, rudo e vibrao, adotada pela OIT em 1977 foi
raticada pelo Brasil em 14 de janeiro de 1982. Porm, s foi promulgada pelo
Decreto n
o
93.413, de 15 de outubro de 1986. Dene que a legislao nacional
deve determinar a adoo de medidas que previnam e limitem os fatores de risco
ambientais no local de trabalho, privilegiando as medidas de proteo coletivas
em detrimento das individuais (como o uso de equipamentos de proteo
individual). Estabelece que representantes dos trabalhadores e dos empregadores
sejam consultados ao se estabelecerem parmetros de controle, participando da
sua implementao e cabendo a estes ltimos a responsabilidade pela aplicao
das medidas prescritas. Determina que os representantes podem acompanhar
as aes de scalizao em SST. Estabelece a necessidade de controle mdico
ocupacional dos trabalhadores, sem nus para os mesmos (ILO, 2010a).
A Conveno 155 sobre segurana e sade ocupacional e o meio ambiente
de trabalho, adotada pela OIT em 1981 foi aprovada no Brasil em 18 de maio de
1992 e promulgada pelo Decreto n
o
1.254, de 29 de setembro de 1994. mais
ampla que a Conveno 148. Determina a instituio de uma poltica nacional
de segurana e sade dos trabalhadores e do meio ambiente de trabalho, com
consulta s partes interessadas (trabalhadores e empregadores), com o objetivo
de prevenir acidentes e danos sade, reduzindo ao mnimo possvel as causas
dos riscos inerentes a esse meio. O trabalho deve ser adaptado ao homem e no
vice-versa. Estabelece que os acidentes de trabalho e as doenas prossionais sejam
comunicados ao poder pblico, bem como sejam efetuadas anlises dos mesmos
com a nalidade de vericar a existncia de uma situao grave. Exige tambm
a adoo de dispositivos de segurana nos equipamentos utilizados nos locais de
trabalho, sendo isso responsabilidade dos empregadores. Faculta ao trabalhador
interromper a atividade laboral onde haja risco signicativo para sua vida e sade,
sem que seja punido por isso, bem como refora o direito informao, por parte
dos trabalhadores e seus representantes, dos riscos porventura existentes nos locais
de trabalho (ILO, 2010a).
Como j observado, vrias outras convenes da OIT, raticadas pelo
Brasil, versam sobre aspectos de segurana e sade no trabalho, principalmente
as elaboradas a partir de 1960. Apenas citando as mais recentes, e com impactos
signicativos nas normas de SST em vigor no Brasil, podemos enumerar a que
estabelece pesos mximos a serem transportados (127, de 1967), condies de
29
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
funcionamento dos servios de sade no trabalho (161, de 1985), uso de asbesto
em condies de segurana (162, de 1986), proteo sade dos trabalhadores
martimos (164, de 1987), seguridade e sade na construo civil (167, de 1988),
segurana com produtos qumicos (170, de 1990), trabalho noturno (171, de
1990), preveno de acidentes industriais maiores (174, de 1993), preveno
de acidentes industriais maiores de trabalho em tempo parcial (175, de 1994),
segurana e sade na minerao (176, de 1995) e as piores formas de trabalho
infantil e sua eliminao (182, de 1999) (ILO, 2010a). Atualmente encontra-se
sob anlise do Congresso Nacional a Conveno 184, de 2001 (segurana e sade
na agricultura).
4.2 Tendncias normativas em segurana e sade no trabalho
Num mundo de mudanas tecnolgicas e econmicas muito rpidas, surgem pro-
postas que, primeira vista, parecem contraditrias. Se, por um lado, os proces-
sos de reestruturao produtiva, a globalizao e o aumento da competitividade
econmica internacional colocam na agenda poltica questes como a diminuio
do tamanho do Estado, menor interferncia nas relaes capital-trabalho e
reduo de direitos trabalhistas, constata-se tambm aumento signicativo das
demandas por aumento da justia social, da universalizao de direitos e da re-
duo dos riscos ocupacionais.
Do ponto de vista da evoluo das normas de SST, podemos observar algu-
mas tendncias globais e nacionais (OLIVEIRA, 1996, p. 103-116).
1. Avano da dignicao do trabalho, que, alm de necessrio para a
sobrevivncia dos indivduos, deve tambm ser fonte de graticao,
gerando oportunidade de promoo prossional e pessoal.
2. Consolidao do conceito ampliado de sade, no se limitando apenas
ausncia de doenas, mas sim o completo bem-estar fsico, mental e
social. As exigncias normativas devem buscar um agradvel ambiente
de trabalho (e no apenas sem agentes insalubres), a preocupao com
a preveno da fadiga e dos fatores estressantes porventura existentes.
3. Adaptao do trabalho ao homem, reforando cada vez mais os aspectos
ergonmicos nas normas de SST. Isso ocorre tanto no que se refere a
mquinas, equipamentos e mobilirio, quanto necessidade de mudana
nos processos de produo, nas jornadas, nos intervalos, entre outros.
4. Direito informao e participao dos trabalhadores, que, alm de
inurem nas normas de SST por meio de seus representantes, tm
direito de serem comunicados sobre os riscos existentes nos seus
ambientes de trabalho e as medidas de controle disponveis.
30
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
5. Enfoque global do ambiente de trabalho, onde os fatores de riscos
presentes no podem ser considerados como problemas isolados.
Diversos agentes ambientais potencializam-se uns com os outros quanto
aos efeitos adversos. Aspectos como jornadas, intervalos para descanso,
condies em que o trabalho executado so fatores importantes na
gnese e no agravamento de doenas ocupacionais.
6. Progressividade das normas de proteo, j que o rpido desenvolvimento
cientco e tecnolgico, bem como o acmulo de estudos sobre riscos
relacionados ao trabalho e a forma de control-los tm determinado uma
preocupao crescente com a necessria reviso e atualizao peridica
das normas de SST em vigor.
7. Eliminao dos fatores de risco, com uma tendncia cada vez maior
de priorizar, entre as medidas de controle, aquelas que os eliminem,
principalmente as de abrangncia coletiva. A neutralizao destes riscos, com
o uso apenas de medidas de proteo individual, tem sido prescrita somente
nos casos de impossibilidade de implementao das medidas coletivas.
8. Reduo da jornada em atividades insalubres, buscando limitar o tempo
de exposio aos agentes e condies danosas sade dos trabalhadores
que no forem adequadamente controladas ou eliminadas por meio das
medidas necessrias j implementadas.
9. Proteo contra trabalho montono e repetitivo, com o estabelecimento
de regras para que as tarefas repetitivas e montonas, que no exijam
raciocnio criativo, mas apenas trabalho mecnico, sejam restringidas,
seja com mudanas nos processos de trabalho, proibio de pagamento
sobre produo, limitao da jornada ou mesmo imposio de rodzios.
10. Responsabilizao do empregador/tomador de servio pela aplicao
das normas de SST, dentro do princpio de que quem gera o risco
responsvel por ele. Na presena de terceirizao tem sido cada vez
mais frequente o estabelecimento de responsabilidade solidria entre
tomadores de servios e empregadores formais.
4.3 Sade e segurana no trabalho na Constituio brasileira
A Constituio da Repblica Federativa do Brasil (CRFB), promulgada em 5 de
outubro de 1988, foi fruto da necessidade de superao do regime autoritrio
vigente at 1985 e dos anseios de elevao do nvel de cidadania das massas.
Consolidou e ampliou direitos trabalhistas j existentes, alm de criar outros.
Entre os mencionados no Artigo 7
o
(direitos de trabalhadores urbanos e rurais) e
relacionados de modo direto ou indireto com a segurana e a sade do trabalhador,
destacam-se (BRASIL, 1988c):
31
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
durao do trabalho normal no superior a 8 horas dirias e 44 semanais,
facultada a compensao de horrios (inciso XIII);
jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos
de revezamento, salvo negociao coletiva (inciso XIV);
repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos (inciso XV);
gozo de frias anuais remuneradas com, pelo menos, um tero a mais do
que o salrio normal (inciso XVII);
reduo dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de sade,
higiene e segurana (inciso XXII);
seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir
a indenizao a que este est obrigado, quando incorrer em dolo ou
culpa (inciso XXVIII);
proibio de trabalho noturno, perigoso, ou insalubre a menores de 18
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condio de
aprendiz, a partir dos 14 anos (inciso XXXIII).
2
Alm disso, o Artigo 196 estabelece que a sade direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante polticas sociais e econmicas que visem
reduo do risco de doena e de outros agravos (...). Embora bastante ut-
pica, esta determinao constitucional tem servido como base para diversas
demandas sociais, inclusive por ambientes de trabalho mais saudveis, como
obrigao dos empregadores.
O Artigo 114 estabelece a competncia da Justia do Trabalho (rgo
do Poder Judicirio) para conciliar e julgar os dissdios individuais e coletivos
entre trabalhadores e empregadores, inclusive os relacionados s questes de
sade e segurana. Associa-se a isso o poder do Ministrio Pblico do Trabalho
(MPT) em promover o inqurito civil e a ao civil pblica, para a proteo
de interesses difusos e coletivos (os direitos trabalhistas se enquadram nesta
categoria) concedidos pelo Artigo 129, inciso III. Assim, o Poder Judicirio
tem competncia para tutelar judicialmente a sade do trabalhador, podendo
atuar coativamente, quando demandado, por intermdio da reclamao
trabalhista, do dissdio coletivo e da ao civil pblica. Este ltimo instrumento,
juntamente com o Termo de Ajustamento de Conduta, possui um enorme
poder em determinar a melhoria das condies de segurana e sade no mbito
das empresas (OLIVEIRA, 2007, p. 110-112).
2. Redao dada pela Emenda Constitucional n
o
20, de 15 de dezembro de 1998. O texto original permitia trabalho a
partir dos 14 anos, mesmo fora de um processo de aprendizagem.
32
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
4.4 Sade e segurana no trabalho na legislao infraconstitucional
A legislao brasileira em segurana e sade ocupacional se desenvolveu inicial-
mente na mesma poca e do mesmo modo que a legislao trabalhista em geral.
Ou seja, foi fruto do trabalho assalariado, da rpida urbanizao e do processo
de industrializao que se iniciou no pas aps a abolio da escravatura. Como
o restante da legislao trabalhista, tem como principal documento normativo a
CLT (BRASIL, 1943). Embora nem todas as relaes de trabalho subordinado
sejam reguladas por este instrumento jurdico, seus princpios, especicamente na
rea de SST, so comuns a outras legislaes na rea.
Para uma anlise da legislao trabalhista nacional, alguns conceitos so necessrios:
1. Empregador: considera-se empregador a empresa, individual ou cole-
tiva, que, assumindo os riscos da atividade econmica, admite, assalaria
e dirige a prestao pessoal de servios. Equiparam-se ao empregador,
para os efeitos exclusivos da relao de emprego, os prossionais libe-
rais, as instituies de benecncia, as associaes recreativas ou outras
instituies sem ns lucrativos, que admitirem trabalhadores como em-
pregados (BRASIL, 1943).
2. Empregado: considera-se empregado toda pessoa fsica que prestar ser-
vios de natureza no eventual a empregador, sob a dependncia deste e
mediante salrio (BRASIL, 1943).
3. Empregado domstico: aquele que presta servio de natureza contnua,
mediante remunerao, a pessoa ou famlia, no mbito residencial desta,
em atividade sem ns lucrativos (BRASIL, 1999).
4. Trabalhador por conta prpria ou autnomo: quem presta servio de
natureza urbana ou rural, em carter eventual, a uma ou mais empresas,
sem relao de emprego e tambm a pessoa fsica que exerce, por conta
prpria, atividade econmica de natureza urbana, com ns lucrativos ou
no (BRASIL, 1999).
5. Estagirio: aquele que est desenvolvendo um estgio, sendo este um
ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de tra-
balho, que visa preparao para o trabalho produtivo de educandos
que estejam frequentando o ensino regular em instituies de educao
superior, de educao prossional, de ensino mdio, da educao espe-
cial e dos anos nais do ensino fundamental, na modalidade prossional
da educao de jovens e adultos (BRASIL, 2008).
A CLT somente se aplica s relaes de trabalho entre empregados e
empregadores urbanos. Para as relaes de emprego nas atividades rurais, temos
a Lei n
o
5.889, de 8 de junho de 1973. Porm, de acordo com o Artigo 1
o
desta
ltima norma, so aplicveis as prescries da CLT naquilo que com ela no
colidir (BRASIL, 1973).
33
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
Os trabalhadores avulsos so autnomos que laboram na movimentao de
mercadorias e em servios relacionados, em instalaes porturias e armazns. So
obrigatoriamente ligados a um rgo gestor de mo de obra, para as atividades
em instalaes porturias, de acordo com a Lei n
o
9.719, de 27 de novembro de
1998 (BRASIL, 1998). No caso de instalaes no porturias, tm de ser ligados
a um sindicato da categoria, como determina a Lei n
o
12.023, de 27 de agosto
de 2009 (BRASIL, 2009). Para estes trabalhadores aplicam-se, no que couber,
os preceitos do Captulo V, Ttulo II da CLT (Da Segurana e da Medicina do
Trabalho), conforme estabelece o Artigo 3
o
da Lei n
o
6.514, de 22 de dezembro
de 1977 (BRASIL, 1977). Tal determinao tambm est expressa nas j citadas
leis que regulam tal tipo de atividade.
Os estagirios tm sua atividade de treinamento regulada pela Lei n
o
11.788,
de 25 de setembro de 2008. No so considerados empregados, embora exeram
atividade com subordinao. No tm contrato de trabalho, mas sim de estgio,
podendo receber uma ajuda de custo. Apesar disso, esto sujeitos a diversos riscos
ocupacionais, uma vez que desenvolvem atividades nos mesmos locais que os
empregados do estabelecimento de estgio. A legislao em vigor determina
a aplicao das normas vigentes de SST ao contrato de estgio (Artigo 14),
sendo sua implementao responsabilidade da parte concedente, que vem a
ser o empregador dos trabalhadores do local onde se desenvolve o treinamento
(BRASIL, 2008c).
A CLT no se aplica s relaes de emprego entre servidores e rgos
pblicos quando estas so regidas por estatutos prprios. Alguns destes estatutos
determinam o cumprimento das normas de SST previstas nessa consolidao, mas,
como o MTE no tem competncia legal para impor sanes administrativas por
irregularidades constatadas neste tipo de vnculo empregatcio, no h scalizao
trabalhista para tal grupo de trabalhadores. O mesmo ocorre com relao ao
trabalho domstico, em que se observam as determinaes auto aplicveis do
Artigo 7
o
da CRFB e a Lei n
o
5.859, de 11 de dezembro de 1972, que no
aborda questes de SST, exceto por um opcional atestado de sade admissional
(BRASIL, 1972). Tambm no tem validade nas relaes entre autnomos e seus
contratantes (regidas pelo Cdigo Civil brasileiro).
Embora no Captulo II, Ttulo II da CLT estejam estabelecidas diversas
regras quanto durao da jornada de trabalho, intervalos intra e inter jornadas,
descanso semanal, entre outras, e que esto diretamente relacionadas sade dos
trabalhadores, no Captulo V do mesmo ttulo onde esto as normas especcas
de SST. Na redao original da CLT havia 70 artigos naquele captulo, que sofreu
completa reformulao em janeiro de 1967.
34
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Uma segunda modicao completa ocorreu com a Lei n
o
6.514/1977.
Tal mudana, agora em 48 artigos (154 a 201), ainda est em vigor, com
exceo do Artigo 168, que teve sua redao alterada em outubro de 1989
(BRASIL, 1977). Certamente contriburam para a modicao deste captulo
da CLT, pouco mais de dez anos aps a primeira, os nmeros assustadores
de acidentes de trabalho comunicados anualmente (1.869.689 acidentes de
trabalho tpicos em 1975, um recorde histrico) e as fortes presses interna-
cionais, inclusive da OIT. Embora o grande fruto dessa mudana tenha sido a
publicao da Portaria MTb n
o
3.214, no ano seguinte e que ser apresen-
tada posteriormente alguns aspectos desta nova redao merecem destaque:
1. O cumprimento das normas de segurana e sade emanadas do
Ministrio do Trabalho no desobriga as empresas de cumprirem outras
normas correlatas e oriundas dos estados e municpios (Artigo 154).
2. O Ministrio do Trabalho (atual MTE) tem competncia de estabelecer
normas complementares sobre segurana e sade no trabalho, permi-
tindo maior dinamismo na elaborao de normas jurdicas atualizadas
(Artigo 155).
3. Os rgos descentralizados do MTE (as atuais SRTEs) devem realizar
inspeo visando ao cumprimento de normas de segurana e sade
(Artigo 156).
4. Os empregadores so obrigados a cumprir e a fazer cumprir as normas
de segurana e sade no trabalho, instruindo os trabalhadores, facilitan-
do a scalizao trabalhista e adotando medidas que sejam determina-
das pela autoridade responsvel (Artigo 157).
5. Os empregados devem observar as normas de segurana e sade previs-
tas em normas e inclusive as elaboradas pelo empregador (Artigo 158).
Para as relaes de emprego nas atividades rurais, o Artigo 13 da Lei n
o
5.889/73, j citada, determina que o ministro do Trabalho deve estabelecer
normas especcas para a rea de SST por meio de portaria (BRASIL, 1973). Isso
s foi efetivado em 12 de abril de 1988, quase 15 anos depois da determinao
legal, com a Portaria MTb n
o
3.067, j revogada (BRASIL, 1988b). Atualmente,
as normas SST a serem cumpridas nessas relaes esto relacionadas na
Portaria MTE n
o
86, de 3 de maro de 2005, aplicando-se as demais normas
subsidiariamente e naquilo que no conitar (BRASIL, 2005a).
Em resumo, pode-se dizer que, embora a reduo dos riscos inerentes
ao trabalho seja direito constitucional de todos os trabalhadores brasileiros,
conforme determina o Artigo 7
o
, inciso XXII da CRFB, j mencionado, as
normas infraconstitucionais de SST aqui descritas s protegem especicamente
35
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
os empregados urbanos regidos pela CLT, os empregados rurais, os trabalhadores
avulsos e os estagirios.
4.5 As normas regulamentadoras de sade e segurana no trabalho
Em decorrncia das mudanas ocorridas na CLT com a sano da Lei n
o
6.514/1977, em 8 de junho de 1978 aprovada pelo ministro do Trabalho
a Portaria MTb n
o
3.214 (BRASIL, 1978), composta de 28 Normas
Regulamentadoras, conhecidas como NRs uma delas revogada em 2008 ,
que vm tendo a redao modicada periodicamente, visando atender ao que
recomendam as convenes da OIT. As revises permanentes buscam adequar as
exigncias legais s mudanas ocorridas no mundo do trabalho, principalmente
no que se refere aos novos riscos ocupacionais e s medidas de controle, e so
realizadas pelo prprio MTE, inclusive, por delegao de competncia pela
Secretaria de Inspeo do Trabalho. As NRs esto em grande parte baseadas em
normas semelhantes existentes em pases economicamente mais desenvolvidos.
As NRs da Portaria n
o
3.214/1978 so as seguintes (redao atual):
NR-1 Disposies Gerais.
NR-2 Inspeo Prvia.
NR-3 Embargo ou Interdio.
NR-4 Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Me-
dicina do Trabalho SESMT.
NR-5 Comisso Interna de Preveno de Acidentes Cipa.
NR-6 Equipamento de Proteo Individual EPI.
NR-7 Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO.
NR-8 Edicaes.
NR-9 Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA.
NR-10 Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidade.
NR-11 Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais.
NR-12 Mquinas e Equipamentos.
NR-13 Caldeiras e Vasos de Presso.
NR-14 Fornos.
NR-15 Atividades e Operaes Insalubres.
NR-16 Atividades e Operaes Perigosas.
36
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
NR-17 Ergonomia.
NR-18 Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo.
NR-19 Explosivos.
NR-20 Lquidos Combustveis e Inamveis.
NR-21 Trabalho a Cu Aberto.
NR-22 Segurana e Sade Ocupacional na Minerao.
NR-23 Proteo Contra Incndios.
NR-24 Condies Sanitrias e de Conforto nos Locais de Trabalho.
NR-25 Resduos Industriais.
NR-26 Sinalizao de Segurana.
NR-27 Registro Prossional do Tcnico de Segurana do Trabalho no
Ministrio do Trabalho (revogada pela Portaria MTE n
o
262, de 29 de
maio de 2008).
NR-28 Fiscalizao e Penalidades.
A NR-1, alm de garantir o direito informao por parte dos trabalhadores,
permite a presena de representantes dos trabalhadores durante a scalizao das
normas de segurana e sade. Tal permisso prevista na Conveno 148 da OIT
(raticada pelo Brasil). Outro aspecto signicativo o item que autoriza o uso de
normatizaes oriundas de outros rgos do Poder Executivo, diversos do MTE,
o que muito auxilia no processo de scalizao e correo de anormalidades
encontradas onde a Portaria n
o
3.214/1978 for omissa.
A NR-3 concede competncia aos superintendentes regionais do Trabalho
e Emprego de embargar obra e interditar estabelecimento, setor de servio,
mquina ou equipamento, caso se verique grave e iminente risco de ocorrer leso
signicativa integridade fsica do trabalhador. Em muitas SRTEs h delegao de
competncia para que o inspetor determine o embargo ou interdio imediatos,
at a raticao (ou no) pelo superintendente. Isso tem agilizado e dado mais
efetividade s aes preventivas, principalmente nas situaes que exigem rapidez
para minimizar os riscos encontrados.
As multas previstas na NR-28, quando so infringidos itens da Portaria
n
o
3.214/78, variam de R$ 402,22 a R$ 6.708,08 por item descumprido, de
acordo com a gravidade da situao encontrada, a existncia de reincidncia
e o porte da empresa (nmero de empregados). Esta NR tambm permite a
37
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
concesso de prazos para regularizao de algumas exigncias de SST, dentro
de critrios denidos, bem como estabelece os procedimentos necessrios para
embargo e interdio.
Alm das 28 NRs j relacionadas, outras foram elaboradas posteriormente.
Embora no faam parte da Portaria n
o
3.214/1978, possuem a mesma estrutura
e a elas se aplicam as regras e os critrios estabelecidos na NR-28, inclusive para
imposio de multas. So as seguintes:
NR-29 Norma Regulamentadora de Segurana e Sade no Trabalho
Porturio (Portaria SSST/MTb n
o
53, de 17 de dezembro de 1997).
NR-30 Segurana e Sade no Trabalho Aquavirio (Portaria SIT/MTE
n
o
34, de 4 de dezembro de 2002.
NR-31 Segurana e Sade no Trabalho na Agricultura, Pecuria, Sil-
vicultura, Explorao Florestal e Aquicultura (Portaria MTE n
o
86, de 3
de maro de 2005).
NR-32 Segurana e Sade no Trabalho em Servios de Sade (Portaria
MTE n
o
485, de 11 de novembro de 2005).
NR-33 Segurana e Sade nos Trabalhos em Espaos Connados (Portaria
MTE n
o
202, de 22 de dezembro de 2006).
As NRs so a base normativa utilizada pelos inspetores do trabalho do MTE
para scalizar os ambientes de trabalho, onde eles tm competncia legal de
impor sanes administrativas, conforme j discutido anteriormente. O processo
de elaborao e reformulao destas normas necessariamente longo, comeando
pela redao de um texto-base inicial, consulta pblica, discusso tripartite,
redao do texto nal, aprovao pelas autoridades competentes e publicao
na imprensa ocial. Todo o processo pode levar anos. Como exemplo, temos
a NR-31, cujo texto comeou a ser discutido em novembro de 2001 e s foi
publicada em maro de 2005, e ainda assim sem pleno consenso entre todas as
partes envolvidas no processo (CPNR, 2001).
3
3. Quando este texto foi concludo, em ns de junho de 2010, as NRs 12 e 20 estavam em processo de reformulao
completa, com nova redao. Alm disso, estava sendo elaborada uma nova Norma Regulamentadora, a NR-34
(Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo e Reparao Naval).
38
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
5 A INSPEO DE SADE E SEGURANA NO TRABALHO
A inspeo de sade e segurana nos ambientes de trabalho pode ser conceituada
como o procedimento tcnico por meio do qual se realiza a vericao fsica nos
ambientes laborais, buscando identicar e quanticar os fatores de risco para os
trabalhadores ali existentes, com o objetivo de implantar e manter as medidas
preventivas necessrias. Neste texto aborda-se exclusivamente a inspeo de SST
realizada por inspetores do MTE, que tem caractersticas de polcia administrativa.
No MTE, a scalizao de SST realizada exclusivamente pelos auditores-
scais do trabalho (AFT) denominao atual dos seus inspetores do trabalho,
lotados nas suas diversas unidades descentralizadas e sob a coordenao
tcnica da SIT. Embora seja realizada prioritariamente por AFTs subordinados
tecnicamente ao DSST, responsabilidade de todos estes inspetores, j que este
tipo de inspeo inseparvel daquela realizada para vericar outras exigncias
trabalhistas tais como a formalizao do contrato, jornadas, perodos de descanso
etc. Desse modo, a apresentao que se segue refere-se em grande parte inspeo
trabalhista como um todo, e no apenas realizada na rea de SST.
5.1 O surgimento e o desenvolvimento da inspeo trabalhista no mundo
Podemos dizer que a inspeo do trabalho teve o seu marco inicial na Inglaterra,
com o Lord Althorp Act e o Factory Act de 1833, mais de 30 anos aps as primeiras
normas trabalhistas. A partir de ento foram designados inspetores para o pas
(apenas quatro no incio), com a nalidade especca de scalizar os ambientes
de trabalho, buscando determinar se as normas legais estavam sendo cumpridas.
Essas se referiam principalmente s condies de sade dos trabalhadores, como
idade mnima, jornadas e salubridade dos estabelecimentos fabris. Inclusive, o
primeiro inspetor do trabalho foi um mdico, Robert Baker. Ou seja, a inspeo
do trabalho se iniciou como uma scalizao de SST.
Aps a Inglaterra, os modelos de legislao e inspeo de trabalho se dissemi-
naram pelo continente europeu. Na Frana, as primeiras leis trabalhistas so apro-
vadas em 1841 e um servio nacional de inspeo s criado em 1874. Na futura
Alemanha (ainda no unicada nessa poca), as primeiras leis so de 1832 e um
sistema de inspetores fabris s surge em 1853. Esse descompasso constante entre
as leis trabalhistas e a efetivao da scalizao trabalhista (inclusive no Brasil)
no simplesmente uma coincidncia, mas mostra as diculdades existentes
quando se busca implantar efetivamente uma legislao social.
No nal do sculo XIX, todos os pases europeus industrializados possuam
grandes centrais sindicais e a inspeo do trabalho, resposta do Estado s
demandas por cumprimento das legislaes trabalhistas aprovadas, j era uma
39
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
realidade. Foi a partir das estruturas burocrticas criadas para implementar e
vericar o cumprimento dessas leis que surgiram os Ministrios do Trabalho
(ou equivalentes): na Alemanha, em 1882; na Espanha, em 1883; nos Estados
Unidos, em 1884; no Reino Unido, em 1887; na Frana, em 1891; e na Blgica,
em 1894 (MIRANDA, 1999, p. 8).
Apesar desses avanos, s vsperas da Primeira Guerra Mundial, a realidade
das inspees do trabalho na Europa Ocidental se caracterizava por s abranger
os estabelecimentos industriais de maior porte. As prticas de trabalho no eram
uniformes e em muitos pases no existia uma estrutura de scalizao concebida
como uma atividade institucional do Estado.
Com o m da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, do qual o
Brasil foi um dos signatrios, propiciou a criao da OIT, conforme j abordado.
O tratado tambm determinou que todos os pases adotassem um regime de
trabalho realmente humano a m de proteger e melhorar as condies dos
trabalhadores, sendo a sua no implementao por qualquer pas um obstculo
aos demais no seu esforo para melhorar a sorte dos seus prprios operrios.
Precisava que fosse particularmente importante organizar um servio de inspeo
com o objetivo de assegurar a aplicao das leis e regulamentos para a proteo
dos trabalhadores. Porm, as primeiras reunies da OIT, a partir de 1919, apenas
formularam recomendaes (e no convenes) para que os Estados-membros
organizassem uma inspeo trabalhista.
O grande avano ocorreu em 1947, logo aps a Segunda Guerra Mundial,
com a aprovao da Conveno 81, raticada pelo Brasil, e a Recomendao
81, estabelecendo a exigncia de constituio de um sistema de inspeo do
trabalho para a indstria e o comrcio, bem como as condies necessrias para
o seu funcionamento posteriormente ampliada, em 1995, para os servios no
comerciais. Em 1969, mais de 20 anos depois, a OIT aprovou a Conveno 129,
aplicando os mesmos princpios para a inspeo na agricultura (OIT, 1986).
Em meados de junho de 2010, 141 pases j haviam raticado a Conveno
81 (com a notvel exceo dos Estados Unidos) e a Conveno 129. O Brasil ainda
no raticou esta ltima, mas sua legislao est praticamente em conformidade
com os seus princpios gerais.
5.2 As caractersticas da inspeo do trabalho no mundo
Existem muitas formas e sistemas de inspeo de trabalho no mundo, com diversas
diferenas. Todavia, as obrigaes bsicas de todas elas, desde que constitudas
de acordo com as Convenes 81 e 129 da OIT, so (RICHTHOFEN, 2002,
p. 29-33; ILO, 2010a):
40
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
1. Zelar pelo cumprimento das disposies legais relativas s condies
de trabalho e proteo dos trabalhadores em atividade laboral (sobre
salrios, jornadas, contratos, SST etc.). A funo no simplesmente
vericar o cumprimento da legislao trabalhista, mas sim obter a sua
implementao efetiva. Deve-se pautar pelo princpio da legalidade, isto
, ter por base a legislao nacional existente sobre a matria, embora
muitas vezes insuciente e parcial.
2. Fornecer informaes tcnicas e assessorar os empregadores e
trabalhadores sobre a maneira mais efetiva de cumprir a legislao
trabalhista existente. Os inspetores do trabalho tm a obrigao de
orientar as partes envolvidas no processo de trabalho sobre a melhor
maneira de evitar e corrigir as irregularidades encontradas.
3. Levar ao conhecimento da autoridade competente as decincias e os
abusos que no estejam especicamente cobertos pelas disposies legais
existentes. Como os inspetores do trabalho tm acesso direto realidade
do mundo do trabalho, so observadores privilegiados de qualquer
insucincia da legislao social na rea. Assim sendo, possuem uma
funo propositiva fundamental para a melhoria das normas de proteo
aos trabalhadores.
A amplitude das misses da inspeo trabalhista varia de pas para pas.
A competncia dos inspetores pode ser restrita a um campo especco, ou pode
ser geral e abarcar toda a legislao laboral. Eles podem tambm atuar por ramos
de atividades econmicas, ou mesmo em regies especicas. Esquematicamente,
podemos classicar os tipos de inspeo trabalhista como (RICHTHOFEN,
2002, p. 38-41; ALBUQUERQUE, 2010, p. 6-7):
1. Modelo generalista: a inspeo do trabalho tem vrias responsabilidades
abrangendo SST, condies e relaes do trabalho, trabalho de migran-
tes e emprego ilegal. Frana, Portugal, Espanha, Japo e a maioria dos
pases de lngua francesa e da Amrica Latina de lngua espanhola se-
guem este modelo.
2. Modelo Anglo-Escandinavo: a caracterstica mais comum deste modelo
que a inspeo tem competncia principalmente na aplicao das nor-
mas de SST, alm de algumas condies gerais de trabalho (usualmente
excluindo salrios). Presente nos pases nrdicos, Reino Unido, Irlanda
e Nova Zelndia.
3. Modelo federal: a inspeo do trabalho tem ampla gama de responsabi-
lidades, incluindo SST, alm de outros atributos das relaes de traba-
lho. A autoridade central delega funes s unidades descentralizadas ou
a governos regionais. Austrlia, Brasil, Canad, Alemanha, ndia, Sua
e os Estados Unidos usam este modelo, em maior ou menor extenso.
41
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
4. Especialistas e inspees associadas: alm da inspeo do trabalho
principal, muitos pases tm outras inspees setoriais, com especialistas
tcnicos inspecionando reas limitadas, sendo mais comum a atuao
em minas, instalaes nucleares e transportes. A ustria, por exemplo,
tem uma inspeo especca para este ltimo setor.
Embora existam muitas diferenas entre as legislaes trabalhistas dos
Estados-membros da OIT, algumas caractersticas so comuns no que se refere a
direitos e deveres dos inspetores do trabalho. Entre os direitos mais signicativos,
e dentro de parmetros legais, temos: i) livre acesso aos ambientes de trabalho;
ii) capacidade de intimao; iii) estabilidade funcional; e iv) autonomia de
trabalho. Quanto aos deveres mais importantes, temos: i) imparcialidade;
ii) manuteno de segredo prossional; iii) discrio sobre as origens das
denncias; e iv) independncia funcional.
5.3 Mudanas no mundo do trabalho e tendncias da inspeo trabalhista
O perodo entre a Segunda Guerra e o nal do sculo XX caracterizou-se pelo
predomnio de um modelo econmico voltado para as necessidades internas dos
pases, com um alto grau de controle estatal e uma legislao trabalhista prescritiva,
de princpio protecionista. Nas empresas estabeleceu-se o modelo fordista de
produo em massa, marcado pela organizao do trabalho hierarquizada e fora
de trabalho de baixa qualicao, por empregos estveis e salrios xos.
A partir dos anos 1970, em decorrncia de graves crises econmicas mundiais,
esse modelo passa a ser questionado, ampliando-se a defesa do Estado liberal,
que intervm apenas na regulao de conitos e na garantia do funcionamento
eciente dos mercados.
Os anos 1980-1990 trazem a hegemonia dessas ideias, em especial com a
queda dos regimes do Leste Europeu. Entram na agenda poltica a privatizao
das empresas, a exibilizao e a desregulamentao das relaes trabalhistas.
Paralelamente, a tecnologia de informtica e as telecomunicaes permitem
no somente a interligao acelerada dos mercados nacionais, mas tambm a
disseminao de ideias, valores e modelos. a globalizao, ou mundializao,
que tende a se fortalecer com a queda das barreiras comerciais. As mudanas
descritas ainda esto em curso e seu resultado nal ainda parece de difcil
previso. Elas interferem radicalmente e de forma direta nas funes e atividades
da inspeo do trabalho pelos motivos resumidos a seguir (BARRETO, 2002,
p. 1-5; BARRETO; ALBUQUERQUE, 2004, p. 1-9).
1. Desaparecimento de grandes plantas industriais, que se fragmentam e se
concentram em uma nica atividade principal, terceirizando as ativida-
des de suporte e de servios.
42
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
2. Subcontratao de empresas e trabalhadores, muitas vezes em cadeias
complexas, difceis de serem identicadas, e envolvendo inclusive falsas
relaes de autonomia.
3. Proliferao de micro, pequenas e mdias empresas, boa parte delas com
precria situao nanceira e organizacional, dicultando a abordagem
pela scalizao tradicional.
4. Tendncia continuada das empresas existirem por curtos perodos e tor-
narem-se geogracamente mais mveis (nacional e internacionalmente).
5. Mudana deliberada do capital e do trabalho para regies ou mesmo
pases onde a produo seja organizada com menor custo (trabalhista,
tributrio, nanceiro).
6. Aumento em todo o mundo, mas principalmente nos pases perifricos,
de diferentes formas de produo sem bases geogrcas denidas, com
alto nvel de informalidade, e pouco visveis para os agentes do Estado.
7. Aparecimento de redes de empresas virtuais, utilizando redes informati-
zadas, e tambm com alto grau de informalidade.
8. Aparecimento do denominado desemprego estrutural, em que mes-
mo o crescimento econmico no capaz de gerar e manter postos
de trabalho.
9. Deteriorao das relaes humanas no trabalho, com o crescimento de
condies relacionadas ao estresse, de doenas mentais relacionadas ao
trabalho e da violncia no trabalho.
10. Introduo rpida de novas tecnologias, muitas vezes de modo rpido e
no planejado, determinando novas formas de se acidentar e adoecer nos
ambientes laborais.
11. Coexistncia, em um mesmo local de trabalho, de empresas diversas e
classes distintas de trabalhadores, com diferentes formas de contratao,
benefcios sociais e nveis de SST.
12. Enfraquecimento das entidades representativas dos empregados, entre
outros motivos, pelo desemprego estrutural e pela grande mobilidade
dos trabalhadores entre os diversos tipos de empreendimentos e funes.
13. Inadequao das legislaes trabalhistas vigentes nos diversos pases, que
no esto apropriadas para as novas formas de trabalho, que tendem a ser
exibilizadas e/ou enfraquecidas.
43
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
Nesse contexto de mudanas tambm existem foras que demandam pela
manuteno e ampliao das normas e procedimentos que visem tornar o trabalho
menos danoso e mais digno. As mais recentes convenes e recomendaes
elaboradas pela OIT comprovam tal opo.
Quanto inspeo do trabalho, alguns paradigmas e macrotendncias perma-
necem e tendem a ser ampliados (BARRETO, 2002, p. 12-13; RICHTHOFEN,
2002, p. 65-76).
1. Manuteno de uma inspeo do trabalho como funo pblica, res-
ponsabilidade do governo, e organizada como um sistema, inserida e
integrada no contexto maior dos sistemas estatais, para administrar a
poltica social e do trabalho, bem como supervisionar o atendimento
legislao e s normas.
2. Necessidade de cooperao prxima entre a inspeo do trabalho, os
empregadores e os trabalhadores, tanto na elaborao das normas de
proteo do trabalho como na sua aplicao (o denominado tripartis-
mo, um dos paradigmas constituintes da OIT).
3. Necessidade de efetiva cooperao com outras instituies, tanto
pblicas como privadas, tais como institutos de pesquisas, universi-
dades, servios de seguridade social e peritos, e de coordenao entre
suas atividades.
4. Aumento da capacidade de reconhecer e intervir nas diferentes formas
em que o trabalho executado, bem como evidenciar os novos riscos
para o bem-estar, a sade e a segurana dos trabalhadores.
5. Reforar a preveno, entendida aqui como o esforo determinado e
continuado em evitar incidentes, disputas, acidentes, conitos e doen-
as, assegurando o atendimento amplo legislao trabalhista vigente.
5.4 A evoluo da inspeo de sade e segurana no trabalho no Brasil
Somente a partir da Revoluo de 1930 que podemos dizer que comearam a
ser estabelecidas as bases legais para uma inspeo do trabalho digna deste nome.
Com a organizao do Ministrio Trabalho, Indstria e Comrcio, em fevereiro de
1931, foi criado o Departamento Nacional do Trabalho, que tinha por objetivo,
entre outros, a instituio de uma inspeo do trabalho.
A montagem de uma estrutura de scalizao foi bastante lenta. O reduzido
nmero de inspetores do trabalho (como eram inicialmente denominados os
atuais AFTs), bem como a sua quase exclusiva presena nas capitais dos estados
praticamente impediam uma scalizao trabalhista mais efetiva. Os tcnicos
ligados rea de SST eram ainda mais raros.
44
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Em 1975 criou-se, dentro da estrutura do Ministrio do Trabalho, o Servio
de Segurana e Medicina do Trabalho, posteriormente transformado em Diviso,
depois Departamento e, em seguida, Secretaria de Segurana e Sade no Trabalho
(SSST), que passou a ser o responsvel por coordenar, orientar, controlar e super-
visionar as atividades relacionadas segurana e sade nos ambientes de trabalho.
A execuo das atividades de scalizao continuou a ser responsabilidade das
DRTs (atuais SRTEs) no mbito da sua circunscrio (MIRANDA, 1999, p. 8-10).
Em meados dos anos 1970 foi realizado concurso pblico de mbito nacional
para admisso de inspetores do trabalho, bem como foram criadas as unidades
descentralizadas no mbito das DRTs com maior circunscrio (denominadas
ento de Subdelegacias do Trabalho), nas quais cariam lotados os inspetores.
Em 1983 foi realizado novo processo seletivo, inclusive de mdicos do trabalho,
engenheiros e tcnicos de segurana do trabalho, que levou a um aumento
signicativo do quadro funcional.
Concursos posteriormente realizados, com periodicidade varivel, tm
permitido que o MTE mantenha um efetivo de cerca de 3.000 auditores em
atividade, distribudos em todos os estados da Federao. De acordo com
informaes da base de dados do Sistema Federal de Inspeo do Trabalho
(SFIT), em meados de junho de 2010 estavam em atividade 2.882 AFTs, alm de
79 agentes de higiene e segurana no trabalho (AHST).
4
5.5 O modelo atual de inspeo do trabalho no Brasil
Tendo em vista os limites da legislao, conforme mencionado, a inspeo tra-
balhista realizada pelos AFTs do MTE possui competncia para intervir nas
relaes de emprego em que o contrato regido pela CLT, nas relaes de
emprego rurais (regidas pela Lei n
o
5.889/73), no realizado por trabalhadores
avulsos, na movimentao de mercadorias, bem como nos contratos celebrados
entre os estagirios e seus concedentes. No possui competncia legal, at a
presente data, para scalizar e, consequentemente, sancionar, quando o traba-
lho efetivamente realizado por conta prpria (autnomos), ou desenvolvido
em regime de economia familiar, ou efetuado por servidores pblicos regidos
por norma jurdica prpria (denominados estatutrios). Quanto ao sobre o
trabalho domstico, tendo em vista as suas caractersticas (o acesso ao domic-
lio s pode ser realizado com autorizao judicial e no h previso de sanes
administrativas para o descumprimento de sua norma jurdica especca),
bastante precria, apenas se limitando a orientar empregadores e trabalhadores,
quando h solicitao destes.
4. As informaes oriundas do SFIT (sistema informatizado de controle e acompanhamento da atividade de scaliza-
o trabalhista) e no disponibilizadas na internet, no stio do MTE, foram obtidas e fornecidas pelos AFTs Fernando
Donato Vasconcelos, Naldenis Martins da Silva e Rodrigo Viera Vaz, todos lotados na SIT.
45
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
As atribuies dos inspetores do trabalho foram inicialmente regulamentadas
pelo Decreto n
o
55.841 Regulamento da Inspeo do Trabalho (RIT), de 15
de maro de 1965 (BRASIL, 1965). De acordo com este instrumento legal, eram
autoridades de execuo do sistema federal de inspeo do trabalho os inspetores
do trabalho, os mdicos do trabalho, os engenheiros e os assistentes sociais,
aprovados em concurso pblico para as respectivas funes.
Com a criao da uma carreira unicada de Auditoria-Fiscal do Trabalho
inicialmente por medida provisria convertida na Lei n
o
10.593, de 6 de de-
zembro de 2002 , houve a necessidade de atualizar o RIT adequando-o s novas
designaes legais, o que ocorreu pelo Decreto n
o
4.552, de 27 de dezembro de
2002. Tanto o antigo RIT como o atualmente em vigor esto de acordo com as
Convenes 81 e 129 da OIT, j mencionadas (BRASIL, 2002).
Atualmente, o acesso ao cargo de AFT s se d por concurso pblico,
de mbito nacional, que exige, no mnimo, nvel superior de instruo.
Os AHST so prossionais de nvel mdio, com formao especca (tcnicos
de segurana do trabalho), que atuam na rea de SST, principalmente em
atividades administrativas. Podem orientar e noticar empregadores, mas
no tm competncia legal para a lavratura de autos de infrao (etapa inicial
para a imposio de sanes administrativas). Pertencem, infelizmente, a uma
carreira em extino.
De acordo com o Artigo 18 do RIT, so competncias dos AFTs, entre outras:
1. Vericar o cumprimento das disposies legais e regulamentares, in-
clusive as relacionadas SST, no mbito das relaes de trabalho e de
emprego.
2. Ministrar orientaes e dar informaes e conselhos tcnicos aos traba-
lhadores e s pessoas sujeitas inspeo do trabalho.
3. Interrogar as pessoas sujeitas inspeo do trabalho, seus prepostos ou
representantes legais, bem como trabalhadores, sobre qualquer matria
relativa aplicao das disposies legais.
4. Inspecionar os locais de trabalho, bem como o funcionamento de m-
quinas e a utilizao de equipamentos e instalaes.
5. Averiguar e analisar situaes com risco potencial de gerar doenas ocu-
pacionais e acidentes do trabalho, determinando as medidas preventivas
necessrias.
6. Noticar as pessoas sujeitas inspeo do trabalho para o cumprimento
de obrigaes ou a correo de irregularidades, bem como para a adoo
46
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
de medidas que eliminem os riscos sade e segurana dos trabalhado-
res, nas instalaes ou mtodos de trabalho.
7. Expedir noticao determinando a adoo de medidas de imediata
aplicao, quando constatado grave e iminente risco para a sade ou
segurana dos trabalhadores.
8. Coletar materiais e substncias nos locais de trabalho para ns de anli-
se, bem como apreender equipamentos e outros itens relacionados com
a SST.
9. Propor a interdio de estabelecimento, setor de servio, mquina ou
equipamento, ou o embargo de obra, total ou parcial, quando constatar
situao de grave e iminente risco sade ou integridade fsica do
trabalhador.
10. Analisar e investigar as causas dos acidentes de trabalho e das doenas
ocupacionais, bem como as situaes com potencial para gerar tais eventos.
11. Realizar auditorias e percias e emitir laudos, pareceres e relatrios.
12. Solicitar, quando necessrio, o auxlio da autoridade policial.
13. Lavrar autos de infrao por inobservncia de disposies legais.
14. Levar ao conhecimento da autoridade competente, por escrito, as de-
cincias ou abusos que no estejam especicamente compreendidos nas
disposies legais.
Embora pertenam a uma carreira nica, os 559 AFTs que possuem
especializao na rea de segurana e sade (215 mdicos do trabalho e 344
engenheiros) esto subordinados tecnicamente ao DSST, embora quase to-
dos estejam lotados nas diversas unidades descentralizadas. Alm destes, tam-
bm est submetida ao controle do DSST a maior parte dos 364 admitidos
em concurso realizado em 2006, a maioria no especialista na rea de SST.
Os demais so coordenados pelo DEFIT. Todos tm as mesmas competncias
legais, mas os coordenados pelo DSST scalizam em carter prioritrio o
contedo das NRs, enquanto os demais priorizam as exigncias trabalhistas
gerais (registro, jornadas, salrio etc.). Neste ano de 2010 h a recomendao
de que a maioria das inspees realizadas nos ambientes de trabalho seja feita
com auditores das duas reas, principalmente nas empresas de maior porte.
5.6 O planejamento da inspeo trabalhista em segurana e sade no trabalho
A primeira proposta geral de planejamento/programao efetivamente implantada
no mbito da inspeo do trabalho como um todo foi o Plano Geral de Ao, lana-
do no nal do Governo Sarney pela Portaria MTb n
o
3.311, de 29 de novembro de
47
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
1989. Essa norma estabeleceu os princpios norteadores do Programa de Desenvol-
vimento do Sistema Federal de Inspeo do Trabalho, determinado pelo Artigo 7
o
da Lei n
o
7.855, de 24 de outubro de 1989, visando assegurar o cumprimento das
normas de proteo ao trabalho. Seus princpios norteadores foram: i) necessidade
de planejamento das aes; ii) ampliao e intensicao das aes com vistas
universalidade da cobertura; iii) necessidade de controle social; e iv) interiorizao
das aes (BRASIL, 1989).
Como objetivo geral, na rea em anlise no presente texto (SST), esse plano
estabeleceu como prioridade a garantia de condies de segurana e salubridade
nos ambientes de trabalho, com a reviso anual dos planos em execuo.
Determinou a observao das seguintes diretrizes mais importantes: i) atualizao
permanente das instrues normativas e regulamentadoras; ii) regionalizao,
para adequar os procedimentos realidade local; iii) utilizao de indicadores
epidemiolgicos para a denio de prioridades; e iv) formao, atualizao e
treinamento peridico dos inspetores do trabalho.
A partir de ento, a prtica de planejar/programar anualmente as atividades
a serem executadas no exerccio seguinte pela inspeo trabalhista em todo o
Brasil passou a fazer parte das atribuies dos rgos superiores de coordenao
da inspeo do trabalho (SIT/DEFIT/DSST), com a participao das cheas
das unidades descentralizadas. Com os Planos Plurianuais (PPAs), iniciados em
1996, este planejamento passou a ser tambm acompanhado pelo Ministrio
do Planejamento, Oramento e Gesto. Atualmente esto em andamento as
aes previstas no PPA 2008-2011. Na pgina 373 do Anexo I deste plano
(Programas de Governo Finalsticos), aprovado pela Lei n
o
11.653, de 7 de
abril de 2008, consta que o objeto do MTE na rea de SST proteger a vida,
promover a segurana, a sade e o bem-estar do trabalhador e produzir e difundir
conhecimento sobre Segurana e Sade no Trabalho (BRASIL, 2008a).
Especicamente na rea de SST, no PPA 2008-2011 esto previstas metas
de reduo do coeciente de acidentes decorrentes do trabalho, da mortalidade
por acidentes de trabalho, de aumento do coeciente de trabalhadores alcanados
pelas inspees de SST e da taxa de acidentes de trabalho fatais investigados.
Dentro do planejamento anual da SIT, alguns macro-objetivos tm se
mantido ao longo dos ltimos anos na rea de SST: i) desenvolvimento de aes
sistemticas de scalizao em setores econmicos de risco, em especial os que
tm se caracterizado por nmeros elevados de acidentes e doenas; e ii) anlise
de acidentes de trabalho como instrumento fundamental de compreenso das
condies existentes nos ambientes e processos de trabalho que tm o potencial
de resultar em agravos sade dos trabalhadores.
48
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Normalmente so estabelecidos projetos de mbito nacional (anlise
de acidentes de trabalho graves; scalizao do trabalho rural, da indstria
metalrgica, da construo civil, entre outras). Alm disso, so habitualmente
previstos projetos a serem desenvolvidos por uma ou mais Unidades da Federao,
de acordo com a sua realidade econmica e acidentria (transportes, indstria da
madeira, minerao, construo naval etc.).
Dentro de uma tendncia iniciada no nal dos anos 1990, especicamente
na rea de SST do MTE, e que tem se expandido nos ltimos anos, no sem
alguns percalos, h cada vez maior preocupao dos setores de planejamento
e controle da inspeo em buscar mudanas efetivas e duradouras na realidade
do mundo do trabalho. Em documento elaborado por grupo de AFTs da
rea foram relacionados os objetivos bsicos desta proposta (SANTOS et al.,
2002, p. 3):
substituio de uma ao aleatria, pontual, reativa, limitada pela ao
focada, global, proativa, continuada;
utilizao de estratgias e tticas diferenciadas, ao invs de uma
abordagem nica;
ampliao do dilogo social, em contraponto ao isolamento inicial;
procura de resultados sustentveis; e
troca de uma abordagem de simples policiamento repressor pela busca
do comprometimento com a segurana e sade no trabalho.
dentro desse esprito que as mudanas na forma de planejar e implantar as
polticas de scalizao trabalhista tanto a realizada na rea de SST quanto na
de normas de relaes e condies de trabalho tm se desenvolvido nos ltimos
anos. A unicao efetiva das carreiras de scalizao trabalhista e principalmente a
mudana na forma de remunerao dos AFTs ocorrida com a Lei n
o
11.890, de 24
de dezembro de 2008 , que passaram a receber um subsdio xo, ao invs de um
salrio acrescido de graticao por produtividade, aceleraram a implantao de uma
nova metodologia para a scalizao trabalhista, em vigor a partir de abril de 2010,
tendo como princpios norteadores (SIT, 2009):
atuao baseada no dilogo social, principalmente com as organizaes
representativas de trabalhadores e de empregadores;
prevalncia da scalizao planejada;
predomnio de scalizao em grupo, por temas, atividades ou setores;
identicao dos aspectos qualitativos dos resultados;
49
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
harmonizao nacional dos procedimentos, garantida a autonomia de
acordo com o RIT e convenes internacionais raticadas;
capacitao de todos os AFTs para atuao em qualquer forma de
inspeo do trabalho; e
divulgao e troca de experincias e boas prticas.
6 A POPULAO-ALVO DAS NORMAS DE SST E DA INSPEO TRABALHISTA
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica (IBGE),
obtidos a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios de 2008 (PNAD
2008), o Brasil possua cerca de 189.953.000 habitantes na semana de referncia
da pesquisa citada (21 a 27 de setembro de 2008). Destes, cerca de 99.500.000
constituam a populao economicamente ativa (PEA), com 10 ou mais anos de
idade. Desta populao, cerca de 92.395.000 estavam em atividade na semana,
e foram denominados populao ocupada. A distribuio deste grupo por sua
posio na ocupao principal e categoria do emprego encontra-se relacionada na
tabela 1 (IBGE, 2008).
TABELA 1
Distribuio da populao ocupada (2008, semana de referncia)
Posio na ocupao N
o
estimado de trabalhadores Proporo
Empregados urbanos 43.044.000 46,6%
Empregados rurais 4.722.000 5,1%
Empregados domsticos 6.626.000 7,2%
Empregados estatutrios 6.421.000 6,9%
Empregadores 4.144.000 4,5%
Por conta prpria 18.689.000 20,2%
Outros 8.748.000 9,5%
Total 92.394.000 100%
Fonte: IBGE/PNAD 2008.
Nota: Incluem os trabalhadores na produo para o prprio consumo e na construo para o prprio uso, e os no
remunerados.
Como pode ser observado na tabela 1, o vnculo empregatcio, dos diversos
tipos, a forma predominante de insero no mercado de trabalho (65,8% da
populao ocupada), tendo crescido na ltima dcada (era 58,8% em 1999).
So considerados celetistas (com vnculo empregatcio regido pela CLT) a quase
totalidade dos pouco mais de 43 milhes de empregados urbanos no estatutrios
nem domsticos. Os empregados rurais tm o seu contrato de trabalho regido
pela Lei n
o
5.889/73, como j observado no presente texto. Tambm como j
destacado, os empregados estatutrios (servidores pblicos civis e militares) so
regidos por normas prprias. Do total destes empregados no pblicos e no
domsticos (47.766.000 de trabalhadores, 51,7% da populao ocupada na
50
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
semana de referncia), cerca de 31.881.000 possuem registro formal em Carteira
de Trabalho e Previdncia Social (CTPS), conforme exige a legislao em vigor.
O restante (15.884.000), embora empregados, estavam quase todos irregulares do
ponto de vista trabalhista (exceto para os ministros religiosos que foram includos
nesta categoria na pesquisa do IBGE, embora habitualmente no empregados do
ponto de vista trabalhista).
Como j esclarecido, as demais categorias da populao ocupada no esto
sujeitas s normas de segurana e sade estabelecidas nas normas infraconstitu-
cionais (especicamente nas NRs). Duas excees a esta regra geral devem ser
assinaladas. Os trabalhadores avulsos, em atividade na movimentao de mer-
cadorias, so considerados por conta prpria e tm sua atividade regulamentada
e passvel de scalizao trabalhista, conforme j mencionado. De acordo com
dados obtidos da Relao Anual de Informaes Sociais (Rais) ano-base 2008,
em dezembro desse ano existiam 91.767 trabalhadores nesta condio.
5
Outra
situao importante a dos estagirios. Na pesquisa realizada pelo IBGE, eles
so considerados trabalhadores no remunerados (recebem ajuda de custo e no
salrio). Na legislao especca para tal atividade (Lei n
o
11.788/2008) h exi-
gncias para o concedente do estgio que so passveis de vericao por parte da
scalizao trabalhista (inclusive em SST). No encontramos informaes sobre
o quantitativo deste grupo de estudantes nas bases de dados ociais consultadas.
De acordo com pesquisa realizada por entidade privada ligada rea, havia cerca
de 1,1 milho de estagirios por ocasio da aprovao da legislao citada, com
uma reduo para 900.000 logo aps a nova norma jurdica (ABRES, 2010).
Embora no saibamos claramente como foram obtidos, estes nmeros fornecem
uma estimativa sobre o tamanho desta populao.
Cerca de 7.798.000 pessoas que no estavam trabalhando na semana de
referncia da pesquisa (2.974.000 no ocupadas e 4.824.000 no economicamente
ativas) referiram atividade econmica nos doze meses anteriores. Como
habitualmente autnomos e trabalhadores no remunerados no cam sem
alguma atividade laboral, presume-se que a maioria destes trabalhadores foi
empregado privado em algum momento do perodo em questo.
Outro dado obtido pela anlise dos dados da PNAD 2008 que cerca de
4.464.000 de pessoas referiram o exerccio de outra atividade economicamente
ativa na semana de referncia da pesquisa, alm da principal. Destes, 780.000
trabalhadores no empregados e empregados domsticos na ocupao principal
desenvolveram uma atividade econmica secundria que pode ser caracterizada
como um emprego privado no domstico (urbano ou rural).
5. Informao disponibilizada por Maria das Graas Parente Pinto, do setor de controle da Rais, no MTE.
51
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
Diante do exposto acima, com as consideraes j feitas sobre a abrangncia
das normas trabalhistas vigentes no Brasil, bem como sobre as limitaes legais
impostas ao da scalizao trabalhista, podemos dizer que a populao-alvo
das normas de SST em vigor e, por conseguinte, da scalizao trabalhista era de
cerca de 57,5 milhes de trabalhadores em 2008. Isso equivale a cerca de 53,7%
da PEA do perodo de 28 de setembro de 2007 a 27 de setembro de 2008.
A PNAD 2008 revelou que cerca de 141.000 crianas de 5 a 9 anos
referiram estar trabalhando na semana de referncia (172.000 nos doze meses
anteriores). No temos informaes sobre a posio na ocupao destas pessoas.
No entanto, nossa experincia em atividade de scalizao (no quanticada)
tem demonstrado que a grande maioria delas trabalha em regime de economia
familiar, ou seja, completamente fora do alcance da scalizao trabalhista.
Como j observado anteriormente, cerca de um tero dos empregados
no domsticos e no pblicos no tem sua situao contratual regularizada
(CTPS assinada). Embora seja extremamente grave, constituindo inclusive
uma prioridade da scalizao trabalhista, o fato no exime o empregador
de cumprir as normas de sade e segurana nos seus ambientes de trabalho.
De acordo com os princpios da legislao trabalhista em vigor, o que importa o
contrato realidade, ou seja, o trabalhador considerado empregado se estiverem
presentes os pressupostos do vnculo empregatcio (habitualidade, pessoalidade,
onerosidade e subordinao jurdica), independente de tal situao estar ou no
formalmente estabelecida.
Os empregados sem registro formal so mais encontrados em estabeleci-
mentos rurais, pequenas empresas, nas localizadas em cidades pequenas e distantes
dos maiores centros, e em negcios informais. Tal situao diculta, mas de forma
alguma impede a ao da scalizao trabalhista incluindo o cumprimento das
normas de SST.
7 ARTICULAO INTRAGOVERNAMENTAL E COM ATORES SOCIAIS
A interlocuo permanente com outros rgos da administrao pblica direta,
especicamente com os que tambm atuam diretamente com a SST no nvel
federal (MPS e MS) um objetivo declarado do setor de SST do MTE, h muitos
anos. O mesmo ocorre com organizaes da sociedade civil ligadas rea.
7.1 Articulao com outros entes pblicos
A articulao com o MPS e o MS formalmente realizada por intermdio da
Comisso Tripartite de Sade e Segurana no Trabalho (CTSST). Instituda
pela Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n
o
152, de 13 de maio de 2008,
52
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
tem o objetivo inicial de avaliar e propor medidas para a implementao da
Conveno 187 da OIT, que trata da estrutura de proteo da segurana e sade
no trabalho, ainda no raticada pelo Brasil (BRASIL, 2008b; ILO, 2010a).
Tem tambm como atribuies propor o aperfeioamento do sistema nacional
de segurana e sade no trabalho por meio da denio de papis e mecanismos
de interlocuo permanente entre os ministrios citados e elaborar um Programa
Nacional de Sade e Segurana no Trabalho, denindo suas estratgias e formas
de implementao, controle, avaliao e reviso peridicas.
A CTSST buscou rever e ampliar a proposta de uma Poltica Nacional
de Segurana e Sade do Trabalhador (PNSST), que comeou a ser discutida e
elaborada em 2004. De acordo com o documento base da PNSST, j concludo
aps consulta pblica e aguardando a sano presidencial, as diretrizes de um
futuro Plano Nacional de Segurana e Sade no Trabalho so (CTSST, 2010):
incluso dos trabalhadores brasileiros no sistema nacional de promoo
e proteo da sade;
harmonizao da legislao e a articulao das aes de promoo, proteo,
preveno, assistncia, reabilitao e reparao da sade do trabalhador;
adoo de medidas especiais para atividades laborais de alto risco;
estruturao de rede integrada de informaes em sade do trabalhador;
promoo da implantao de sistemas e programas de gesto da segurana
e sade nos locais de trabalho;
reestruturao da formao em sade do trabalhador e em segurana
no trabalho e estmulo capacitao e educao continuada de
trabalhadores; e
promoo de agenda integrada de estudos e pesquisas em segurana e
sade no trabalho.
No mesmo documento constam as responsabilidades da SIT nesse futuro
plano, que, entre outras, so as de:
formular e propor as diretrizes da inspeo do trabalho;
supervisionar e coordenar a execuo das atividades relacionadas com a SST;
elaborar e revisar, em modelo tripartite, as NRs;
promover estudos da legislao trabalhista e correlata, no mbito de sua
competncia, propondo o seu aperfeioamento; e
acompanhar o cumprimento, em mbito nacional, dos acordos e con-
53
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
venes raticados pelo governo brasileiro junto a organismos interna-
cionais, em especial OIT.
Alm das atividades da CTSST, tem ocorrido a participao de represen-
tantes do MS em algumas comisses e grupos especicamente organizados para
sugerir modicaes ou elaborar novas normas de SST, bem como acompanhar
a sua implementao. Com o Ministrio da Previdncia Social foi rmado um
Acordo de Cooperao Tcnica, em 29 de setembro de 2008, no qual o MPS, por
meio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), se compromete a enviar bi-
mestralmente os dados referentes a acidentes de trabalho e assemelhados (doenas
ocupacionais e acidentes de trajeto) para permitir uma melhora no planejamento
das aes scais em SST e na anlise dos acidentes mais graves, inclusive para sub-
sidiar eventuais aes regressivas descritas a seguir neste texto (MTE; MPS, 2008).
Representantes de outros ministrios, bem como de agncias executivas
(ANEEL, ANP) tm participado de comisses do MTE organizadas para
elaborao/modicao das NRs de acordo com o escopo destas. Com o Ministrio
Pblico do Trabalho (MPT), a articulao bastante ampla, principalmente na
parte operacional. Procuradores federais do trabalho participam frequentemente
de aes scais realizadas pelos AFTs. Alm disso, as denncias e solicitaes de
scalizao enviadas por eles so consideradas prioritrias no planejamento das
aes de inspeo trabalhista. Por outro lado, relatrios com resultados de inspees
so enviados para o MPT, para as providncias legais necessrias, principalmente
nos casos em que h constatao de trabalho anlogo ao do escravo, aliciamento
de trabalhadores, acidentes graves, trabalho infantil, descumprimento reiterado
da legislao trabalhista, entre outras situaes.
Mais recentemente tem havido um crescente interesse da Advocacia-Geral
da Unio (AGU) em obter os relatrios de anlises de acidentes de trabalho
graves elaborados por AFTs aps scalizaes especialmente realizadas com esta
nalidade. Tais anlises servem de suporte para que procuradores da Procuradoria-
Geral Federal (PGF), rgo vinculado AGU, proponham aes regressivas contra
os empregadores envolvidos nesses acidentes, especicamente nos casos em que
o acidente analisado teve entre seus fatores causais o claro descumprimento de
norma de SST. Tal possibilidade est prevista no Artigo 120 da Lei n
o
8.213,
de 24 de julho de 1991, que trata dos planos de benefcios da Previdncia Social
(BRASIL, 1991).
7.2 Articulao com entidades sindicais
O intercmbio do setor de scalizao trabalhista com organizaes da sociedade
civil ocorre principalmente com as entidades representativas de empregadores e
trabalhadores, os sindicatos. Tal participao se desenvolve em vrios nveis e
54
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
prevista em diversos instrumentos legais. importante assinalar que o Ttulo V da
CLT trata especicamente da organizao sindical, e o Ttulo VI das convenes
coletivas de trabalho celebradas entre representantes dos empregados (seus
sindicatos) e os empregadores (BRASIL, 1943). At a entrada em vigor da CRFB,
em outubro de 1988 (Artigo 8
o
), as entidades sindicais, tanto patronais como de
empregados, tinham uma relao de virtual dependncia em relao ao MTE.
A participao sindical na elaborao e modicao das normas de SST
ocorre desde o nal dos anos 1980. Grandes acidentes ocorridos em Minas Gerais
e So Paulo foram eventos desencadeantes para iniciar este tipo de participao,
que s tem crescido desde ento. A NR-13, que trata das exigncias de segurana
nas caldeiras e vasos de presso, foi a primeira norma de SST totalmente modicada
com a participao de representantes de entidades sindicais de trabalhadores,
modicao esta que entrou em vigor em dezembro de 1994. O mesmo ocorreu
com a reviso da NR-18 (segurana nas obras de construo, demolio e reparos),
que, elaborada e aprovada por consenso, teve todo o seu contedo discutido por
tcnicos do MTE com representantes dos sindicatos patronais e de empregados
da rea (LIMA, 2008).
A Portaria MTb n
o
393, de 9 de abril de 1996, consolidou as prticas de
participao sindical que vinham sendo desenvolvidas de modo assimtrico
desde 1985 e instituiu a Comisso Tripartite Permanente Paritria (CTPP).
Nesta comisso, que se rene periodicamente desde ento (atualmente quatro
vezes ao ano), so discutidos todos os aspectos referentes s normas de segurana
e sade no trabalho. A CTPP tem como misso promover a melhoria das
condies de trabalho, contribuindo para a elaborao e o acompanhamento
de polticas de sade e segurana. Norteia-se pelo princpio do tripartismo
preconizado pela OIT (BRASIL, 1996).
Sua forma de funcionamento, cuja descrio minuciosa foge ao objetivo
do nosso trabalho, atualmente regulamentada pela Portaria MTE n
o
1.127, de
2 de outubro de 2003. Tcnicos da Fundacentro, do MS e MPS participam da
CTPP. Para a discusso do contedo das normas de SST a serem implantadas
ou modicadas, elaborado um documento base por tcnicos designados pelo
MTE, que posteriormente submetido consulta pblica. Decorrido o prazo
para recebimento de crticas e sugestes, so constitudos os Grupos de Trabalho
Tripartite (GTT), tambm com composio paritria, para discusso e elaborao
de uma proposta nal, que submetida anlise da CTPP (BRASIL, 2003b).
A constituio da CTPP no retirou do MTE a competncia legal de expedir
normas de segurana e sade, de acordo com o que estabelece a legislao em
vigor. O que ocorre que, desde 1996, a elaborao e a modicao destas normas
passam obrigatoriamente por uma discusso ampla com segmentos organizados
55
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
da sociedade civil (as entidades sindicais de empregados e empregadores).
H sempre a tentativa de buscar consenso entre as partes. Contudo, a deciso
nal sempre cabe ao MTE (LIMA, 2008).
Alm da CTPP, tambm existem diversas comisses paritrias em funciona-
mento mais ou menos regular no mbito de atuao da SIT. Estas tratam do acom-
panhamento da implantao de algumas normas regulamentadoras, sobretudo as
mais recentes (NRs 30, 31, 32), bem como da discusso de problemas relacionados
s condies e ao meio ambiente do trabalho em setores econmicos especcos
(indstria naval, minerao, atividade porturia), apresentando os diferentes pontos
de vista e buscando solues, preferencialmente, por meio de consensos.
Nas unidades descentralizadas do MTE (superintendncias e gerncias),
a participao das entidades sindicais ocorre principalmente por intermdio de
demandas especcas para a inspeo trabalhista no caso, encaminhadas pelos
sindicatos de trabalhadores , bem como na apresentao de questionamentos
quanto a condutas adotadas ou a serem adotadas durante as atividades de
inspeo. Em algumas superintendncias existem as Comisses de Colaborao
com a Inspeo do Trabalho (CCIT), criadas por intermdio da Portaria MTE
n
o
216, de 22 de abril de 2005 (BRASIL, 2005b). Compostas por representantes
de sindicatos de trabalhadores, e de carter consultivo, estas devem colaborar
principalmente no planejamento anual da scalizao trabalhista. No esto
disponibilizadas informaes sobre o seu efetivo funcionamento.
Quanto presena de representantes legalmente constitudos dos trabalha-
dores durante as inspees trabalhistas, estabelecida nas Convenes 148 e 155 da
OIT, j raticadas pelo Brasil, vericamos que esta possibilidade prevista no item
1.7, alnea d, da NR-1 da Portaria MTb n
o
3.214, de 08 de junho de 1978,
6
para
as atividades urbanas, bem como no item 31.3.3, alnea k, da NR-31, da Portaria
MTE n
o
86, de 3 de maro de 2005, nas rurais (BRASIL, 2005a).
Embora estas ltimas sejam normas de segurana e sade no trabalho, no
h como separar a inspeo destas da realizada para vericar a regularidade das
normas sobre relaes e condies do trabalho. Tal participao foi bastante
questionada por empregadores e seus representantes, quando a permisso foi
includa em modicao realizada na NR-1, em 7 de fevereiro de 1988, por meio
da Portaria MTb/SSMT n
o
3 (BRASIL, 1988a). Atualmente vem sendo cada
vez mais realizada (no sem conitos), sobretudo em scalizaes motivadas por
denncias enviadas pelas entidades sindicais de empregados, tais como em casos de
trabalho anlogo ao do escravo, com grande nmero de empregados sem registro,
6. Alnea acrescentada pela Portaria SSMT/MTb n
o
3, de 7 de fevereiro de 1988, publicada no Dirio Ocial da Unio,
de 10 de maro de 1988. Seo 1, p. 3.888.
56
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
com terceirizao ilcita, entre outros. Tambm h acompanhamento sindical na
scalizao de setores especcos como indstria naval, obras de construo civil
de grande porte, entre outros.
8 A REALIDADE ATUAL, DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Para se discutir a situao atual da rea de segurana e sade do MTE, bem
como seus desaos presentes e perspectivas futuras necessrio abordar os dois
momentos em que isso ocorre. O primeiro o da elaborao e modicao
de normas de SST a serem cumpridas por empregadores e trabalhadores nos
ambientes de trabalho. O segundo o da vericao do seu efetivo cumprimento,
orientando ou sancionando, em caso de descumprimento, as partes interessadas.
O objetivo ltimo induzir a regularizao das desconformidades.
8.1 Sobre a normatizao em sade e segurana no trabalho
As normas brasileiras de SST so bastante amplas, abrangendo os aspectos mais
importantes nesta rea. Em vrios dos artigos do Captulo V do Ttulo II da CLT,
mas principalmente no seu Artigo 200, est expressa a competncia para que o
MTE, inclusive por intermdio do seu rgo nacional competente em matria
de SST (atualmente a SIT), amplie a normatizao da rea, possibilitando as
necessrias revises peridicas. A publicao das 33 NRs (32 esto atualmente
em vigor), com vrias atualizaes desde ento, permite que a regulamentao em
SST que razoavelmente atualizada, inclusive quando comparada dos pases de
economia mais desenvolvida. Discusso j superada, embora s vezes ainda evocada
em demandas judiciais, a questo da constitucionalidade das NRs, j que, para
alguns, elas no teriam validade jurdica uma vez que no passaram por processo
legislativo na sua elaborao e aprovao. A existncia de delegao de competncia
na prpria legislao em vigor, conforme j assinalado, e a necessidade de atualizao
rpida das normas (e isso no s na rea de SST) frente a um mundo em rpida
transformao so questes j bem reconhecidas pelos tribunais (OLIVEIRA,
2007, p. 123-127).
A discusso de normas de SST, incluindo a atualizao e a ampliao das mais
antigas, em comisses tripartites, com a participao de representantes do governo
(at mesmo de fora da estrutura do MTE), de empregadores e de empregados tem
sido uma tendncia crescente. Os procedimentos adotados, inclusive com a busca
de consensos, tem tornado tais documentos legais cada vez mais abrangentes e
adequados ao mundo do trabalho, contribuindo tambm para a disseminao do
seu conhecimento entre os diversos segmentos interessados da sociedade.
Contudo, alguns problemas so observados. A CTPP composta de
representantes designados por sindicatos de empregadores e empregados. Porm,
a representatividade das entidades sindicais brasileiras no homognea, tanto nas
patronais como nas de trabalhadores. Como se espera numa sociedade democrtica
57
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
e num pas heterogneo como o Brasil, numa mesma categoria prossional, tanto
de empregadores como de trabalhadores, h interesses e prioridades diferentes
entre os diversos sindicatos, dependendo da sua regio de atuao, da estrutura
produtiva regional, do perl do mercado de trabalho, entre outras variveis.
Tais diferenas se expressam at mesmo nas demandas na rea de SST. Como caso
exemplar podemos citar o setor sucroalcooleiro das regies Nordeste e Sudeste do
pas, com formas de contratao e pagamento de trabalhadores, uso de migrantes,
nvel de mecanizao e tendncias produtivas bastante diferentes.
Nossa estrutura sindical, montada durante o Estado Novo Getulista,
est praticamente inalterada desde esto (com exceo do surgimento e do
reconhecimento legal das centrais sindicais). A grande mudana ocorrida com a
promulgao da CRFB, de 5 de outubro de 1988, que trata dos sindicatos no seu
Artigo 8
o
, foi o m da tutela do Estado sobre a organizao sindical (BRASIL,
1988c). Porm, permaneceram o princpio da unicidade sindical (apenas um
sindicato por categoria prossional ou econmica numa mesma base territorial)
e a autorizao para a existncia de contribuies compulsrias. Embora no
seja nosso objetivo discutir aqui os problemas da estrutura sindical brasileira,
ressalta o fato de que estas duas situaes (unicidade sindical e nanciamento
compulsrio) no existem no ordenamento legal de outros pases democrticos.
7
No nosso ponto de vista, tais situaes determinam problemas na organizao e
na representatividade que podem distorcer a formulao e a implementao de
polticas pblicas baseadas no dilogo com essas entidades. Um exemplo desse
fato a NR-18, modicada totalmente em 1995, cujo contedo normativo
enfoca com muito maior destaque as obras imobilirias urbanas, residenciais
e comerciais, tendo pouca aplicao em obras rodovirias e de grande porte.
Na sua formulao participaram apenas entidades sindicais ligadas construo
de obras imobilirias urbanas de maior porte. A NR-17, modicada em 1990,
atendeu principalmente s demandas de um segmento especco de trabalhadores
(do processamento de dados para o sistema bancrio), omitindo-se em relao
maioria dos problemas ergonmicos presentes em diversas outras atividades
igualmente importantes, mesmo aps a incluso dos seus anexos I (servios
de checkout em atividades comerciais) e II (teleatendimento e telemarketing).
A NR-22, modicada em 1999 com a participao signicativa de representantes
das entidades patronais e de empregados do setor, apresenta lacunas importantes
nas normas de SST aplicveis a pequenos estabelecimentos mineradores a cu
aberto, abundantes em diversas regies do pas, mas precariamente representados
nas suas entidades sindicais. J para o setor de transporte rodovirio de cargas,
caracterizado por exaustivas jornadas de trabalho, precrias formas de contratao,
7. Ao contrrio de 160 outros pases, o Brasil no ainda no raticou a Conveno n
o
87 da OIT, de 1948, que trata da
liberdade sindical e da proteo do direito de sindicalizao.
58
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
falta de controle e scalizao, no h qualquer demanda sindical para a discusso
e o estabelecimento de normas de segurana e sade adequadas.
8
Outra questo importante a tendncia de se aumentarem progressivamente
a complexidade e o nvel de exigncia das normas de sade e segurana
recentemente publicadas. At o nal de abril de 2010, as NRs continham, na
sua totalidade, 4.036 itens imperativos passveis de autuao. Apenas as quatro
ltimas NRs (30, 31, 32 e 33), publicadas a partir de 2002, tm 1.082 itens
imperativos. Mesmo as normas elaboradas anteriormente, mas que foram
atualizadas nos ltimos anos, tm essa mesma caracterstica. A NR-22 (Segurana
e Sade Ocupacional na Minerao), atualizada em dezembro de 1999, tem 682
itens imperativos a anterior tinha apenas 71. A modicao prevista para a NR-
12 (Mquinas e Equipamentos) caminha na mesma direo. Destaque-se que esse
rpido incremento do nmero de exigncias coincidiu com o estabelecimento
dos mecanismos tripartites de discusso e elaborao de normas, embora no nos
parea haver uma relao necessria de causa e efeito.
Embora algumas NRs se apliquem a determinadas atividades econmicas
(construo civil, estabelecimentos de sade, minerao, trabalho porturio e
aquavirio), praticamente impossvel que um AFT, mesmo sendo especialista
na rea de SST (engenheiro de segurana ou mdico do trabalho), tenha um
conhecimento relativamente seguro de todas. Deciso recente de se ampliar a
abrangncia de todas as inspees trabalhistas, estimulando a scalizao de
aspectos relativos sade e segurana por todos os AFTs, especialistas ou no,
deve tornar essa questo ainda mais crtica.
Outra questo digna de nota que as exigncias presentes nas diversas NRs
no tm o mesmo nvel de complexidade para a vericao de sua conformidade
nem a mesma importncia para se avaliar, controlar e reduzir os riscos presentes
nos ambientes de trabalho. Em muitas situaes, o descumprimento de normas
de SST com impacto importante para a sade e segurana dos trabalhadores
sancionado com multas de valor pecunirio igual ou menor que o de autuaes
por situaes menos graves. Alm disso, a enorme quantidade de normas
imperativas pode determinar (e habitualmente determina) condutas muito
diferentes entre os diversos AFTs, havendo variao signicativa no nmero de
noticaes e autuaes durante as inspees de SST em estabelecimentos com
situaes semelhantes.
Se para a scalizao o aumento progressivo das exigncias j um problema,
podemos imaginar o impacto que essa questo est tendo sobre as empresas.
Embora os grandes empreendimentos tenham em geral condies econmicas
8. De acordo com dados da Previdncia Social, a ocupao com maior nmero de bitos por acidentes de trabalho, em
2008, foi a de motorista de caminho (MPS, 2009).
59
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
e capacidade tcnica de montar uma estrutura adequada para a implementao
das normas de SST, o mesmo no pode ser dito das micro e pequenas empresas.
Mesmo se desconsiderarmos as exigncias contidas em normas setoriais, os
responsveis por esses empreendimentos podem ter que conhecer (e cumprir),
1.302 itens imperativos em SST presentes nas NRs. Tarefa praticamente
impossvel, principalmente se levarmos em conta a habitual precariedade
econmica e organizacional dessas empresas uma questo que tem sido objeto
de discusses frequentes, inclusive entre pases de economia mais desenvolvida
(RICHTOFEN, 2002, p. 227 - 242).
As mudanas tecnolgicas cada vez mais rpidas, o aparecimento de novos
riscos ocupacionais e o conhecimento sobre novas formas de controle so uma
realidade que justica grande parte desse incremento normativo. Entretanto, tal
situao pode levar a um impasse, j que, na prtica, pode dicultar que uma
inspeo em SST seja realizada com eccia e efetividade. A questo que se
coloca se uma crescente normatizao realmente necessria para a melhoria
das condies de SST para a maioria dos locais scalizados.
Uma possvel alternativa para essa situao a modicao da concepo das
normas regulamentadoras. Elas poderiam ter um ncleo central, com exigncias
gerais e claras, passveis de serem facilmente compreendidas pelos diversos tipos de
empregadores e com a vericao de conformidade relativamente fcil por parte
dos AFTs das mais diversas formaes acadmicas. Para determinados setores
da economia, bem como para alguns de riscos ocupacionais com caractersticas
de maior complexidade no seu controle deveriam ser elaboradas normas
complementares (ou anexos s normas bsicas) a serem utilizadas preferencialmente
por prossionais especializados (s vezes altamente especializados). No que se
refere s aes scais, isso j tem ocorrido para alguns setores econmicos (grande
obras de construo, trabalho porturio, construo naval), mas ainda h muito
para ser feito, sobretudo no marco normativo. Competncia legal no sinnimo
de competncia tcnica.
Outra proposta interessante que a penalizao das empresas encontradas
em situao irregular no deveria se basear apenas no nmero de exigncias no
cumpridas. O modelo atual, embora preveja certa proporcionalidade em funo
do efetivo da empresa e da importncia da exigncia descumprida, ainda est bem
aqum dos modelos de inspeo mais modernos. Estes levam em conta a magnitude
do dano real ou potencial, a disposio para corrigi-lo ou minor-lo e o porte
econmico da empresa (que nem sempre proporcional ao seu efetivo laboral).
60
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
8.2 Sobre a inspeo em sade e segurana no trabalho
A inspeo de sade e segurana no trabalho, nos estabelecimentos e locais onde
a populao-alvo, descrita anteriormente, exerce atividade laboral, realizada
de modo quase exclusivo pelos AFTs do MTE. A possibilidade deste tipo de
scalizao ser realizada por delegao de competncia para autoridades pblicas
municipais e estaduais, conforme prev o Artigo 159 da CLT, cou sem efeito
com o Artigo 21, inciso XXIV, da CRFB, que estabelece ser a inspeo trabalhista
competncia exclusiva da Unio (BRASIL, 1988c). Isso j foi objeto de muita
discusso e, recentemente, de parecer conclusivo da Consultoria Geral da Unio,
contrrio primeira possibilidade.
9
O Sistema nico de Sade (SUS), dirigido no mbito da Unio pelo
MS, tem entre as suas atribuies executar aes de sade do trabalhador, bem
como colaborar na proteo do meio ambiente do trabalho, conforme prev o
Artigo 200 da CRFB e o Artigo 6
o
da Lei n
o
8.080, de 19 de setembro de 1990
(BRASIL, 1988c; BRASIL, 1990). Estas incluem, entre outras, a assistncia
aos trabalhadores vtimas de acidente de trabalho e doenas ocupacionais, a
participao na normatizao e controle dos servios de sade do trabalhador,
bem como a scalizao de processos produtivos e uso de produtos, mquinas e
equipamentos que apresentam riscos sade dos trabalhadores.
Nos primeiros anos aps a Lei n
o
8.080/1990 houve uma acalorada discusso,
entre pesquisadores e tcnicos da rea, sobre qual instituio teria a atribuio de
scalizar o cumprimento de normas de segurana e sade nos ambientes laborais
(LACAZ, 1994, p. 48-55; LACAZ, 1997, p. S10-S13; VASCONCELOS;
RIBEIRO, 1997, p. 269-275). Os artigos citados, bem como outros sobre
o tema, publicados na poca, em geral eram carregados de corporativismo e
posicionamento poltico-ideolgico, mas no apresentavam dados quantitativos
de ecincia, eccia e efetividade. Relacionavam apenas os defeitos genricos
encontrados numa situao j existente (a inspeo de SST ento realizada
pelo MTE), apontando somente virtudes em outra apenas idealizada (a terica
inspeo de SST a ser realizada pelo SUS). Ou seja, contriburam pouco para uma
discusso tcnica sobre a questo. Atualmente podemos dizer que cabe ao MTE a
responsabilidade pela quase totalidade da normatizao de segurana e sade nos
ambientes laborais onde ocorre trabalho subordinado (h um empregador, ou
tomador de servio, responsvel pelo empreendimento). O rgo tem tambm
a atribuio legal de vericar o cumprimento destas normas, por intermdio das
inspees realizadas pelos seus AFTs em todos os estados da Federao, nos seus
mais diversos municpios.
9. Conforme Parecer n
o
AGU/SF/06/2009, referente ao Processo n
o
00400.002246/2004-45, aprovado em 24/09/2009.
61
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
Esse tipo de inspeo indissocivel da necessria constatao da existncia
de uma relao de subordinao entre o trabalhador e o tomador de servio, j
que cabe ao empregador, ou assemelhado, cumprir e fazer cumprir as normas
de SST em vigor. A vericao deste vnculo , no mbito do Poder Executivo,
uma atribuio exclusiva dos AFTs. Alm disso, a inspeo do cumprimento
de atributos referentes s jornadas e aos perodos de descanso e alimentao,
importantes determinantes na relao sade-doena dos trabalhadores, so
tambm atribuies dos AFTs. Desse modo, parece-nos evidente a impossibilidade
de separar a inspeo de SST da inspeo de relaes e condies de trabalho para
esse tipo de atividade laboral (trabalho subordinado).
Evidentemente, tais colocaes no impedem a necessria integrao de
aes dos diversos rgos pblicos que lidam com a SST. Alm dos aspectos j
discutidos anteriormente, h o grande universo representado pelos trabalhadores
que exercem suas atividades por conta prpria (sem qualquer relao de
subordinao de fato e de direito) e os que laboram em regime de economia
familiar, eternos esquecidos. Pelas prprias colocaes feitas acima, a ao
scalizadora do MTE sobre tais segmentos, constitudos por milhes de pessoas,
tem uma evidente limitao.
Embora o efetivo de AFTs em atividade j tenha sido bem maior em anos
passados (de acordo com o SFIT, eram 3.423 em julho de 1996), o seu nmero
no pode ser considerado muito pequeno. De acordo com recomendaes da OIT,
e tendo em vista a nossa fase de desenvolvimento econmico (pas em processo
de industrializao), deve haver um inspetor do trabalho para cada grupo de
15.000 trabalhadores (ALBUQUERQUE, 2010, p. 8). Considerando-se a nossa
populao-alvo, conforme descrita anteriormente, a proporo em 2008 era de
cerca de 18.470 trabalhadores para cada AFT em atividade (em dezembro de 2008
eram 3.113). Ou seja, estvamos apenas um pouco abaixo das recomendaes
internacionais. De fato, de l para c, o contingente de AFTs s diminuiu (2.882
em junho de 2010) e certamente a populao-alvo aumentou um pouco, mas
h previso de admisso, no segundo semestre de 2010, de 234 novos auditores
recentemente aprovados em concurso pblico. Embora a carncia de servidores
no seja to grande quanto em outros rgos do aparelho de Estado, no nosso
ponto de vista, o nmero adequado deveria estar em torno de 4.000 AFTs.
Fato importante que existem equipes de inspeo em todos os 27 entes
federativos. Os maiores efetivos esto lotados nas sedes da SRTEs, mas a maioria
das mais de cem GRTEs tambm possui equipes de scalizao. Ainda que a visita
aos estabelecimentos localizados em cidades de pequeno porte e em zonas rurais
remotas seja bem aqum do desejvel, podemos dizer que a inspeo trabalhista
brasileira tem uma grande capilaridade. Por ser realizada exclusivamente pela
62
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Unio, a scalizao trabalhista sofre presses muito menores de autoridades
pblicas regionais e locais, bem como de empregadores e atores sociais com
interesses eventualmente contrariados, quando a comparamos com as realizadas
por estados e municpios (em outras reas de atuao), principalmente nos de
menor porte econmico e demogrco.
Mas h algumas nuvens no horizonte. Embora todos os 2.882 AFTs em
atividade tenham as mesmas atribuies legais, pouco mais de 20% deles so
teoricamente especialistas na rea de SST (engenheiros de segurana e mdicos
do trabalho). O ltimo processo seletivo que admitiu exclusivamente especialistas
em SST ocorreu em 1998. O grupo admitido em 2007 para a rea, tecnicamente
subordinado ao DSST, constitudo predominantemente (em mais de 80%) por
no especialistas. Mesmo se considerando o elevado nvel tcnico deste ltimo
contingente, j que foram aprovados num concurso com alto nvel de competio,
um efetivo no desprezvel j exerce predominantemente atividades que no so
direcionadas rea de segurana e sade. Para isso deve ter contribudo bastante a
formao prvia dos mesmos (direito, contabilidade, entre outras). Alm disso, o
conhecimento formal das normas de SST no sinnimo de conhecimento tcnico.
Mesmo sem considerarmos esses fatos, temos que menos de um tero dos AFTs em
atividade tm como prioridade nas suas scalizaes a vericao de atributos de
SST, no havendo expectativa de aumento deste efetivo num horizonte prximo.
Isso no seria um problema to preocupante, se todos os AFTs vericassem
de maneira sistemtica os principais aspectos de SST nas suas inspees. Ocorre
que, exceto nas scalizaes conjuntas (com AFTs das duas reas), isso no vem
ocorrendo de modo sistemtico. O aumento progressivo da complexidade das
normas tende a agravar esse problema. Anlises dos relatrios de inspeo, obtidos
por meio de consulta base de dados do SFIT, revelam uma tendncia de se
privilegiarem itens das NRs de mais fcil vericao, durante as inspees de SST.
Tal situao tem sido objeto de algumas discusses entre os tcnicos
envolvidos com a questo, que avaliam estar ocorrendo um esvaziamento do
setor de segurana e sade dentro da estrutura da SIT. Entre os argumentos
levantados por crticos da abordagem generalista que est sendo proposta
pela SIT, h a constatao de que grande nmero de especialistas em SST, do
quadro de AFTs do MTE, est prximo da aposentadoria. A no reposio, e
at ampliao, deste quadro determinar um empobrecimento qualitativo na
vericao do cumprimento das normas de segurana e sade no trabalho de
maior complexidade e nas situaes de risco mais grave. Contata-se tambm
uma signicativa reduo na quantidade e abrangncia dos treinamentos
especcos para a rea de SST, tanto para atualizao dos mais antigos como para
qualicao dos novos AFTs, principalmente daqueles sem formao especca
na rea. Foi levantada inclusive a proposta de se reconstruir a Secretaria de
63
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
Segurana e Sade no Trabalho, distinta da SIT, conforme era a congurao
do MTE antes de agosto de 1999.
10
Quando se analisam os resultados das aes scais realizadas pelos
AFTs, chama ateno a quantidade de inspees realizadas, conforme dados
disponibilizados no stio do MTE da internet, com parte deles observada na
tabela 2 (MTE, 2010b).
TABELA 2
Nmero de auditores-scais e resultados da scalizao trabalhista
Ano
AFT ativos
(em dez.)
Empresas
scalizadas
Trabalhadores
alcanados
2003 2.837 285.245 22.257.503
2004 2.927 302.905 24.453.179
2005 2.935 375.097 27.650.699
2006 2.873 357.319 30.681.772
2007 3.173 357.788 32.178.533
2008 3.113 299.013 30.958.946
2009 2.949 282.377 34.007.719
Fonte: SFIT/MTE.
Pela anlise dessas informaes, cada AFT realizou em mdia 108 inspees
anualmente, no perodo de 2003 a 2009, atingindo cerca de 9.700 trabalhadores/
ano. Este nmero mais signicativo quando lembra que muitas scalizaes so
realizadas por mais de um auditor e que cerca de 350 deles esto em atividades de
chea, planejamento e controle, ou seja, fora da scalizao diretamente realizada
nos ambientes de trabalho.
Ocorre que, para uma anlise mais correta, necessrio lembrar que
alguns estabelecimentos so scalizados em mais de uma ocasio durante o
ano, principalmente os de maior porte. Alm disso, o nmero de trabalhadores
alcanados costuma ser maior que o efetivo do local inspecionado. A scalizao
de certos atributos trabalhistas, por abranger um signicativo tempo pregresso
como, por exemplo, na vericao dos recolhimentos ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servio (FGTS) atinge trabalhadores que j deixaram a empresa
e que podem inclusive estar trabalhando em outros locais, eventualmente, no
scalizados. Levando-se em considerao tais fatos, a anlise na base de dados
do SFIT revela que, em 2008 (ltimo ano para o qual temos uma estimativa
da populao-alvo da inspeo trabalhista), foram scalizados 275.455
estabelecimentos distintos, com um efetivo total de 17.561.629 trabalhadores,
presumivelmente distintos, nos locais inspecionados. Isso signica que nesse ano
a scalizao trabalhista atingiu cerca de 30% da populao-alvo.
10. As crticas e propostas foram feitas pela Associao Gacha dos Auditores Fiscais do Trabalho (Agitra) em carta
aberta enviada SIT, em 8 de setembro de 2009.
64
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Especicamente para a scalizao da rea de SST, os resultados no so to
vistosos. Como observado anteriormente, grande parte dos AFTs no vinculados
ao DSST deixam de scalizar atributos de SST nas suas inspees. Em 2009, em
apenas 158.065 aes scais concludas (60% do total de inspees realizadas
pelo MTE) foram vericados atributos das NRs, o que alcanou 20.532.420
trabalhadores, ou seja, 60,4% do total atingido (MTE, 2010c). Para que esta
situao melhore, so necessrias medidas que estimulem a vericao de atributos
de SST em todas as inspees, inclusive com scalizaes conjuntas (inspetores da
rea trabalhista geral e de SST), conforme proposta atual do MTE. Outra linha
de ao melhorar a qualicao em SST dos AFTs no especialistas, alm do
aumento do efetivo de auditores especializados, o que no tem ocorrido nos anos
recentes, conforme j observado.
Embora o resultado da scalizao trabalhista no possa ser medido exclu-
sivamente no nmero de autuaes efetuadas pelos AFTs, os dados anuais mos-
tram uma mdia superior a 100.000 ao ano, sendo 40% delas referentes a itens
descumpridos das NRs. De acordo com a legislao trabalhista em vigor, deve
ser lavrado um auto de infrao (AI) para cada item imperativo descumprido.
Ao se analisarem os dados de 2009, constata-se que foram lavrados 47.936 AIs por
infringncia a dispositivos das NRs 42,3% do total de lavraturas (MTE, 2010b;
MTE 2010c). Em uma anlise das caractersticas destes autos, a partir de extrao
da base de dados do SFIT, temos que 1.760 itens das NRs foram relacionados em
pelo menos um AI (43,6% dos itens imperativos que podem ser sancionados), mas
apenas 68 destes itens responderam por 50% das autuaes. Ou seja, apenas 3,9% do
total de itens das NRs utilizados para autuao e irrisrios 1,68% dos itens autuveis.
Outra informao que, para 1.238 itens das NRs constatados como no cumpridos
(70,3% dos itens autuados), correspondem apenas 10% das autuaes. Resumindo,
somente poucos itens normativos so objeto da grande maioria das autuaes em
SST, sugerindo uma contradio entre o nmero de exigncias normativas existentes
e as que efetivamente so vericadas durante as inspees realizadas.
Considerando-se que as exigncias contidas nas NRs no tm igual
importncia quando se considera o seu peso para a reduo e o controle dos riscos
ocupacionais, chama a ateno o fato de que as que mais frequentemente so
objeto de autuao por descumprimento se referem a aspectos em grande parte
documentais. Como exemplo, temos as irregularidades quanto a exames mdicos
ocupacionais, elaborao de atestados de sade ocupacional, comprovantes de
fornecimento de equipamentos de proteo individual, elaborao de programas
e organizao de Comisso Interna de Preveno de Acidentes de Trabalho.
Ou seja, normas que apenas de modo indireto tm relao com a reduo dos
riscos habitualmente presentes nos ambientes de trabalho.
65
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
Se para os parmetros referentes eccia e ecincia da scalizao
trabalhista, especicamente na rea de SST, j temos algumas diculdades,
principalmente quando se procura analisar a qualidade das aes de inspeo
realizadas, a situao ca ainda mais difcil para a anlise da sua efetividade.
A utilizao dos coecientes sobre acidentes de trabalho na populao-
alvo da inspeo de SST como parmetro de impacto parece bvia. Mas h
alguns problemas. A subnoticao frequente e causada por diversos fatores
cuja discusso foge ao objetivo deste texto. No de modo algum homognea,
tanto do ponto de vista geogrco (nos diversos estados da Federao) como
entre as vrias atividades econmicas. De uma maneira geral, menor nos estados
mais urbanizados e industrializados, assim como nas empresas mais organizadas.
Mudanas econmicas, alteraes nas formas de contribuio previdenciria,
modicaes nos critrios para estabelecimento de nexo causal (como no caso
das doenas ocupacionais, desde 2007) podem alterar signicativamente as
informaes obtidas.
Na tabela 3 so apresentados alguns quantitativos sobre acidentes de trabalho
com base em dados disponibilizados no Anurio Estatstico da Previdncia Social
2008 Suplemento Histrico 1980-2008 (MPS, 2009).
TABELA 3
Total mdio de empregados expostos, nmero de acidentes de trabalho (tpicos e
de trajeto) e bitos por acidentes de trabalho (1996 a 2008)
Ano
N
o
mdio mensal de
contribuintes empregados
Acidentes
com CAT
bitos
1996 16.278.784 360.566 4.488
1997 16.689.418 384.695 3.469
1998 18.774.332 383.852 3.793
1999 18.418.450 363.917 3.896
2000 17.931.895 344.263 3.094
2001 21.673.260 321.764 2.753
2002 22.315.801 370.760 2.968
2003 22.721.877 375.219 2.674
2004 24.279.906 435.506 2.839
2005 25.820.169 466.584 2.766
2006 26.576.068 482.062 2.798
2007 29.050.535 496.041 2.845
2008 31.817.000 526.692 2.757
Fonte: Anurio Estatstico da Previdncia Social 2008 Suplemento Histrico 1980-2008.
Notas: Corresponde soma do nmero de meses trabalhados por cada empregado, dividido por 12.
Igual soma do total de acidentes de trabalho tpicos com acidentes de trajeto.
Como as comunicaes de acidente do trabalho (CAT) efetivadas atravs
de procedimentos normatizados pela Previdncia Social se referem quase
exclusivamente a empregados registrados, considera-se, neste texto, o nmero
66
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
mdio mensal destes trabalhadores como nosso denominador. No quantitativo
de acidentes somou-se a quantidade dos acidentes tpicos com os de trajeto, j
que se constata habitualmente grande confuso na diferenciao entre estas duas
categorias (vrias empresas consideram como de trajeto os acidentes externos e os
que envolvem motoristas e ajudantes). Alm disso, na normatizao na rea de
SST h vrias exigncias referentes ao transporte seguro de trabalhadores, mesmo
no trajeto entre os locais de trabalho e os de moradia.
Embora tenha se mantido relativamente estvel entre 1996 e 2003, o
nmero de acidentes tpicos/de trajeto vem tendo um acrscimo consistente
desde ento. Quando se analisa o coeciente de incidncia anual, observa-se uma
queda inicial, mas com relativa estabilidade nos ltimos anos (de 21,1 por mil em
1993 para 16,5 por mil em 2008). Isso decorreu principalmente pelo progressivo
aumento do nmero de empregados segurados da Previdncia Social, que vem
crescendo bastante a partir de 2001.
Quanto s mortes comunicadas em decorrncia de acidentes de trabalho
de todos os tipos, mas na quase totalidade por acidentes tpicos e de trajeto,
com nmero menos sujeito a alteraes por fatores externos, observamos uma
queda inicial seguida de relativa estabilidade nos ltimos oito anos. Porm, a
mortalidade anual por acidentes de trabalho caiu de 27,6 por cem mil empregados
em 1993 para 8,67 por cem mil em 2008, numa queda progressiva, com
pequenas oscilaes. Ou seja, o risco de um trabalhador empregado falecer em
decorrncia de um acidente de trabalho tem cado consistentemente nos ltimos
15 anos (at 2008). Como no provvel que a subnoticao tenha aumentado,
principalmente no caso de mortes, a queda parece bem real. Quando comparamos
este ltimo ndice com os citados por Santana et al. (2007, p. 2643), vericamos
que, embora superior ao de pases de economia de mercado, onde tambm parece
haver subnoticao (5,9 por cem mil), ele bem inferior mdia dos pases da
Amrica Latina (13,5 por cem mil).
Os dados sobre acidentes de trabalho entre os diversos pases so muito
diferentes, mesmo numa mesma regio, e parecem depender no apenas do seu
nvel de desenvolvimento econmico e social, mas tambm de outras variveis,
como o funcionamento dos seus sistemas de informao sobre tais eventos e da
forma como so efetuados os pagamentos previdencirios em caso de incapacidade/
morte. Isso pode ser deduzido, por exemplo, quando se comparam as informaes
disponibilizadas para os pases da Europa Ocidental (ILO, 2010b).
Atribuir a queda na incidncia e na mortalidade por acidentes de trabalho
no Brasil exclusivamente s aes estatais desenvolvidas nas ltimas dcadas,
tanto pelo MTE como, em menor escala, por outros rgos do Poder Executivo
67
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
federal, algo que no pode ser feito. Anlises de efetividade so difceis para
qualquer poltica social. No caso da SST, diversos fatores , tais como mudanas
econmicas, alteraes legais, atuao de outros entes pblicos podem interferir
nos impactos observados no mundo do trabalho, tornando complicado atribuir
sucesso (ou insucesso) exclusivamente a um ator ou poltica implementada.
Embora alguns autores como Ribeiro (2008, p. 31) ainda tenham uma viso
bastante negativa em relao ao do Ministrio do Trabalho na rea de SST,
manifestaes como esta so cada vez menos comuns. Como os anteriormente
citados, este ltimo Artigo toma um posicionamento a priori, no baseado nas
informaes quantitativas apresentadas, mas apenas numa opo ideolgica
do autor. Em estudo realizado por Cardoso e Lage (2005) feita uma anlise
ampla da ao scalizadora do MTE, especicamente na inspeo de atributos
trabalhistas gerais (no especicamente da rea de SST). Embora com diversas
crticas ao modelo de scalizao vigente at 2003, os autores reconhecem que o
sistema eciente, ecaz e efetivo.
Em outro trabalho, Santos (2003) procura demonstrar que projetos de
scalizao trabalhista baseados apenas em estmulos para uma maior eccia tm
suas limitaes. Estmulos, no caso, eram as metas propostas para o quantitativo
de registros de empregados a serem obtidos durante a ao scal, importantes
inclusive para garantir parte da remunerao dos AFTs. Sem mecanismos para
garantir maior efetividade da inspeo (como a reduo prolongada do nvel
de informalidade quanto aos registros de empregados), as empresas tendiam a
manter a situao irregular at chegada da inspeo trabalhista, regularizando-a
apenas por ocasio desta. J para os inspetores era importante que houvesse a falta
de registro, para que fosse corrigida apenas durante a ao scal. Era inclusive
teoricamente til o retorno da irregularidade posteriormente, j que facilitaria
uma nova resoluo futura. Ou seja, havia um compromisso com o problema e
no com a soluo. Tal situao ocorreu no perodo estudado pelo autor citado,
mas no uma prtica totalmente abandonada pela scalizao trabalhista.
Estudos mais recentes, realizados por Pires (2008, 2009a, 2009b), avaliaram
projetos de scalizao trabalhista desenvolvidos em Pernambuco, Bahia e Minas
Gerais, boa parte deles com nfase nos aspectos referentes SST. De acordo com
o autor, inspees realizadas dentro de modelos desenhados para a construo
de processos, com dinmicas para a reviso constante de objetivos e mtodos de
trabalho, bem como com certa liberdade discricionria (mtodo experimentalista),
mostraram um potencial maior para alcanar sucesso, quando comparadas s
realizadas segundo modelos com maior controle gerencial, com estabelecimento
de metas e reduo da discricionariedade (mtodo gerencial). Ressalta tambm
que o comprometimento dos inspetores de linha de frente, no caso os AFTs
envolvidos (street-level bureocrats) com a efetividade dos projetos em execuo,
68
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
sempre buscando a melhor forma de alcan-la, foi condio importante para o
sucesso das inspees realizadas. Embora sejam poucos os casos estudados, suas
concluses so bastante teis.
9 CONSIDERAES FINAIS
Em resumo, pode-se dizer que o ordenamento normativo vigente em SST, cuja
vericao de cumprimento atribuio dos auditores do MTE, bastante amplo
e pormenorizado e, de um modo geral, bastante satisfatrio. Apesar disso, ainda
h setores economicamente signicativos para os quais faltam instrumentos
jurdicos adequados para o controle das situaes de risco observadas (como no
caso do transporte rodovirio de cargas).
O processo de elaborao de normas de SST, no mbito do MTE, atravs
de mecanismos de participao tripartite, tem sido bastante exitoso, permitindo
uma discusso bastante ampla com os setores sociais envolvidos e tornando as
normas aprovadas mais de acordo com a realidade e a necessidade existentes. Pro-
blemas quanto ao contedo da agenda de discusso, ao interesse e representati-
vidade das entidades envolvidas no processo, demora na elaborao das normas,
bem como o crescente aumento da complexidade destas ltimas, muitas vezes
confundindo o essencial com o acessrio, ainda necessitam de melhores solues.
As relaes com outros rgos do Estado tm melhorado progressivamente
nas ltimas duas dcadas, embora de modo assimtrico, tanto no aspecto norma-
tivo quanto na implementao de projetos de scalizao. Interesses corporativos,
diferentes vises da realidade laboral e dos mtodos de trabalho ainda dicultam
uma aproximao maior, principalmente entre o MTE e o MS. Com o MPT,
a parceria institucional muito ampla, principalmente no mbito operacional.
Grande nmero de scalizaes trabalhistas ocorre a pedido de procuradores do
Trabalho lotados em diversas cidades do pas, tanto para vericar a pertinncia
das denncias recebidas pelo MPT quanto no acompanhamento de Termos de
Ajustamento de Conduta celebrados com empregadores. Alguns conitos tm
ocorrido principalmente no estabelecimento de prioridades de scalizao e na
urgncia em realiz-las, j que o MTE tem seus prprios projetos, nem sempre
coincidentes com os do MPT, bem como uma capacidade limitada de imple-
ment-los. Falta um marco regulatrio mais claro nas relaes entre tais rgos,
inclusive para evitar interferncia indevida de um poder sobre o outro, j que o
disposto nos incisos II e III do Artigo 8
o
da Lei Complementar n
o
75, de 20 de
maio de 1993, que estabelece atribuies do Ministrio Pblico da Unio, do
qual o MPT faz parte, d margem a interpretaes variadas (BRASIL, 1993).
Como j observado anteriormente, o nmero de AFTs em atividade
de scalizao no pode ser considerado pequeno, embora esteja aqum das
recomendaes da OIT. Tambm o quantitativo de scalizaes realizadas, tanto
69
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
na rea trabalhista geral como especicamente na rea de SST, muito signicativo
e abrange todo o pas. Questes que demandam ateno crescente se referem
qualicao dos auditores em SST, principalmente para aqueles sem formao
especca na rea, cada vez mais numerosos, bem como no estabelecimento mais
tcnico das prioridades e dos mtodos da inspeo trabalhista.
Mudanas recentes na metodologia de scalizao trabalhista, tanto na
rea de normas gerais como na de SST, vm sendo implantadas desde abril de
2010 (BRASIL, 2010). A nfase na necessidade de uma scalizao orientada
principalmente para os problemas mais importantes na rea trabalhista,
utilizando mtodos estatsticos, com um trabalho planejado, em equipes
multidisciplinares, com tempo signicativo para a sua implementao e busca
de resultados persistentes so algumas das caractersticas buscadas pela nova
poltica de scalizao e caminham no mesmo sentido que as propostas do ltimo
pesquisador citado. Agora necessrio aguardar e avaliar os seus resultados, ou
melhor, trabalhar para que eles aconteam conforme nossas expectativas. Anal,
tambm fazemos parte desta equipe.
REFERNCIAS
ALBUQUERQUE, V. L. R. A OIT e a inspeo do trabalho no Brasil. Braslia:
SIT/MTE, 2010. 18 p. Mimeografado.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE ESTGIOS (ABRES). Mapa do estgio no Bra-
sil. Disponvel em: <http://www.abres.org.br/v01/stats>. Acesso em: 17 jun. 2010.
BARRETO, J. M. A.. Algumas diculdades e desaos atuais da inspeo do trabalho.
Braslia: SIT/MTE, 2002. 53 p. Mimeografado.
BARRETO, J. M. A.; ALBUQUERQUE, V. L. R. Inspeo do trabalho: desaos
e perspectivas. Braslia: SIT/MTE, 2004. 51 p. Mimeografado.
BRASIL. Decreto-Lei n
o
5.452, de 1
o
de maio de 1943. Aprova a Consolidao
das Leis do Trabalho. Dirio Ocial da Unio, Rio de Janeiro, 9 ago. 1943.
Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/del5452.htm>.
Acesso em: 14 jun. 2010.
BRASIL. Decreto n
o
55.841, de 15 de maro de 1965. Aprova o Regulamento da
Inspeo do Trabalho. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 55.841, 17 mar. 1965.
Disponvel em: <http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.action?codig
oBase=2&codigoDocumento=115442>. Acesso em: 15 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
5.859, de 11 de dezembro de 1972. Dispe sobre a prosso de
empregado domstico e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Bra-
slia, 12 dez. 1972. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L5859.htm>. Acesso em: 14. jun. 2010.
70
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
BRASIL. Lei n
o
5.889, de 8 de junho de 1973. Estatui normas reguladoras do trab-
alho rural Dirio Ocial da Unio, Braslia, 11 jun. 1973. Disponvel em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5889.htm>. Acesso em: 14. jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
6.514, de 22 de dezembro de 1977. Altera o Captulo V do
Titulo II da Consolidao das Leis do Trabalho, relativo segurana e medicina
do trabalho e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 23 dez.
1977. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6514.htm>.
Acesso em: 14 jun. 2010.
BRASIL. Portaria MTb n
o
3.214, de 8 de junho de 1978. Aprova as Normas
Regulamentadoras NR do Captulo V, Ttulo II, da Consolidao das Leis do
Trabalho, relativas Segurana e Medicina do Trabalho. Dirio Ocial da Unio,
Braslia, 6 jul. 1978. Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/
portarias/1978/p_19780608_3214.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2010.
BRASIL. Portaria MTb/SSMT n
o
3, de 7 de fevereiro de 1988. Dirio Ocial
da Unio, Braslia, 10 mar. 1988. Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/
legislacao/portarias/1988/p_19880207_03.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2010.
BRASIL. Portaria MTb n
o
3.067, de 12 de abril de 1988. Aprova Normas
Regulamentadoras Rurais NRR do Art. 13 da Lei n
o
5.889, de 8 de junho de
1973, relativas Segurana e Higiene do Trabalho Rural. Dirio Ocial da Unio,
Braslia, 13 abril 1988. Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/
portarias/1988/p_19880412_3067.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2010.
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1988. Braslia:
Assembleia Constituinte, 5 maio 1988. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 14 jun. 2010.
BRASIL. Portaria MTb n
o
3.311, de 29 de novembro de 1989. Estabelece os
princpios norteadores do programa do programa de desenvolvimento do Sistema
Federal de Inspeo do Trabalho e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio,
Braslia, 30 nov. 1989. Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/
portarias/1989/p_19891129_3311.pdf>. Acesso em 15 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispe sobre as condies para
a promoo, proteo e recuperao da sade, a organizao e o funcionamento
dos servios correspondentes e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio,
Braslia, 20 set. 1990. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/L8080.htm>. Acesso em: 18 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
8.213, de 24 de junho de 1991. Dispe sobre os Planos de
Benefcios da Previdncia Social e d outras providncias. Dirio Ocial da
Unio, Braslia, 25 jul. 1991. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/
leis/L8213cons.htm>. Acesso em: 18 jun. 2010.
71
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
BRASIL. Lei Complementar n
o
75, de 20 de maio de 1993. Dispe sobre a
organizao, as atribuies e o estatuto do Ministrio Pblico da Unio. Dirio
Ocial da Unio, Braslia, 21 maio 1993. Disponvel em: < http://www.planalto.
gov.br/ccivil/leis/LCP/Lcp75.htm>.
BRASIL. Portaria MTb n
o
393, de 9 de abril de 1996. Dirio Ocial da Unio,
Braslia, 10 abril 1996. Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/
portarias/1996/p_19960409_393.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
9.719, de 27 de novembro de 1998. Dispe sobre normas
e condies gerais de proteo ao trabalho porturio, institui multas pela
inobservncia de seus preceitos e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio,
Braslia, 30 nov. 1998. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/L9719.htm>. Acesso em: 14 jun. 2010.
BRASIL. Decreto n
o
3.048, de 06 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da
Previdncia Social e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia,
7 maio 1999. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/
D3048.htm>. Acesso em: 14 jun. 2010.
BRASIL. Decreto n
o
4.552, de 27 de dezembro de 2002. Aprova o Regulamento
da Inspeo do Trabalho. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 30 dez. 2002.
Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4552.
htm>. Acesso em: 15 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
10.683, de 28 de maio de 2003. Dispe sobre a organizao
da Presidncia da Repblica e dos Ministrios, e d outras providncias. Dirio
Ocial da Unio, Braslia, 29 maio 2003. Disponvel em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm>. Acesso em 14 jun. 2010.
BRASIL. Portaria MTE n
o
1.127, de 2 de outubro de 2003. Estabelece procedimen-
tos para a elaborao de normas regulamentares relacionadas sade e segurana e
condies gerais de trabalho. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 3 out. 2003. Dispon-
vel em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2003/p_20031002_1127.asp>.
Acesso em: 18 jun. 2010.
BRASIL. Decreto n
o
5.063, de 3 de maio de 2004. Aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comisso e das Funes Graticadas
do Ministrio do Trabalho e Emprego e d outras providncias. Dirio Ocial
da Unio, Braslia, 4 maio 2004. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5063.htm>. Acesso em: 14 jun. 2010.
BRASIL. Portaria MTE n
o
86, de 3 de maro de 2005. Aprova a Norma
Regulamentadora de Segurana e Sade no Trabalho na Agricultura, Pecuria,
Silvicultura, Explorao Florestal e Aqicultura. Dirio Ocial da Unio,
Braslia, 4 mar. 2005. Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/
portarias/2005/p_20050303_86.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2010.
72
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
BRASIL. Portaria MTE n
o
216, de 22 de abril de 2005. Cria Comisso de
Colaborao com a Inspeo do Trabalho CCIT, e d outras providncias.
Dirio Ocial da Unio, Braslia, 25 abr. 2005. Disponvel em: < http://www.
mte.gov.br/legislacao/portarias/2005/p_20050422_216.pdf>. Acesso em:
19 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
11.653, de 7 de abril de 2008. Dispe sobre o Plano Plurianual
para o perodo 2008/2011. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 8 abril 2008.
Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/
Lei/L11653.htm>. Acesso em: 16 jun. 2010.
BRASIL. Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n
o
152, de 13 de maio de
2008. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 15 maio 2008. Disponvel em: <http://
www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2008/p_20080513_152.pdf>. Acesso em:
17 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispe sobre o estgio
de estudantes e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 26
set. 2008. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Lei/L11788.htm>. Acesso em: 14 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
12.023, de 27 de agosto de 2009. Dispe sobre as atividades de
movimentao de mercadorias em geral e sobre o trabalho avulso. Dirio Ocial
da Unio, Braslia, 28 ago. 2009. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12023.htm>. Acesso em: 14. jun. 2010.
BRASIL. Portaria MTE n
o
546, de 11 de maro de 2010. Disciplina a forma de
atuao da Inspeo do Trabalho, a elaborao do planejamento da scalizao,
a avaliao de desempenho funcional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e d
outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 12 mar. 2010. Disponvel
em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2010/p_20100311_546.
pdf>. Acesso em: 19 jun. 2010.
CARDOSO, A.; LAGE, T. A inspeo do trabalho no Brasil. Dados Revista de
Cincias Sociais, Rio de Janeiro, v. 48, n. 3, p. 451-490, 2005.
COMISSO PERMANENTE NACIONAL RURAL (CPNR). Ata da 2
Reunio Ordinria de 19 de Novembro de 2001. Disponvel em: <http://www.mte.
gov.br/seg_sau/comissoes_rural_atas19112001.pdf>. Acesso em 19 jun. 2010.
COMISSO TRIPARTITE DE SADE E SEGURANA NO TRABALHO
(CTSST). Poltica Nacional de Segurana e Sade no Trabalho (proposta).
Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/seg_sau/comissoes_ctssp_proposta.
pdf>. Acesso em: 18 jun. 2010.
73
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Pes-
quisa nacional por amostra de domiclios 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. v.
29, 126 p. Disponvel em: <http://download.uol.com.br/downloads/windows/
sintesepnad2008.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2010.
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). ILOLEX database
of international labour standards. Disponvel em: <http://www.ilo.org/ilolex/
english/newratframeE.htm>. Acesso em: 19 jun. 2010.
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). Main statistics
(annual): occupational injuries. Disponvel em: <http://laborsta.ilo.org/STP/
guest>. Acesso em: 19 jun. 2010.
LACAZ, F. A. C. Sade dos trabalhadores: cenrio e desaos. Cadernos Sade
Pblica, Rio de Janeiro, v. 13, s 2, p. S07-S19, 1997. Disponvel em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1997000600002
&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 19 jun. 2010.
LACAZ, F. A. C. Reforma sanitria e sade do trabalhador. Sade e Sociedade,
So Paulo, v. 3, n. 1, p. 41-59, 1994. Disponvel em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12901994000100005&lng=en&nrm
=iso>. Acesso em 19 jun. 2010.
LIMA, L. M. A. Processos jurdicos de deciso em polticas pblicas: o caso da
normatizao em segurana e sade no trabalho. In: CONGRESSO INTER-
NACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA
ADMINISTRACIN PBICA, 13., 2008, Buenos Aires. Anais eletrnicos. Bue-
nos Aires: CLAD, 2008. Disponvel em: <http://www.mp.gov.br/hotsites/seges/
clad/documentos/limamadu.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2010.
MENDES, R. Aspectos histricos da patologia do trabalho. In: ______ (Org.).
Patologia do trabalho. Rio de Janeiro: Atheneu, 1995. cap. 1, p. 03-31.
MIRANDA, C. R. Inspeo do trabalho, epidemiologia e segurana e sade no
trabalho. In: SINDICATO NACIONAL DOS AGENTES DA INSPEO
DO TRABALHO (Org.). A importncia da inspeo do trabalho: uma experincia
pioneira. Braslia: SINAIT, 1999. p. 8-23.
MUNAKATA, K. A legislao trabalhista no Brasil. 2. ed. So Paulo: Brasiliense,
1984. 112 p.
MINISTRIO DA PREVIDNCIA SOCIAL (MPS). Anurio Estatstico da
Previdncia Social: suplemento histrico (1980-2008). Braslia: DATAPREV,
2009, p. 126-127. Disponvel em: <http://www.mps.gov.br/conteudoDina-
mico.php?id=423>. Acesso em: 19 jun. 2010.
74
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). A histria do MTE.
Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/institucional/historia.asp>. Acesso
em: 14 jun. 2010.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Quadro comparativo
da scalizao do trabalho: 2003 a 2010. Disponvel em: <http://www.mte.gov.
br/sca_trab/resultados_scalizacao_2003_2010.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2010.
MINISTRIO DO TRABAHO E EMPREGO (MTE). Dados da inspeo em
segurana e sade no trabalho Brasil: acumulado janeiro/dezembro de 2009.
Disponvel em:<http://www.mte.gov.br/seg_sau/est_brasil_acumulado_
jan_dez2009.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2010.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE); MINISTRIO DA
PREVIDNCIA SOCIAL (MPS). Acordo de Cooperao Tcnica n
o
8/2008, de
29 de setembro de 2008. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 179, 30 set. 2008.
Seo 3, p. 107.
OLIVEIRA, S. G. Proteo jurdica sade do trabalhador. So Paulo: LTr,
1996, 333 p.
______. Estrutura normativa da segurana e sade do trabalhador no Brasil. Re-
vista do Tribunal Regional do Trabalho 3 Regio, Belo Horizonte, v. 45, n. 75, p.
107-130, jan./jun. 2007.
ORGANIZACIN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). La inspeccin
del trabajo: manual de educacin obrera. Ginebra: OIT, 1986. 102 p.
PIRES, R. R. C. Compatibilizando direitos sociais com competitividade: scais do
trabalho e a implementao da legislao trabalhista no Brasil. Braslia: Ipea,
2008. 42 p. (Texto para discusso n. 1354)
______. Estilos de implementao e resultados de polticas pblicas: scais do
trabalho e o cumprimento da lei trabalhista no Brasil. Dados Revista de Cincias
Sociais, Rio de Janeiro, v. 52, n. 3, p. 375-389, 2009.
______. Burocracia, discricionariedade e democracia: alternativas para o dilema
entre controle do poder administrativo e capacidade de implementao. In: EN-
CONTRO ANUAL DA ANPOCS, 33., 2009, Caxambu. Anais. Caxambu: AN-
POCS, 2003. 39 p.
RAMAZZINI, B. As doenas dos trabalhadores. 2. ed. So Paulo: Fundacentro, 1999.
269 p.
RIBEIRO, F. S. N. Situacon en Brasil. Informe continental sobre la situacin del
derecho a la salud en el trabajo, 2008. 2008. p. 57-86. Disponvel em: < http://
www.alames.org/documentos/trabajo.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2010.
75
O Ministrio do Trabalho e Emprego e a Sade e Segurana no Trabalho
RICHTHOFEN, VON W. Labour inspection: a guide to the profession. Geneva:
ILO, 2002. 362 p.
ROSEN, G. Uma histria da sade pblica. 2. ed. So Paulo: Hucitec; Rio de
Janeiro: Abrasco, 1994. 400 p.
SANTANA, V. S. et al. Mortalidade, anos potenciais de vida perdidos e incidncia
de acidentes de trabalho na Bahia, Brasil. Cadernos Sade Pblica, Rio de Janeiro,
v. 23, n. 11, p. 2.643-2.652, nov. 1997. Disponvel em: <http://www.scielo.br/
pdf/csp/v23n11/11.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2010.
SANTOS, A. R. M. S. et al. Auditoria estratgica em segurana e sade no trabalho:
conhecer para transformar. Braslia: DSST/SIT/MTE, 2002. 30 p. Mimeografado.
SANTOS, A. M. Uma avaliao da poltica de combate informalidade da
mo de obra, aplicando teoria dos jogos. In: ENCONTRO NACIONAL DE
ECONOMIA, 31. 2008, Porto Seguro. Anais eletrnicos. Porto Seguro: ANPEC,
2003. Disponvel em: <http://www.anpec.org.br/encontro2003/artigos/F01.
pdf>. Acesso em: 19 jun. 2010.
SECRETARIA DE INSPEO DO TRABALHO (SIT). Nova metodologia da
inspeo do trabalho. Braslia: SIT/MTE, 2009. 9 p. (Documento de referncia).
SSSEKIND, A. Convenes da OIT e outros tratados. 3. ed. So Paulo: LTr Editora,
2007. 645 p.
VASCONCELLOS, L. C. F.; RIBEIRO, F. S. N. Investigao epidemiolgica e
interveno sanitria em sade do trabalhador: o planejamento segundo bases op-
eracionais. Cadernos de Sade Pblica, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 269-275, 1997.
Disponvel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X1997000200016&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 19 jun. 2010.
CAPTULO 2
O MINISTRIO DA PREVIDNCIA SOCIAL E A
INSTITUCIONALIDADE NO CAMPO DA SADE
DO TRABALHADOR
Remgio Todeschini
Domingos Lino
Luiz Eduardo Alcntara de Melo
1 APRESENTAO
Sempre coube ao Ministrio da Previdncia Social (MPS), atravs de seu
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), anteriormente Instituto Nacional de
Previdncia Social (INPS), dar amparo aos trabalhadores vtimas de acidentes e
doenas prossionais. A proteo acidentria anterior ao prprio nascimento da
Previdncia Social em 1923, quando, em 15 de janeiro de 1919, o governo editou
o Decreto n
o
3.724, que instituiu a indenizao s vtimas de acidentes, cuja
indenizao por morte era correspondente a trs anos de trabalho (TODESCHINI,
2000). Portanto, a Previdncia, em sua funo de seguradora, desde os seus
primrdios dava proteo s consequncias dos acidentes e doenas prossionais
de carter indenizatrio, vinculados inicialmente a categorias prossionais mais
organizadas como ferrovirios e da construo civil (CARONE, 1979).
Os benefcios acidentrios foram se aperfeioando: de indenizatrios por
parte do corpo perdida passaram a ser benefcios continuados pagos ms a ms.
No perodo de 1944 a 1966 operaram seguradoras privadas que indenizavam a
acidentalidade concorrencialmente com os Institutos de Aposentadorias e Pen-
ses (IAPs) existentes por categoria prossional: industririos, bancrios, comer-
cirios, martimos entre outros (TODESCHINI e CODO, 2009).
Interessante observar que a ao de coibir os acidentes e as doenas pro-
ssionais, de fato, sempre coube ao Ministrio do Trabalho, muitas vezes uni-
cado nos diversos perodos com o Ministrio da Previdncia e Assistncia
Social. A ao de scalizao das condies de trabalho e do nascente contrato
de trabalho iniciou-se na dcada de 1930, com a criao do ento Ministrio
78
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
do Trabalho, Indstria e Comrcio. A legislao que iniciou o detalhamento de
cuidados com o ambiente de trabalho foi a Consolidao das Leis do Trabalho
(CLT), em 1943, quando foi editado o captulo V, que deniu uma srie de
regras que as empresas deviam observar para manter as condies salubres de
trabalho. Contraditoriamente tambm se instituiu o adicional de insalubridade
onde persistissem as condies insalubres, com desdobramentos nas chamadas
aposentadorias especiais insalubres no incio de 1960, por meio da Lei n
o
3.807,
a Lei Orgnica da Previdncia Social (DONADON, 2003).
Os anos 1960 e 1970 foram perodos em que se constatou um crescente
nmero de acidentes, mortes e doenas prossionais no Brasil, sendo que o paga-
mento dos benefcios monetrios a eles relacionados sempre coube Previdncia
Social. O Brasil era tido como campeo mundial da acidentalidade a mdia dos
anos 1970 era de 1,5 milho de acidentes, cerca de 4 mil bitos e 3,2 mil doenas
prossionais. Em 1975 o nmero de acidentes registrados bateu o recorde de 1,9
milho, o que signicava que nesse ano 14,74% dos 12,9 milhes de trabalhadores
segurados sofrera algum acidente de trabalho (PINA RIBEIRO e LACAZ, 1984).
Soou o alarme no governo militar da poca. Para dar maior ateno s ques-
tes de Sade e Segurana no Trabalho, criou-se a Fundacentro em 1966, rgo
que se dedica a estudos, pesquisas, formao e aperfeioamento da legislao tra-
balhista na rea.
Talvez, o avano mais signicativo na legislao tenha ocorrido, at como
fruto do incio das presses sindicais, por meio da Portaria n
o
3.214 de 1978,
quando se criaram as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministrio do Traba-
lho.
1
Estas normas inicialmente estabeleceram exigncias para que as condies
de trabalho fossem melhoradas: ampliou-se o papel das Comisses Internas de
Preveno de Acidentes (Cipas); estabeleceram-se parmetros e limites no ma-
nuseio de substncias qumicas perigosas, maiores controles dos riscos fsicos em
geral; ampliaram-se os servios prprios de segurana e medicina do trabalho nas
empresas (SESMTs); exigiram-se procedimentos de scalizao e inspeo prvia
das empresas que se instalavam, entre outras.
Paulatinamente, a Previdncia Social comeou a reconhecer novas doenas
prossionais por presso dos sindicatos mais combativos na poca (bancrios,
metalrgicos e qumicos) entre elas as LER/DORT, que foram objeto de Instru-
es Normativas no nal dos anos 1980 e ampliou tambm o reconhecimento
das doenas prossionais em geral.
O impulso maior no reconhecimento das doenas prossionais deu-se a
partir do nal dos anos 1980, quando se criaram programas de Ateno Sade
1. Atualmente compem o repertrio de NRs 33 normas revisadas periodicamente sob a competncia do Ministrio
de Trabalho e Emprego.
79
O Ministrio da Previdncia Social e a Institucionalidade no Campo da Sade do Trabalhador
do Trabalhador na rede do Sistema nico de Sade, tambm por presso sindical
junto Secretaria de Sade do Estado de So Paulo (REBOUAS, LACAZ e
TODESCHINI, 1989). De 1984 a 1985, o reconhecimento das doenas pros-
sionais saltou de 3,2 mil casos para 4 mil casos junto Previdncia Social, mos-
trando a interveno do Ministrio da Sade neste campo. Deve-se recordar que,
nesse perodo, no ABC-SP, foi criado em Diadema e So Bernardo o Programa
de Sade dos Trabalhadores Qumicos do ABC e da Construo Civil (MDICI,
2008) em parceria com a Secretaria de Sade de So Paulo, e no mesmo ano foi
criado tambm o Programa de Sade do Trabalhador da Secretaria Estadual de
Sade de So Paulo na Zona Norte. Esses foram programas iniciais que depois
se disseminaram em outras regies do estado de So Paulo e do Brasil. Nos anos
seguintes pulou de 6 mil (1986) para 15 mil (1993) o nmero de casos de doen-
as prossionais e do trabalho registrados na Previdncia Social. Esse maior reco-
nhecimento, sem dvida, foi impulsionado tambm pela ao do Ministrio da
Sade por intermdio dos Centros de Referncia de Sade do Trabalhador, aps a
Constituio de 1988. Ou seja, alm dos Servios de Medicina Ocupacional nas
empresas para o diagnstico das doenas, as diversas instncias da rede de sade
pblica inuram fortemente na descoberta do iceberg escondido de tais doenas
nos ambientes laborais. As discusses sobre sade do trabalhador tiveram forte
impulso tambm a partir das trs Conferncias Nacionais de Sade do Trabalha-
dor organizadas pelo Ministrio da Sade entre 1986 e 2005.
2 COMBATE SUBNOTIFICAO DAS DOENAS PROFISSIONAIS ATRAVS
DO NEXO TCNICO EPIDEMIOLGICO PREVIDENCIRIO (NTEP)
O reconhecimento das doenas prossionais foi se ampliando no mbito dos
Programas de Sade do Trabalhador por intermdio dos Centros de Referncia
de Sade do Trabalhador (CERESTs), a partir de 2003 um impulso que fez
com que o Conselho Nacional de Previdncia Social, em 2004, criasse uma nova
metodologia que reconhecesse melhor as doenas prossionais, chamada Nexo
Tcnico Epidemiolgico Previdencirio (NTEP). Esta metodologia, acoplada
num primeiro momento com uma ao de cobrana diferenciada por empresa,
chamada Fator Acidentrio de Preveno (FAP), detalhado no item seguinte
deste mesmo captulo, foi desenvolvida pela Previdncia Social, com fora da
Lei n
o
11.430/2006 e com o Decreto n
o
6.042/2007, e estabeleceu que toda vez
que houvesse incidncia epidemiolgica elevada de uma determinada doena
em todo o Sistema nico de Benefcios da Previdncia Social haveria o enqua-
dramento dessa doena como sendo de natureza acidentria. Basicamente, o
enquadramento permitido pelo Decreto n
o
6.042/2007 e pelo atual Decreto n
o
6.957/2009, em seu Anexo II, Lista C, diz que, se um trabalhador pertencer a
uma determinada atividade econmica da Classicao Nacional de Atividade
Econmica (CNAE) com alta incidncia de doenas segundo a Classicao
80
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Internacional de Doenas (CID), o caso ser enquadrado como de doena pro-
ssional. Este procedimento utiliza a clssica tabela cruzada na epidemiologia
de pertencer a um CNAE, comparado ao de no pertencer ao mesmo CNAE,
relacionado com as pessoas doentes afetadas e as pessoas doentes no afetadas.
Estas relaes, alm da lista normal das doenas prossionais e do trabalho,
permitem estabelecer atualmente 2.691 correlaes entre CID e CNAE. Assim,
inverteu-se o nus da prova. Anteriormente era necessrio que tal reconheci-
mento partisse basicamente do mdico da empresa ou do encaminhamento de
servios pblicos; agora, o prprio mdico perito verica compulsoriamente,
independente da Comunicao de Acidente do Trabalho da empresa, se h esta
relao estabelecida pela lista C, Anexo II, do atual Decreto n
o
6.957. Ao lado
disso, houve o aperfeioamento das Instrues Normativas do INSS, para o
melhor reconhecimento das doenas prossionais em geral, independente da
CAT, conforme expresso na IN n
o
31, de setembro de 2008.
Tais procedimentos e a prpria matriz que gerou a Lista C do NTEP de-
vero ser revisados e aperfeioados periodicamente com base nos novos registros
gerais de incapacidade do INSS e mediante estudos e pesquisas desenvolvidos
com a participao da Universidade de Braslia (UnB).
Pela tabela 1, v-se que com essa mudana metodolgica houve uma maior
evoluo dos casos de doenas prossionais reconhecidos pela Previdncia Social,
sem a obrigao da Comunicao de Acidente do Trabalho (CAT).
TABELA 1
Aplicao do NTEP em alguns agrupamentos de doenas pela Previdncia Social
comparativo (2006 a 2008)
Benefcios Acidentrios por grupos de CID com mais
de 15 dias
2006 2007 2008
Cap. XIX Leses e causas externas 99.490 141.790 199.112
Cap. XIII Doenas Osteomusculares (LER/DORT) 19.956 95.473 117.353
Cap. V Transtornos mentais e comportamentais 612 7. 690 12.818
Demais captulos da CID 20.940 29.993 27.053
Total 140.998 274.946 356.336
Fonte: DPSO/SPS/MPS.
O NTEP coloca s claras o adoecimento no interior do local de trabalho e
desnuda principalmente os setores de servio, que, at ento, apresentavam baixo
registro de doenas prossionais e do trabalho como os setores bancrio e de
servios em geral. Conforme a tabela 1, aumentou signicativamente o registro
de LER/DORT e de transtornos mentais e comportamentais. Esse fato est
ajudando a combater a subnoticao e a reconhecer melhor o adoecimento, em
todos os setores econmicos, decorrente das condies, das relaes e da organizao
do trabalho inadequadas. Isso remete a uma ao mais ativa do governo no campo
81
O Ministrio da Previdncia Social e a Institucionalidade no Campo da Sade do Trabalhador
da scalizao, da normatizao e do aprofundamento da cultura da preveno.
Tambm ampliaram-se, no mbito da Procuradoria do INSS, a partir de 2008,
as chamadas Aes Regressivas previdencirias, no intuito de ressarcir aos cofres
da Previdncia aqueles benefcios de natureza grave como penses e invalidez
acidentria nos quais fossem constatadas negligncia e dolo das empresas. O que
ocorreu com esse reconhecimento foi uma revoluo silenciosa, implementada sem
grandes alardes pela Previdncia Social (MACHADO; SORATTO; CODO, 2010).
3 O NOVO SEGURO ACIDENTE E O NOVO FATOR ACIDENTRIO
DE PREVENO (FAP)
Ainda em 2002, a Previdncia Social, por meio do Conselho Nacional de Previ-
dncia Social, estudava uma forma de coibir a acidentalidade, quando um grupo
de trabalho props a exibilizao da cobrana da Tarifao Coletiva do Seguro
Acidente, chamada de Riscos Ambientais de Trabalho (RAT). O resultado deste
grupo de trabalho transformou-se na Medida Provisria n
o
83/2002, convertida
em 2003 na Lei n
o
10.666, o que se convencionou chamar de Regulamento do
Regime Geral da Previdncia de Fator Acidentrio de Preveno por meio dos
Decretos n
o
6.042/2007 e n
o
6.957/2009 (TODESCHINI e CODO, 2009).
A Lei n
o
10.666/2003, em seu Artigo 10
o
, permitiu que o Seguro Acidente
(RAT), ou seja, a Tarifao Coletiva por atividade econmica, pudesse ser
exibilizado. O RAT de 1%, 2% ou 3% poderia ser diminudo pela metade ou
cobrado em dobro em razo do desempenho da empresa em relao respectiva
atividade econmica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir
dos ndices de frequncia, gravidade e custo, calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdncia Social (BRASIL, 2003).
Houve trs tentativas de colocar em vigncia o FAP por empresa. As tentativas
anteriores de 2007 e 2008 buscavam coloc-lo em vigor to somente com os dados
do NTEP, excluindo todos os demais acidentes registrados, o que gerava diversas
distores tanto na tabela do RAT (Tarifao Coletiva), que o enquadramento
das 1.301 Subclasses da CNAE, como na aplicao do FAP (Tarifao Individual
por empresa). A ltima tentativa, com o apoio de estudos e pesquisas da UnB,
com vrias modicaes feitas a partir das Resolues n
o
1.308 e n
o
1.309 de
2009, permitiu coloc-lo em vigor em janeiro de 2010. Nesta primeira aplicao,
em janeiro de 2010, entre 952.561 empresas que deveriam pagar o FAP, 879.933
tiveram FAP menor que 1, e 72.628 tiveram suas alquotas majoradas em funo
de terem uma acidentalidade maior em relao s demais empresas do seu
setor econmico. Todas essas novas iniciativas da Previdncia caminharam no
sentido de melhor reconhecer a acidentalidade e estabelecer novos parmetros de
cobrana, estimulando a preveno acidentria em nosso pas, o trabalho decente
e o desenvolvimento sustentvel (PIMENTEL, 2010).
82
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
A ltima Resoluo, de n
o
1.316, de junho de 2010, aperfeioou as regras
da aplicao do FAP para 2011. O resultado disso traduziu-se em novos nmeros
na aplicao do FAP para as empresas: 844.531 tero o FAP menor do que 1, ou
seja, menor do que a tarifao coletiva de 1%, 2% e 3%; 776.930 empresas com
FAP igual a 0,5 e 78.264 tero o FAP majorado, maior que 1, ou seja, maior que
a tarifao coletiva de 1%, 2% e 3%, em funo de apresentarem acidentalidade
maior em relao sua atividade econmica.
4 A INSTUCIONALIDADE DO DEPARTAMENTO DE POLTICAS DE SADE E
SEGURANA OCUPACIONAL (DPSO)
Toda essa atividade de criao do NTEP, do acompanhamento do FAP e do
desenvolvimento de estudos e pesquisas exigiu, a partir de agosto de 2007, a
criao do Departamento de Polticas de Sade e Segurana Ocupacional (DPSO).
O Decreto n
o
6.194, de 22 de agosto de 2007, deniu as principais atribuies do
Departamento, conforme detalhado abaixo em seu Artigo 10
o
:
I. Subsidiar a formulao e a proposio de diretrizes e normas relativas
interseo entre as aes de segurana e sade no trabalho e as aes de
scalizao e reconhecimento dos benefcios previdencirios decorren-
tes dos riscos ambientais do trabalho;
II. Coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar as aes do Regime
Geral de Previdncia Social, bem como a poltica direcionada aos regi-
mes prprios de previdncia social, nas reas que guardem inter-relao
com a segurana e sade dos trabalhadores;
III. Coordenar, acompanhar e supervisionar a atualizao e a reviso dos
planos de custeio e de benefcios, em conjunto com o Departamento
do Regime Geral de Previdncia Social, relativamente a temas de sua
rea de competncia;
IV. Desenvolver projetos de racionalizao e simplicao do ordenamento
normativo e institucional do Regime Geral de Previdncia Social, nas
reas de sua competncia;
V. Realizar estudos, pesquisas e propor aes formativas visando
ao aprimoramento da legislao e das aes do Regime Geral de
Previdncia Social e dos regimes prprios de previdncia social, no
mbito de sua competncia;
VI. Propor, no mbito da previdncia social e em articulao com os de-
mais rgos envolvidos, polticas voltadas para a sade e segurana dos
trabalhadores, com nfase na proteo e preveno; e
83
O Ministrio da Previdncia Social e a Institucionalidade no Campo da Sade do Trabalhador
VII. Assessorar a Secretaria de Polticas de Previdncia Social nos assuntos
relativos rea de sua competncia.
A Portaria MPS n
o
173, de 2 de junho de 2008, publicada no D.O.U de
4 de junho, e o Decreto n
o
7.078, de 26 de janeiro de 2010, vigente, mantiveram
integralmente as mesmas atribuies contidas no Decreto n
o
6.194.
5 A CRIAO DA COMISSO TRIPARTITE DE SADE E SEGURANA
NO TRABALHO
Uma das tarefas cruciais para avanar no contexto da cultura da preveno
acidentria foi a instituio, por meio da Portaria Interministerial n
o
152, de
13 de maio de 2008, da Comisso Tripartite de Sade e Segurana no Trabalho
(CTSST), com o objetivo de avaliar e propor medidas para a implementa-
o, no pas, da Conveno n
o
187 da Organizao Internacional do Trabalho
(OIT), que trata da Estrutura de Promoo da Segurana e Sade no Trabalho
(TODESCHINI e LINO, 2010). A Comisso composta de representantes
do governo, das reas de Previdncia Social, Trabalho e Emprego e Sade, de
representantes dos trabalhadores e dos empregadores, e tem como objetivo,
entre outros, revisar e ampliar a proposta da Poltica Nacional de Segurana
e Sade do Trabalhador (PNSST), de forma a atender s Diretrizes da OIT e
ao Plano de Ao Global em Sade do Trabalhador, aprovado na 60 Assem-
bleia Mundial da Sade ocorrida em maio de 2007. nalidade tambm da
CTSST propor o aperfeioamento do sistema nacional de segurana e sade
no trabalho por meio da denio de papis e de mecanismos de interlocuo
permanente entre seus componentes e elaborar um Programa Nacional de Sa-
de e Segurana no Trabalho, com denio de estratgias e planos de ao para
a sua implementao, monitoramento, avaliao e reviso peridica no mbito
das competncias do Trabalho, da Sade e da Previdncia Social.
Os membros da Comisso acordaram em maro de 2009 focar aes nos
setores da indstria da construo civil e do transporte rodovirio de cargas,
responsveis por 28% das mortes e invalidez no Brasil (AEPS, 2007). O objetivo
deste plano de ao fortalecer o dilogo social, aperfeioar a regulamentao em
vigor nos setores econmicos escolhidos e reforar a formao especca em SST.
Essa ao prioritria e permanente de combate s mortes e invalidez
permanente dever ater-se tambm a um trabalho de scalizao, de atribuio
especca do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), de vigilncia sanitria por
parte do Ministrio da Sade (MS), bem como de desenvolvimento de campanhas
especcas, estudos e pesquisas, e com vistas criao de linhas de crdito especial.
A ateno dessa ao dever se estender aos setores econmicos em sua totalidade,
com foco especial nas micro e pequenas empresas.
84
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
6 A NOVA POLTICA NACIONAL DE SEGURANA E SADE
NO TRABALHO (PNSST)
Em sua nona reunio ordinria ocorrida em 22 de fevereiro de 2010, a CTSST
aprovou, por consenso, a proposta da Poltica Nacional de Segurana e Sade no
Trabalho. O documento estabelece a Poltica Nacional de Segurana e Sade
no Trabalho (PNSST) e expressa o compromisso de governo, trabalhadores e em-
pregadores com a promoo do trabalho decente, em condies de segurana e
sade. Em sua formulao, a PNSST fundamenta-se na Constituio Federal, na
Conveno n
o
155 e Recomendaes da Organizao Internacional do Trabalho
(OIT), assim como no Plano de Ao Global em Sade do Trabalhador da Or-
ganizao Mundial da Sade (OMS), reetindo a adeso do Estado abordagem
global preconizada por tais instituies.
A PNSST tem por objetivo a promoo da sade e a melhoria da qualidade
de vida do trabalhador, a preveno de acidentes e de danos sade advindos do
trabalho ou a ele relacionados, ou que ocorram no curso dele, por meio da elimi-
nao ou da reduo dos riscos nos ambientes de trabalho. Para o alcance de seu
objetivo, a PNSST dever ser implementada por meio da articulao continuada
das aes de governo, que dever ocorrer no campo das relaes de trabalho,
produo, consumo, ambiente e sade, com a participao das organizaes re-
presentativas de trabalhadores e empregadores.
As aes no mbito da PNSST devem constar de um Plano Nacional de
Segurana e Sade no Trabalho e desenvolver-se segundo a incluso de todos os
trabalhadores brasileiros no sistema nacional de promoo e proteo da sade.
Tais aes visam harmonizao da legislao e a articulao das aes de promo-
o, proteo, preveno, assistncia, reabilitao e reparao da sade do traba-
lhador, e ainda promoo da implantao de sistemas e programas de gesto da
segurana e sade nos locais de trabalho. Buscam a adoo de medidas especiais
para setores de alto risco e a estruturao de uma rede integrada de informaes
em sade do trabalhador, reforam a reestruturao da formao em sade do
trabalhador e em segurana no trabalho e o estmulo capacitao e educao
continuada de trabalhadores, alm da promoo de uma agenda integrada de
estudos e pesquisas em segurana e sade no trabalho.
A PNSST tambm estabelece responsabilidades aos setores de governo dire-
tamente responsveis por sua implementao e execuo: Ministrio do Trabalho
e Emprego, Ministrio da Sade e Ministrio da Previdncia Social, sem prejuzo
da participao de outros rgos e instituies que atuam na rea.
Por ltimo, estabelece a forma de gesto, sendo a primeira a gesto
participativa da poltica, de incumbncia da Comisso Tripartite de Sade e
Segurana no Trabalho (CTSST), constituda paritariamente por representantes
85
O Ministrio da Previdncia Social e a Institucionalidade no Campo da Sade do Trabalhador
do governo, de trabalhadores e de empregadores. Prope a sua reviso peridica,
em processo de melhoria contnua e estabelece os mecanismos de validao
e de controle social da PNSST. A CTSST deve elaborar, acompanhar e rever
periodicamente o Plano Nacional de Segurana e Sade no Trabalho, denir e
implantar formas de divulgao da PNSST e do Plano Nacional de Segurana
e Sade no Trabalho, dando publicidade aos avanos e resultados obtidos, alm
de articular rede de informaes sobre SST.
A gesto executiva da poltica ser conduzida por Comit Executivo
constitudo pelos Ministrios do Trabalho e Emprego, da Sade e da Previdncia
Social, ao qual caber coordenar e supervisionar a execuo da PNSST e do
Plano Nacional de Segurana e Sade no Trabalho. Essa gesto dever elaborar
e articular as propostas oramentrias de sade e segurana no trabalho (SST),
em conjunto com o Ministrio do Planejamento Oramento e Gesto (MP),
dos diferentes programas de governo no gerenciamento de aes especcas e
integradas. Dever elaborar relatrio anual das atividades desenvolvidas no
mbito da PNSST, encaminhando-o CTSST e Presidncia da Repblica, e
divulgar periodicamente informaes sobre as aes de SST para conhecimento
da sociedade, alm de promover campanhas sobre sade e segurana no trabalho.
7 REVITALIZAO E ESTUDOS SOBRE REABILITAO PROFISSIONAL
Em janeiro de 2008, o Ministrio da Previdncia Social, por meio de seu
Departamento de Sade e Segurana Ocupacional e em articulao com
a Diretoria de Benefcios do INSS, elaborou o Projeto para Revitalizao
da Reabilitao Prossional (RP) visando conhecer e atuar em uma das
demandas mais permanentes da rea da Previdncia. Aqui cabe destacar que h
necessidade de uma integrao de fato com as aes do Ministrio da Sade: ao
Ministrio da Previdncia cabe a reabilitao prossional em si, e Sade cabe a
reabilitao fsica. Tal projeto inclui, entre outras aes, um amplo diagnstico
das condies atuais da reabilitao prossional (RP), a ampliao do quadro de
funcionrios e a capacitao de servidores para atuar na RP. Prev a ampliao
e a revitalizao da RP junto ao INSS, mediante a busca de aes integradas
com as demais polticas sociais, visando o bem-estar do segurado, a reintegrao
prossional no mercado de trabalho, a proteo no ambiente de trabalho, a
sustentabilidade da Previdncia e o estabelecimento de parcerias com o Sistema
S, as universidades, as escolas e prefeituras, de convnios de cooperao
tcnica com rgos pblicos e entidades de classe e representativas da sociedade.
Logo, um plano de trabalho para revitalizao da RP deve envolver identicao
de problemas, capacitao das equipes, democratizao das informaes, apoio
institucional e, principalmente, a participao dos servidores que esto na
ponta, ou seja, lidando dia a dia com os segurados.
86
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Junto com o projeto de revitalizao da RP em So Paulo foi estabelecida
a cooperao tcnica com a UnB em um projeto de estudos e pesquisas sobre
reabilitao envolvendo conceitos e prticas na rea de RP, com vistas a apro-
fundar o conhecimento sobre os problemas enfrentados, o trabalho realizado e
as condies em que o trabalho desenvolvido. A pesquisa-diagnstica prim-
ria objetivou ampliar o conhecimento sobre as condies de trabalho. Embasada
cienticamente em estratgias de melhoria da organizao, dimensiona recursos
humanos e equipes de trabalho e subsidia aes e projetos estratgicos para o se-
tor. Este trabalho muito impactar no avano das aes em RP quanto a solues
de problemas como: retorno mais rpido ao trabalho ou ingresso ao mercado
produtivo; qualidade da sade dos trabalhadores; melhor atendimento visando
concomitantemente a integridade fsica e psicolgica dos trabalhadores; e o me-
lhor direcionamento de aes de RP e de preveno acidentria, por meio da
identicao de aes complementares e de parcerias tanto empresariais como
do governo. Visa melhorar tambm a gesto da RP, mediante a recomendao de
aes para o setor, e, consequentemente, o fortalecimento da cultura de RP e de
preveno de acidentes.
8 CONSIDERAES FINAIS E DESAFIOS
O desao de integrao est posto, pois o governo s avanar na preveno
acidentria na medida em que tiver uma ao integrada, conforme explicitado na
Poltica Nacional de Segurana e Sade do Trabalhador, realizando a construo
do Plano de Ao a ser desenvolvido no prximo perodo. preciso fortalecer
as reas de diagnstico no Ministrio da Sade, de scalizao e normatizao
no Ministrio do Trabalho, de estudos e pesquisas na Fundacentro, alm de
melhorar o reconhecimento dos direitos previdencirios na Previdncia Social.
Isso demandar, como ocorre tambm em alguns pases da Organizao para
Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE), a criao de uma Agncia
Nacional de Trabalho e Sade tendo como foco a melhoria dos ambientes laborais,
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida no trabalho. Essa discusso dever
ser incrementada entre os rgos do governo, a m de ampliar a institucionalidade
governamental, visando melhorias, novas tecnologias e investimentos nos locais
de trabalho, a exemplo do modelo francs, que, alm de deter aes no campo
da previdncia, trabalho e sade e centros de pesquisas em SST, possui um rgo
voltado para as melhorias ambientais a Agncia de Melhorias Ambientais
vinculada aos Ministrios do Trabalho, Previdncia e Sade. Tal tema dever ser
objeto de mais discusses entre os rgos governamentais, j que o oramento na
rea muito restrito. No podemos mais nos dar ao luxo de ter um custo direto
e indireto de mais de R$ 52 bilhes com as consequncias da acidentalidade
(MPS, 2009). No mbito da Diretoria, pensa-se em ter uma Superintendncia
87
O Ministrio da Previdncia Social e a Institucionalidade no Campo da Sade do Trabalhador
de Riscos Prossionais, j que a atividade no relacionamento com as empresas
torna-se cada vez mais complexa, exigindo acompanhamento direto quanto s
contestaes e os esclarecimentos. No momento, o DPSO conta com um corpo
de funcionrios cedidos pelo INSS (cerca de 20), insuciente para avaliar as
contestaes por divergncias quanto aplicao do FAP. Normalmente, os pases
tm uma estrutura prpria dentro da previdncia social para atuar neste campo.
REFERNCIAS
BRASIL. Conselho Nacional de Previdncia Social. Resoluo n
o
1308, de 27 de
maio de 2010. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 5 jun. 1999. Seo 1, p. 124.
BRASIL. Conselho Nacional de Previdncia Social. Resoluo n
o
1309, de 24 de
junho de 2009. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 7 jul. 2009. Seo 1, p. 103.
BRASIL. Conselho Nacional de Previdncia Social. Resoluo n
o
1316, de 31 de
maio de 2010. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 14 jun. 2010. Seo 1, p. 84-85.
BRASIL. Leis, decretos e resolues relativas ao FAP. Decreto n
o
6042/2007. Decre-
tos 6577/2008, 6957/2009. Lei n
o
10.666, de 8 de maio de 2003. Disponvel em:
<https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/documentosApoio/documentos-
DeApoio.xhtml> Acesso em: 11 out. 2010.
CARONE, E. Movimento operrio no Brasil (1877-1944). So Paulo: Difel, 1979.
DONADON, J. O benefcio de aposentadoria especial aos segurados do regime geral
de previdncia social que trabalham sujeitos a agentes nocivos: origem, evoluo
e perspectivas. Monograa, (Especializao) Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Braslia, 2003.
MACHADO, J; SORATTO, L; CODO, W. Sade e trabalho no Brasil: uma
revoluo silenciosa: o NTEP e a Previdncia Social. Rio de Janeiro: Vozes, 2010.
MDICI, A. (Org). Memria dos 70 anos: Sindicato dos Qumicos do ABC. So
Bernardo do Campo: MP, 2008.
MINISTRIO DA PREVIDNCIA SOCIAL. FAP contribui para reduzir custo
Brasil. Notcia da Assessoria de Comunicao de 4 nov. 2009. Disponvel em:
<www.previdencia.gov.br>.
MINISTRIO DA PREVIDNCIA SOCIAL. Secretaria de Previdncia Social.
Panorama de la previsin social brasilea. Braslia: MPS/SPS, 2008. 80 p.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO; MINISTRIO DA PREVI-
DNCIA SOCIAL. Anurio Estatstico de Acidentes do Trabalho 2007. Braslia:
MTE: MPS, 2008. v. 1.
88
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
PIMENTEL, J. B. Aplicao do FAP traz nova perspectiva de desenvolvimento
sustentvel. Revista de Direito Previdencirio, Florianpolis, Conceito Editorial,
ano I, p. 11-19, 2010.
PINA RIBEIRO, H; LACAZ, F. C. L (Org). De que adoecem e morrem os trabal-
hadores. So Paulo: IMESP, 1984. 236 p.
REBOUAS, A. J; LACAZ, A. F.; TODESCHINI, R. et al. Insalubridade: morte
lenta no trabalho. So Paulo: Obor, 1989. 224 p.
SCHWARZER, H. (Org). Previdncia social: reexes e desaos. Braslia: MPS,
2009. (Coleo Previdncia Social, Srie Estudos, 1. ed., v. 30.).
TODESCHINI, R. Gesto da previdncia pblica e fundos de penso: a participa-
o da comunidade. So Paulo: LTr, 2000.
TODESCHINI, R; CODO, W. O novo seguro de acidente e o novo FAP. So
Paulo: Ltr, 2009.
TODESCHINI, R; LINO, D. A importncia social do NTEP e a busca de inte-
grao das polticas pblicas de segurana e sade do trabalhador. In: MACHA-
DO, J; SORATTO, L.; CODO, W. Sade e trabalho no Brasil: uma revoluo
silenciosa: o NTEP e a Previdncia Social. Rio de Janeiro: Vozes, 2010.
CAPTULO 3
MINISTRIO DA SADE: A INSTITUCIONALIDADE DA SADE DO
TRABALHADOR NO SISTEMA NICO DE SADE
Carlos Augusto Vaz de Souza
Jorge Mesquita Huet Machado
1 INTRODUO
1.1 A sade do trabalhador antes da criao do Sistema nico de Sade
A partir dos anos 1970 e durante toda a dcada de 1980, o Brasil passa por um
processo de redemocratizao e, neste contexto, o Movimento da Reforma Sani-
tria prope uma nova concepo de Sade Pblica para o conjunto da sociedade
brasileira que incluiu a Sade do Trabalhador como campo de prticas institucio-
nais no Sistema nico de Sade (SUS) (BRASIL, 2006a).
O modelo proposto inclui a participao dos trabalhadores na gesto e nas
aes desenvolvidas, enfatiza as aes de vigilncia e de educao em sade e
amplamente discutido na 1
a
Conferncia Nacional de Sade dos Trabalhadores
em dezembro de 1986, organizada em seguimento da 8
a
Conferncia Nacional
de Sade, que estabelece os princpios de equidade, integralidade, universalidade,
descentralizao e hierarquizao das aes do SUS, bem como relaciona forte-
mente Sade e Democracia. A 1
a
Conferncia Nacional de Sade dos Trabalha-
dores teve a participao de representaes de vinte estados e redundou em ampla
adeso dos sindicatos ao projeto de construo do SUS (SANTANA e SILVA,
2009). Reforou-se a ideia da Sade como direito e foi proposta a elaborao
de uma Poltica Nacional de Sade do Trabalhador (PNST) que representasse
alternativa ao modo de ateno sade existente, tendo como referncia um
diagnstico da situao de sade (SANTANA e SILVA, 2009).
Nesse processo poltico social surgiram alguns servios de ateno sa-
de do trabalhador em Secretarias de Sade de alguns estados e municpios, os
quais realizavam aes de assistncia, de vigilncia e de formao/capacitao
de pessoal.
90
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Em So Paulo so estabelecidos os Programas de Sade do Trabalhador
(PST) em vrios escritrios regionais da Secretaria de Estado da Sade, em ar-
ticulao com o movimento sindical e com a cooperao internacional entre o
Brasil e a Itlia.
Ao nal dos anos 1980 so desenvolvidas experincias similares nas secreta-
rias de sade de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, que passam a compor um
cenrio do marco inicial da sade do trabalhador no SUS e estabelecem as bases
da discusso sobre o tema sade do trabalhador no perodo pr-Constituio
Federal de 1988.
1.2 A criao do SUS e a incorporao da sade do trabalhador como campo
de atuao
O marco legal referencial do processo de criao do SUS a promulgao da
Constituio Federal em 1988, a qual que expressa em seu Artigo 196
o
que: a
sade um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante polticas
sociais e econmicas (BRASIL, 1988), e em seu Artigo 198
o
que: As aes e
servios pblicos de sade integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema nico (BRASIL, 1988).
A Sade do Trabalhador evidenciada na Constituio, em seu Artigo 200
o
,
quando este dene que ao SUS compete executar as aes de sade do trabalha-
dor e colaborar na proteo do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho
(BRASIL, 1988).
Em decorrncia do denido constitucionalmente, estabelecida a Lei
Orgnica da Sade (LOS Lei Federal n
o
8.080, de 19 de setembro de 1990),
que rearma a Sade do Trabalhador como integrante do campo de atuao do
SUS e regulamenta os dispositivos constitucionais sobre a Sade do Trabalhador
(BRASIL, 1990a).
Assim, na LOS, em seu Artigo 6
o
, pargrafo 3
o
, entende-se por Sade do
Trabalhador:
um conjunto de atividades que se destina, atravs das aes de vigilncia
epidemiolgica e vigilncia sanitria, promoo e proteo da sade dos
trabalhadores, assim como visa recuperao e reabilitao da sade
dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condies de
trabalho, abrangendo:
I. assistncia ao trabalhador vtima de acidentes de trabalho ou portador de do-
ena prossional e do trabalho;
II. participao, no mbito de competncia do SUS, em estudos, pesquisas, ava-
liao e controle dos riscos e agravos potenciais sade existentes no processo
de trabalho;
91
Ministrio da Sade: a institucionalidade da sade do trabalhador no sistema nico de sade
III. participao, no mbito de competncia do SUS, da normatizao, scaliza-
o e controle das condies de produo, extrao, armazenamento, trans-
porte, distribuio e manuseio de substncias, de produtos, de mquinas e de
equipamentos que apresentam riscos sade do trabalhador;
IV. avaliao do impacto que as tecnologias provocam sade;
V. informao ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e a empresas
sobre os riscos de acidente de trabalho, doena prossional e do trabalho,
bem como os resultados de scalizaes, avaliaes ambientais e exames de
sade, de admisso, peridicos e de demisso, respeitados os preceitos da tica
prossional;
VI. participao na normatizao, scalizao e controle dos servios de sade do
trabalhador nas instituies e empresas pblicas e privadas;
VII. reviso peridica da listagem ocial de doenas originadas no processo de tra-
balho, tendo na sua elaborao a colaborao das entidades sindicais;
VIII. a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao rgo competente a
interdio de mquina, de setor de servio ou de todo ambiente de trabalho,
quando houver exposio a risco iminente para a vida ou sade dos trabalha-
dores (BRASIL, 1990a).
muito importante destacar que a incorporao do tema sade do tra-
balhador no mbito do SUS, trazida pela Constituio Federal de 1988 e pela
LOS, expressa, principalmente, a necessidade de que o setor sade no se limite a
receber os acidentados e adoecidos no trabalho, mas sim se dedique a desenvolver
aes de promoo e vigilncia que transformem os processos e os ambientes de
trabalho que impactam negativamente na sade da populao.
2 INSERO INSTITUCIONAL DA SADE DO TRABALHADOR
NO MINISTRIO DA SADE
A sade do trabalhador no Ministrio da Sade teve insero inicial na vigilncia
sanitria e passou pela assistncia sade, antes de se estabilizar na Secretaria de
Polticas de Sade (SPS), em 1998, como rea Tcnica de Sade do Trabalhador
(VASCONCELLOS, 2007).
No ano de 1999 foi criada uma Assessoria de Sade Ocupacional na ento
Secretaria de Assistncia Sade, que mais tarde teve o nome alterado para Asses-
soria Tcnica de Sade do Trabalhador. Assim, por alguns anos, o Ministrio da
Sade conviveu com a inslita situao de ter duas reas de sade do trabalhador
na sua estrutura, com perspectivas diferenciadas, inclusive pelas prprias carac-
tersticas e funes das secretarias, e pouco articuladas em relao formulao e
implementao da PNST, sendo marcante at 2002 o predomnio da conduo
92
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
da Poltica pela rea Tcnica de Sade do Trabalhador da SPS (VASCON-
CELLOS, 2007).
Essa situao perdurou at o incio de 2003, quando a SPS e a Secretaria de
Assistncia Sade se fundiram, transformando-se em uma nica e nova secreta-
ria, a Secretaria de Ateno Sade (SAS), com uma nica rea Tcnica de Sade
do Trabalhador (COSAT) (VASCONCELLOS, 2007).
Em 2007, a Portaria GM/MS n
o
1.956, de 14 de agosto, trouxe importante
mudana de localizao institucional da rea Tcnica de Sade do Trabalhador
no Ministrio da Sade, ao denir que a gesto e a coordenao das aes relativas
Sade do Trabalhador passassem a ser exercidas pela Secretaria de Vigilncia em
Sade (SVS) (BRASIL, 2007).
A insero da Sade do Trabalhador na esfera nacional da gesto na SVS
refora a abrangncia das aes de vigilncia, promoo, preveno e controle
de doenas e agravos sade, constituindo espao de articulao de conheci-
mentos e tcnicas da epidemiologia e de diversas disciplinas, de prticas dos
prossionais e dos saberes e das experincias dos trabalhadores. Esta concepo
pretende estabelecer uma dinmica entre preveno e assistncia e uma nfase
na promoo da sade, como proposta transformadora da Reforma Sanitria
em constante movimento.
A nova insero da Sade do Trabalhador no Ministrio da Sade se consoli-
da com a publicao do Decreto n
o
6.860, de 27 de maio de 2009, que formaliza
a Coordenao-Geral de Sade do Trabalhador (CGSAT), no interior do Depar-
tamento de Vigilncia em Sade Ambiental e Sade do Trabalhador (DSAST) da
SVS, cabendo Secretaria a coordenao da gesto da PNST (BRASIL, 2009a).
3 A IMPLEMENTAO DA SADE DO TRABALHADOR NO SUS
NA DCADA DE NOVENTA
Com a promulgao da Constituio Federal de 1988 e da LOS, iniciou-se o
processo de disseminao institucional da Sade do Trabalhador no SUS com a
expanso dos PST e dos Centros de Referncia em Sade do Trabalhador ante-
riormente existentes (SANTANA e SILVA, 2009).
No ano de 1998 publicaram-se as Portarias GM/MS n
o
3.120, de 1
o
de
julho (Instruo Normativa de Vigilncia em Sade do Trabalhador) (BRASIL,
1998a), e n
o
3.908, de 30 de outubro (Norma Operacional de Sade do Traba-
lhador) (BRASIL, 1998b), que contriburam para a organizao da vigilncia e
demais aes nos servios de sade do trabalhador nas diversas esferas de gesto
do SUS. Com o objetivo de melhorar a qualidade do registro e do reconheci-
mento das doenas relacionadas ao trabalho, o Ministrio da Sade publicou a
93
Ministrio da Sade: a institucionalidade da sade do trabalhador no sistema nico de sade
Portaria GM/MS n
o
1.339, de 18 de novembro de 1999, instituindo a lista destas
patologias (SANTANA e SILVA, 2009).
Um instrumento complementar e pensado para dar sustentao ao processo
de reconhecimento das doenas relacionadas ao trabalho no SUS foi o manual
Doenas relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os servios
de sade, publicado pelo Ministrio da Sade em 2001 (MINISTRIO DA
SADE DO BRASIL e ORGANIZAO PAN-AMERICANA DA SADE
NO BRASIL, 2001).
Uma avaliao dos servios de sade do trabalhador no SUS realizada em
2001-2002 apontava a existncia de cerca de setenta experincias em funciona-
mento e cerca de cento e oitenta servios registrados nos cadastros do Ministrio
da Sade durante o perodo de 1994 a 2001 (LACAZ, MACHADO e FIRPO,
2002), delineando um cenrio do perodo pr-instituio da Rede Nacional de
Ateno Integral Sade do Trabalhador (RENAST), que indica uma primeira
disseminao de servios estaduais de sade do trabalhador e de experincias re-
gionais e municipais concentradas nas regies Sudeste e Sul.
Destaca-se ainda como referncia desse perodo a centralidade dos estados
como indutores das aes de sade do trabalhador, podendo ser citados como
exemplos desse movimento o incentivo criao de programas municipais pela
Coordenao Estadual de Sade do Trabalhador do Rio de Janeiro desde 1988,
bem como a organizao da Conferncia Estadual de Sade do Trabalhador do
Rio Grande do Sul, realizada em 2002, com a participao de 30 mil pessoas de
todos os municpios do estado, com uma plenria estadual com trs mil pessoas e
discusso de onze temas indicados pelas conferncias regionais.
4 RENAST: CRIAO E ESTRUTURAO
A RENAST
1
foi criada em 2002 por meio da Portaria GM/MS n
o
1.679, de 19
de setembro (BRASIL, 2002a).
A instituio da RENAST, enquanto principal estratgia para a consolida-
o da implementao da Poltica Nacional de Sade do Trabalhador, se deu a
partir da necessidade de fortalecer a articulao, no mbito do SUS, das aes de
promoo, preveno, proteo, vigilncia e recuperao da sade dos trabalha-
dores urbanos e rurais, independentemente do vnculo empregatcio e do tipo de
insero no mercado de trabalho; e a ateno integral sade do trabalhador, com
suas especicidades, que deve ser objeto de todos os servios de sade, consoante
1. Ressalta-se que a proposta formalizada pela Portaria GM/MS n
o
1.679/02 foi formulada originalmente pela
Assessoria Tcnica de Sade do Trabalhador da Secretaria de Assistncia Sade do Ministrio da Sade (VASCON-
CELLOS, 2007).
94
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
com os princpios do SUS de equidade, integralidade e universalidade. A RENAST
tambm apresenta como objetivo a articulao de aes intersetoriais, buscando o
estabelecimento de relaes com outras instituies e rgos pblicos e privados,
como universidades e instituies de pesquisa (SANTANA e SILVA, 2009).
A organizao da RENAST obedece aos princpios de descentralizao,
hierarquizao de servios e regionalizao. Com grande nfase neste ltimo,
cuja formatao considera o Plano Diretor de Regionalizao (PDR) nos esta-
dos, onde os municpios devem desempenhar atividades relacionadas sade do
trabalhador, em seus diferentes graus de incorporao tecnolgica, preservando
a economia de escala tanto no campo da vigilncia, como no da assistncia ,
denida em funo das atividades econmicas locais e regionais, da concentrao
de trabalhadores e da construo das linhas de cuidado de acordo com a capaci-
dade instalada do SUS.
O eixo integrador da RENAST a rede regionalizada de Centros de Refe-
rncia em Sade do Trabalhador (CERESTs), constituda por Centros estaduais
localizados em cada uma das capitais, e regionais, de gesto estadual ou munici-
pal de acordo com a denio do estado, localizados em regies metropolitanas
e municpios sede de plos de assistncia das regies e microrregies de sade,
com a atribuio de dar suporte tcnico e cientco s intervenes do SUS no
campo da sade do trabalhador, integradas, no mbito de uma determinada re-
gio, com a ao de outros rgos pblicos (BRASIL, 2002a). A Portaria GM/
MS n
o
1.679/2002 previu a implantao de 130 CERESTs, sendo 27 estaduais
(BRASIL, 2002a). Ainda no nal de 2002 foram habilitados os primeiros 17
CERESTs; entretanto, as primeiras liberaes de recursos federais ocorreram so-
mente a partir do ano de 2003.
Um dos importantes avanos trazidos pela RENAST foi a garantia de um -
nanciamento federal sistemtico para as aes de sade do trabalhador, traduzido
nos recursos repassados aos estados e municpios para a habilitao e manuteno
mensal dos CERESTs. No caso dos CERESTs estaduais e CERESTs regionais de
gesto estadual, os recursos so repassados do Fundo Nacional para o Fundo Esta-
dual de Sade, e no caso dos CERESTs regionais de gesto municipal os recursos
so repassados do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Sade (BRASIL,
2002a, 2005a).
As prticas dos Centros so signicativamente diferenciadas entre si, em
funo de aspectos como o perl produtivo, os estgios de estruturao do SUS
e de mobilizao dos atores sociais em cada regio. Mas todos eles desenvolvem
aes de promoo da sade, de preveno, de vigilncia dos ambientes de traba-
lho, de assistncia, incluindo diagnstico, tratamento e reabilitao, de capacita-
o de recursos humanos e de orientao aos trabalhadores. Partes importantes
95
Ministrio da Sade: a institucionalidade da sade do trabalhador no sistema nico de sade
destas aes so realizadas pelos CERESTs, e outras aes desenvolvem-se nos
diversos pontos da rede de ateno sade do SUS (SANTANA; SILVA, 2009).
A necessidade da articulao das aes de sade do trabalhador em toda a
rede de ateno do SUS est presente na Portaria GM/MS n
o
1.679/02, sendo re-
ferncias expressas para a estruturao da RENAST a organizao e a implantao
de aes na rede de Ateno Bsica, no Programa de Sade da Famlia (PSF) e na
rede assistencial de mdia e alta complexidade do SUS (BRASIL, 2002a).
Um importante instrumento para a implantao das aes de sade do tra-
balhador na Ateno Bsica foi publicado em 2001: o volume 5 dos Cadernos
de Ateno Bsica, voltado o setor (BRASIL, 2001), atualmente em processo de
reviso/atualizao.
Em 6 de julho de 2005, com base em documento da PNST elaborado em
2004, foi publicada a Portaria GM/MS n
o
1.125, que trouxe as seguintes dire-
trizes da Poltica, as quais vm norteando o desenvolvimento das aes do SUS
nesse campo desde ento:
I. ateno integral sade dos trabalhadores: promoo de ambientes e
processos de trabalho saudveis; fortalecimento da vigilncia de ambientes,
processos e agravos relacionados ao trabalho; assistncia integral sade dos
trabalhadores; adequao e ampliao da capacidade institucional;
II. estruturao de rede de informaes em Sade do Trabalhador;
III. articulao intra e intersetorial;
IV. apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas;
V. desenvolvimento e capacitao de recursos humanos; e
VI. participao da comunidade na gesto das aes em Sade do Trabalhador
(BRASIL, 2005b).
Nesse mesmo ano publicada a Portaria GM/MS n
o
2.437, de 7 de dezembro,
que trata da ampliao da RENAST, a ser cristalizada pela adequao e ampliao
da rede de CERESTs; pela incluso das aes de sade do trabalhador na ateno
bsica, por meio da denio de protocolos e do estabelecimento de linhas de
cuidado e outros instrumentos que favoream a integralidade; pela efetivao das
aes de promoo e vigilncia em sade do trabalhador; pela instituio e indicao
de servios de sade do trabalhador de retaguarda, de mdia e alta complexidade,
que conguram a Rede de Servios Sentinela em Sade do Trabalhador; e pela
caracterizao dos Municpios Sentinela em Sade do Trabalhador (BRASIL,
2005a, 2009b).
Em relao rede de CERESTs, na Portaria GM/MS n
o
2.437/05 foi esta-
belecido o aumento de 130 para 200 centros, estabelecendo-se recursos adicionais
96
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
e novos valores do incentivo para implantao e do repasse mensal, que corres-
pondem a R$ 50 mil mensais, em parcela nica, quando da implantao, e repas-
ses mensais de R$ 30 mil para os centros regionais e R$ 40 mil para os centros
estaduais (BRASIL, 2005a). Estes so os valores de repasses vigentes.
Quanto necessidade de estruturao da Rede de Servios Sentinela em
Sade do Trabalhador, ressalta-se como marco institucional a Portaria GM/MS
n
o
777, de 28 de abril de 2004, que disps sobre os procedimentos tcnicos para
a noticao compulsria de agravos sade do trabalhador em rede de ser-
vios sentinela especca, no SUS. Foram estabelecidos onze agravos para no-
ticao compulsria: Acidente de Trabalho Fatal; Acidentes de Trabalho com
Mutilaes; Acidente com Exposio a Material Biolgico; Acidentes de Trabalho
em Crianas e Adolescentes; Dermatoses Ocupacionais; Intoxicaes Exgenas
(por substncias qumicas, incluindo agrotxicos, gases txicos e metais pesados);
Leses por Esforos Repetitivos (LER)/Distrbios Osteomusculares Relaciona-
dos ao Trabalho (DORT); Pneumoconioses; Perda Auditiva Induzida por Rudo
(PAIR); Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho; e Cncer Relacionado ao
Trabalho (BRASIL, 2004a).
Cabe ento Rede de Servios Sentinela em Sade do Trabalhador, constituda
basicamente por servios de ateno bsica, mdia e alta complexidade e hospitais
de referncia para o atendimento de urgncia e emergncia, o atendimento, o
diagnstico e a noticao dos agravos sade do trabalhador considerados
prioritrios pelo Sistema de Informao de Agravos de Noticao (Sinan-NET)
(BRASIL, 2004a). Os CERESTs, enquanto estruturas das Secretarias Estaduais
e Municipais de Sade de apoio tcnico especializado para toda a rede do SUS,
tm um importante papel a desempenhar na capacitao das unidades de sade
componentes da Rede de Servios Sentinela em Sade do Trabalhador nos estados
e municpios.
Para auxiliar a operacionalizao da identicao desses agravos de noticao
compulsria, foram elaborados e publicados, em 2006, os seguintes protocolos de
procedimentos: Anamnese Ocupacional; Noticao de Acidentes de Trabalho
Fatais Graves e com Crianas e Adolescentes; Ateno Sade dos Trabalhadores
Expostos ao Chumbo Metlico; PAIR; Pneumoconioses; Risco Qumico Ateno
Sade dos Trabalhadores Expostos ao Benzeno; Cncer Relacionado ao Trabalho
Leucemia Mielide Aguda/Sndrome Mielodisplsica Decorrente da Exposio ao
Benzeno; e Dermatoses Ocupacionais (BRASIL, 2006b).
A partir do nal de 2008 iniciado um processo de reviso parcial da Portaria
da RENAST (n
o
2.437/2005), com foco na adequao ao Pacto pela Sade,
estabelecido pela Portaria GM/MS n
o
399, de 22 de fevereiro de 2006 (BRASIL,
2006c), e desde ento consolidado como o principal instrumento de articulao
97
Ministrio da Sade: a institucionalidade da sade do trabalhador no sistema nico de sade
entre as esferas de gesto do SUS e destas com a sociedade. Em consonncia
com o carter de articulao das esferas federal, estadual e municipal do SUS,
ressalta-se a construo coletiva da proposta de reviso envolvendo a SVS/
MS, o Conselho Nacional de Secretrios de Sade (CONASS), representando
as Secretarias Estaduais de Sade, e o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Sade (CONASEMS), que igualmente atende busca do reforo
do comprometimento dos gestores, principalmente dos gestores locais, que
fundamental para a efetivao de toda poltica pblica e mais essencial ainda na
Sade e na Sade do Trabalhador.
Em novembro de 2009 publicada a nova Portaria da RENAST, a de n
o
2.728, que substitui a Portaria GM/MS n
o
2.437/05, com a devida adequao
aos compromissos estabelecidos no Pacto pela Sade, em especial ao Pacto pela
Gesto, e aos instrumentos do sistema de planejamento do SUS. Neste sentido,
reforada a necessidade de que as aes em sade do trabalhador e as respectivas
destinaes de recursos devam estar inseridas expressamente nos Planos de
Sade nacional, estaduais, distritais e municipais e nas respectivas Programaes
Anuais de Sade, e posteriormente demonstradas no Relatrio Anual de Gesto
(BRASIL, 2009b).
Uma alterao trazida pela Portaria GM/MS n
o
2.728/09 foi a possibilidade
de habilitao de CERESTs municipais, permitida apenas para municpios com
uma populao mnima de 500 mil habitantes (BRASIL, 2009b). At o momento
no houve solicitao de habilitao nesta modalidade.
A Portaria GM/MS n
o
2.728/09 ser complementada pela publicao de
um novo Manual de Gesto da RENAST, que revise e atualize o primeiro Manual
de Gesto e Gerenciamento da Rede, editado em 2006 (BRASIL, 2006a).
No processo de instituio da RENAST de 2002 a 2010 houve uma
disseminao de CERESTs em todas as Unidades Federativas (grco 1 e tabela 1)
e uma relativa homogeneidade na distribuio do nmero de CERESTs por
regio (tabela 2).
98
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
FIGURA 1
Nmero de CERESTs habilitados por regio (2002 a agosto de 2010)
Fonte: CGSAT/DSAST/SVS/MS.
Nesse perodo foram habilitados 181 CERESTs, sendo 26 estaduais (ape-
nas o estado de Sergipe optou por no habilitar CEREST estadual) e 155 regio-
nais. Encontra-se em tramitao a habilitao de oito CERESTs regionais, sendo
cinco no estado do Rio de Janeiro, um no Par, um em Roraima e um no Rio
Grande do Sul.
Em termos nanceiros, considerando os valores de manuteno recebidos
pelos centros, esto sendo repassados mensalmente rede de CERESTs em torno
de R$ 5,5 milhes.
99
Ministrio da Sade: a institucionalidade da sade do trabalhador no sistema nico de sade
TABELA 1
Distribuio dos CERESTs por regies e estados, conforme Portarias GM/MS
n
o
2.437/05 e n
o
2.728/09
Regies/Estados
CERESTs habilitados at agosto de
2010
CERESTs a serem habilitados Total
NORTE 16 3 19
Rondnia 2 - 2
Acre 1 1 2
Amazonas 3 - 3
Roraima 1 1 2
Amap 2 - 2
Par 4 1 5
Tocantins 3 - 3
NORDESTE 56 - 56
Maranho 5 - 5
Piau 4 - 4
Cear 8 - 8
Rio Grande do Norte 4 - 4
Paraba 4 - 4
Pernambuco 9 - 9
Alagoas 4 - 4
Sergipe 3 - 3
Bahia 15 - 15
SUDESTE 72 10 82
Esprito Santo 3 2 5
Minas Gerais 17 2 19
Rio de Janeiro 10 6 16
So Paulo 42 - 42
SUL 23 6 29
Paran 6 4 10
Santa Catarina 7 - 7
Rio Grande do Sul 10 2 12
CENTRO-OESTE 14 - 14
Mato Grosso 3 - 3
Mato Grosso do Sul 3 - 3
Gois 5 - 5
Distrito Federal 1 - 3
TOTAL 181 19 200
Fonte: BRASIL (2005a, 2009b); CGSAT/DSAST/SVS/MS.
Vale ressaltar a concentrao dos CERESTs na regio Sudeste um total de
72 , que corresponde a 39,8% deles em todo o pas. O estado de So Paulo possui
o maior nmero, so 42 CERESTs habilitados (23,3% do total). Em segundo
lugar, est a regio Nordeste, com 56 CERESTs habilitados (30,9% do total).
As regies Centro-Oeste e Norte apresentam os menores nmeros absolutos de
CERESTs, situao correspondente concentrao populacional das regies.
100
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Apesar desse aspecto de proporcionalidade entre a distribuio dos centros e
a populao das Unidades da Federao, possvel considerar que a implantao
da Rede de CERESTs, enquanto componente da RENAST, redesenha o mapa
das desigualdades regionais na oferta de servios em sade do trabalhador (SAN-
TANA e SILVA, 2009, p. 191), na busca de uma distribuio adequada, com um
pequeno vis de maior oferta para o Nordeste, regio tradicionalmente com piores
indicadores de sade (SANTANA e SILVA, 2009).
GRFICO 1
Nmero de CERESTs habilitados por regio (2002 a agosto de 2010)
Fonte: CGSAT/DSAST/SVS/MS.
TABELA 2
Nmero de CERESTs estaduais e regionais, por regies, e ndice de concentrao de
CERESTs por milho de Populao Economicamente Ativa Ocupada (at dezembro
de 2009)
Regio
Nmero de CERESTs habilitados na RENAST
CERESTs/106 PEA
Ocupada
Regio
Nmero de CERESTs habilitados
na RENAST
CERESTs/106 PEA
Ocupada
Sul 3 20 23 1,58
Sudeste 4 68 72 1,88
Centro-Oeste 4 10 14 2,18
Norte 7 10 17 2,54
Nordeste 8 46 54 2,30
Total 26 154 180 2,01
Fonte: CGSAT/DSAST/SVS/MS. PEA Ocupada de 2006 (IBGE).
101
Ministrio da Sade: a institucionalidade da sade do trabalhador no sistema nico de sade
Os nmeros relativos, considerando-se o tamanho da Populao Econo-
micamente Ativa Ocupada (PEA) por regio, demonstram em termos gerais
uma situao relativamente homognea de distribuio de CERESTs para o
pas, com variao de 2,54 CERESTs/106 de PEA Ocupada na regio Norte
regio com o menor nmero de CERESTs e 1,58 CERESTs/106 de PEA
Ocupada na regio Sul.
Esse processo de implantao da RENAST de 2002 a 2010 congura-se
na principal estratgia do SUS no campo da sade do trabalhador nesse pero-
do, marcado inicialmente por uma vertente assistencial dos servios de sade do
trabalhador (VASCONCELLOS, 2007), existindo em 2005, com a portaria de
ampliao da Rede, uma tentativa de corrigir esse rumo ao adotar a vigilncia
epidemiolgica dos agravos relacionados ao trabalho como eixo estruturante, via
denio de Rede Sentinela e relao com a Ateno Bsica.
A racionalidade enfocando a vigilncia em sade do trabalhador ganha
maior destaque nos dois ltimos anos no processo de discusso da PNST e do
Manual da RENAST, em contexto reforado pela Portaria GM/MS n
o
3.252, de
22 de dezembro de 2009, que aprova as diretrizes para execuo e nanciamento
das aes de Vigilncia em Sade pela Unio, estados, Distrito Federal e munic-
pios (BRASIL, 2009c).
Nessa portaria, a vigilncia da sade do trabalhador incorporada como
componente da Vigilncia em Sade, com a seguinte formulao:
Vigilncia da sade do trabalhador visa promoo da sade e reduo da
morbimortalidade da populao trabalhadora, por meio da integrao de aes que
intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desen-
volvimento e processo produtivos (BRASIL, 2009c).
A Portaria GM/MS n
o
3.252/09 tambm traz como importantes diretrizes/
desaos, na direo da construo da integralidade da ateno sade da popu-
lao, a consolidao de uma Vigilncia em Sade integrada, a partir dos seus
diversos componentes promoo da sade, vigilncia epidemiolgica, vigilncia
da situao de sade, vigilncia em sade ambiental, vigilncia da sade do tra-
balhador e vigilncia sanitria , e a integrao entre a Vigilncia em Sade e a
Ateno Primria Sade (denominao mais atual da Ateno Bsica) (BRASIL,
2009c). importante destacar que esse caminho tem sido percorrido pela Sade
do Trabalhador nos ltimos anos, em processos que trazem avanos, mas necessi-
tam de permanente aperfeioamento.
Recentemente, a insero da vigilncia da sade do trabalhador na Vigiln-
cia em Sade teve mais um momento de materializao, com a incluso das do-
enas e agravos prioritrios relacionados sade do trabalhador na Portaria GM/
102
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
MS n
o
2.472, de 31 de agosto de 2010, que unica a relao de doenas, agravos e
eventos em sade pblica de noticao compulsria em todo o territrio nacio-
nal. As intoxicaes exgenas (por substncias qumicas, incluindo agrotxicos,
gases txicos e metais pesados) passaram a fazer parte do anexo I, que traz a lista
de noticao compulsria em toda a rede pblica e privada de sade. Os demais
agravos e doenas constantes da Portaria GM/MS n
o
777/2004, revogada pela
Portaria GM/MS n
o
2.472/2010, esto no anexo III, que traz a lista de notica-
o compulsria em unidades sentinelas (BRASIL, 2010).
5 A PARTICIPAO SOCIAL NO SUS E NA SADE DO TRABALHADOR
Em relao ao controle social do SUS, a Lei Federal n
o
8.080/90 contemplou a
criao de comisses intersetoriais de mbito nacional, subordinadas ao Con-
selho Nacional de Sade (CNS), a serem integradas pelos ministrios e rgos
competentes e por entidades representativas da sociedade civil, tendo como
nalidade a articulao de polticas e programas de interesse para a sade,
cuja execuo envolva reas no compreendidas no mbito do SUS (BRASIL,
1990a). Este enunciado de articulao de polticas pblicas bastante impor-
tante para o SUS, a partir do conceito ampliado de sade, e em especial para a
sade do trabalhador, que apresenta interfaces claras com reas governamentais
como Trabalho e Previdncia Social, estas as mais diretamente relacionadas,
alm de outras, como por exemplo, Meio Ambiente, Educao, Agricultura,
Indstria e Comrcio, Minas e Energia. Assim, a sade do trabalhador foi indi-
cada na LOS como uma das reas a serem objeto de trabalho de uma comisso
intersetorial (BRASIL, 1990a). A Comisso Intersetorial de Sade do Trabalha-
dor (CIST) do CNS foi instituda por meio da Resoluo CNS n
o
11, de 31 de
outubro de 1991 (CNS, 1991).
No entanto, os aspectos mais importantes relativos ao controle social do
SUS, vetados quando da promulgao da Lei Federal n
o
8.080/1990, foram es-
tabelecidos na Lei Federal n
o
8.142, de 28 de dezembro de 1990, que trata da
participao da comunidade na gesto do SUS e das transferncias intergover-
namentais de recursos nanceiros na rea da sade (BRASIL, 1990b). Dada a
complementaridade de ambas as leis, elas costumam ser denominadas conjunta-
mente de Leis Orgnicas da Sade (BRASIL, 2005c). Assim, no nal do ano de
1990, cam denidas as fundamentais instncias colegiadas de controle social
do SUS: Conferncia de Sade e Conselho de Sade (BRASIL, 1990b). A Con-
ferncia de Sade, a ser realizada a cada quatro anos, tem o papel de avaliar a si-
tuao de sade e propor as diretrizes para a formulao da poltica de sade nas
esferas de gesto correspondentes (BRASIL, 1990b). Por sua vez os Conselhos
de Sade, de carter permanente e deliberativo, constituem-se como colegiados
compostos por representantes do governo, prestadores de servio, prossionais
103
Ministrio da Sade: a institucionalidade da sade do trabalhador no sistema nico de sade
de sade e usurios, que tm o dever de formular estratgias e controlar a exe-
cuo da poltica de sade, inclusive nos aspectos econmicos e nanceiros, na
esfera correspondente (BRASIL, 1990b).
Conforme mencionado anteriormente, a 1
a
Conferncia Nacional de Sade
dos Trabalhadores aconteceu no ano de 1986.
Em 1994 realizou-se a 2
a
Conferncia Nacional de Sade do Trabalhador,
coordenada pelos Ministrios da Sade e do Trabalho, com ampla participao
de representantes de quase todas as Unidades Federativas, e em seu debate ca
denida a municipalizao como estratgia de universalizao das aes de sade
do trabalhador, o que evidenciado posteriormente (BRASIL, 2002b). A cons-
truo da PNST continuou sendo tema de discusso, com a incluso de questes
relacionadas ao meio ambiente (SANTANA e SILVA, 2009). Outras propostas
importantes incluram a unicao das aes de sade do trabalhador no SUS, a
superao da dicotomia preveno e cura e a adoo de processos paritrios entre
Estado e trabalhadores na tomada de deciso (SANTANA e SILVA, 2009).
Aps um hiato de onze anos, foi realizada em 2005 a 3
a
Conferncia Nacio-
nal de Sade do Trabalhador (CNST), convocada pelos Ministrios da Sade, da
Previdncia Social e do Trabalho e Emprego, uma importante sinalizao poltica
de aproximao intersetorial, resultado tambm do Grupo de Trabalho Intermi-
nisterial (GTI) institudo no ano anterior. Ao longo do processo de realizao
da 3
a
CNST foram realizadas mais de mil e duzentas Conferncias Municipais,
Regionais (Microrregionais) e Estaduais, em todas as Unidades da Federao, en-
volvendo mais de 100 mil pessoas, e a etapa nacional aconteceu em Braslia no
perodo de 24 a 27 de novembro, com a participao de mais de 4 mil pessoas
e aprovao de 344 resolues (BRASIL, 2010). A Conferncia teve como lema
Trabalhar, sim! Adoecer, no! e trs eixos temticos: i) Como garantir a integra-
lidade e a transversalidade da ao do Estado em sade dos(as) trabalhadores(as)?
ii) Como incorporar a Sade dos(as) trabalhadores(as) nas polticas de desenvol-
vimento sustentvel no pas? iii) Como efetivar e ampliar o controle social em
sade dos(as) trabalhadores(as)? (BRASIL, 2005d).
No ano de 2006 desenvolveu-se o processo indito de devoluo da 3
a
CNST, organizado pela rea Tcnica em Sade do Trabalhador em conjunto
com os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Sade, Secretarias Esta-
duais e Municipais de Sade e outros rgos envolvidos. O processo de devoluo
teve como objetivos: possibilitar uma reexo sobre as resolues da Conferncia
e os mecanismos necessrios sua efetivao nas esferas municipal, estadual e
federal; contribuir para que os estados e municpios denissem suas prioridades
e as estratgias viveis para implement-las tendo em vista as conjunturas locais;
realizar uma discusso local sobre as prioridades, relacionando-as s deliberaes;
104
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
e construir um plano de interveno do controle social em sade do trabalhador.
Foram realizadas plenrias estaduais de devoluo da 3
a
CNST em 23 Unidades
da Federao, e os principais temas que apareceram como prioridades locais fo-
ram: agrotxicos, em 15 plenrias; LER/DORT, em 12; acidentes e adoecimentos
relacionados ao trabalho, em dez; e o que se agrupou como problemas relaciona-
dos ao meio ambiente, em seis (BRASIL, 2010).
A construo e consolidao de espaos de participao social uma ao
contnua do campo institucional da sade do trabalhador, e neste sentido h um
incentivo criao de CISTs nos conselhos estaduais e municipais de sade e de
instncias colegiadas de gesto participativa junto aos servios de sade do traba-
lhador. Um espao importante de discusso na direo do reforo da participao
social na sade do trabalhador tem sido o do Encontro Nacional das CISTs, or-
ganizado em articulao com a Comisso Intersetorial de Sade do Trabalhador
(CIST) do CNS. O primeiro encontro foi realizado em 2007, o segundo em
2009, e o terceiro est agendado para dezembro de 2010.
A CGSAT tem desenvolvido com a Fiocruz um projeto estratgico, o Ob-
servatrio de Sade do Trabalhador,
2
no sentido de ampliar os espaos de debate
e participao dos trabalhadores, que vem sendo gerido em conjunto com as
seis Centrais Sindicais existentes hoje no pas, que elegeram os temas acidentes
de trabalho e a implantao do Nexo Tcnico Epidemiolgico Previdencirio
(NTEP) como prioridades iniciais para o aprofundamento de um debate co-
letivo. Outros processos incentivados pela CGSAT envolvem a formatao de
cursos voltados aos trabalhadores, a cooperao com entidades sindicais para
implantao de aes de vigilncia em sade do trabalhador, parcerias com uni-
versidades e o Projeto Vidas Paralelas,
3
em articulao com o Ministrio da Cul-
tura, que, em conjunto, propem a ampliao dos horizontes de interlocuo
com os trabalhadores.
Assim, nos ltimos anos, apesar de um cenrio geral de diculdades e ten-
ses na relao do SUS com o controle social, prevalece o princpio da participa-
o social, originrio e fundamental da Reforma Sanitria Brasileira e intrinseca-
mente ligado histria de construo da Sade do Trabalhador no SUS.
6 A ARTICULAO INTERSETORIAL
A insero da Sade do Trabalhador como atribuio do setor Sade concretizada
legalmente na Constituio Federal de 1988, paralelamente manuteno dos
papis institucionais do Ministrio do Trabalho e da Previdncia Social, faz com
2. Endereo eletrnico: <http://www.observatoriost.com.br/home.php>.
3. Endereo eletrnico: <http://www.cultura.gov.br/vidasparalelas/>.
105
Ministrio da Sade: a institucionalidade da sade do trabalhador no sistema nico de sade
que a articulao destes trs atores do Estado brasileiro seja permanentemente
desejada, buscada e exercitada.
Esse caminho foi e reforado em todos os momentos em que a sociedade
se organiza para discutir o tema. As Conferncias Nacionais de Sade do Traba-
lhador descritas sucintamente neste captulo so exemplares nesta direo, sendo
tambm frequente e crescente a necessidade do envolvimento de outras reas go-
vernamentais, igualmente j citadas na seo anterior.
No ano de 1993, a demanda social pela articulao das polticas governa-
mentais diretamente relacionadas com a sade do trabalhador teve como resul-
tado a instituio, pela Portaria Interministerial MTb/MS/MPS n
o
18, de 11 de
novembro de 1993, do Grupo Executivo Interinstitucional de Sade do Traba-
lhador (GEISAT), de carter permanente, incumbido de buscar e promover aes
integradoras, harmonizadoras e sinrgicas entre os vrios rgos de execuo e
na implantao concreta das polticas emanadas dos Ministrios do Trabalho, da
Sade e da Previdncia Social e dos respectivos Conselhos Nacionais (BRASIL,
1993). O GEISAT foi objeto de mais duas portarias interministeriais, a MT/MS/
MPAS n
o
7, de 25 de julho de 1997 (BRASIL, 1997), que o instituiu novamente,
revogando a portaria de 1993, e a n
o
1.570, de 29 de agosto de 2002, que esta-
beleceu como responsabilidade do grupo a formulao e o encaminhamento, a
cada dois anos, de um Plano de Ao Conjunta na rea de sade do trabalhador,
bem como a promoo da sua operacionalizao e acompanhamento, ressaltando
a possibilidade de consulta, na elaborao e operacionalizao do Plano, s ins-
tncias de controle social, de pactuao e outras que pudessem contribuir para o
seu aprimoramento e efetividade (BRASIL, 2002c).
Posteriormente, a discusso da intersetorialidade foi retomada com a criao
do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), composto por representantes dos
Ministrios da Previdncia Social, da Sade e do Trabalho e Emprego, atravs
da Portaria Interministerial n
o
153, de 13 de fevereiro de 2004. Os dois princi-
pais objetivos colocados para o grupo de trabalho foram: a) reavaliar o papel, a
composio e a durao do GEISAT; b) elaborar proposta de Poltica Nacional
de Segurana e Sade do Trabalhador, observando as interfaces existentes e aes
comuns entre os diversos setores do Governo (BRASIL, 2004b).
A proposta da Poltica Nacional de Segurana e Sade do Trabalhador
(PNSST), elaborada pelo GTI, foi publicada para ns de Consulta Pblica por
meio da Portaria Interministerial MPS/MS/MTE n
o
800, de 3 de maio de 2005
(BRASIL, 2005e), e discutida, entre outros fruns, na 3
a
Conferncia de Sade
do Trabalhador.
Fica o registro de que o processo de discusso e a busca de formalizao da
PNSST foram descontinuados, sendo retomados apenas em 2008.
106
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Nesse ano, por meio da Portaria Interministerial MPS/MS/MTE n
o
152,
de 13 de maio, foi instituda a Comisso Tripartite de Sade e Segurana no
Trabalho (CT-SST), composta por representantes dos Ministrios da Sade, da
Previdncia Social e do Trabalho e Emprego, centrais sindicais e confederaes de
empregadores, e tendo como competncia principal revisar e ampliar a proposta
da PNSST (BRASIL, 2008), tendo como referncias internacionais a Conven-
o n
o
187 da Organizao Internacional do Trabalho, de junho de 2006 (OIT,
2006), e o Plano de Ao Global em Sade do Trabalhador da Organizao Mun-
dial da Sade, aprovado na 60
a
Assembleia Mundial da Sade ocorrida em 23 de
maio de 2007 (OMS, 2007).
A CT-SST, em sua reunio ordinria de fevereiro de 2010, nalizou a
nova proposta de Poltica, agora denominada Poltica Nacional de Segurana
e Sade no Trabalho (PNSST). O decreto de publicao da PNSST aguarda
sano presidencial.
7 CONSIDERAES FINAIS
Todas as iniciativas e instrumentos legais relacionados caracterizam um momento
no mbito institucional em que h um amplo reconhecimento e a formalizao
jurdica da pertinncia da insero do campo da sade do trabalhador no SUS.
So rearmadas as suas diretrizes e revigora-se a concepo da vigilncia como
eixo organizador do modelo de ateno integral vigente.
Encontra-se demarcado que as aes de sade do trabalhador devem estar
inseridas em todos os nveis de ateno sade, em consonncia com a anlise/
vigilncia da situao de sade e balizada pelo reconhecimento da sua determi-
nao social.
Existe tambm o reconhecimento de que a criao, a ampliao e a atualiza-
o da RENAST representaram o fortalecimento da PNST, tendo sido reunidas
condies para o estabelecimento de uma poltica de Estado e os meios para a sua
execuo, no sentido da articulao das aes de promoo, vigilncia e assistn-
cia em sade do trabalhador no SUS, visando garantir a ateno integral sade
dos trabalhadores, bem como a busca da concretizao de polticas e aes inter-
setoriais envolvendo outras instituies e rgos pblicos e privados, universida-
des, instituies de ensino e pesquisa, entidades representativas de trabalhadores
e movimentos sociais.
O reforo da articulao das aes intergovernamentais em sade do traba-
lhador passa pela manuteno do dilogo com os Ministrios do Trabalho e Em-
prego e da Previdncia Social, algo cristalizado com a criao e funcionamento da
CT-SST a partir de 2008, bem como exercido em diversos outros fruns em que
os trs ministrios participam conjuntamente, como tambm pelo fortalecimento
107
Ministrio da Sade: a institucionalidade da sade do trabalhador no sistema nico de sade
e difuso, com o suporte e o apoio da esfera federal, de diversas iniciativas exitosas
de articulao entre as trs reas nos estados e municpios em curso nos ltimos
anos. Nesta direo, a publicao da PNSST seria um sinalizador poltico impor-
tantssimo para a continuidade e o aprimoramento desse processo de articulao,
que traz como desao posterior a elaborao e a efetivao de aes intersetoriais
articuladas, a serem expressas no Plano Nacional de Segurana e Sade no Traba-
lho previsto na Poltica.
A PNST e a PNSST so polticas que se articulam, com novas e recentes for-
mulaes em processo de formalizao, e devem ser mais enfatizadas, carecendo
de uma maior implantao e nfase no mbito geral das polticas pblicas.
Concluindo, o SUS tem o compromisso de continuamente trabalhar para
a melhoria da situao de sade da populao brasileira e entende que o trabalho
um dos condicionantes mais estruturantes para que este objetivo seja atingido,
o que passa pela articulao e fortalecimento das diversas aes governamentais
envolvidas, pelo aprimoramento da participao social na implementao destas
aes, pelo fortalecimento do campo da sade do trabalhador no SUS e pela
prpria concretizao do SUS, uma conquista histrica da sociedade brasileira.
Acredita-se que todos estes passos tm sido dados, e o Ministrio da Sade est
contribuindo e tem muito a contribuir com este processo.
REFERNCIAS
BRASIL. Constituio (1988). Constituio da Repblica Federativa do Brasil,
1988. Braslia: Senado Federal, 1988.
BRASIL. Lei n
o
8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispe sobre as condies
para a promoo, proteo e recuperao da sade, a organizao e o funciona-
mento dos servios correspondentes e d outras providncias. Dirio Ocial da
Unio, Braslia, n. 182, 20 set. 1990a. Seo 1. p. 18055-18059.
BRASIL. Lei n
o
8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispe sobre a participao
da comunidade na gesto do Sistema nico de Sade (SUS) e sobre as transfer-
ncias intergovernamentais de recursos nanceiros na rea da sade e d outras
providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 249, 31 dez. 1990b. Seo 1.
p. 25694-25695.
BRASIL. Ministrio do Trabalho (MTb). Ministrio da Sade (MS). Ministrio
da Previdncia Social (MPS). Portaria Interministerial MTb/MS/MPS n
o
18, de
11 de novembro de 1993. Institui o Grupo Executivo Interinstitucional de Sade
do Trabalhador (GEISAT). Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 216, 12 nov.
1993. Seo 1. p. 17083.
108
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
BRASIL. Ministrio do Trabalho (MT). Ministrio da Sade (MS). Ministrio
da Previdncia e Assistncia Social (MPAS). Portaria Interministerial MT/MS/
MPAS n
o
7, de 25 de julho de 1997. Institui o Grupo Executivo Interinstitucio-
nal de Sade do Trabalhador (GEISAT). Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 142,
28 jul. 1997. Seo 1. p. 16129.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
3.120, de 1
o
de julho de 1998. Aprova
a Instruo Normativa de Vigilncia em Sade do Trabalhador no SUS. Dirio
Ocial da Unio, Braslia, n. 124, 2 jul. 1998a. Seo 1. p. 36-38.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
3.908, de 30 de outubro de 1998.
Aprova a Norma Operacional de Sade do Trabalhador no SUS. Dirio Ocial
da Unio, Braslia, n. 215-E, 10 nov. 1998b. Seo 1. p. 17-18.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
1.339/GM, de 18 de novembro de
1999. Institui a Lista de Doenas Relacionadas ao Trabalho, a ser adotada como
referncia dos agravos originados no processo de trabalho no Sistema nico de
Sade, para uso clnico e epidemiolgico. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n.
221-E, 19 nov. 1999. Seo 1, p. 21-29.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Polticas de Sade. Departamento de
Ateno Bsica. Departamento de Aes Programticas Estratgicas. rea Tcni-
ca de Sade do Trabalhador. Sade do trabalhador. Braslia: Ministrio da Sade,
2001 (Cadernos de Ateno Bsica; Programa Sade da Famlia, n. 5).
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
1.679/GM, de 19 de setembro de
2002. Dispe sobre a estruturao da rede nacional de ateno integral sade do
trabalhador no SUS e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n.
183, 20 set. 2002a. Seo 1. p. 53-56.
BRASIL. Ministrio da Sade. Ministrio do Trabalho e Emprego. Ministrio da
Previdncia e Assistncia Social. Portaria Interministerial n
o
1.570/GM, de 29 de
agosto de 2002. Dispe sobre Portaria Interministerial n
o
7, de 25 de julho de
1997, que institui o Grupo Executivo Interministerial de Sade do Trabalhador
(GEISAT) e considerando a necessidade de adequao das demandas de cada uma
das Pastas que integram o referido Grupo, bem como a importncia de aprimorar
o funcionamento de GEISAT e, ainda, as relaes institucionais, adequando-as
aos novos preceitos legais de interesse sade dos trabalhadores. Dirio Ocial da
Unio, Braslia, n. 168, 30 ago. 2002 b. Seo 1. p. 79-80.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
777/GM, de 28 de abril de 2004. Dis-
pe sobre os procedimentos tcnicos para a noticao compulsria de agravos
sade do trabalhador na rede de servios sentinela especca, no Sistema nico
de Sade SUS. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 81, 29 abril 2004a. Seo
1. p. 37-38.
109
Ministrio da Sade: a institucionalidade da sade do trabalhador no sistema nico de sade
BRASIL. Ministrio da Previdncia Social, Ministrio da Sade, Ministrio do
Trabalho e Emprego. Portaria Interministerial n
o
153, de 13 de fevereiro de 2004.
Constitui Grupo de Trabalho Interministerial, composto por representantes dos
Ministrios da Previdncia Social, da Sade e do Trabalho e Emprego. Dirio
Ocial da Unio, Braslia, n. 32, 16 fev. 2004b. Seo 2. p. 40-41.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
2.437/GM, de 7 de dezembro de
2005. Dispe sobre a ampliao e o fortalecimento da Rede Nacional de Ateno
Integral Sade do Trabalhador Renast, no Sistema nico de Sade SUS e
d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 236, 9 dez. 2005a.
Seo 1. p. 78-80.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
1.125/GM, de 6 de julho de 2005.
Dispe sobre os propsitos da poltica de sade do trabalhador para o SUS.
Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 129, 7 jul. 2005b. Seo 1. p. 49.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento de
Aes Programticas Estratgicas. Legislao em sade: caderno de legislao em
sade do trabalhador. 2. ed., revisada e ampliada. Braslia: Ministrio da Sade,
2005c. (Srie E. Legislao de Sade).
BRASIL. Ministrio da Previdncia Social (MPS). Ministrio da Sade (MS).
Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE). Portaria Interministerial MPS/MS/
MTE n
o
800, de 3 de maio de 2005. Publica o texto base da Minuta de Poltica
Nacional de Segurana e Sade do Trabalho, elaborada pelo Grupo de Trabalho
institudo pela Portaria Interministerial n
o
153, de 13 de fevereiro de 2004, pror-
rogada pela Portaria Interministerial n
o
1.009, de 17 de setembro de 2004, para
consulta pblica. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 85, 5 maio 2005d. Seo
1. p. 43-45.
BRASIL. Ministrio da Sade. Rede Nacional de Ateno Integral Sade do Tra-
balhador: manual de gesto e gerenciamento. So Paulo: Hemeroteca Sindical
Brasileira, 2006a.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento
de Aes Programticas Estratgicas. Protocolos de complexidade diferenciada: an-
amnese ocupacional (n
o
1); noticao de acidentes de trabalho fatais, graves e
com crianas e adolescentes (n
o
2); ateno sade dos trabalhadores expostos ao
chumbo metlico (n
o
4); perda auditiva induzida pelo rudo (Pair) (n
o
5); pneu-
moconioses (n
o
6); risco qumico ateno sade dos trabalhadores expostos
ao benzeno (n
o
7); cncer relacionado ao trabalho leucemia mielide aguda/
sndrome mielodisplsica decorrente da exposio ao benzeno (n
o
8); dermato-
ses ocupacionais (n
o
9). Braslia: Ministrio da Sade, 2006(b). Disponvel em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1147>.
110
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
399, de 22 de fevereiro de 2006. Divul-
ga o Pacto pela Sade 2006 Consolidao do SUS e aprova as Diretrizes Opera-
cionais do Referido Pacto. Regulamenta as Diretrizes Operacionais do Pacto pela
Sade. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 39, 23 fev. 2006b. Seo 1, p. 43-51.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
1.956, de 14 de agosto de 2007. Dis-
pe sobre a coordenao das aes relativas sade do trabalhador no mbito
do Ministrio da Sade. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 157, 15 ago. 2007.
Seo 1, p. 30.
BRASIL. Ministrio da Previdncia Social (MPS). Ministrio da Sade (MS).
Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE). Portaria Interministerial MPS/MS/
MTE n
o
152, de 13 de maio de 2008. Institui a Comisso Tripartite de Sade
e Segurana no Trabalho, com o objetivo de avaliar e propor medidas para im-
plementao, no Pas, da Conveno n
o
187, da Organizao Internacional do
Trabalho OIT, que trata da Estrutura de Promoo da Segurana e Sade no
Trabalho. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 92, 15 maio 2008. Seo 1, p. 78.
BRASIL. Ministrio de Planejamento, Oramento e Gesto Decreto n
o
6.860, de
27 de maio de 2009. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comisso e das Funes Graticadas do Ministrio da Sade,
integra o Centro de Referncia Professor Hlio Fraga estrutura da Fundao
Oswaldo Cruz Fiocruz, altera e acresce Artigo ao Anexo I e altera o Anexo II
ao Decreto n
o
4.725, de 9 de junho de 2003, que aprova o Estatuto e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comisso e das Funes Graticadas da Fiocruz, e
d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 100, 28 maio 2009a.
Seo 1, p. 12-23.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
2.728/GM, de 11 de novembro de
2009. Dispe sobre a Rede Nacional de Ateno Integral Sade do Trabalhador
(Renast) e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 216, 12
nov. 2009b. Seo 1. p. 75-77.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
3.252, de 22 de dezembro de 2009.
Aprova as diretrizes para execuo e nanciamento das aes de Vigilncia em
Sade pela Unio, estados, Distrito Federal e municpios e d outras providn-
cias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 245, 23 dez. 2009c. Seo 1. p. 65-69.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria GM/MS n
o
2.472, de 31 de agosto de
2010. Dene as terminologias adotadas em legislao nacional, conforme dis-
posto no Regulamento Sanitrio Internacional 2005 (RSI 2005), a relao de
doenas, agravos e eventos em sade pblica de noticao compulsria em todo
o territrio nacional e estabelece uxo, critrios, responsabilidades e atribuies
111
Ministrio da Sade: a institucionalidade da sade do trabalhador no sistema nico de sade
aos prossionais e servios de sade. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 168, 1
o
set. 2010. Seo 1. p. 50-51.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Departamento
de Vigilncia em Sade Ambiental e Sade do Trabalhador. Coordenao Geral
de Sade do Trabalhador. Trabalhar, sim! Adoecer, no!: o processo de construo
e realizao da 3
a
Conferncia Nacional de Sade do Trabalhador. Braslia: Minis-
trio da Sade, 2010 (Relatrio ampliado da 3
a
CNST). No prelo.
_____.CONFERNCIA NACIONAL DE SADE DO TRABALHADOR, 2,
1994, Braslia. Anais... [Srie D. Reunies e Conferncias]. Braslia: Ministrio
da Sade, 1994.
_____. CONFERNCIA NACIONAL DE SADE DO TRABALHADOR,
3: TRABALHAR, SIM! ADOECER, NO!, 2005, Braslia. [Textos de apoio
coletnea n
o
1. Srie D. Reunies e Conferncias]. Braslia: Ministrio da
Sade, 2005d.
CONSELHO NACIONAL DE SADE (CNS). Resoluo CNS n
o
11, de 31
de outubro de 1991. Institui e normatiza o funcionamento das Comisses In-
tersetoriais de Alimentao e Nutrio, Saneamento e Meio Ambiente, Recursos
Humanos para a Sade, Cincia e Tecnologia em Sade, Vigilncia Sanitria e
Farmacoepidemiologia, Sade do Trabalhador, Sade do ndio. Dirio Ocial da
Unio, Braslia, n. 241, 12 dez. 1991. Seo 1, p. 28717-28718.
LACAZ, F. A. C.; MACHADO, J. M. H., FIRPO, M. F. S. Relatrio nal do pro-
jeto Estudo da situao e tendncias da vigilncia em sade do trabalhador no Brasil.
So Paulo: 2002. Disponvel em: <http://www.opas.org.br/saudedotrabalhador/
Arquivos/Sala187.pdf>.
MINISTRIO DA SADE DO BRASIL. ORGANIZAO PAN-AMERI-
CANA DA SADE NO BRASIL. Doenas relacionadas ao trabalho: manual de
procedimentos para os servios de sade. Braslia: Ministrio da Sade do Brasil,
2001.
ORGANIZAO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). C187 Con-
venio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Ginebra:
OIT, 2006.
ORGANIZACIN MUNDIAL DE LA SALUD. Asamblea Mundial de la
Salud, 60
a
. Salud de los trabajadores: plan de accin mundial. Ginebra: OMS,
2007.
SANTANA, V. S.; SILVA, J. M. Os 20 anos da sade do trabalhador no Sistema
nico de Sade do Brasil: limites, avanos e desaos. In: BRASIL. Ministrio da
112
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Departamento de Anlise de Situao
em Sade. Sade Brasil 2008: 20 anos de Sistema nico de Sade (SUS) no
Brasil. Braslia: Ministrio da Sade, 2009, p. 175-204 (Srie G. Estatstica e
Informao em Sade).
VASCONCELLOS, L.C.F. Sade, trabalho e desenvolvimento sustentvel: apon-
tamentos para uma poltica de Estado. 2007. Tese (Doutorado) Fundao
Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Sade Pblica, Rio de Janeiro, 2007.
CAPTULO 4
SADE E SEGURANA NO TRABALHO NO BRASIL: OS DESAFIOS
E AS POSSIBILIDADES PARA ATUAO DO EXECUTIVO FEDERAL
Luciana Mendes Santos Servo
Celso Amorim Salim
Ana Maria de Resende Chagas
1 APRESENTAO
Na anlise da sade e segurana do trabalho devem ser observadas as diretrizes
polticas e suas aes, as incumbncias institucionais e o efetivo cumprimento de
responsabilidades por parte dos organismos vinculados rea, bem como a existncia
de superposies, lacunas, cooperao ou disputas entre eles. Alguns destes aspectos
foram abordados nos captulos antecedentes e so aqui retomados. Outros aspectos,
vivenciados pelos prossionais que atuam na rea e que se referem ao reconhecimento
da legitimidade da responsabilidade das instituies concorrentes, encontram na
literatura embasamento para dar suporte discusso e realam a necessidade de
entendimento e cooperao para o desenvolvimento da rea.
Segundo os captulos anteriores, vrias mudanas aconteceram ao longo da
dcada de 1990 e nos primeiros anos do sculo XXI. Por exemplo, o Minist-
rio da Previdncia Social (MPS) props o Nexo Tcnico Epidemiolgico Previ-
dencirio (NTEP), legalmente institudo em 2006 e implementado em 2007,
e o Fator Acidentrio de Preveno (FAP), implementado em 2010. Na Sade
foi criada, em 2002, a Rede Nacional de Sade do Trabalhador (RENAST) e,
em 2005, foi apresentada nova verso da Poltica Nacional de Sade dos Tra-
balhadores (PNST). Nesse perodo, duas propostas de Polticas Nacionais de
Segurana e Sade do Trabalhador (PNSST) foram apresentadas, a primeira em
2004 e a ltima em 2010. Nesse processo foram se ampliando ou redenindo as
atribuies especcas dos Ministrios da Previdncia Social, da Sade (MS) e do
Trabalho e Emprego (MTE).
O presente captulo, em uma perspectiva mais geral, busca no apenas
complementar as anlises sobre os aspectos institucionais da SST no Brasil, como
114
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
tambm apresentar alguns aspectos no cobertos nos captulos precedentes.
Sendo assim, a anlise ser feita a partir da perspectiva do Poder Executivo,
no mbito federal, mais especicamente do MPS, MTE e MS. O seu foco
sobre as possibilidades e desaos para a articulao desses trs ministrios na
implementao da PNSST e de aes coordenadas nessa rea.
Por conseguinte, na prxima seo apresenta-se uma sntese das atribuies
desses trs ministrios na rea de SST. Em seguida so descritas as tentativas de
articulao desses trs rgos do nal dos anos 1990 at a primeira dcada dos
anos 2000. So apresentados seus principais resultados, incluindo as duas verses
da PNSST: a de 2004 e a mais atual, publicada em 2010. Mais especicamente,
busca-se discutir os desaos para essa articulao a partir de duas questes pontu-
ais: o conceito de acidentes de trabalho utilizado e o pblico-alvo efetivo e poten-
cialmente coberto, bem como a questo da organizao do mercado de trabalho
brasileiro. Apresentam-se as consideraes nais destacando, tambm, possveis
limitaes da anlise aqui realizada, porque h outras questes que necessitam de
aprofundamentos futuros.
2 SNTESE DAS ATRIBUIES DO MTE, DO MS E DO MPS NA REA DE SST
Pela ordem, as atribuies especcas desses trs ministrios foram respectiva-
mente descritas nos captulos 1, 2 e 3 deste livro. De forma resumida, elas po-
deriam ser reorganizadas em quatro grandes blocos de atribuies: i) normativa;
ii) scalizadora; iii) de preveno, promoo
1
e vigilncia; e iv) assistncia, rein-
sero e reabilitao.
Com relao atribuio de normatizao da SST no Brasil, cabe ao MTE
a regulamentao complementar e a atualizao das Normas Regulamentadoras
(NRs). Adicionalmente, destaca-se, tambm, a atribuio do MS nas normati-
zaes relacionadas sade dos trabalhadores e do MPS naquelas relacionadas
aos benefcios previdencirios, reabilitao prossional e tarifao coletiva do
seguro acidente, conhecido como Riscos Ambientais de Trabalho (RAT).
Com relao atribuio de scalizao, cabe ao MTE a inspeo dos am-
bientes de trabalho. Aos rgos gestores do Sistema nico de Sade (SUS), a atri-
buio de scalizao foi determinada como parte das atividades de vigilncia em
sade, pela Lei n
o
8.080, de 19 de setembro de 2009, posteriormente organizada
por portarias do MS.
1. Czeresnia (2003), citando Francisco Ferreira, destaca que prevenir signica (...) preparar; chegar antes de; dispor
de maneira que evite (dano, mal); impedir que se realize. (...) Promover tem o signicado de dar impulso a; fomentar;
originar; gerar (Ferreira apud Czeresnia, 2003, p. 45). Essa autora destaca que As estratgias de promoo enfatizam
a transformao das condies de vida e de trabalho que conformam a estrutura subjacente aos problemas de sade,
demandando uma abordagem intersetorial (Terris, 1990) (Czeresnia, 2003, p. 45).
115
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: os desaos e as possibilidades para atuao do executivo federal
A respeito do bloco de promoo, preveno e vigilncia vinculadas
SST, pode-se armar que o MTE possui parte destas atribuies. Com relao
promoo e preveno, entende-se que tais atribuies esto vinculadas prpria
atividade de inspeo. Alm das atividades de scalizao, o Regulamento da
Inspeo do Trabalho (RIT)
2
atribuiu aos auditores scais do trabalho (AFT) a
competncia para adotar medidas de preveno. Ainda com relao a esse bloco,
alm da proteo monetria aos trabalhadores vtimas de acidentes ou doenas
ocupacionais por meio da concesso de benefcios previdencirios, as mudanas
recentes na forma de atuao do MPS ampliaram sua atuao no campo da
preveno este que est mais relacionado ao estabelecimento do NTEP e do
FAP. Os rgos gestores da sade so responsveis pela ateno sade dos
trabalhadores (que inclui as aes de promoo, preveno e assistncia) e pela
vigilncia em sade do trabalhador.
No que diz respeito assistncia, reinsero e reabilitao, o MTE realiza
aes para reinsero do trabalhador, as quais se aplicam mais claramente aos
casos de vtimas de trabalho escravo. Adicionalmente, a reabilitao prossional,
atribuio do MPS, est sendo revista para se tornar mais ampla e efetiva.
O MS, por sua vez, tambm implementa aes de assistncia e de reabilitao
da sade dos trabalhadores.
Alm de atribuies acima mencionadas, h aquelas relacionadas rea-
lizao de estudos e pesquisas, de organizao de sistemas de informao e de
capacitao dos prossionais que atuam em SST. Tais atribuies se aplicam aos
trs ministrios.
Em resumo, quando organizadas nessa forma mais geral, observa-se a pre-
sena desses ministrios atuando em todos esses campos, bem como algumas
competncias exclusivas de um ou outro rgo. Isso abre possibilidades de arti-
culao, mas tambm gera conitos potenciais entre eles. Estes processos de arti-
culao e as questes por ele colocadas sero objeto de anlise da prxima seo.
3 PROCESSOS INSTITUCIONALIZADOS DE ARTICULAO ENTRE MPS,
MS E MTE: HISTRICO RECENTE E SEUS RESULTADOS
Constatam-se vrias tentativas de articulao entre os Ministrios da Previdncia,
Trabalho e Sade na rea de SST a partir da dcada de 1990. Em abril de 1993
criou-se a Comisso Interministerial de Sade do Trabalhador,
3
composta por
representantes dos trs ministrios, alm de representantes da ento Secretaria de
Administrao Federal. Foi estabelecido um prazo de 45 dias para essa Comisso
2. Decreto n
o
55.841, de 15 de maro de 1965, atualizado pelo Decreto n
o
4.552 de 27 de dezembro de 2002.
3. Ver Brasil. Portaria Interministerial MPS/MT/MS/SAF n
o
1, de 20 de abril de 1993.
116
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
apresentar a proposta de compatibilizao e integrao das polticas e prticas
setoriais de ateno sade do trabalhador, envolvendo as reas do Trabalho, da
Previdncia Social, Sade, Administrao e demais rgos e esferas de governo
pertinentes (BRASIL, 1993a, pargrafo 3
o
), proposta que deveria claricar os
papis e as responsabilidades de cada rea, alm dos mecanismos de articulao
interinstitucional, os sistemas de informao e controle, os instrumentos legais e
o plano de custeio.
Essa Comisso produziu relatrio no qual arma que
A sade do trabalhador uma questo multifacetria cuja abordagem adequada
supe a integrao multissetorial. Os instrumentos legais em vigor esboam uma
Poltica Nacional de Sade do Trabalhador cuja efetiva execuo e eccia supem a
capacidade de atuao coordenada e cooperada entre os rgos, e reforam a impor-
tncia do estabelecimento de uma instncia interministerial permanente, de carter
executivo (COMISSO INTERMINISTERIAL DE SADE DO TRABALHA-
DOR, 1993 apud OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 2000, p. 5).
Buscando dirimir dvidas, entre as consideraes presentes no relatrio da
Comisso, destacam-se as responsabilidades legais do MS na execuo de aes de
vigilncia sanitria e epidemiolgica nos locais de trabalho e as do MTE (antigo
MTb) na execuo de aes de scalizao das condies de segurana e sade
nesses locais. Em discurso proferido durante a 2
a
Conferncia Nacional de Sa-
de do Trabalhador,
4
realizada em 1994, a representante do MTE (antigo MTb)
asseverou que os membros da Comisso reforariam tal posio ao armar que
A gravidade do quadro de sade dos trabalhadores, no Brasil, refora a im-
portncia das aes de vigilncia e de scalizao atribudas ao Ministrio do
Trabalho e ao Ministrio da Sade, por seu carter preventivo; a melhoria desse
quadro impe que cada uma das instituies centre esforos na implantao ou
ampliao destas mesmas aes.
Devido s extensas interfaces entre as aes de scalizao e as de vigilncia,
recomenda-se que os rgos locais do Ministrio da Sade e do Ministrio do
Trabalho estabeleam canais de discusso, troca de informao e de planejamento
conjunto, visando obter ampliao da cobertura, melhorar o aproveitamento
dos recursos disponveis e possibilitar o aumento da eccia das intervenes.
4. A comisso organizadora dessa conferncia era composta por um comit executivo e por um comit consultivo.
Representantes do MS, do MTE (antigo MTb) e da Central nica dos Trabalhadores no Distrito Federal (CUT/DF)
compunham o Comit Executivo. O Comit Consultivo era composto pela Comisso Interssetorial de Sade do Tra-
balhador do Conselho Nacional de Sade, que contava com representantes dos trs ministrios (MS, MTE e MPS),
da CUT, da Fora Sindical, da Faculdade de Sade Pblica da Universidade de So Paulo e da Confederao Nacional
da Indstria (CNI). Alm desta Comisso, compunham o Conselho Consultivo a Confederao Nacional de Trabalha-
dores na Agricultura, a Central Geral dos Trabalhadores, a Fundao Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Conselho Nacional
de Sade (CNS), o Conselho de Secretrios Estaduais de Sade (CONASS) e Conselho de Secretrios Municipais de
Sade (CONASEMS) e representantes das comisses organizadoras estaduais.
117
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: os desaos e as possibilidades para atuao do executivo federal
As relaes entre o Ministrio do Trabalho e o Ministrio da Sade, nos seus
diversos nveis, devero pautar-se no contexto da parceria solidria (BRASIL,
2001, p. 9-10).
5
Nesse mesmo discurso, a representante do MTE abre sua fala sobre a Co-
misso mencionando que mereceriam destaque, pela polmica que tm desper-
tado, as aes de scalizao e vigilncia dos ambientes de trabalho (BRASIL,
2001, p. 9), polmica esta que esteve presente nas conferncias estaduais prepa-
ratrias para a 2
a
Conferncia Nacional. Entre as propostas dessas conferncias
estaduais, encontra-se
Acabar com a duplicao de aes de scalizao, em Sade do Trabalhador, por
meio da extino da Diviso de Segurana e Sade do Trabalhador, da Delegacia Re-
gional do Trabalho (DSST/DRT), assegurando: (...) a incorporao dos recursos hu-
manos lotados na Diviso, ao SUS, ao nvel dos municpios, garantindo o debate das
etapas do processo, sob controle dos servidores do rgo (BRASIL, 2001, p. 161).
Nesse mesmo trecho tambm se encontra a seguinte proposta:
A construo e a consolidao do SUS devem contemplar a totalidade das aes na
rea de Sade do Trabalhador. Essas aes, que envolvem a pesquisa, a vigilncia, a
assistncia mdica e a reabilitao ainda encontram-se distribudas em diversos mi-
nistrios (Ministrio da Previdncia, Ministrio do Trabalho, Ministrio da Sade).
Para tanto, deve ser constituda uma comisso tcnica interministerial, com a par-
ticipao das Centrais Sindicais, com prazo mximo de um ano para concluso das
questes operacionais necessrias para que o SUS assuma todas as aes referentes
Sade do Trabalhador (BRASIL, 2001, p. 161).
Deve-se destacar que essa indicao surgiu poucos meses aps o relatrio
da Comisso Interministerial ter recomendado a realizao de aes coordenadas
entre os trs ministrios. Isso mostrava que a polmica ainda no estava dirimida,
nem mesmo equacionada.
6
Deve-se considerar que, nas propostas estaduais, en-
contrava-se expressa a sntese proposta por vrios atores presentes Conferncia,
que no necessariamente correspondia viso das secretarias estaduais e munici-
pais ou mesmo do MS poca.
Em 2004, o MS lanou, para consulta pblica, a Poltica Nacional de Sade
do Trabalhador (PNST), a qual armava serem o MPS e o MTE, bem como
5. Citao sobre a Comisso em discurso proferido na 2
a
Conferncia Nacional de Sade do Trabalhador por Raquel
Maria Rigotto, representante do ento ministro do Trabalho Walter Barelli.
6. Santos (2000), em trabalho elaborado por solicitao da Organizao Panamericana de Sade (OPAS), discute o
conito de competncias na rea de sade do trabalhador. Ao citar outro trabalho que fez em conjunto com Leila
Maria Reschke e Antnio Lopes Monteiro, arma que sendo a inspeo do trabalho competncia material privativa
da Unio, por sorte no se pode admitir que dentro deste conceito resida a expresso sade do trabalhador. Ora, sa-
de do trabalhador est no campo de incidncia do SUS, e o SUS um sistema de mbito nacional, cuja competncia
material comum das trs esferas de governo: Unio, estados e municpios. Por outro lado, competncia exclusiva
da Unio legislar sobre direito do trabalho. Se sade do trabalhador matria prpria do direito do trabalho, tambm
a Constituio teria incidido em uma contradio, pois a competncia para legislar sobre sade concorrente entre a
Unio e o estado (Santos; Monteiro; Reschke apud Santos, 2000, p.132).
118
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
os Ministrios do Meio Ambiente e da Cincia e Tecnologia interlocutores pri-
vilegiados para o desenvolvimento das aes de sade do trabalhador. Arma-
va tambm que a articulao entre estes atores e outras instituies diretamente
envolvidas com a qualidade dos ambientes e dos processos de trabalho estaria a
cargo do Grupo Executivo Interministerial de Sade do Trabalhador (GEISAT).
Esse grupo j havia sido criado desde o nal de 1993, mas foi reinstitudo e
teve suas atribuies alteradas em vrios momentos.
7
Em 1997, a Portaria Inter-
ministerial MT/MS/MPAS n
o
7, de 25 de julho, abordou novamente a institui-
o do GEISAT e revogou a Portaria de 1993. Nesse momento, o grupo passou a
ser composto por dois representantes destes ministrios e a ter como atribuies
permanentes: i) desenvolvimento e integrao das aes e programas voltados
para a sade dos trabalhadores, que contribuam para potencializar e qualicar os
servios prestados; e ii) compartilhamento dos sistemas de informaes referentes
sade dos trabalhadores existentes em cada Ministrio (BRASIL, 1997, incisos
I e II). Em agosto de 2002,
8
novamente suas atribuies foram revistas, passan-
do o GEISAT a ser responsvel pela elaborao de um plano de ao conjunta
na rea de sade do trabalhador, devendo, aps a aprovao deste, promov-lo,
operacionaliz-lo e acompanh-lo. Alm disso, na elaborao e operacionalizao
do plano poderiam ser realizadas consultas e pactuaes. Esta Portaria trazia tam-
bm a recomendao de que as Unidades da Federao constitussem instncia
semelhante ao GEISAT, podendo, para isso, contar com o seu assessoramento.
A atuao do GEISAT no aconteceu de forma linear; tanto que, em 2004,
os titulares do MPS, do MS e do MTE publicaram a Portaria Interministerial n
o
153, de 13 de fevereiro, criando o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI),
composto por dois representantes de cada um destes trs ministrios, com os
seguintes objetivos:
9
Reavaliar o papel, a composio e a durao do Grupo Executivo Interministerial
em Sade do Trabalhador GEISAT.
Analisar medidas e propor aes integradas e sinrgicas que contribuam para
aprimorar as aes voltadas para a segurana e sade do trabalhador.
Elaborar proposta de Poltica Nacional de Segurana e Sade do Trabalhador,
7. Institudo por meio da Portaria Interministerial n
o
18, de novembro de 1993. Segundo informaes da Fundacentro, em
1994, esse grupo funcionou regularmente com reunies mensais de carter ordinrio. Aps um perodo sem atuar, em
setembro de 1996, foi reativado por recomendao do Conselho Nacional de Sade. Funcionou de 1997 a 2003, com
coordenaes por meio de rodzio entre o MTE, MPS, MS e a Fundacentro.
8. Portaria Interministerial n
o
1.570, de 29 de agosto de 2002.
9. No ano anterior, os titulares desses trs ministrios, por meio da Portaria MPS/MS/MTE n
o
1.441, de 10 de outubro
de 2003, j haviam institudo GTI semelhante, mas com uma atribuio muito mais ampla por tratar da Seguridade
Social, da Produo e do Desenvolvimento Sustentvel. Esse grupo tinha, tambm, o objetivo de rever o papel e a
composio do GEISAT. Alm disso, deveria propor uma Poltica Integrada de Seguridade Social, de Produo e de
Desenvolvimento Sustentvel. Essa Portaria foi revogada pela Portaria Interministerial n
o
153.
119
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: os desaos e as possibilidades para atuao do executivo federal
observando as interfaces existentes e as aes comuns entre os diversos setores
do Governo.
Analisar medidas e propor aes de carter interssetorial referentes ao exerccio
da garantia do direito segurana e sade do trabalhador, assim como aes
especcas da rea que necessitem de implementao imediata pelos respectivos
Ministrios, individual ou conjuntamente.
Compartilhar os sistemas de informaes referentes segurana e sade dos
trabalhadores existentes em cada Ministrio (BRASIL, 2004a).
Esse GTI elaborou a Poltica Nacional de Segurana e Sade do Trabalhador
(PNSST). Conforme consta desse documento, ele apresentava
os fundamentos de uma Poltica Nacional de Segurana e Sade do Trabalhador, a ser
desenvolvida de modo articulado e cooperativo pelos Ministrios do Trabalho, da Pre-
vidncia Social e da Sade, com vistas a garantir que o trabalho, base da organizao
social e direito humano fundamental, seja realizado em condies que contribuam
para a melhoria da qualidade de vida, a realizao pessoal e social dos trabalhadores
e sem prejuzo para sua sade, integridade fsica e mental (BRASIL, 2004b, p. 3).
A proposta da PNSST buscaria
a superao da fragmentao, desarticulao e superposio das aes implemen-
tadas pelos setores Trabalho, Previdncia Social, Sade e Meio Ambiente. (...) A
PNSST dene as diretrizes, responsabilidades institucionais e mecanismos de -
nanciamento, gesto, acompanhamento e controle social, que devero orientar os
planos de trabalho e aes intra e interssetoriais (BRASIL, 2004b, p. 4).
Isso mostra que essa articulao encontrou obstculos, pois a PNSST
recolocou, em 2004, questes que estavam postas h anos com relao
atuao interssetorial, cujas tentativas formais de articulao no perodo ps-
Constitucional remontam a 1993, como visto anteriormente. Vrios autores
chamam ateno para a baixa implementao das aes propostas nessa PNSST
(ver, entre outros, ANDRADE, 2009, p. 34-35).
Em 2005 foi organizada a 3
a
Conferncia Nacional de Sade do Trabalhador,
que contou com a participao mais direta dos trs ministrios (MS, MPS e MTE)
em sua organizao. Entre os textos de apoio para essa Conferncia, foi apresentado
um documento-base assinado pelo Conselho Nacional de Sade, no qual se verica
o reforo integrao entre rgos setoriais para a realizao de aes em SST.
Prope que a PNSST preveja um uxograma de integrao entre os rgos setoriais
e suas responsabilidades especcas, evitando dicotomias e superposies, com a
identicao das metas institucionais, do planejamento e da alocao de oramento
para as aes realizadas de forma conjunta (MINISTRIO DA SADE, 2005).
10
10. Santana e Silva (2009) analisam os avanos da Sade do Trabalhador nos ltimos 20 anos e consideram que a
realizao da 3
a
CNST foi fundamental para se avanar na articulao entre MPS, MS e MTE. Adicionalmente, atribuem
o estabelecimento do NTEP s discusses realizadas nessa Conferncia.
120
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
No mbito internacional, durante a 95
a
Sesso da Conferncia Internacional
do Trabalho, organizada pela OIT em Genebra, foi aprovada, em junho de 2006,
a Conveno n
o
187, que, entre suas recomendaes, inclui a elaborao de uma
poltica nacional de segurana e sade no trabalho.
Ainda como parte desse processo, em 2007, a Organizao Mundial de Sa-
de (OMS) lana o Plano de Ao Global de Sade dos Trabalhadores (PAG),
com propostas de aes para o alcance de cinco objetivos: i) elaborao e im-
plementao de instrumentos de polticas e normas para a sade dos trabalha-
dores; ii) proteo e promoo sade no ambiente de trabalho; iii) promoo
do desempenho e do acesso aos servios de sade ocupacional; iv) fornecimento
e divulgao de evidncias objetivando a ao e a prtica; e v) incorporao da
sade dos trabalhadores em outras polticas. Nesse Plano reforada a viso de
que os planos nacionais de sade dos trabalhadores devem ser elaborados com a
participao dos ministrios relevantes e dos principais atores nacionais. Eles de-
veriam incluir: perl nacional, prioridades de ao, objetivos, aes, mecanismos
de implementao, recursos humanos e nanceiros, monitoramento, avaliao e
atualizao e accountability (WHO, 2007).
Em 2008 foi criada a Comisso Tripartite em Sade e Segurana no Trabalho
(CTSST), que tinha, entre suas atribuies, a reviso e a ampliao da proposta da
PNSST,
11
de forma a atender s Diretrizes da OIT e o PAG. Alm disso, deveria:
propor o aperfeioamento do sistema nacional de segurana e sade no trabalho
por meio da denio de papis e de mecanismos de interlocuo permanente
entre seus componentes; e
elaborar um Programa Nacional de Sade e Segurana no Trabalho, com de-
nio de estratgias e planos de ao para sua implementao, monitoramento,
avaliao e reviso peridica, no mbito das competncias do Trabalho, da Sa-
de e da Previdncia Social (BRASIL, 2008).
Entre as questes que podem ser apontadas est o porqu de uma nova verso
da PNSST, quando a primeira ainda no havia sido efetivamente implementada.
O primeiro motivo pode estar relacionado ao fato de que a primeira PNSST
foi elaborada por um grupo de trabalho que contou apenas com representantes
governamentais, tendo sido utilizado o instrumento da consulta pblica para
ouvir outros atores, ao passo que a segunda foi elaborada com a participao
direta de representantes de governo, de empregadores e trabalhadores. Conforme
11. Deve-se observar que a PNSST passa a ser denominada de Poltica Nacional de Segurana e Sade no Trabalho e
no do Trabalhador, como foi em sua verso de 2004. Ainda que tal mudana possa parecer pequena, cabe avaliar
se isso no implicaria uma reduo em relao ao campo de atuao dessa poltica. Esta questo apareceu, de forma
mais ou menos direta, nas discusses da CTSST, destacando-se a fala de Marcos Perez poca responsvel, no mbito
do MS, pela Coordenao de Sade do Trabalhador (COSAT) na primeira reunio dessa Comisso (BRASIL, 2008a).
121
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: os desaos e as possibilidades para atuao do executivo federal
declarado na Portaria que criou essa Comisso, a segunda justicativa seria
atender a OIT e o PAG.
Assim, uma nova verso da PNSST foi apresentada pela CTSST em 2010.
Sua primeira verso apresenta apenas as diretrizes da poltica, vrias j contempla-
das na verso anterior.
Adicionalmente, como parte desse processo, a Comisso decidiu por
trabalhar, inicialmente, dois setores: construo civil e transporte de cargas.
Mesmo antes da publicao da nova PNSST j haviam sido elaborados dois planos
de ao para cada um destes setores, envolvendo representantes do governo, de
empregadores e de trabalhadores. A justicativa para seleo de tais setores foi
de que eles estariam entre aqueles com maior incidncia de acidentes de trabalho
e poderiam servir como pilotos para a implementao de aes propostas pela
CTSST. A primeira verso dos planos foi elaborada por representantes do governo.
Em seguida foram formados grupos de trabalho setoriais (GTS), tripartites, para
discusso e aprimoramento de cada um dos planos, os quais foram organizados
em torno de oito itens: fortalecimento do dilogo; regulamentao; formao;
scalizao e vigilncia; campanhas; estudos e pesquisas; crdito especial e banco
de dados.
12
At o momento, a PNSST de 2010 apresenta-se como um conjunto de
diretrizes e dene as atribuies para cada um dos trs ministrios. No campo das
aes foram apresentados os dois planos para os setores selecionados. Contudo,
ainda cedo para se armar qual o avano alcanado por esta nova forma de
organizao e por esta proposta em relao s tentativas anteriores. Sabe-se que
h alguns desaos que precisariam ser trabalhados ao longo do processo de
implementao e da necessidade de continuar as discusses no mbito da CTSST.
Entre estes desaos, dois so aqui considerados estratgicos e sero analisados
a seguir: as diferenas do que est normatizado ou conceituado como acidente
de trabalho por cada rgo setorial e as implicaes das mudanas no mercado de
trabalho para a efetiva implementao de uma poltica de SST.
12. A proposta ampliar o dilogo entre empregadores e trabalhadores, em aes tais como: revitalizao das Comis-
ses Internas de Preveno de Acidentes (Cipa) e dos Servios Especializados em Segurana e Medicina do Trabalho
(SESMT); ampliao dos processos de negociao coletiva em SST; reunies com as empresas envolvidas no PAC,
agncias e ministrios; articulao com outras entidades para colaborar com a implementao dos planos. No campo
da regulamentao, pretende-se aperfeioar e ampliar a legislao e introduzir as Recomendaes Tcnicas de Pro-
cedimentos (RTPs). No campo da formao, prev-se o aperfeioamento do contedo dos cursos; capacitao dos
pequenos empreendedores; formao prossional em SST; aprimoramento dos conceitos mnimos nos cursos do Plano
Nacional de Qualicao (PNQ) do MTE. Com relao scalizao e vigilncia, prope-se ao coordenada entre
MTE e MS, com pilotos em regies ou locais de maior ocorrncia de acidentes. Quanto ao crdito especial, este inclui
linhas de crdito especial para a melhoria ambiental e de condies de trabalho nos setores econmicos envolvidos
via FAT, BNDES e Bancos Ociais (BRASIL, 2008b). Por m, com relao aos bancos de dados, a proposta aperfei-
oar e integrar as bases de dados relacionadas aos dois setores (BRASIL, 2008b; 2009a; 2009b).
122
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
4 DESAFIOS PARA A ARTICULAO
4.1 Aspectos conceituais/normativos e suas implicaes
A articulao entre o MPS, o MS e o MTE visa promover a sade dos trabalha-
dores; atuar para a melhoria dos ambientes de trabalho, tornando-os seguros e
saudveis; prevenir o adoecimento, que pode ser causado pelo exerccio de sua
atividade prossional, e os acidentes de trabalho. Contudo, observa-se que esses
ministrios atuam sobre uma compreenso diferenciada do que sejam os aciden-
tes de trabalho.
Pelo conceito previdencirio, o acidente de trabalho
o que ocorre pelo exerccio do trabalho a servio da empresa, com o segurado empregado,
trabalhador avulso, mdico residente, bem como com o segurado especial no exerccio
de suas atividades, provocando leso corporal ou perturbao funcional que cause a
morte, a perda ou reduo, temporria ou permanente, da capacidade para o trabalho
(BRASIL, 2010, grifo nosso).
O conceito da rea de sade diferente do apresentado acima.
Acidente de trabalho o evento sbito ocorrido no exerccio de atividade laboral,
independentemente da situao empregatcia e previdenciria do trabalhador acidenta-
do, e que acarreta dano sade, potencial ou imediato, provocando leso corporal
ou perturbao funcional que causa, direta ou indiretamente (concausa) a morte,
ou a perda ou reduo, permanente ou temporria, da capacidade para o trabalho.
Inclui-se ainda o acidente ocorrido em qualquer situao em que o trabalhador es-
teja representando os interesses da empresa ou agindo em defesa de seu patrimnio;
assim como aquele ocorrido no trajeto da residncia para o trabalho ou vice-versa
(MINISTRIO DA SADE, 2004, grifo nosso).
Assim, pelo conceito previdencirio quatro grupos de trabalhadores esta-
riam cobertos em casos de acidentes de trabalho: o segurado empregado, o traba-
lhador avulso, o mdico residente e o segurado especial.
Por seu turno, o MTE pode intervir em algumas das relaes de emprego:
naquelas regidas pela CLT e nas relaes de emprego rurais (regidas pela Lei n
o
5.889/1973). Pode, tambm, scalizar o trabalho realizado por trabalhadores
avulsos na movimentao de mercadorias, bem como aquele relacionado aos
contratos de estagirios. No estariam cobertos: os trabalhadores por conta
prpria, os trabalhadores cujas atividades so desenvolvidas em regime de
economia familiar, os servidores pblicos regidos por estatutos prprios.
A atuao dos rgos gestores da sade poderia, em tese, abarcar todos os
trabalhadores, visto que todos podem ser atendidos por meio do SUS. Contudo,
quando se observa que o nmero de acidentes de trabalho registrado pelo setor
sade muito menor que aquele registrado pelo MPS, isso seria um indicativo
das diculdades enfrentadas pelo MS para garantir uma atuao universal em
123
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: os desaos e as possibilidades para atuao do executivo federal
relao aos trabalhadores vitimados. Tais diculdades so discutidas por vrios
autores, mas no sero tratadas neste texto por irem alm da abordagem proposta.
Do ponto de vista da articulao desses ministrios, a compreenso do que
se considera acidente de trabalho poderia ser um problema para o alcance deste
objetivo na medida em que os pblicos-alvo das aes de cada um deles no so
iguais. Contudo, dependendo de como essa articulao for pensada e estruturada,
esses ministrios podero atuar de forma complementar em alguns campos.
medida que o SUS avance ainda mais em termos de cobertura, de qualicao
da ateno e de garantia de atendimento, com a ampliao da qualicao dos
prossionais de sade para reconhecimento de doenas ocupacionais e acidentes
de trabalho, poder-se- esperar, num primeiro momento, a ampliao da
noticao dos nmeros de doenas e acidentes de trabalho. Esses, inclusive,
poderiam vir a ser muito maiores do que aqueles hoje constantes dos registros
do MPS, visto que passariam a incluir efetivamente um grande contingente de
trabalhadores informais. Ao mesmo tempo, se novas informaes sobre acidentes
de trabalho e doenas ocupacionais forem incorporadas, ser possvel realizar
aes para anlises integradas ou coordenadas das informaes produzidas no
mbito dos trs ministrios (MS, MPS e MTE), as quais permitiro conhecer
melhor as causas e atuar sobre elas, ampliando os espaos de promoo da sade
e da segurana e de preveno dos acidentes de trabalho.
Ainda assim, pelo menos dois problemas permaneceriam como desaos: a ga-
rantia de renda e a reinsero ocupacional de todos os trabalhadores vtimas de
acidentes de trabalho ou doena ocupacional. Essas duas questes que passam pela
compreenso da heterogeneidade das inseres dos trabalhadores no mercado de
trabalho brasileiro, particularmente pelo grau de informalidade e de precarizao das
relaes de trabalho, relacionadas, tambm, capacidade do mundo do trabalho em
reintegrar trabalhadores vtimas de acidentes de trabalho ou portadores de doenas
prossionais, assim como discusso do modelo de proteo social brasileiro e do
padro de crescimento e de reduo de desigualdades incorporados ao modelo de
desenvolvimento do pas. Por serem questes muito amplas, elas sero tangenciadas
neste livro, mas devero ser aprofundadas em debates e trabalhos posteriores.
13
4.2 Informalidade e novas formas de organizao do trabalho
O mundo do trabalho passou por mudanas signicativas ao longo das ltimas
dcadas. Em reviso da literatura sobre a informalidade no mercado de trabalho
13. A questo da violncia e suas vrias dimenses esto tambm diretamente relacionadas ao quadro de acidentes
observados no Brasil. Por exemplo, o crescimento dos acidentes de transporte est relacionado aos acidentes de traje-
to. Esses, por sua vez, tm mltiplas causas que vo desde a organizao do espao urbano e passam, tambm, pela
prpria discusso dos modelos de desenvolvimento implantado no pas ao longo de sua histria.
124
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
brasileiro, Ulyssea (2005) apresenta dados estatsticos e resultados relacionados a
outros trabalhos que mostram uma grande elevao no grau de informalidade no
Brasil nos primeiros anos da dcada de 1990. Esse crescimento esteve associado a
aumentos da proporo de trabalhadores sem carteira assinada e por conta prpria,
tendncia que se manteve ao longo de toda a dcada (ULYSSEA, 2005, p. 2-3),
processo que foi acompanhando por uma mudana na composio setorial dos
trabalhadores, com uma reduo do emprego industrial e um aumento signicativo
dos postos de trabalho vinculados ao setor de servios. Adicionalmente, o prprio
emprego industrial mudou com o aumento da terceirizao de partes da produo
e da contratao de trabalhadores autnomos para prestar servios. Mendes e
Campos (2004) argumentam que existem inter-relaes entre os setores:
necessrio, aqui, caracterizar um pouco as formas de terceirizao existentes atual-
mente, que variam desde o trabalho em domiclio at a subcontratao de pequenas
e mdias empresas, inclusive com explorao em cadeia, envolvendo as prprias em-
presas subcontratadas, em que uma subemprega outra em condies cada vez mais
precrias (MENDES e CAMPOS, 2004, p. 213).
Nos ltimos anos da primeira dcada do sculo XXI, assistiu-se a um
aumento da formalizao no mercado de trabalho. Mesmo com esse avano no
processo de formalizao no se pode armar que o trabalho com carteira assinada
regido pela Consolidao das Leis do Trabalho (CLT) seja o mais representativo
das formas de insero dos trabalhadores no mundo do trabalho. Hoje esta forma
de trabalho representa menos de 36% das ocupaes estimadas a partir dos
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios de 2009 (IBGE, 2009).
Se forem considerados os trabalhadores regidos pelo Regime Jurdico nico e as
ocupaes militares, que representam em torno de 7% das ocupaes, chega-se
concluso de que pouco mais de 40% dos trabalhadores esto ocupando posies
formalizadas no mercado de trabalho. Alguns autores incluem os empregados
domsticos com carteira e os empregadores no segmento formal ou protegido.
Com este acrscimo, chega-se a uma proporo de pouco mais de 50% de
posies na ocupao protegidas. Assim, os trabalhadores por conta prpria, os
empregadores sem carteira e os trabalhadores no remunerados somariam, em
conjunto, 45% dos trabalhadores ocupados.
14
14. A partir dos dados da PNAD, a distribuio dos trabalhadores por posies na ocupao feita considerando-se a
posio ocupada no trabalho principal.
125
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: os desaos e as possibilidades para atuao do executivo federal
GRFICO 1
Evoluo da distribuio dos trabalhadores ocupados segundo a posio na ocupao,
Brasil (1995 a 2009)
Fonte: IBGE. PNAD. Vrios anos.
Elaborao do NINSOC/DISOC/Ipea, a partir dos microdados.
Se considerarmos a especicidade do trabalho domstico e a heterogeneidade
da categoria dos empregadores, conforme classicao da PNAD, poderemos
dizer que esse subconjunto pode conter um grande contingente de pessoas
ocupadas para as quais no esto garantidas todas as coberturas trabalhistas e
todos os direitos previdencirios.
15
Conforme foi detalhado anteriormente, por seu turno, mesmo sendo
protegidos pela legislao trabalhista e previdenciria, os funcionrios pblicos
estatutrios esto regidos por estatutos prprios e no esto cobertos pela inspeo
para averiguar a aplicao das normas regulamentadoras em SST. O trabalhador
domstico no tem cobertura previdenciria para acidentes de trabalho, assim
como no esto cobertos os trabalhadores autnomos, os trabalhadores no
15. A incluso dos empregadores discutvel, visto que essa categoria muito heterognea. Ela pode incluir desde
um empregador com um nico empregado, mas ambos relacionados a um estabelecimento no formalizado e no
protegido, como pode incluir pessoas ocupadas em estabelecimentos fsica e legalmente constitudos e nos quais a
gura do empregador representada por pessoas que tm algum tipo de proteo legal e social. Da perspectiva da
segurana e sade no trabalho caberia uma anlise mais pormenorizada dessa categoria.
126
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
remunerados urbanos ou os trabalhadores rurais que no se conguram como
segurados especiais. Deste grupo de trabalhadores, os empregados sem carteira so
objeto de inspeo pelos auditores scais do trabalho. Ademais, os trabalhadores
domsticos sofrem as diculdades relacionadas realizao de scalizao dentro
de um domiclio e, embora formem agrupamentos bastante heterogneos, na
mdia, tm poucos anos de escolaridade formal e no tm muita informao
sobre os diversos fatores de risco relacionados ao exerccio de sua atividade.
A questo do trabalho informal de fato constitui uma alternativa para uma grande
parte da populao brasileira na busca de manuteno do seu sustento e de sua famlia,
no se importando com os fatores de riscos a que se expe na execuo da tarefa. (VIEI-
RA, 2009, p. 48).
Essas formas de insero exigem um novo olhar e uma nova organizao das
polticas de sade e segurana no trabalho. Alm disso, deve-se pensar no apenas
no processo de trabalho nas fbricas, mas nos servios e na agricultura (GOMEZ;
LACAZ, 2005). Isso sem desconsiderar aspectos particulares que conformam as
diferenas intrnsecas das diversas cadeias produtivas, muitas vezes mesclando
relaes formais e informais de trabalho. De qualquer forma, importante avaliar,
sobretudo, na nova congurao, que as mudanas do trabalho impem, como,
por exemplo, a informalidade, o trabalho domiciliar e domstico e tambm o rural
e as relaes destes com o trabalho em pequenos e mdios empreendimentos, o
trabalho feminino e os jovens trabalhadores.
Ademais, essa discusso passa pela prpria organizao do sistema de proteo
social brasileiro. Melhor explicando, considerando uma perspectiva mais ampla, a
discusso da SST passaria pela anlise sobre o que ser efetivamente garantido
a todos os trabalhadores. Hoje, a cobertura previdenciria est garantida de forma
diferenciada para cada grupo de trabalhadores. Houve avanos de cobertura,
particularmente com a incluso do segurado especial.
Todavia, a carteira de trabalho ainda um divisor para alguns direitos e
protees. Ela garante acesso aos benefcios previdencirios e a proteo pela
legislao trabalhista. Contudo, mesmo com todos os avanos na formalizao
nos ltimos anos, o emprego com carteira de trabalho assinada nunca ultrapassou
os 40% das posies ocupadas no mercado de trabalho nessa ltima dcada.
Adicionalmente, essa proteo um direito potencial, pois sabemos que parte
desses trabalhadores est inserida em ocupaes de baixa remunerao e, em geral,
em postos gerados em pequenas e mdias empresas que apresentam muita dicul-
dade para garantir todos os preceitos da legislao previdenciria e trabalhista.
A articulao e as possibilidades de institucionalizao de uma PNSST de-
pendem de uma correta compreenso desses fenmenos e da heterogeneidade do
mundo do trabalho.
127
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: os desaos e as possibilidades para atuao do executivo federal
Essa discusso est relacionada histria e fragilidade poltica da construo
constitucional do conceito de seguridade social. Em edio especial do boltetim
do Ipea, Polticas Sociais: acompanhamento e anlise (n
o
17), que analisou os vinte
anos da CRFB de 1988, os colaboradores do captulo que trata da seguridade
social argumentam que
A responsabilidade pblica, acompanhada pela instituio de garantias para
efetivao do novo formato da proteo social, comeou a ser regulada no incio
da dcada de 1990, embora em meio a uma conjuntura econmica desfavorvel.
Nesse sentido, os 20 anos que se seguiram promulgao da CF assistiram a dois
movimentos distintos. De um lado, em que pesem as expressivas diculdades
enfrentadas, observou-se a consolidao das trs polticas previdncia social,
assistncia social e sade que formam o pilar central do sistema de Seguridade
Social brasileiro, assim como do programa seguro-desemprego. (...) Entretanto, de
outro lado, pode-se armar que a Seguridade no tem conseguido se consolidar
como princpio organizador da proteo social no pas (IPEA, 2009, p. 26).
Nessa publicao destacava-se que essa diculdade estava relacionada a
alguns fatores, entre eles a regulao em separado das polticas setoriais por meio
de legislao infraconstitucional que no explicitava elementos vinculantes e
coordenados dessas polticas que comporiam a seguridade social no Brasil um
processo que levou consolidao institucional de polticas setoriais separadas,
cada qual com seu ministrio especco. Alm disso, com a crise nanceira do
incio dos anos 1990, cada setor buscou alternativas para o nanciamento de sua
poltica, nelas incluindo a vinculao de recursos oramentrios e de sua repartio
sem a regulamentao de mecanismos de articulao e coordenao interssetorial
para a construo da seguridade social. Isso implicou uma desestruturao do
conceito original de nanciamento solidrio entre as polticas componentes, com
o surgimento gradativo de uma competio interburocrtica por recursos (IPEA,
2009, p. 27). Esse fato foi reforado pelas sucessivas polticas de ajuste scal e
de controle de gastos. Tais processos, tambm, estariam relacionados disputa
poltica entre vises divergentes, tendo, de um lado, aqueles que consideram a
Seguridade Social como a base de um projeto de Estado Social; de outro lado, os
que consideram as determinaes constitucionais um empecilho ao equilbrio das
contas pblicas (IPEA, 2009, p. 28).
Ao longo desses anos foram tambm se consolidando mecanismos de
garantia de renda para os segmentos mais pobres da populao, como o Benefcio
de Prestao Continuada (BPC), que busca proteger a populao idosa ou com
decincia que vive em domiclios com renda familiar per capita inferior a 1/4 de
salrio mnimo. Ao mesmo tempo, novos mecanismos de transferncia de renda
foram sendo implementados, tais como o Bolsa Famlia, que garante a renda das
famlias cuja renda familiar per capita esteja abaixo de um determinado valor
considerado em cada perodo de tempo.
128
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Essas polticas de transferncia de renda no esto vinculadas insero no
mercado de trabalho, mas podem ser pensadas como mecanismos de garantia
de renda e proteo social para a populao brasileira, nela includa a populao
ocupada. Dessa forma, para alm das questes relacionadas articulao entre
o MTE, o MPS e o MS, deveriam ser pensados, tambm, mecanismos de
coordenao com as polticas assistenciais, hoje desenvolvidas no mbito no
Ministrio do Desenvolvimento Social (MDS).
Sem dvida, reconhecem-se os avanos das vrias polticas setoriais, mas
entende-se que este um processo incompleto. A efetiva garantia de mecanismos
de promoo, proteo e preveno na rea de sade e segurana no trabalho
passa por entender e articular as vrias polticas de modo a constituir um efetivo
sistema de proteo social no Brasil.
Ao mesmo tempo, sabe-se que as polticas sociais, ainda que possam
ser estimuladoras do crescimento e do desenvolvimento econmico, podem
encontrar limites para atuar neste campo. Assim, a formalizao dos trabalhadores
ou a ampliao de empregos com maior proteo social e com possibilidades
de maiores garantias para a sua sade e segurana passa por um processo de
discusso dos modelos de gerao de emprego e de postos de trabalho no pas.
Se a ampliao das ocupaes for feita sem considerar as questes relacionadas
qualidade das ocupaes geradas, qualicao dos trabalhadores e ampliao
de seu poder de barganha, as polticas de proteo social podem tornar-se
paliativas ou compensatrias para problemas gerados pelo modelo de crescimento
econmico adotado.
Disso resulta a premncia de se buscarem garantias de sustentabilidade
dessas polticas no tempo. Em particular, de estratgias voltadas ampliao e
efetividade de aes preventivas diversas na rea de SST, posto que, em funo
das perspectivas de crescimento econmico e do emprego hoje aventadas,
as mesmas podem servir de contraponto ao risco de se agravar o quadro dos
acidentes de trabalho no pas ante a potencial progresso da populao ocupada
como um todo.
5 CONSIDERAES FINAIS
A organizao e a efetiva implementao de uma Poltica Nacional de Segurana
e Sade no Trabalho (PNSST) no Brasil vem sendo tentada h alguns anos.
Este processo tem passado pela compreenso e possibilidade de efetivao das
atribuies de cada um dos ministrios diretamente relacionados SST, quais
sejam: o MPS, o MTE e o MS. Apesar dos conitos histricos relacionados
s atribuies comuns (ou sobrepostas) na scalizao dos ambientes de
trabalho, houve tentativas de solucion-los tanto por meio da constituio
129
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: os desaos e as possibilidades para atuao do executivo federal
de grupos de trabalho interministeriais como, ultimamente, por meio da CTSST.
Adicionalmente, a literatura apresenta tentativas prticas, ao nvel local, em
que foram implementadas aes coordenadas entre o MS e o MTE (VILELA,
RICARDI e IGUTI, 2001; BONEQUINI, 2009).
A cobertura por acidentes de trabalho pela Previdncia Social no inclui
todos os trabalhadores nem mesmo todos os segurados, visto que os trabalhadores
domsticos e os trabalhadores por conta prpria, mesmo que sejam segurados,
no tm direito ao benefcio acidentrio. H discusses sobre a ampliao da
responsabilidade das empresas em relao aos trabalhadores terceirizados ou
vinculados a empresas prestadoras de servios por elas contratadas. Esse debate
sobre a cadeia produtiva e as aes e responsabilidades pela SST estiveram
presentes nas discusses da CTSST. Contudo, os representantes dos empregadores
se mostraram reticentes a essa proposta argumentando que a questo era ampla
demais para ser tratada no mbito dessa Comisso.
Potencialmente, a garantia para os trabalhadores informais de alguma
cobertura pelo sistema de proteo social ou pela scalizao contra acidentes
de trabalho poderia vir da atuao dos prossionais vinculados ao SUS.
Contudo, este sistema ainda tem encontrado diculdades para garantir a ateno
integral a todos os trabalhadores, o que est reetido no fato de os nmeros de
acidentes e doenas prossionais informados por meio dos sistemas de vigilncia
do SUS ainda serem muito menores que aqueles apresentados pelo MPS.
H vrias propostas institucionais para aprimorar a implementao das po-
lticas de SST. A Conveno n
o
155 da OIT apresenta a recomendao de que se
estabelea um organismo central relacionado SST. Oliveira (2007) recomenda
que seja criado um Cdigo Nacional de Sade e Segurana do Trabalhador que
sistematize as normas da rea, unicando e harmonizando a legislao sobre o
tema, a exemplo do que foi feito com o Cdigo de Defesa do Consumidor.
Entende-se que se faz necessrio aprimorar o modelo de proteo social
brasileiro em busca de alternativas para a incluso dos trabalhadores informais
urbanos, a efetivao dos direitos dos trabalhadores domsticos e a proteo dos
trabalhadores rurais. Esta questo tem interfaces com as polticas econmica,
agrcola, industrial, de meio ambiente, de educao e de cincia e tecnologia, e
vincula-se ao modelo de desenvolvimento pretendido
Pode-se at argumentar que os recursos canalizados para as aes em SST
reduzem a disponibilidade de recursos para outros investimentos produtivos,
contrapondo-se ao crescimento; mas se pensarmos no apenas em crescimento,
mas em desenvolvimento, no podemos conceber a ausncia de polticas para a
rea de SST concomitantemente promoo da atividade produtiva. Alm do
que, em um mundo onde as exigncias relativas qualidade e ao contedo dos
130
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
produtos inuem na sua aceitao no mercado internacional, os investimentos
das empresas em SST podem inuenciar positivamente a sua competitividade.
Na aquisio de direitos e na ampliao da proteo social, passaram a inte-
grar o conjunto de direitos da populao aqueles relativos sade, previdncia,
assistncia social, alm de outros situados fora do campo da seguridade social, em
especial os relacionados educao e ao trabalho. A efetivao de direitos na rea
de SST , portanto, o desenrolar necessrio dos direitos sociais e parte do de-
senvolvimento. Neste sentido, sob uma perspectiva processual, a melhor forma de
gesto da SST poder ser a que se almeja, sobretudo em um cenrio a ser constru-
do com a canalizao de esforos convergentes de todos os envolvidos com a rea.
Ao centrar sua anlise no Executivo Federal, este trabalho apresenta limita-
es por no ter discutido a atuao na rea de SST de todos os rgos federais
dos trs poderes, particularmente, por no ter includo na anlise a atuao do
Ministrio Pblico do Trabalho, bem como de outras instncias do judicirio,
ou no ter avaliado as propostas legislativas apresentadas ao Congresso Nacio-
nal. Sugere-se que trabalhos futuros sobre aspectos institucionais da SST inclu-
am no somente outros poderes da Unio, mas, tambm, a atuao estadual e
municipal, alm da anlise de experincias pertinentes no plano internacional.
Devem ser aprofundadas, tambm, as discusses relacionadas s aes tripartites
concernentes s formas de participao das empresas e dos trabalhadores. Enm,
uma compreenso global na busca de se alargarem conhecimentos sobre as aes
interinstitucionais na rea de SST no Brasil.
REFERNCIAS
ANDRADE, E. T. O processo de implementao da poltica de ateno sade do
trabalhador em instituies pblicas federais: o desao da integralidade. 2009. Dis-
sertao (Mestrado em Sade Pblica) ESNP/Fiocruz, Rio de Janeiro, 2009.
BONEQUINI, R. L. Centralizar a referncia e descentralizar a ateno em sade
do trabalhador: retrato da vigilncia em sade integrada rede bsica no estado
de So Paulo. 2009. Dissertao (Especializao em Sade do Trabalhador)
Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina, Botucatu, 2009.
BRASIL. Portaria Interministerial MPS/MT/MS/SAF n
o
1, de 20 de abril de 1993.
CONFERNCIA NACIONAL DE SADE DO TRABALHADOR, 2. 2001, Bra-
slia. Anais. Braslia: Ministrio da Sade, Diviso de Sade do Trabalhador, 2001.
BRASIL. Portaria Interministerial n
o
153. Braslia: 13 fev. 2004.
BRASIL. Poltica Nacional de Segurana e Sade do Trabalhador. 2004b. Dis-
ponvel em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/insumos_portaria_
interministerial_800.pdf>. Acesso em: 10 out. 2010.
131
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: os desaos e as possibilidades para atuao do executivo federal
BRASIL. Portaria Interministerial de n
o
152. Braslia: 13 maio 2008.
BRASIL. Comisso Tripartite de Sade e Segurana no Trabalho (CTSST). Ata
da 1
a
Reunio Ordinria. Braslia: 6 ago. 2008a.
BRASIL. Comisso Tripartite de Sade e Segurana no Trabalho (CTSST). Ata
da 3
a
Reunio Ordinria. Braslia: 24 nov. 2008b.
BRASIL. Comisso Tripartite de Sade e Segurana no Trabalho (CTSST). Ata
da 5
a
Reunio Ordinria. Braslia: 24 maro 2009a.
BRASIL. Comisso Tripartite de Sade e Segurana no Trabalho (CTSST). Ata
da 6
a
Reunio Ordinria. Braslia: 26 maio 2009b.
CZERESNIA, D. O conceito de sade e a diferena entre preveno e promoo.
In: CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. (Org.). Promoo da sade: conceitos,
reexes, tendncias. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. p.39-53.
GOMEZ, C. M.; LACAZ, F. A. C. Sade do trabalhador: novas-velhas questes.
Cinc. Sade Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 797-807, dez. 2005.
IBGE Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica. Pesquisa Nacional por
Amostra de Domiclios - 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
IPEA INSTITUTO DE PESQUISA ECONMICA APLICADA. Polticas
sociais: acompanhamento e anlise, Braslia, n. 17, 2009. (Boletim).
MENDES, R.; CAMPOS, A. C. C. Sade e segurana no trabalho informal:
desaos e oportunidades para a indstria brasileira. Rev. Bras. Med. Trab., Belo
Horizonte, v. 2, n
.
3, p. 209-223, jul-set. 2004.
MINISTRIO DA SADE. Poltica Nacional de Sade do Trabalhador. Braslia:
MS 2004.
MINISTRIO DA SADE. 3
a
Conferncia Nacional de Sade do Trabalhador:
coletnea de textos. Braslia: MS, 2005.
MINISTRIO DA PREVIDNCIA SOCIAL. Manual de instrues para preenchi-
mento da Comunicao de Acidente do Trabalho CAT. Braslia: MPS, 2004.
OLIVEIRA, M. H. B.; VASCONCELLOS, L. C. F. As polticas pblicas brasilei-
ras de sade do trabalhador: tempos de avaliao. Disponvel em: <http://biblio-
teca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/trabalho-e-previdencia/
texto-37-2013-as-politicas-publicas-brasileiras-sobre-a-saude-do-trabalhador.
pdf>. Acesso em: 14 nov. 2010.
OLIVEIRA, S. Estrutura normativa da segurana e sade do trabalhador no Bra-
sil. Rev. Trib. Reg. Trab. 3
a
Reg., Belo Horizonte, v. 45, n. 75, p. 107-130, jan./
jun. 2007.
132
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
OLIVEIRA, M. H. B.; VASCONCELLOS, L. C. F. As polticas pblicas brasilei-
ras de sade do trabalhador: tempos de avaliao. Disponvel em: <http://biblio-
teca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/trabalho-e-previdencia/
texto-37-2013-as-politicas-publicas-brasileiras-sobre-a-saude-do-trabalhador.
pdf>. Acesso em: 14 nov. 2010.
SANTANA, V. S. S; SILVA, J. M. Os 20 anos da sade do trabalhador no Sistema
nico de Sade do Brasil: limites, avanos e desaos. In: BRASIL. Ministrio da
Sade. Sade Brasil 2008: 20 anos do Sistema nico de Sade (SUS) no Brasil.
Braslia: Ministrio da Sade, 2009.
SANTOS, L. Sade do trabalhador e o Sistema nico de Sade. Conito de com-
petncia. Unio, estados e municpios. Interface Ministrio do Trabalho e Emprego,
Ministrio da Sade e Ministrio da Previdncia e Assistncia Social. Revista de Direito
do Trabalho, v. 99, p. 114-159, 2000. So Paulo: Editora RT. Disponvel em: <http://
www.idisa.org.br/img/File/SaudeDoTrabalhador.pdf.> Acesso em: 6 dez. 2010.
SIXTIETH WORLD HEALTH ASSEMBLY. Workers health: global plan of ac-
tion. Geneva: WHO, 2007.
ULYSSEA, G. A informalidade no mercado de trabalho brasileiro: uma resenha da lit-
eratura. 2005. Dissertao (Mestrado em Economia) PUC, Rio de Janeiro, 2005.
VIEIRA, M. C. F. O trabalho domiciliar e sua relao com a sade do trabalhador:
uma reviso da literatura brasileira no perodo de 2000 a 2009. 2009. Disserta-
o (Mestrado Prossional em Sade Pblica e Meio Ambiente) ENSP/Fiocruz,
Rio de Janeiro, 2009.
VILELA, R. A. G.; RICARDI, G. V. F.; IGUTI, A. M. Experincia do Programa
de Sade do Trabalhador de Piracicaba: desaos da vigilncia em acidentes do
trabalho. Inf. Epidemiol. SUS, Braslia, v. 10, n. 2, jun. 2001.
CAPTULO 5
A CONSTRUO DO PERFIL NACIONAL DA SEGURANA E
SADE DO TRABALHADOR: ELEMENTOS E SUBSDIOS
Rogrio Galvo da Silva
*
1 APRESENTAO
A construo de polticas pblicas, a elaborao de planos nacionais e a denio
de estratgias e aes na rea de segurana e sade do trabalhador (SST) tendem
a ser cada vez mais complexas. Nas sociedades modernas esperado que o
planejamento de Estado referente SST seja baseado em fatos e evidncias
concretas, o que exige descritores e indicadores cada vez mais abrangentes.
Os locais de trabalho tm se caracterizado pela crescente complexidade dos
processos de produo e pelas rpidas mudanas nas condies de trabalho.
Em paralelo, h uma grande massa de trabalhadores com vnculos precrios de
trabalho, em busca de sobrevivncia e excludos de princpios fundamentais, que
coloca um desao premente aos formuladores de polticas pblicas.
Vrios pases desenvolvidos e em desenvolvimento tm recorrido cons-
truo de amplos diagnsticos, na forma de pers nacionais, para subsidiar o
fortalecimento de seus sistemas nacionais em SST e o planejamento de polticas,
planos e programas nacionais. A Organizao Internacional do Trabalho (OIT)
recomenda aos Estados-membros a elaborao e atualizao peridica de pers
nacionais resumindo a situao existente em matria de segurana e sade no tra-
balho e os progressos realizados para o alcance de ambientes de trabalho seguros
e saudveis (ILO, 2006b).
Para a Organizao Mundial da Sade (OMS), o perl mais do que um
conjunto de indicadores, pois propicia uma compreenso e um contexto que
no podem ser apresentados apenas por nmeros. Ainda para ela, os pers e
* Agradecimentos aos pesquisadores da Fundacentro Maria Carolina Maggiotti Costa, Eduardo Algranti, Irlon de
Angelo da Cunha e Jos Tarcsio P. Buschinelli pelas contribuies de melhoria do texto.
134
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
indicadores de sade e segurana no trabalho so usados para descrever o estado
geral do tema, fornecer os primeiros sinais de problemas, monitorar tendncias,
avaliar a eccia dos programas e apresentar uma base na qual os progressos so
medidos (WHO, [s.d.]).
Portanto, o perl nacional da SST oferece um quadro abrangente da
infraestrutura e dos recursos disponveis na esfera da SST, bem como da situao
dos acidentes e doenas do trabalho, sendo uma ferramenta til para os atores
governamentais e sociais com responsabilidade, direta ou indireta, no planejamento
e na avaliao de polticas pblicas, planos e programas nacionais para a promoo da
SST, conforme ilustra a gura 1. Alm disso, atenderia tambm ao interesse de outros
usurios que necessitam de informaes consolidadas de fontes conveis, tais como:
trabalhadores, empregadores, instituies de ensino ou de pesquisa, organismos
internacionais, prossionais especializados, estudantes e at mesmo investidores.
FIGURA 1
Conceitos relacionados com o perl nacional da SST
Fonte: Adaptado de ITCILO (2004).
No somente a OIT, mas tambm a OMS, por meio da Rede Global dos
Centros Colaboradores em Sade Ocupacional, recomendam aos pases membros
a construo e a reviso peridica dos pers nacionais. Para estas organizaes, os
pers so ferramentas teis no s para apoiar a formulao e a reviso de polticas,
planos e programas nacionais, mas tambm para monitorar o desenvolvimento de
aes globais promovidas por elas e facilitar o intercmbio tcnico entre os pases.
Vrios esforos foram feitos, principalmente por organismos internacionais em
135
A Construo do Perl Nacional da Segurana e Sade do Trabalhador: elementos e subsdios
colaborao com instituies especializadas de pases da Unio Europeia, para
padronizar a elaborao desses pers de forma a facilitar a compreenso e o uso
por mltiplos usurios.
Dezenas de pases se engajaram na construo e na publicao dos seus pers
nacionais da SST em formatos que variam mais no detalhamento do contedo do
que na estrutura dos tpicos. No Brasil, com o estabelecimento do Acordo de Coo-
perao Tcnica Ipea/Fundacentro, publicado no Dirio Ocial da Unio em janeiro
de 2009, foram estabelecidas trs linhas de ao que assegurassem a realizao de
estudos e pesquisas de interesse mtuo, principalmente a respeito de temas concer-
nentes s polticas de SST. Uma das linhas de ao foi direcionada para a construo
do primeiro perl nacional da segurana e sade do trabalhador brasileiro.
O interesse pelo tema foi reforado em discusses promovidas pelo grupo
diretor do Centro Colaborador da OMS em Sade Ocupacional no mbito da
Fundacentro, tendo em vista os objetivos da OMS expressos no Plano de Ao
Global para a Sade dos Trabalhadores 2008-2017, principalmente no que tange
elaborao e implementao de instrumentos para polticas, bem como para
orientar o planejamento de estudos e pesquisas.
Assim, este texto procura oferecer contribuies para a melhor compreenso
das caractersticas e nalidades do perl nacional da SST. Para tanto, descreve a
evoluo do conceito, e sua incorporao em instrumentos da OIT e aes da
OMS, apresenta iniciativas internacionais para a composio de pers dos pases
e, por m, analisa aspectos fundamentais relacionados com a construo do perl
nacional da SST.
Nesse sentido foi elaborado um levantamento bibliogrco sobre o tema,
na busca de livros, artigos e materiais disponveis em bibliotecas e na Web, que
pudesse oferecer contribuies ao tema. Recorreu-se, tambm, realizao de um
levantamento documental de registros de reunies internacionais que trataram
do desenvolvimento e da consolidao do tema, em especial aquelas ocorridas no
mbito da Rede de Trabalho do Mar Bltico sobre Segurana e Sade no Trabalho
e da Rede Global dos Centros Colaboradores da OMS em Sade Ocupacional.
2 HISTRICO
2.1 Evoluo do conceito
As primeiras iniciativas internacionais para a composio de pers nacionais
em SST surgiram no incio da dcada de 1990, com a publicao de vrios
pers nacionais concisos em SST pelo Centro Regional sia e Pacco para
Administrao do Trabalho (Arpla) no mbito da OIT. Os pases com pers
publicados foram: ndia, Repblica da Coreia, China, Bangladeche, Papua Nova
136
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Guin, Sri Lanka, Indonsia, Paquisto, Malsia, Filipinas, Cingapura, Tailndia,
Fiji e Ilhas Salomo. Com essa iniciativa, a Arpla pretendia reunir informaes
dos pases sobre a estrutura administrativa nacional, a legislao, as atividades em
curso, as tendncias e os problemas relacionados com a SST, de forma a ampliar
o conhecimento da situao da regio e fortalecer a sua atuao (ARPLA, 1992).
Nessa mesma poca, a OMS comeou a discutir a construo de redes
internacionais de pesquisa em sade para dar uma resposta mais ecaz aos principais
problemas de sade em todo o mundo. A necessidade de fontes de dados abrangentes
para identicar problemas globais de sade e para partilhar informaes entre os
membros da rede levou construo de pers nacionais de sade. O objetivo era
gerar uma viso abrangente da situao e dos problemas prioritrios de sade nos
pases membros da OMS, conforme descreve Rantanen (2008).
Naquela dcada, os pases europeus, movidos pelos desaos econmicos
e pela globalizao do mercado e das operaes comerciais, se voltaram para a
elaborao conjunta de uma estratgia regional que conduzisse harmonizao
da legislao nacional e das medidas preventivas em SST, com vistas reduo das
desigualdades existentes na rea da sade e do desenvolvimento socioeconmico.
Com isso, a disponibilidade de fontes de informaes sobre SST foi vista como
um requisito bsico.
Com a aprovao da Estratgia global da OMS sobre sade ocupacional
para todos (WHO, 1995), na 49
a
Assembleia Mundial de Sade em 1996, que
estabeleceu dez objetivos prioritrios globais, vrios centros colaboradores da OMS
em sade ocupacional apontaram a diculdade de monitorar a implementao
dessa estratgia e de mensurar os resultados alcanados, devido decincia ou
ausncia de sistemas de informao.
Em 1996, na cidade de Riga, Letnia, a OMS, por meio de seu Escritrio
Regional para a Europa, com a colaborao do Instituto de Sade Ocupacional
e Ambiental da Letnia, organizou uma reunio para debater o fortalecimento
da sade ocupacional nos pases do mar Bltico. A reunio foi uma continuao
de trs encontros anteriores organizados pela OMS, em 1994 e 1995, que
trataram do desenvolvimento de servios de sade ocupacional nos pases em
transio socioeconmica. Uma das concluses centrais de tais encontros foi o
reconhecimento da necessidade imediata de reforar os sistemas de informao
que suportavam o desenvolvimento da SST naqueles pases.
Quanto s concluses e s recomendaes da reunio em Riga, apontou-se a
necessidade de um esforo conjunto para o estabelecimento dos indicadores que
viriam a compor os pers nacionais em SST daqueles pases. O esforo conjunto
seria articulado pela Rede de Trabalho do Mar Bltico sobre Segurana e Sade no
Trabalho, tendo como ponto focal o Instituto Finlands de Sade Ocupacional
137
A Construo do Perl Nacional da Segurana e Sade do Trabalhador: elementos e subsdios
(WHO, 1996). Tais pers forneceriam as informaes essenciais para os membros
da rede, mas tambm atenderiam aos interesses de mltiplos usurios como
rgos governamentais, organismos internacionais, empregadores, trabalhadores,
instituies de ensino ou de pesquisa.
Nessa reunio tambm foi recomendado que os pers nacionais fossem com-
pilados e publicados abrangendo todos os aspectos relevantes da SST, incluindo a
legislao e a regulamentao, as autoridades governamentais responsveis, as infra-
estruturas governamental e no governamental, os recursos humanos, a normaliza-
o de sade ocupacional e outras informaes necessrias para a avaliao da SST.
Em 1997, na cidade de Vilnius, Litunia, o Escritrio Regional da OMS
para a Europa, em colaborao com o Centro de Medicina Ocupacional do Ins-
tituto de Higiene da Litunia, com o Instituto Finlands de Sade Ocupacional,
com a OIT e a Fundao Europeia para a Melhoria das Condies de Vida e de
Trabalho, organizou uma reunio sobre indicadores e pers nacionais de sade
ocupacional nos pases do mar Bltico, em continuidade aos debates ocorridos
na reunio anterior de 1996 (WHO, 1997). A maioria dos pases do mar Bltico
participantes na reunio reconheciam a necessidade de modicar, fortalecer e de-
senvolver os seus sistemas de informao sobre SST. Rearmaram-se a necessidade
de colaborao internacional para o intercmbio de experincias e a denio de
indicadores qualitativos e quantitativos que seriam utilizados na elaborao dos
pers nacionais. Tais pers tambm foram relatados como ferramentas necessrias
para o monitoramento do progresso da Estratgia Global da OMS sobre Sade
Ocupacional para Todos.
Em 2001, uma equipe de especialistas do Instituto Finlands de Sade
Ocupacional, ponto focal da Rede de Trabalho do Mar Bltico, d o primeiro
grande passo para orientar a elaborao de pers nacionais de SST, publicando
um guia sobre a experincia da Finlndia no assunto e fornecendo dados essenciais
de outros pases e organismos internacionais (RANTANEN et al., 2001).
2.2 Aes da OMS e da sua Rede Global de Centros Colaboradores em Sade
Ocupacional relacionadas com a elaborao de pers nacionais da SST
Em 2001, na quinta reunio de centros colaboradores da OMS em sade ocu-
pacional, realizada em Chiang Mai, Tailndia, foi estabelecida uma Fora Tarefa
(Task Force) para encorajar o desenvolvimento de pers e indicadores de SST. Essa
Fora Tarefa (TF13) visava sensibilizar os tomadores de deciso, tanto em nvel
nacional como local, sobre a situao da SST, promovendo, para isso, a elabora-
o de pers e indicadores (WHO, 2001).
Em 2003, na sexta reunio desses centros colaboradores da OMS, realiza-
da na cidade de Foz do Iguau, Brasil, entre outras providncias, atualizou-se a
138
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
estratgia da TF13, sendo discutidas a harmonizao dos pers nacionais, a pa-
dronizao dos indicadores e as diculdades de comparao de dados entre pases
(LEHTINEN, 2003).
Na reunio para elaborao da estrutura e do contedo do Plano de Trabalho
2006-2010 para os centros colaboradores em sade ocupacional, ocorrida em 2005
na cidade de Johannesburg, frica do Sul, foram denidas seis reas de atividade.
O tema sobre pers nacionais da SST foi englobado pela rea de atividade 2 (AA2)
sobre evidncias para ao no apoio de polticas e planos nacionais. Na rea de
atividade 1 (AA1), voltada para anlises da situao global, apontaram-se a impor-
tncia e a utilidade dos pers nacionais da SST e recomendou-se a elaborao de
um documento guia para orientar os pases na construo do perl nacional da SST
(WHO, 2005).
Em 2006, na stima reunio dos centros colaboradores da OMS em sade
ocupacional, realizada em Stresa, Itlia, o tema perl nacional foi tratado por um
subgrupo (AA2.2) denominado Pers nacionais, planos e vigilncia, que discu-
tiu a disponibilidade de conceitos e a operacionalizao da elaborao dos pers,
incluindo a qualidade da informao e a utilizao de enquetes (WILBURN e
LETHINEN, 2006).
Em maio de 2007, a OMS, em sua 60
a
Assembleia Mundial da Sade, dan-
do sequncia s aes de planejamento, endossou o Plano de Ao Global para
Sade dos Trabalhadores 2008-2017, que prope cinco objetivos para serem con-
siderados e adaptados pelos pases, como apropriados, em suas prioridades nacio-
nais e circunstncias especcas. (WHO, 2007).
No mbito do objetivo 1, visando elaborao e implementao de ins-
trumentos para polticas em sade dos trabalhadores, menciona-se que os planos
nacionais de ao sobre a sade dos trabalhadores devem ser elaborados pelos
ministrios competentes e por outras partes interessadas dos pases levando em
conta a Conveno 187 Estrutura para Promoo da Segurana e Sade no Tra-
balho, adotada pela OIT em 2006. Estes planos nacionais de ao devem incluir
a elaborao de pers nacionais, o estabelecimento de prioridades de ao, os
objetivos e metas, entre outros.
O plano de trabalho da rede global dos centros colaboradores em sade
ocupacional da OMS, para o perodo de 2009-2012 (WHO, 2009), est estrutu-
rado em catorze prioridades que esto distribudas nos cinco objetivos do Plano
de Ao Global para Sade dos Trabalhadores. A prioridade 1.1 deste plano de
trabalho, referente ao objeto 1, diz respeito elaborao/ atualizao de pers
nacionais sobre a sade dos trabalhadores e disponibilizao de evidncias para
o desenvolvimento, a implementao e a avaliao de planos de ao nacionais
sobre a sade dos trabalhadores. Os resultados esperados da referida prioridade
139
A Construo do Perl Nacional da Segurana e Sade do Trabalhador: elementos e subsdios
so a anlise comparativa das estratgias nacionais e dos planos de ao, os pers
nacionais e os relatrios das lies aprendidas.
Em 2009, na 8
a
reunio dos centros colaboradores da OMS em sade ocu-
pacional, realizada em Genebra, Sua, no mbito da prioridade 1.1 do Plano de
Trabalho da Rede desses centros colaboradores foi proposta a denio de um
formato padronizado da OMS e da OIT para a elaborao de pers nacionais
com base nos pers da Finlndia, bem como a criao de um repositrio global
de polticas nacionais de sade do trabalhador.
2.3 Insero do conceito de perl nacional da SST nos instrumentos da OIT
Em junho de 2003, a Conferncia Internacional do Trabalho, em sua 91
a
Sesso,
sediou a discusso geral sobre uma abordagem integrada das Convenes e
Recomendaes da OIT relacionadas com a rea de SST. As concluses dessa
discusso (ILO, 2004a) consolidaram uma estratgia global sobre segurana
e sade apoiada em dois pilares fundamentais, quais sejam: i) a construo e
manuteno de uma cultura preventiva nacional; e ii) a introduo de uma
abordagem de sistemas para gesto da SST, tanto no nvel da empresa como
tambm do sistema nacional.
Como parte dessa estratgia global, adotou-se um plano de ao visando,
entre outros, a promoo dos instrumentos da OIT, incluindo um novo instru-
mento estabelecendo uma estrutura para a promoo da SST, o qual deveria ser
desenvolvido sob uma base prioritria. De fato, o Corpo Executivo (Governing
Body) da OIT decidiu em novembro de 2003, em sua 288
a
Sesso, colocar esse
assunto na agenda da 93
a
Sesso da Conferncia Internacional do Trabalho, que
seria ento realizada em junho de 2005.
Foram preparados dois relatrios para servir como base da primeira discusso.
O relatrio preliminar, denominado Promotional framework for occupational safety
and health. Report IV(1) (ILO, 2004b), foi acompanhado de um questionrio, por
meio do qual os pases membros puderam opinar sobre o assunto. O resultado
alcanado com esses questionrios foi compilado num segundo relatrio,
Promotional framework for occupational safety and health. Report IV(2) (ILO, 2005),
que tambm indicava os pontos principais que a Conferncia poderia considerar.
No relatrio preliminar, Report IV(1), indicou-se como um elemento-chave
na introduo de uma abordagem de sistemas para gesto da SST em nvel na-
cional a formulao e o desenvolvimento de programas nacionais da SST. Esses
programas deveriam ser estratgicos e desenvolvidos durante um perodo deter-
minado por exemplo, cinco anos , focando prioridades nacionais especcas,
com base na anlise da situao do pas, preferencialmente resumida na forma de
um perl nacional da SST.
140
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Em junho de 2006, a OIT, durante a 95
a
Sesso da Conferncia Internacio-
nal do Trabalho, adotou a Conveno 187 Estrutura de Promoo da Segurana
e Sade no Trabalho (ILO, 2006a). Esta Conveno estabelece que o Estado-
membro, ao ratic-la, deve promover a melhoria contnua da SST por meio do
desenvolvimento de uma poltica nacional, do sistema nacional e de programa(s)
nacional(is), em consulta maioria das organizaes representativas dos emprega-
dores e trabalhadores (inciso I, Artigo 2
o
).
Segundo a Conveno, o programa nacional deve ser formulado e revisado
com base em uma anlise da situao nacional da SST, incluindo a anlise do
sistema nacional para a SST (Artigo 5
o
, inciso II, alnea c). A gura 2 apresenta os
principais elementos da Conveno 187 e a ligao entre eles.
FIGURA 2
Principais elementos da Conveno 187 adotada pela OIT em 2006 e a ligao entre eles
Elaborao do autor.
O termo perl nacional da SST no referido na Conveno 187, empre-
gado o termo anlise da situao a respeito da SST, conforme item c do Artigo 5
o
.
O termo perl nacional referido e detalhado no item IV da Recomendao 197
adotada pela OIT (ILO, 2006b).
141
A Construo do Perl Nacional da Segurana e Sade do Trabalhador: elementos e subsdios
3 ELEMENTOS DO PERFIL NACIONAL DA SST
Em 2001, com a publicao do guia para elaborao de pers nacionais de sade e
trabalho pelo Instituto Finlands de Sade Ocupacional (RANTANEN et al., 2001),
seguiu-se um modelo conceitual de SST considerando trs tipos de indicadores:
i) indicadores de pr-requisitos da SST, envolvendo aspectos da legislao,
infraestruturas e recursos humanos; ii) indicadores de condies de trabalho,
abrangendo fatores fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos, psicolgicos e sociais
do trabalho; e iii) indicadores de resultados da SST, incluindo taxas de acidentes de
trabalho e doenas do trabalho, sintomas psicolgicos e capacidade para o trabalho
percebida pelo trabalhador.
Obadia (2002) publicou um working paper propondo uma metodologia
para a preparao de um perl nacional da SST, apresentando a descrio dos
elementos para a composio de um inventrio das ferramentas e dos recursos
disponveis em um pas para implementar e gerenciar a SST, fornecendo os
dados necessrios para o estabelecimento das prioridades nacionais e das aes de
melhoria contnua da SST.
A Recomendao 197 adotada pela OIT (ILO, 2006b) relaciona doze ele-
mentos que os pers nacionais sobre segurana e sade deveriam contemplar e
menciona outros dez elementos para serem includos, quando apropriado.
Em 2006, o Ministrio Finlands dos Assuntos Sociais e da Sade publicou o
perl nacional da segurana e sade no trabalho daquele pas (MSAH, 2006), em
formatos resumido e detalhado, o qual foi preparado a pedido da OIT. A estrutura
dos documentos seguiu, tanto quanto possvel, a Recomendao 197 adotada pela
OIT e tem servido de referncia para vrios pases (LEHTINEN, 2008).
Em 2008, o Escritrio Sub-Regional de Moscou da OIT publicou um guia
para compilao do perl nacional da segurana e sade no trabalho (ILO, 2008).
Esta publicao descreve os preparativos para sua elaborao e detalha os elementos
estruturais que devem ser contemplados, incluindo dados descritivos e estatsticos
sobre os aspectos relevantes para a gesto da SST em qualquer nvel da autoridade
governamental e administrao local, bem como em nvel de organizao.
A seguir relacionam-se os principais elementos identicados na elaborao
dos pers nacionais da SST, que foram compilados com base no guia para ela-
borao de pers nacionais de sade e trabalho do Instituto Finlands de Sade
Ocupacional (RANTANEN et al., 2001), na Recomendao 197 (ILO, 2006b),
no perl nlands da SST (MSAH, 2006) e na publicao do Escritrio Sub-
regional de Moscou (ILO, 2008).
Base legal da SST, incluindo a descrio dos tpicos relacionados com a
Constituio Federal, leis principais, regulamentos, convenes coletivas
e quaisquer outros instrumentos pertinentes.
142
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Base tcnica da SST, incluindo a descrio das normas tcnicas volunt-
rias, regras e diretrizes para sistemas de gesto em SST, adoo de cdigos
de prtica, regulamentos tcnicos de procedimento e outros instrumen-
tos ans.
Mecanismos de polticas nacionais em SST, incluindo a descrio dos
mecanismos de planejamento e reviso das polticas pblicas, planos e
programas nacionais, estratgias de interveno, mecanismos de cumpri-
mento da lei e modelos econmicos para as atividades dos empregadores,
caso existentes.
Mecanismos de coordenao e de parceria social na esfera da SST, tan-
to em nvel internacional, nacional, regional e local, incluindo ncleos
interministeriais, comisses tripartites, comits de SST, bem como me-
canismos de controle pblico e mecanismos de cooperao das organiza-
es dos empregadores e trabalhadores.
Organizao do sistema de SST: meios e rgos, incluindo a descrio
das autoridades governamentais competentes, sistema de vigilncia, sis-
tema de inspeo, previdncia social e seguro de acidentes, centros de
controle de intoxicao, instituies de pesquisa e desenvolvimento,
bem como instituies de educao e difuso de informaes em SST,
instituies e associaes especializadas, servios especializados e fora de
trabalho ativa responsvel pela SST.
Estatsticas e indicadores sobre acidentes e doenas de trabalho, incluin-
do tambm a descrio dos fundamentos para qualicar casos de leses
e doenas, dos mecanismos de coleta e anlise de dados, da avaliao da
escala de incompletude dos dados, de forma a permitir a compreenso
dos princpios em que os dados so coletados e como eles deveriam ser
interpretados.
Atividades regulares e trabalhos em curso na rea de SST, citando exem-
plos tais como os programas nacionais governamentais e no governa-
mentais, campanhas de sensibilizao, certicaes da conformidade
com modelos de gesto, programas corporativos, acordos de cooperao
tcnica, aes dos centros colaboradores da OMS em sade ocupacional,
atividades do escritrio nacional da OIT.
Aspectos econmicos e sociais referentes SST, incluindo a estimativa
de custos dos acidentes e doenas do trabalho, dados de oramentos e
indicadores sociais da sade, alm de estatsticas e indicadores gerais de
interesse, tais como dados demogrcos, nveis de instruo, dados dos
setores da atividade econmica e indicadores econmicos do pas.
143
A Construo do Perl Nacional da Segurana e Sade do Trabalhador: elementos e subsdios
Enquete com os atores da SST envolvendo autoridades e especialistas
do governo, as representaes dos empregadores e dos trabalhadores, as
organizaes e associaes de prossionais da SST, para levantamento de
opinies sobre temas mais importantes, de problemas mais urgentes,
de pontos fortes e de decincias do sistema nacional, de aspectos eco-
nmicos da SST, sobre a colaborao tripartite e os desaos para a SST.
Anlise da situao indicando os principais aspectos dos elementos do
perl, bem como os pontos fortes, as decincias, as oportunidades e as
ameaas, podendo incluir consideraes sobre a metodologia e os dados
levantados, alm de outros aspectos relevantes para a melhoria do siste-
ma nacional da SST.
Concluses gerais resumindo a situao geral da SST no pas e, confor-
me a necessidade, comparando-a com a situao de outros pases de in-
teresse, nos aspectos que podem gerar aprendizado para o planejamento
e o desenvolvimento do sistema nacional da SST.
As enquetes contidas no perl podem atingir atores distintos. A Organizao
Iberoamericana de Segurana e Sade no Trabalho preconiza a realizao de
enquetes sobre a sade e as condies do local de trabalho com os empregadores
e trabalhadores, como forma de descrever, analisar e monitorar as condies de
trabalho nos pases, bem como complementar as estatsticas sobre acidentes e
doenas do trabalho (OISS, 2009). De forma semelhante, Rantanen et al. (2001)
preconizam a realizao de enquetes junto aos trabalhadores seguindo um modelo
conceitual que considere os indicadores de condies de trabalho.
Em alguns casos, dependendo das necessidades e circunstncias internas do
pas, o perl pode assumir um formato distinto, menos padronizado, como foi o
caso do perl neozelands da SST, elaborado pelo Comit Consultivo Nacional
da Sade e Segurana no Trabalho para o ministro do Trabalho daquele pas
(PEARCE et al., 2007), que delineia alguns dos princpios bsicos subjacentes
abordagem da Nova Zelndia para a preveno de doenas e acidentes no local de
trabalho e resume o sistema nacional de SST.
Esse documento tambm descreve resumidamente os pers nacionais da SST
de cinco pases de interesse, apontando nas concluses as lies aprendidas, as
oportunidades de melhoria do sistema nacional e dos programas nacionais da SST,
e a necessidade do fortalecimento de recursos para sustentar a viso estratgica
de longo prazo. Ao nal, tece vrias recomendaes para assegurar o alcance dos
objetivos de longo prazo da viso estratgica e tratar os assuntos levantados.
144
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
4 INICIATIVAS INTERNACIONAIS PARA COMPOSIO DE UM
MINIPERFIL BRASILEIRO EM SST
Em 2006, a OIT publicou um relatrio sobre pers dos pases sobre segurana
e sade no trabalho (ILO, 2006c) visando apresentar, de forma concisa, o status
da SST de vrios pases, utilizando dezesseis indicadores. Destinava-se a ser uma
base de referncia para um pas acompanhar o seu prprio progresso e tambm
compar-lo com outros pases.
A partir dessa publicao, a OIT pretendia expandir gradualmente a co-
bertura das informaes, aumentando o nmero de pases e de indicadores.
Acreditava-se que estes indicadores, considerados no conjunto, proporcionariam
um incremento no acompanhamento da situao de SST, pois permitiriam um
melhor planejamento e a implementao de programas nacionais contendo metas
mensurveis e prazos denidos.
Essa publicao reuniu dados e informaes bsicas de 52 pases, inclusive
do Brasil, sobre o qual constavam a populao economicamente ativa, a relao
das Convenes da OIT raticadas, a cobertura do sistema de compensao
dos trabalhadores, a estimativa da OIT sobre a quantidade de acidentes fatais, a
mortalidade relacionada ao trabalho, as mortes causadas por substncias perigosas,
as estimativas da OIT sobre os acidentes com mais de trs dias de afastamento, os
centros de informao sobre SST e as campanhas de sensibilizao.
Em 2007, a OIT publicou um Perl diagnstico em segurana e sade
no trabalho dos pases da regio andina (OIT, 2007a), incluindo a Bolvia, o
Equador, a Colmbia, o Peru e a Venezuela, e tambm um Perl diagnstico em
segurana e sade no trabalho do Cone Sul, que incluiu a Argentina, o Brasil, o
Chile, o Paraguai e o Uruguai (OIT, 2007b).
No perl diagnstico em segurana e sade no trabalho do Cone Sul, as
informaes e os dados relativos ao Brasil procuraram retratar resumidamente
alguns aspectos da base legal, da competncia da Unio e dos ministrios
diretamente envolvidos, da proposta de poltica nacional de SST, da inspeo
do trabalho e dos sistemas de cobertura dos acidentes e doenas do trabalho,
bem como apresentar uma comparao de dados estatsticos sobre acidentes do
trabalho entre o Brasil e a Argentina, um breve informe sobre a participao
da Fundacentro na formao de recursos humanos em SST e um panorama de
dados socioeconmicos.
Entretanto, tais trabalhos no devem ser confundidos com os pers nacionais
ociais dos pases, os quais so frutos de uma construo interna e da aprovao
pelos principais atores governamentais e sociais envolvidos com a SST. Segundo
Valentina Forastieri, supervisora tcnica da elaborao dos pers diagnsticos,
145
A Construo do Perl Nacional da Segurana e Sade do Trabalhador: elementos e subsdios
tais trabalhos se constituram num primeiro passo para desenhar uma estratgia
para a implementao de um Programa Nacional de Trabalho Seguro em cada
um dos pases da regio. Tambm serviram como insumos para a elaborao
do componente sobre condies de trabalho, segurana e sade ocupacional da
Agenda Hemisfrica da OIT 2006-2010.
5 CONSIDERAES FINAIS
O perl nacional da SST, por oferecer um quadro abrangente da infraestrutura e dos
recursos disponveis na esfera da SST, bem como da situao dos acidentes e doenas
do trabalho, atende ao interesse de mltiplos usurios, pois todas as partes interessadas
necessitam de informaes consolidadas e atualizadas de fontes conveis. Ao longo
das ltimas duas dcadas, dezenas de pases industrializados e em desenvolvimento
tiveram seus pers nacionais da SST publicados em formato conciso ou detalhado,
cuja utilizao susceptvel de se tornar cada vez mais prevalente.
A denio de descritores e indicadores que sejam adequados, sucientes
e viveis para a elaborao do perl nacional da SST uma tarefa que exige a
observao de diferentes aspectos, na medida em que est atrelada capacidade
e aos recursos dos sistemas de informao do pas. Do ponto de vista prtico, no
incio da elaborao do perl nacional, deveria ser considerado um nmero limite
de elementos-chave, os quais poderiam ser complementados com parmetros
mais complexos, de acordo com as necessidades e possibilidades do pas.
A disponibilidade de dados e informaes o grande desao na elaborao
do perl nacional. Mesmo considerando somente os dados estatsticos de acidentes
e doenas, observa-se que a maioria dos pases dispe de sistemas de informao
com lacunas substanciais, e vrios setores ou agrupamentos tais como pequenas
empresas, servidores pblicos, militares, trabalhadores autnomos e do setor
informal cam descobertos.
Devido natureza e abrangncia das informaes contempladas no perl,
desejvel que seja preparado com a participao dos principais rgos responsveis
e organismos relevantes envolvidos em diferentes aspectos da SST, notadamente
com o envolvimento das organizaes de empregadores e trabalhadores. A abran-
gncia e a profundidade das informaes do perl esto vinculadas ao nvel de
adeso e de esforo para levar adiante os trabalhos de levantamentos e de pesquisa,
visto que boa parte das informaes no est pronta disposio.
Assim, o interesse, a disponibilidade e o apoio dos atores governamentais e
sociais para a construo do perl so fatores determinantes da sua qualidade e re-
presentatividade. A princpio, o perl seria de interesse comum, pois todos necessi-
tam de informaes de fontes conveis para orientar o planejamento, as tomadas
de decises etc. Um desao especial seria em decorrncia da rpida mudana da
146
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
vida no trabalho gerando a necessidade do perl ser atualizado continuamente e
com dinamismo, demandando infraestrutura e recursos adequados.
A comparao internacional de indicadores da SST requer a disponibili-
zao de dados suportados pelos sistemas de informao dos pases interessados
nessa construo. Num estudo desenvolvido pelo Instituto Finlands de Sade
Ocupacional (RANTANEN et al, 2002), reunindo informaes sobre indicado-
res e dados de pers de 22 pases europeus, apontaram-se muitos problemas no
que se refere disponibilidade dos indicadores na forma requerida. A comparao
de indicadores entre os pases foi deciente, em razo da heterogeneidade cultu-
ral, legislativa, administrativa, socioeconmica e conceitual e de outros fatores.
Verica-se que a comparao de indicadores da SST entre diferentes regies
de um mesmo pas geralmente muito melhor do que a comparao entre pa-
ses, pois facilita a identicao de prioridades, o acompanhamento de variaes
temporais, a indicao de tendncias, o monitoramento e avaliao de programas
e planos de ao.
A melhoria do sistema nacional da SST passa pela integrao efetiva da pes-
quisa e sistemas de informao, com o desenvolvimento de polticas pblicas, pla-
nos e programas. Neste aspecto indica-se que o prprio processo de construo do
perl nacional da SST pode dar incio a uma nova cooperao, a interaes mais
efetivas, a uma melhor compreenso dos problemas potenciais e anlise crtica
das atividades em curso, bem como vir a ser o embrio de diversas iniciativas
voltadas para a promoo da SST.
Qualquer que seja o ciclo de poltica predominante na rea de SST, o perl
nacional se caracteriza como uma ferramenta complementar til em cada uma
das fases, especialmente para auxiliar o diagnstico na fase de formulao de pol-
ticas, subsidiar a retroalimentao/ monitoramento do ciclo de poltica e indicar
a necessidade de interveno/mobilizao das partes interessadas.
No Brasil, com a instituio da Comisso Tripartite de Sade e Segurana
no Trabalho, por meio da Portaria Interministerial n
o
152, de 13 de maio de
2008, que tem por objetivo avaliar e propor medidas para a implementao no
pas da Conveno n
o
187 adotada pela OIT, o perl nacional da SST auxiliaria
a reviso e a ampliao da proposta da poltica nacional de SST, a proposio de
aperfeioamento do sistema nacional de SST e a elaborao/reviso de planos,
estratgias e aes.
H que se considerar que os sistemas ecazes se caracterizam por apresenta-
rem um empenho contnuo na integrao e no direcionamento dos recursos para
uma viso estratgica de longo prazo. Hoje inexiste no Brasil um processo institu-
cionalizado na rea de SST de conquista de objetivos de longo prazo, pois o Plano
147
A Construo do Perl Nacional da Segurana e Sade do Trabalhador: elementos e subsdios
Plurianual (PPA) da administrao pblica federal possui um horizonte mximo
de quatro anos. Assim, o perl nacional da SST tambm poderia servir de base
para uma anlise da conjuntura atual e, posteriormente, para anlises retrospec-
tiva e prospectiva, com vistas construo de cenrios futuros na rea da SST.
Nesse contexto, a anlise retrospectiva permitiria a gerao de conhecimento
da dinmica entre os atores e suas aes que, no passado, construram a realidade
presente. A construo de cenrios na anlise prospectiva permitiria uma
anteviso da realidade futura, que, agregada ao conhecimento da dinmica dos
fatos passados que conformaram a conjuntura atual, pode possibilitar a denio
de aes estratgicas para o alcance de objetivos de longo prazo, em marcos de
tempo predeterminados, partindo do princpio de que o futuro no um destino
manifesto, mas construdo pela soma das aes e omisses do presente.
1
REFERNCIAS
ASIAN AND PACIFIC REGIONAL CENTRE FOR LABOUR ADMINIS-
TRATION (ARPLA). Prole on occupational safety and health in the peoples Re-
public of China. Edited by H. Ono and K. Enomoto. Bangkok: ILO, 1992.
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). Outline for compiling
national prole of occupational safety and health. Russia: ILO, 2008.
______. C187 Promotional Framework for Occupational Safety and Health Con-
vention. Geneva: ILO, 2006a.
______. R197 Promotional Framework for Occupational Safety and Health Recom-
mendation. Geneva: ILO, 2006b.
______. Occupational safety and health country proles. Geneva: ILO, 2006c.
______. Promotional framework for occupational safety and health. Report IV(2).
Geneva: ILO, 2005.
______. Global strategy on occupational safety and health: conclusions adopted
by the International Labour Conference at its 91
st
Session, 2003. Geneva: ILO,
2004a.
______. Promotional framework for occupational safety and health. Report IV(1).
Geneva: ILO, 2004b.
INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE INTERNATIONAL
LABOUR OFFICE (ITCILO). National programmes: the international experi-
ence. Power point presentation of the course A900259 Occupational safety and
health systems and programmes. Turin (Italy), from 4 to 15 October 2004.
1. A frase em destaque foi extrada do Projeto Brasil 3 Tempos: 2007, 2015 e 2022 (NAE, 2004, p. 24).
148
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
LEHTINEN, S. Safety and health prole of Finland. Barents Newsletter on Oc-
cupational Health and Safety, v. 11, n. 1, p. 31-33, 2008.
______. Summary report of the sixth network meeting of the WHO Collaborating
Centres in occupational health. Iguassu Fall, Brazil, 2003. Disponvel em: <http://
www.who.int/occupational_health/network/en/oeh6meetrep.pdf>. Acesso em:
15 jul. 2009.
MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH (MSAH). National Occu-
pational Safety and Health Prole of Finland. Helsinki, 2006.
NCLEO DE ASSUNTOS ESTRATGICOS DA PRESIDNCIA DA
REPBLICA (NAE). Projeto Brasil 3 Tempos: 2007, 2015 e 2022. Cadernos
NAE, Braslia, n. 1, 2004.
OBADIA, I. Preparing a national prole on occupational safety and health: meth-
odology proposal. 12 Jul. 2002. (Working Paper).
ORGANIZACIN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Per-
l diagnstico en seguridad y salud en el trabajo de los pases de la subregin
andina: Bolivia, Ecuador, Colombia, Per y la Repblica Bolivariana de
Venezuela. 2007a. Disponvel em: <http://portal.oit.or.cr/index.php?
option=com_staticxt&staticfile=Trabajo%20Seguro/region%20andina.pdf>.
Acesso em: 19 maio 2009.
______. Perl diagnstico en seguridad y salud en el trabajo del Cono Sur: Argen-
tina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 2007b. Disponvel em: http://portal.oit.
or.cr/index.php?option=com_staticxt&staticle=Trabajo%20Seguro/conosur.
pdf >. Acesso em: 19 maio 2009.
ORGANIZAO IBEROAMERICANA DE SEGURANA E SADE NO
TRABALHO (OISS). Estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo
2010-2013. Madrid, 2009.
PEARCE, N. et al. Nationalprole of occupational health and safety in New Zea-
land: report to the Minister of Labour. Wellington: NOHSAC, 2007.
RANTANEN, J. OHS proles: an instrument for policy, practice and collective learn-
ing. Barents Newsletter on Occupational Health and Safety, v. 11, n. 1, p. 3-6, 2008.
RANTANEN, J. et al. Work and health country proles of twenty-two european
countries. People and Work Research Reports 52. Helsinki: Finnish Institute of
Occupational Health, 2002.
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global strategy on occupation-
al health for all: the way to health at work. Geneva, 1995. Disponvel em: <http://
www.who.int/occupational_health/en/oehstrategy.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2009.
149
A Construo do Perl Nacional da Segurana e Sade do Trabalhador: elementos e subsdios
______. National and local proles and indicators. Geneva, [S.d.] Disponvel em:
<http://www.who.int/occupational_health/topics/natproles/en/>. Acesso em:
19 nov. 2010.
______. Occupational health indicators and country proles in the Baltic Sea coun-
tries: Follow-up meeting. Summary Report. Vilnius, Lithuania, 1997. Disponvel
em: <http://www.balticseaosh.net/documents.php>. Acesso em: 15 jul. 2009.
______. Report of the fth network meeting of the WHO Collaborating Centres in
occupational health. Chiangmai, Thailand, 2001. Disponvel em: <http://www.
who.int/occupational_health/network/cc5meeting/en/index.html>. Acesso em:
15 jul. 2009.
______. Report of the Meeting to Develop the 2006-2010 Work Plan of the Global
Network of the WHO Collaborating Centers in Occupational Health. Johannesburg,
South Africa, 2005. Disponvel em: <http://www.who.int/occupational_health/
network/oehCCsreport05.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2009.
______. Strengthening of Occupational Health in the Baltic Sea Countries: Follow-
up Meeting. Summary Report. Riga, Latvia, 1996. Disponvel em: <http://www.
balticseaosh.net/documents.php>. acesso em: 15 jul. 2009.
______. Workers health: global plan of action. Geneva, 2007. Disponvel em:
<http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_les/WHA60/A60 _R26-en.pdf>. Acesso
em: 10 ago. 2009.
______. WHO global workplan of the collaborating centres in occupational health:
table of priorities for 2009-2012. 2009. Geneva, 2009. Disponvel em: <http://
www.who.int/occupational_health/network/oeh_Summary_of_Work_Plan_Pri-
orities_May_2009.pdf >. Acesso em: 10 ago. 2009.
WILBURN, S; LETHINEN, S. Seventh Network Meeting of the WHO Col-
laborating Centres in Occupational Health. Summary Report. Stresa, Italy, 2006.
Disponvel em: <http://www.who.int/occupational_health/network/stresareport-
march2007.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2009.
Parte II
AS FONTES DE
INFORMAO PARA
A SEGURANA E
SADE NO TRABALHO
NO BRASIL
CAPTULO 6
SISTEMAS DE INFORMAO DO MINISTRIO DO TRABALHO E
EMPREGO RELEVANTES PARA A REA DE SADE E SEGURANA
NO TRABALHO RAIS, CAGED, SFIT
Maria Emilia Piccinini Veras
Maria das Graas Parente Pinto
Adolfo Roberto Moreira Santos
1 APRESENTAO
Uma das grandes preocupaes de todo governo possuir instrumentos conveis
que permitam conhecer o passado, descrever o presente e fazer prognsticos sobre
seu futuro, para que possa gerar polticas pblicas com a nalidade de alcanar
a meta denida, que atenda s suas aspiraes. Neste contexto imprescindvel
contar com um sistema estatstico convel, capaz de possibilitar a elaborao de
diagnsticos, de desenhar polticas pblicas mais ecientes e de monitor-las com o
intuito de implantar as correes que se zerem pertinentes. Em geral, os registros
administrativos, na sua concepo bsica, so criados com o objetivo de scalizar algum
programa ou poltica de governo, no sendo a produo de estatsticas a sua nalidade
principal. Entretanto, o conjunto riqussimo de informaes existentes nestes
registros administrativos sobre o indivduo (gnero, idade, escolaridade, etnia etc.)
torna-os fortes candidatos a serem utilizados na elaborao de estatsticas; e isso
ocorre, na maioria das vezes, no curso da funo administrativa.
A construo de bases de dados com rigor tcnico e convel uma tarefa
complexa. O Brasil encontra-se entre os poucos pases que as possuem, e a qualidade
das bases de dados do pas, sua consistncia tcnica, a transparncia na sua elaborao
e as modernas formas de divulgao situam-no entre as naes mais avanadas
do mundo. Tal resultado pode ser atribudo interao entre diversos segmentos
da sociedade (Estado, empresas, acadmicos, usurios das bases de dados etc.), que,
cumprindo cada um o seu papel no transcurso de muitos anos, acabam contribuindo
para consolidar um sistema estatstico que espelhe com dedignidade a realidade do
pas, sistema este crucial para administrar os desaos das sociedades modernas.
154
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Os Registros Administrativos Relao Anual de Informaes Sociais
(Rais) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) so
de responsabilidade do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), e cabem
Coordenao Geral de Estatsticas do Trabalho (CGET) o gerenciamento,
a superviso, o controle, o acompanhamento e a disseminao dos mesmos.
A Rais foi criada com ns scalizadores e estatsticos, enquanto o CAGED foi
concebido como instrumento de scalizao. Com o tempo, em razo da carncia
de estatsticas sobre o mercado de trabalho formal em nvel mais desagregado e
de abrangncia nacional, tanto a Rais quanto o CAGED passaram a ser utilizados
com ns estatsticos, sendo assumidos, atualmente, como pilares essenciais no
sistema estatstico do Pas.
Assim como a Rais e o CAGED, o sistema de informaes denominado
Sistema Federal de Inspeo do Trabalho (SFIT) surgiu em funo de uma
demanda interna do MTE, especicamente do seu setor de scalizao,
decorrente da necessidade de serem criados mecanismos objetivos para se aferir a
produtividade da inspeo trabalhista, tanto nas diversas unidades de scalizao
quanto individualmente, no nvel de cada auditor scal. A sua natureza um
pouco diferente dos outros registros administrativos citados, j que os dados que
o alimentam no se originam de empresas, instituies e pessoas que contratam,
ou possam vir a contratar, trabalhadores, mas predominantemente dos prprios
servidores do MTE que participam dos processos de scalizao.
A seguir sero analisados cada um destes registros e sistemas de informao
e seu uso potencial para a rea de sade e segurana no trabalho.
2 RELAO ANUAL DE INFORMAES SOCIAIS (RAIS)
A Rais foi instituda em dezembro de 1975, pelo Decreto n
o
76.900/75, para
monitorar a entrada da mo de obra estrangeira no Brasil, subsidiar o controle
dos registros relativos ao FGTS e arrecadao e concesso de benefcios pelo
Ministrio da Previdncia Social, bem como para servir de base de clculo do PIS/
PASEP. Aps o ano de 1990, em observncia ao dispositivo constitucional (Artigo
239 da CF/88 e Lei n
o
7.998/90), os dados da Rais passaram a ser utilizados para
viabilizar o pagamento do 14
o
salrio aos trabalhadores com direito a concesso
do pagamento do abono salarial aqueles com renda mdia de at dois salrios
mnimos , sendo a nica fonte do governo destinada a esta nalidade. Ademais,
uma ferramenta fundamental para municiar as polticas de formao de mo
de obra, compor o Cadastro Nacional de Informaes Sociais (CNIS), gerar
estatsticas sobre o mercado de trabalho formal brasileiro, subsidiar as diversas
fontes de gerao de estatsticas sobre o mercado de trabalho (IBGE, PED/Seade/
Dieese, FIESP e outras), apoiar o debate na elaborao de polticas pblicas
155
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
de combate s desigualdades de emprego e renda, bem como para a tomada
de decises dos mais diversos segmentos da sociedade (empresas, acadmicos,
sindicatos etc.). Dessa forma, a Rais um instrumento extremamente apto para
diagnosticar desaos do mercado de trabalho, desenhar programas, monitor-
los, sendo utilizado como indicador de eccia dos resultados obtidos de alguns
programas ou polticas de governo.
A Rais de abrangncia nacional, com periodicidade anual, obrigatria
para todos os estabelecimentos, inclusive aqueles sem ocorrncia de vnculos
empregatcios no exerccio neste caso, denominada Rais Negativa. A captao
da Rais realizada, normalmente, nos meses de janeiro a maro de cada ano, e
suas informaes referem-se ao exerccio do ano anterior. O tempo despendido
para a disponibilizao dos dados tem se reduzido substancialmente, passando de
uma defasagem de quase dois anos para aproximadamente oito meses, em razo,
principalmente, dos avanos tecnolgicos. Em agosto de 2010 foi divulgada a
Rais 2009.
As informaes da Rais podem ser desagregadas em dois conjuntos.
O primeiro contm dados dos estabelecimentos.
Razo Social;
Nome Fantasia;
Natureza Jurdica;
CNPJ/CEI;
Classe CNAE;
Porte do estabelecimento;
Endereo: bairro, cidade, UF, CEP, telefone e endereo eletrnico;
O segundo conjunto contm informaes sobre o trabalhador.
PIS/PASEP;
Nome completo;
CPF;
CTPE nmero, srie e UF;
Gnero;
Escolaridade;
Data de nascimento;
Remunerao mdia;,
156
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
13
o
salrio;
Ocupao;
Tipos de vnculo (celetista, estatutrio, temporrio ou avulso);
Tipos de afastamento:
Acidente de trabalho tpico;
Acidente de trabalho de trajeto;
Doena relacionada ao trabalho;
Doena no relacionada ao trabalho;
Licena-maternidade;
Servio militar obrigatrio;
Licena sem vencimento/sem remunerao.
Tipos de admisso e desligamento;
Tempo de servio;
Nacionalidade;
Raa/cor;
Portador de necessidades especiais por tipo;
Aprendiz;
Horas contratuais;
CEP do local de trabalho; e
Local do trabalho.
O tratamento aplicado aos dados dos estabelecimentos e vnculos
empregatcios permite que as informaes divulgadas, a partir da Rais, tenham
desagregao geogrca at em nvel de municpio, de atividades econmicas em
nvel de subatividades at 1994, em nvel de classes de 1995 em diante e de
subclasse a partir de 2006, como tambm de ocupaes. Tais informaes so
disponibilizadas segundo o estoque (nmero de empregos), e a movimentao
de mo de obra empregada (admisses e desligamentos), por gnero, por faixa
etria, por grau de instruo, por rendimento mdio e por faixas de rendimentos
em salrios mnimos. O Ministrio do Trabalho e Emprego recomenda a utilizao
do estoque em 31 de dezembro de cada ano para o clculo de gerao de emprego,
por entender que o saldo oriundo das movimentaes entre as admisses e os
157
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
desligamentos superestima a gerao de postos de trabalho no perodo, em virtude
do maior nmero de omisses nos desligamentos em relao s admisses.
Em decorrncia da ampliao do nmero de declaraes em meio eletrnico,
desde os anos 1990, os dados da Rais vm demonstrando importantes avanos
quantitativos e qualitativos. A partir do ano 2000, com base na Portaria
n
o
945, de 14 de dezembro 2000, a recepo da Rais passou a ser somente por
meios eletrnicos, exclusivamente via internet, o que possibilitou uma maior
conabilidade dos dados em razo da implantao de um conjunto de crticas,
tanto no ato da recepo quanto no processamento, o que s foi possvel devido
ao avano tecnolgico. Mais recentemente, foi implantada no sistema de recepo
da Rais a opo de declarao utilizando a certicao digital, com o objetivo
de garantir a autenticidade, a integridade, a segurana e a conabilidade das
informaes prestadas. Nesse perodo, a cobertura da Rais aproximou-se de 97%
do setor organizado da economia, consolidando-a como censo do mercado de
trabalho formal, enquanto na dcada de 1990 esse percentual oscilou em torno
de 90%. Em 2009, o universo de estabelecimentos era de aproximadamente 7,4
milhes (3,2 milhes com vnculos empregatcios e 4,2 milhes sem vnculos); os
vnculos empregatcios ativos em 31 de dezembro somavam cerca de 41,2 milhes.
2.1 Conceituao
A Rais contm informaes sobre vnculos empregatcios celetistas e estatutrios,
como tambm de trabalhadores regidos por contratos temporrios, por prazo
determinado e dos empregados avulsos (estivadores, conferentes de carga e
descarga, vigias porturios etc.), quando contratados por sindicatos. Entende-
se por vnculos empregatcios as relaes de emprego estabelecidas sempre que
ocorre trabalho remunerado. O conceito de vnculo empregatcio difere do
nmero de pessoas empregadas, uma vez que o indivduo pode possuir, na data
de referncia, mais de um emprego.
Os conceitos de admisso e desligamento utilizados na Rais referem-se s
alteraes de empregos ocorridos no estabelecimento, incluindo as transferncias
de empregados, de um estabelecimento para outro, da mesma empresa.
Por admisso entende-se toda entrada de trabalhador no estabelecimento, no ano,
qualquer que seja a sua origem e, por desligamento, toda sada de pessoa cuja
relao de emprego, com o estabelecimento, cessou durante o ano por qualquer
motivo (aposentadoria, morte, demisso, seja por iniciativa do empregador ou do
empregado). As transferncias de entrada e sada esto includas, respectivamente,
nas admisses e nos desligamentos.
A declarao da Rais prestada em nvel de estabelecimento, considerando-
se como tal as unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com
158
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
endereos distintos. O tamanho do estabelecimento determinado pelo nmero
de empregos nele existente em 31 de dezembro do ano-base. Os estabelecimentos
do tamanho zero so aqueles que, apesar de no possurem empregados em 31 de
dezembro, tiveram pelo menos um empregado ao longo do ano.
O Ministrio do Trabalho e Emprego utiliza a Classicao Nacional de
Atividade Econmica (CNAE) 2.0, objetivando acatar as recomendaes da
Organizao Internacional do Trabalho (OIT) no que tange comparabilidade
internacional. Com o intuito de preservar a srie histrica, o MTE divulga as
sries estatsticas segundo a CNAE 1.0, no nvel de diviso e seo, tendo por
base uma tabela de converso da CNAE 2.0 para 1.0, recomendando a leitura das
Notas Tcnicas divulgadas no site do MTE, consulta equipe tcnica, quando
se zer necessrio, como tambm cautela na interpretao de algumas variaes
expressivas que podem ser atribudas, em grande parte, mudana da classicao
da atividade econmica, a atraso no envio e/ou a omisses de declaraes.
Com o mesmo objetivo, so compatibilizadas as informaes da CNAE 2.0 com
o cdigo do IBGE de 1980, atualmente divulgado pelo MTE, sugerindo o uso
mais desagregado em nvel de 26 subsetores da economia.
No que se refere s ocupaes dos trabalhadores, a Rais adota a Classicao
Brasileira de Ocupaes (CBO) 2002, com suas respectivas atualizaes e
converses para CBO 94, de modo a manter a srie histrica. A CBO 2002
contm as ocupaes do mercado de trabalho brasileiro, organizadas e descritas
por famlias, que abrangem um conjunto de ocupaes similares. Sua atualizao
e modernizao se devem s profundas mudanas ocorridas no cenrio cultural,
econmico e social do pas, nos ltimos anos, que implicaram alteraes estruturais
no mercado de trabalho.
Feita a captao da remunerao do trabalhador na Rais, calculada a
remunerao mdia mensal, denida como a mdia aritmtica das remuneraes
individuais no ms de referncia, convertidas em salrios mnimos (SM), no
perodo vigente do ano-base. Integram esta remunerao os salrios, os ordenados,
os vencimentos, os honorrios, as vantagens adicionais, as graticaes etc.
Est excluda a remunerao do 13
o
salrio. Com base na remunerao mdia dos
trabalhadores em 31 de dezembro e no nmero de empregos existentes nesse ms,
calculada a massa salarial, que o produto destes dois indicadores. As informaes
so fornecidas em salrios mnimos vigentes na poca ou em valor nominal (moeda
corrente da poca) a partir do ano-base 1999. Este indicador refere-se posio
do ms de dezembro. Caso se deseje uma estimativa anual, deve-se multiplicar
o resultado de dezembro por 12, ou por 13, quando se incorporar o 13
o
salrio.
Com o objetivo de atender a algumas solicitaes para estudos sobre o impacto do
13
o
salrio, a partir do ano de 2007 estas informaes passaram a ser disponibilizadas
159
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
inclusive com a discriminao do pagamento por parcelas. Outra informao
que passou a integrar o leque de dados disponveis foi a localizao geogrca do
trabalhador quando diferente do local do estabelecimento.
O Ministrio do Trabalho e Emprego elabora anualmente o Manual de
Orientao da Rais, contemplando as instrues gerais de quais estabelecimentos
devem declarar, como prestar a declarao e como preencher as informaes.
Cada campo da declarao est contido neste manual, que anualmente passa por
uma avaliao e reviso com o intuito de melhor esclarecer os declarantes, alm
de incorporar as sugestes e melhorias provenientes dos tcnicos responsveis pelo
sistema, dos usurios das informaes estatsticas da Rais, bem como do Grupo
Tcnico da Rais este constitudo por representantes de diversos ministrios e rgos
produtores de informao, como o IBGE e o Conselho Federal de Contabilidade.
2.2 Metodologia
A gerao das bases de dados da Rais resulta de um processo de anlise das
declaraes originais, com vistas a obter ganhos de conabilidade no manuseio
estatstico. A partir das informaes declaradas anualmente, produzido um
diagnstico com o objetivo de fornecer resultados que permitam subsidiar
o controle de qualidade das bases produzidas. Para cada varivel (geogrca,
setorial, ocupacional, tipo de vnculo e outras), so feitos vrios cruzamentos com
a nalidade de identicar as variaes absolutas e relativas mais expressivas, para
anlise do comportamento do seu contedo.
Sempre preservada a informao original. Entretanto, quando o contedo
de algum campo preenchido com valor fora do domnio previsto, traduzido
para o valor Ignorado. Quando identicado um valor ignorado para variveis
geogrcas e setoriais, tenta-se recuper-lo tendo como parmetro as informaes
da Rais do ano-base anterior. Se o estabelecimento no encontrado ou o
contedo da varivel geogrca e setorial permanece ignorado, busca-se recuperar
a informao do Cadastro de Estabelecimentos Empregadores do MTE. Alm da
recuperao de informaes em nveis geogrco e setorial, tambm executada a
anlise comparativa entre as frequncias dos trs ltimos anos de declarao, para
investigao das maiores distores.
Desde 2002 realizada a anlise das declaraes da Administrao
Pblica (principalmente prefeituras), por se tratar de um setor que merece um
acompanhamento mais rigoroso. Esta anlise feita por meio da comparao
dos campos municpio, atividade econmica, natureza jurdica e razo
social (as inconsistncias mais signicativas so listadas para vericao).
Ao se identicarem erros de preenchimento, as maiores distores so
investigadas e as variveis geogrcas, setoriais e de natureza jurdica podem
160
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
ser recuperadas por meio de batimentos com as declaraes de anos anteriores.
Tambm, a partir desse ano, passou-se a realizar a anlise do impacto do
estoque dos principais estabelecimentos em nvel nacional, considerando-se a
participao na sua respectiva clula de Unidade da Federao e Subsetor de
Atividade Econmica (os estabelecimentos com maior participao em cada
clula so listados para averiguao).
Com o objetivo de melhorar a qualidade das informaes prestadas, so
elaborados e encaminhados comunicados aos estabelecimentos que apresentaram
inconsistncia nas suas informaes como, por exemplo, a declarao da cor/raa
da totalidade dos vnculos empregatcios como pardos , solicitando a vericao
de sua declarao e a reticao, caso seja necessrio.
A preocupao com a cobertura do universo de estabelecimentos declaran-
tes da Rais faz com que, a cada ano, se realize um batimento entre os cadastros
da Rais com relao Rais do ano anterior, com o cadastro da Receita Federal
(CNPJ) e com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED),
para identicar os estabelecimentos omissos do ano. So enviados comunicados a
estes estabelecimentos alertando da importncia do envio de sua declarao, para
no prejudicar seu trabalhador que tem direito ao abono salarial, como tambm
so mantidos contatos telefnicos principalmente com aqueles estabelecimentos
da Administrao Pblica as prefeituras em particular, que tradicionalmente
tendem a entregar suas declaraes fora do prazo.
Os Documentos de Critrios e Notas Tcnicas a respeito da Rais esto dis-
ponveis no Programa de Disseminao das Estatsticas do Trabalho (PDET), em
Material de Divulgao, no site do MTE.
3 CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED)
O CAGED um registro administrativo do Ministrio do Trabalho e Emprego,
criado em dezembro de 1965 por meio da Lei n
o
4.923, com o objetivo de acom-
panhar e scalizar o processo de admisso e dispensa dos empregados regidos pela
CLT, com o intuito de assistir aos desempregados e apoiar medidas contra o de-
semprego. Segundo dispositivo dessa lei, somente os estabelecimentos sujeitos ao
regime celetista e que apresentaram movimentaes de admisso e desligamento
dos seus trabalhadores, no ms, so obrigados a prestar declarao ao MTE.
Assim, como todo registro administrativo, o objetivo inicial do CAGED foi
operacional/scalizador. Estava previsto na Lei n
o
4.923/1965 o auxlio desempre-
go, que seria concedido aos trabalhadores na hiptese de uma emergncia ou grave
situao social que impedisse o seu reemprego imediato, e que seria proveniente
do Fundo de Assistncia ao Desempregado. A partir de 1986, com a criao do
161
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
seguro-desemprego, que teve como base a Lei n
o
4.923/1965, o CAGED passou a
ser utilizado como suporte do pagamento deste benefcio, tornando-se responsvel
pela identicao dos trabalhadores reinseridos no mercado de trabalho e pelo
consequente bloqueio do pagamento de parcelas indevidas queles que voltaram
ao trabalho e, portanto, deveriam ser excludos do programa; portanto, possibili-
tando aos cofres pblicos uma economia mdia mensal de cerca de R$ 57 milhes.
A necessidade de informaes estatsticas conjunturais sobre o mercado de
trabalho formal em nvel Brasil, de forma mais gil e mais completa, levou o
Ministrio do Trabalho a implementar alteraes na Lei n
o
4.923/1965, o que
possibilitou, a partir de 1983, a construo do ndice de emprego, da taxa de
rotatividade e da utuao da mo de obra (admitidos e desligados).
Mais recentemente, o CAGED tornou-se um instrumento fundamental para
monitorar os programas de responsabilidade do Ministrio do Trabalho, como a
reciclagem prossional, a recolocao no mercado de trabalho, o Programa de
Gerao de Emprego e Renda (PROGER), entre outros. tambm utilizado pela
scalizao do trabalho com a nalidade de identicar o no cumprimento das
leis de proteo aos trabalhadores de grupos vulnerveis.
O CAGED amplamente utilizado para acompanhar a evoluo conjuntural
do emprego formal em termos geogrco, setorial e ocupacional. Em razo da sua
abrangncia geogrca, que possibilita dados sobre todos os espaos geogrcos com
informaes em nvel de municpios, considerado como um censo do mercado
de trabalho formal celetista. uma fonte de informao peculiar e nica, uma vez
que as demais fontes de informao disponveis para anlise de curto prazo sobre o
mercado de trabalho formal esto restritas a algumas regies metropolitanas.
Ao longo dos anos, houve uma grande evoluo na recepo das declaraes
do CAGED, que passou da captao das informaes em formulrio padro em
papel, em 1983, para a declarao em meio magntico (disquetes e tas) e, a
partir de 2003, totalmente via internet, contemplando um conjunto de mais
de 200 crticas no ato da recepo da declarao. A modernizao trouxe como
resultado maior qualidade dos dados disseminados, em razo do maior controle,
bem como sensvel diminuio de erros e omisses por parte dos declarantes,
rapidez no processamento e tempestividade na divulgao. Neste contexto, foi
implantada a opo de declarao com uso da certicao digital, que garante
a autenticidade e a integridade das informaes, legitimando o processo.
Atualmente, a divulgao do CAGED tem ocorrido cerca de 10 dias aps o
encerramento da recepo das declaraes de acordo com a Portaria n
o
235, de
14 de maro de 2003, a data limite de entrega da declarao foi alterada do dia
quinze para o dia sete de cada ms.
162
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
O CAGED, assim como a Rais, apresenta dois conjuntos de informaes,
um relativo ao estabelecimento e outro aos empregados.
O conjunto do estabelecimento possui a mesma desagregao que a Rais, com
exceo da natureza jurdica. O segundo conjunto, que trata do trabalhador, tambm
segue a mesma desagregao que a Rais, com exceo dos dados sobre nacionalidade,
tipo de vnculo, tipo de afastamento e local de trabalho. Com relao ao rendimento,
o CAGED capta o salrio de uxo, ou seja, de admisso e desligamento, e no o
rendimento mdio do estoque de trabalhadores, como a Rais.
QUADRO 1
Informaes captadas do trabalhador
CAGED Rais
PIS/PASEP
Nome completo
Gnero
Escolaridade
Data de nascimento (dia/ms/ano)
Salrio de admisso e desligamento
Horas contratuais
CPF
Tipo de admisso e desligamento
Data admisso e/ou desligamento
Nmero, srie e UF da CTPS
Raa/Cor
Portador de Necessidades Especiais
Tipo de Decincia
Ocupao (CBO)
Aprendiz
Tempo de emprego
As mesmas informaes captadas pelo CAGED
e outras como:
Nacionalidade
Horas extras
Remuneraes
Tipo de vnculo (CLT ou Estatutrio)
Tipo de afastamento
Fonte: Manual de orientao da Rais: ano-base 2009 CGET/DES/SPPE/MTE.
QUADRO 2
Informaes captadas dos estabelecimentos
CAGED Rais
Razo Social
CNPJ ou CEI
Classe CNAE
Porte do Estabelecimento
Endereo
Bairro
Municpio
UF
CEP
Telefone
Endereo eletrnico
N
o
Trabalhadores
As mesmas informaes captadas pelo CAGED,
acrescentando-se:
Natureza jurdica
Fonte: Manual de orientao do CAGED - CGET/DES/SPPE/MTE.
163
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
Em termos setoriais, as informaes relativas aos estoques de trabalhadores
do CAGED contm dados em nvel geogrco que, entretanto, no so desagre-
gados por atributos do trabalhador (gnero, escolaridade, faixa etria, raa/cor
etc.). Tais informaes apontam, em termos gerais, as mesmas tendncias
da Rais, considerando a posio de 30 de dezembro de cada ano, com exceo da
faixa etria, tema que ser abordado no item 3.1.
Mensalmente so recebidos cerca de 190 mil arquivos abrangendo, em m-
dia, 734 mil estabelecimentos declarantes, contabilizando, em mdia, 3,1 milhes
de movimentaes (admisses e desligamentos). De acordo com o CAGED, o
estoque de trabalhadores celetistas, no ms de maio de 2010, atingiu o montante
de 34.261.387 vnculos empregatcios.
Ao longo dos ltimos anos, o CAGED ganhou maior credibilidade perante
os estudiosos do mundo do trabalho, como tambm dos produtores de fontes de
informaes estatsticas, caracterizado como uma das principais fontes do mer-
cado de trabalho formal e utilizado como indicador de referncia internacional,
bem como balizador das polticas pblicas de emprego e renda.
3.1 Indicadores
As informaes sobre o ndice de emprego, a variao absoluta e relativa e a taxa
de rotatividade so calculados a partir das admisses e dos desligamentos capta-
dos mensalmente pelo CAGED, e com base no estoque de referncia construdo
com as informaes da ltima Rais, cujos dados cadastrais so confrontados com
o cadastro de CNPJ da Receita Federal para a retirada dos CNPJ baixados e
acrescidos do saldo do CAGED, do ano posterior, inclusive as transferncias
e acertos, excludos os estabelecimentos mortos que tiveram encerramento de ati-
vidade no CAGED. No integram tambm esse estoque os estabelecimentos que
no responderam ltima Rais e ao CAGED do ano posterior.
A taxa de rotatividade divulgada pelo MTE mede a percentagem dos
trabalhadores substitudos mensalmente em relao ao estoque vigente no primeiro
dia do ms, com domnio geogrco e setorial, no chegando ao nvel ocupacional,
ou seja, mede somente a movimentao do trabalhador, uma vez que, a rigor, a taxa
de rotatividade deveria levar em conta a substituio da mesma ocupao.
O clculo da taxa de rotatividade adotada pelo MTE obtido utilizando-
se o menor valor entre o total de admisses e desligamentos sobre o total de
empregos no primeiro dia do ms.
TR (t) = Mnimo ( A(t); D (t) ) x 100
Total de empregos no 1
o
dia do ms
164
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Onde:
TR= taxa de rotatividade do ms t;
A(t) = total de admisses no ms t; e
D(t)= total de desligamentos no ms t.
A taxa de rotatividade divulgada pelo MTE provm, dessa forma, tanto
das iniciativas dos empregadores, com vistas a reduzir custos via substituio de
trabalhadores, em razo de inovao tecnolgica ou de reduo de salrios, quanto
de empregados estes ltimos motivados pela busca de melhores empregos ou
melhores condies de vida, entre outros fatores , como tambm por fatores
naturais (aposentadoria, morte e invalidez), sazonais (relacionados a safras agrcolas,
contrataes temporrias do comrcio, da indstria e do ensino) e conjunturais.
O MTE, tradicionalmente, s calcula a taxa mdia mensal de rotatividade, da
mesma forma que o IBGE faz com as informaes dos ocupados da produo industrial
da Pesquisa Industrial Mensal (PIM). A taxa anualizada no divulgada pelo MTE,
pois se entende que o clculo deste indicador sobreestima o resultado encontrado.
Existem duas correntes de pensamento com respeito ao clculo anual desse
indicador. Uma defende a ideia de que no se devem somar as taxas de rotatividade
que reetem uma taxa de participao, da mesma forma que no se podem somar as
taxas de desemprego aberto, considerando-se, portanto, a taxa mdia mensal no ano,
cujo procedimento adotado pelo MTE. A outra corrente toma como referncia o
total de admisses ou desligamentos, o menor, e divide pelo estoque de trabalhadores,
o que tem como resultado uma taxa anual de aproximadamente 46%, cujo resultado
bem prximo da mdia das taxas mensais multiplicadas por doze (45%).
O CAGED, diferentemente da Rais, no possui a remunerao mdia do
estoque de trabalhadores. As informaes disponveis referem-se ao uxo de
admisses e de desligamentos j comentado. So considerados, para efeito do
cmputo dos salrios mdios de admisso e de desligamento, aqueles situados
na faixa acima de 0,3 salrio mnimo e inferior a 150 salrios mnimos. Deve-
se excluir a categoria ignorado no uso do clculo dessa varivel, uma vez que os
salrios invlidos apresentam contedo zerado, estando nesta categoria, o que
reduziria a mdia salarial. Tal procedimento deve tambm ser adotado quando da
elaborao de planilhas a partir das informaes da Rais.
3.2 Metodologia
Com relao ao processamento do CAGED, existem dois sistemas de monitoramento:
apurao e validao dos dados declarados. O sistema de prvia on-line permite o
165
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
acompanhamento, em tempo real, das movimentaes por Unidade da Federao e
subsetor de atividade econmica, possibilitando o monitoramento das informaes
declaradas por cada estabelecimento que estejam impactando nas admisses e nos
desligamentos. O sistema de investigao possibilita o rastreamento das declaraes dos
estabelecimentos no ms, comparando a movimentao do ms de referncia com a
ocorrida no ms anterior e no mesmo ms do ano anterior. A partir dessas investigaes,
so emitidos relatrios por clulas (conjunto de estabelecimentos do mesmo setor e UF),
com a relao dos estabelecimentos que apresentaram maior variao de saldo positivo
ou negativo entre uma competncia e outra. Nestes relatrios constam indicativos da
situao do estabelecimento (novo, velho ou omisso), de variao de saldos excessivos,
de antecipao ou postergao das admisses ou desligamentos.
Em 2002 constituiu-se um grupo tcnico formado por especialistas
com notrio saber na rea de mercado de trabalho, com o objetivo de analisar
e aprimorar a metodologia de gerao do ndice de emprego do CAGED.
Este grupo props algumas mudanas, entre elas a incluso da movimentao de
todos os estabelecimentos independente de serem novos ou velhos (a metodologia
anterior no considerava os estabelecimentos novos, que, em mdia, totalizavam
cerca de 20 mil estabelecimentos no ms, responsveis pela gerao mdia mensal
de aproximadamente 50 mil empregos). Outra alterao refere-se excluso das
movimentaes de transferncias de entrada e sada, tendo em vista que estas
informaes introduziam um vis nos resultados, pois nem sempre eram computadas
as transferncias de entrada e sada no mesmo ms de referncia. Ressalte-se que estes
dados passaram a ser incorporados na reviso do estoque no nal de cada ano, assim
como os resduos do ms anterior, que integravam o clculo do ndice de emprego
do ms de referncia.
A insero da movimentao dos estabelecimentos novos no clculo do
ndice de emprego trouxe um benefcio para essa fonte de informao, tendo em
vista que em uma economia em fase de expanso tais dados reforam o dinamismo
do mercado de trabalho. O CAGED passou a possibilitar uma anlise com
maior profundidade desses dados, em comparao s demais fontes domiciliares,
que, em geral, no captam na sua integridade as oscilaes provenientes do
comportamento desses estabelecimentos novos.
No entendimento do Grupo Tcnico responsvel pela avaliao do ndice
de emprego do CAGED, as alteraes incorporadas na metodologia foram
consideradas um aprimoramento, no implicando ruptura da srie histrica do
ndice. De acordo com os dados sobre o comportamento do emprego formal
celetista, segundo o CAGED, a Rais e a PNAD, conforme grco a seguir,
considerando-se o perodo de 2002 a 2008 e o mesmo universo (emprego
166
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
celetista), percebe-se que a gerao de empregos apontada pelo CAGED situa-
se num patamar inferior vericada para as demais fontes de informao
estatstica sobre mercado de trabalho, apesar das mudanas introduzidas na nova
metodologia respeitando as especicidades de cada fonte de informao.
Observe-se que, em geral, os resultados apresentados mostram uma mesma
tendncia. importante mencionar que, no ano de 2008, os dados da PNAD
revelam um aumento da gerao de emprego superior ao vericado no ano
anterior, comportamento inverso ao registrado nos registros administrativos do
Ministrio do Trabalho e Emprego. Tal resultado pode ser justicado em razo do
perodo de captao das informaes da PNAD, que ocorre no ms de setembro
de cada ano, enquanto na Rais e no CAGED levam-se em considerao as
informaes de gerao de postos de trabalho ocorridas ao longo do ano.
GRFICO1
Brasil Evoluo do emprego com carteira assinada perodo 2002 a 2009
(Em milhares)
Fonte: CAGED/MTE; Rais/MTE; PNAD/IBGE
Outro aspecto importante captado pelo CAGED refere-se amplitude de
cobertura do setor agrcola em termos geogrcos , que, alcanando todos os
municpios do pas, d uma particularidade a essa fonte de informao frente s
pesquisas domiciliares, uma vez que estas no contemplam, na sua integridade, os
movimentos especcos do ciclo agrcola, que impem um forte dinamismo no
primeiro semestre do ano, no interior dos municpios que integram os grandes
aglomerados urbanos. Tal desempenho reete-se, em menor intensidade, em nvel
nacional; porm, nas reas metropolitanas captadas pelo CAGED, praticamente
167
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
no se visualiza a presena da sazonalidade do setor agrcola, em virtude da pouca
representatividade deste setor em relao aos demais setores de atividade neste
espao geogrco.
As especicidades do CAGED possibilitaram a captao dos efeitos da crise
nanceira internacional dos anos de 2008/09, j no ms de outubro de 2008,
quando sinalizou uma desacelerao acentuada do crescimento do emprego aps
um forte dinamismo, que culminou com a queda de empregos nos meses de
novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009, acumulando uma perda
de 797.515 postos de trabalho. Assim, as informaes do CAGED que apontaram
com certa antecedncia os indcios da crise permitiram a adoo, por parte
do governo federal, de um conjunto de medidas para minimizar os impactos
negativos provenientes da crise mundial, conforme o grco abaixo.
GRFICO 2
Evoluo do ndice de emprego com carteira assinada. Total das reas metropolita-
nas (RE, SA, BH, RJ, SP e PA). Perodo: jan/2003 a maio/2010
Fonte: CAGED/MTE e PME/IBGE
Interior = apenas das Ufs das RMs
A partir de fevereiro de 2009, os dados do CAGED mostram uma pequena
reao (9 mil empregos), que se consolidou numa recuperao consistente nos
meses posteriores, fechando o ano com uma gerao lquida de quase 1 milho de
postos de trabalho (995 mil).
No ano de 2010 assistiu-se a um forte dinamismo no mercado de trabalho,
com cinco meses consecutivos de recordes e o sexto ms com o segundo melhor
168
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
desempenho, o que resultou no 1
o
semestre de maior gerao de empregos com-
portamento indito na histria do Brasil.
GRFICO 3
Evoluo do saldo do emprego formal (setembro de 2003 a setembro de 2010)
Fonte: CAGED - LEI N
o
4.923/65 - MTE
O Ministrio do Trabalho e Emprego tem constantemente envidado esfor-
os no sentido de ampliar a cobertura e melhorar a qualidade das informaes
do CAGED. Em 2009 foi realizado um batimento entre os estabelecimentos
que responderam a Rais 2008 e no declararam o CAGED em 2009, o que teve
como resultado que uma grande quantidade de estabelecimentos regularizou sua
situao frente ao CAGED.
4 USO E POTENCIALIDADES DA RAIS
Ao longo dos anos, os avanos tecnolgicos, os aprimoramentos desenvolvidos, a
riqueza de informaes e a potencialidade das bases de dados da Rais permitiram
que este registro administrativo passasse a ser utilizado como uma base estatstica
convel, levando sua caracterizao como um censo anual do mercado de
trabalho formal. Neste contexto, os dados cadastrais da Rais so amplamente
utilizados por diversas fontes estatsticas do mercado de trabalho, considerada
pelo IBGE uma fonte fundamental que d sustentao s suas bases estatsticas,
principalmente ao Cadastro de Empresas (Cempre), a partir do qual so elaboradas
vrias pesquisas.
De modo geral, a potencialidade dos registros administrativos est associada
sua abrangncia ou nvel de cobertura. No caso da Rais, a abrangncia nacional
que permite anlises em maior nvel de desagregao, chegando ao municpio, e
169
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
incomum diversidade de variveis que possibilitam a obteno de dados mais
detalhados a partir de cruzamentos diversos do a este registro administrativo
uma robustez que o tornam um natural candidato para subsidiar a elaborao,
o monitoramento e a avaliao de polticas pblicas, assim como para utilizao
da sociedade civil e pelo mundo acadmico na busca constante de conhecer a
realidade sobre o mercado de trabalho e debater as ideias econmicas e sociais.
Entre as fontes de informao sobre mercado de trabalho, a Rais uma
das poucas, no mundo, que possui um amplo nvel de desagregao setorial,
ocupacional e geogrco, possibilitando uma riqueza mpar para os gestores
desenharem e avaliarem as polticas pblicas e para os estudiosos testarem suas
hipteses e ancorarem seus posicionamentos.
A partir dessas inmeras possibilidades analticas, a Rais uma fonte esta-
tstica que pode ser utilizada para estudos estruturais sobre mercado de trabalho,
tendo em vista a estabilidade do contedo de suas variveis ao longo do tempo.
Ressalte-se tambm a importncia da disponibilidade dos dados, atualmente,
com uma periodicidade reduzida, o que possibilita um ganho real na elaborao
de diagnsticos sobre esse setor.
A crescente solicitao por informaes que permitam a elaborao de polticas
pblicas de combate desigualdade levou o MTE a adotar um conjunto de medidas
no intuito de enfrentar os desaos para atender s demandas de incluso de variveis
de raa/cor e pessoas com decincia. Estas variveis, devido s suas complexidades,
necessitaram de um perodo maior de maturao e, apesar de divulgadas, tm sua
disseminao gerenciada pelos tcnicos do MTE. Destaca-se que na varivel raa/
cor apenas so divulgados os vnculos dos trabalhadores celetistas, em razo dos
dados relativos aos vnculos dos estatutrios no apresentarem o mesmo padro
de conabilidade das demais variveis da Rais. As informaes das pessoas com
decincia so utilizadas para conscientizao, scalizao e noticao dos
estabelecimentos declarantes quanto ao cumprimento das cotas de portadores de
decincias, de acordo com o dispositivo da Lei n
o
8.213/91.
Dentro de um processo de insero de normas protetoras ao menor de 18
anos, necessrias sua capacitao prossional e obteno de sua primeira expe-
rincia laboral, o Ministrio do Trabalho e Emprego inseriu um campo na Rais e
no CAGED que permite a captao do Aprendiz, de acordo com a Lei n
o
11.180,
de 23 de setembro de 2005, e consequentemente o monitoramento do cumpri-
mento da lei pelos estabelecimentos declarantes.
Em 2006, a Comisso Nacional de Classicao (Concla), com o objetivo
de padronizar a classicao de atividade econmica e adotar as recomendaes
internacionais, solicitou aos rgos da Administrao Pblica que adotassem o
170
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
maior nvel de desagregao desta classicao, passando a utilizar a CNAE 2.0
no nvel de subclasse. O MTE, por meio da Rais e do CAGED, capta as informa-
es neste nvel de desagregao, porm sua disponibilizao ocorre aps a anlise
das solicitaes.
Os dados cadastrais da Rais permitem o monitoramento de vrios programas
do governo, ao realizar o confronto dos dados individualizados do trabalhador
ou do estabelecimento constantes na Rais com os dos sistemas de outros rgos.
Este batimento de cadastros junto ao Ministrio da Educao, no Programa
Universidade para Todos (ProUni), possibilita a avaliao da remunerao do grupo
familiar daqueles que so contemplados com a bolsa de estudos. O Ministrio dos
Esportes, por meio do cadastro da Rais, se prope a acompanhar a gerao de
empregos e a remunerao dos trabalhadores nos clubes de futebol, para atender
a uma das metas ligadas Copa de 2014. O Ministrio de Desenvolvimento
Social, com o Programa Bolsa Famlia, utiliza tambm as informaes cadastrais
da Rais para acompanhamento da remunerao dos benecirios do Programa.
Tais procedimentos visam uma avaliao da eccia e da ecincia dos programas,
bem como subsidiam um conjunto de medidas a serem adotadas para atingir os
objetivos propostos.
A partir das informaes da Rais original produzida uma base denominada
Rais Migra, que permite o acompanhamento da trajetria do trabalhador ao
longo de sua vida laboral, em termos setoriais, ocupacionais e geogrcos. Esta
base de dados utilizada por vrios pesquisadores na elaborao de estudos
especcos e tambm por rgos pblicos na anlise de programas. A exemplo
disso, citamos o Ministrio da Sade que, a partir desta base, elaborou um
estudo para analisar a trajetria no mercado de trabalho formal de egressos do
Programa de Formao de Pessoal na rea de Enfermagem (Profae), juntamente
com o cadastro de egressos daquele ministrio. As bases de dados da Rais e do
CAGED so componentes centrais do Sistema Integrado de Acompanhamento e
Disseminao de Informaes sobre o Mercado de Trabalho em Sade no binio
2010-2012.
4.1 Uso e potencialidades da Rais para a segurana e sade do trabalhador
A Rais capta informaes sobre causas de afastamentos e tipos de desligamentos
que permitem subsidiar estudos sobre a evoluo destes indicadores afetos
segurana e sade do trabalhador.
importante registrar que essas informaes sobre os trabalhadores so
prestadas pelos estabelecimentos e, quando confrontadas com as obtidas pelos
rgos competentes, apresentam uma subestimao que pode ser explicada
171
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
pela omisso, intencional ou no, dos declarantes. Apesar desta fragilidade, tais
informaes so utilizadas como balizadoras dos dados ociais que tratam sobre a
segurana e sade do trabalhador.
De acordo com o Manual da Rais, so captadas as seguintes informaes:
Informaes de Afastamento/licena:
10. Acidente do trabalho tpico (que ocorre no exerccio de atividades
prossionais a servio da empresa).
20. Acidente do trabalho de trajeto (ocorrido no trajeto residncia
trabalho residncia).
30. Doena relacionada ao trabalho.
Informaes do Desligamento:
62. Falecimento decorrente de acidente do trabalho tpico (que ocorre
no exerccio de atividades prossionais a servio da empresa).
63. Falecimento decorrente de acidente do trabalho de trajeto (ocorrido
no trajeto residncia-trabalho-residncia).
64. Falecimento decorrente de doena prossional.
73. Aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente do trabalho.
74. Aposentadoria por invalidez, decorrente de doena prossional.
Com o intuito de contextualizar a evoluo desses indicadores, ser elabora-
da uma breve anlise sobre o comportamento dos afastamentos e desligamentos,
segundo a Rais, no perodo dos ltimos cinco anos.
172
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
T
A
B
E
L
A
1
B
r
a
s
i
l
T
o
t
a
l
d
e
a
f
a
s
t
a
m
e
n
t
o
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
i
o
p
e
r
c
e
n
t
u
a
l
(
2
0
0
5
a
2
0
0
9
)
C
a
u
s
a
d
e
a
f
a
s
t
a
m
e
n
t
o
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
E
m
p
r
e
g
o
P
a
r
t
i
c
i
p
a
o
(
%
)
E
m
p
r
e
g
o
P
a
r
t
i
c
i
p
a
o
(
%
)
E
m
p
r
e
g
o
P
a
r
t
i
c
i
p
a
o
(
%
)
E
m
p
r
e
g
o
P
a
r
t
i
c
i
p
a
o
(
%
)
E
m
p
r
e
g
o
P
a
r
t
i
c
i
p
a
o
(
%
)
1
0
-
A
c
i
d
e
n
t
e
d
o
t
r
a
b
a
l
h
o
t
p
i
c
o
(
q
u
e
o
c
o
r
r
e
n
o
e
x
e
r
c
c
i
o
d
e
a
t
i
v
i
d
a
d
e
s
p
r
o
s
s
i
o
n
a
i
s
s
e
r
v
i
o
d
a
e
m
p
r
e
s
a
)
2
9
5
.
7
4
1
8
,
2
0
2
8
9
.
0
5
3
8
,
7
3
2
8
9
.
1
0
3
8
,
3
2
3
0
6
.
1
5
2
7
,
7
5
3
1
2
.
9
7
3
6
,
2
3
2
0
-
A
c
i
d
e
n
t
e
d
o
t
r
a
b
a
l
h
o
d
e
t
r
a
j
e
t
o
(
o
c
o
r
r
i
d
o
n
o
t
r
a
j
e
t
o
r
e
s
i
d
n
c
i
a
-
-
t
r
a
b
a
l
h
o
-
r
e
s
i
d
n
c
i
a
)
2
9
.
3
1
7
0
,
8
1
3
1
.
4
8
3
0
,
9
5
3
5
.
0
2
7
1
,
0
1
4
0
.
4
2
1
1
,
0
2
4
1
.
7
5
4
0
,
8
3
3
0
-
D
o
e
n
a
r
e
l
a
c
i
o
n
a
d
a
a
o
t
r
a
b
a
l
h
o
1
4
5
.
9
1
9
4
,
0
5
1
5
9
.
9
9
7
4
,
8
3
1
3
8
.
7
4
0
3
,
9
9
1
5
0
.
7
4
4
3
,
8
2
1
4
8
.
1
7
4
2
,
9
5
4
0
-
D
o
e
n
a
n
o
r
e
l
a
c
i
o
n
a
d
a
a
o
t
r
a
b
a
l
h
o
2
.
5
6
2
.
3
5
8
7
1
,
0
4
2
.
2
1
4
.
2
7
5
6
6
,
8
6
2
.
3
4
0
.
5
8
8
6
7
,
3
7
2
.
6
8
2
.
1
0
6
6
7
,
8
9
3
.
6
0
5
.
6
0
6
7
1
,
8
2
5
0
-
L
i
c
e
n
a
-
m
a
t
e
r
n
i
d
a
d
e
4
6
5
.
3
0
3
1
2
,
9
0
4
8
9
.
1
4
7
1
4
,
7
7
5
2
2
.
1
2
5
1
5
,
0
3
5
8
7
.
1
6
8
1
4
,
8
6
6
5
3
.
0
4
2
1
3
,
0
1
6
0
-
S
e
r
v
i
o
m
i
l
i
t
a
r
o
b
r
i
g
a
t
r
i
o
8
.
1
8
2
0
,
2
3
8
.
2
8
3
0
,
2
5
1
0
.
3
0
2
0
,
3
0
7
.
8
7
7
0
,
2
0
9
.
1
9
4
0
,
1
8
7
0
-
L
i
c
e
n
a
s
e
m
v
e
n
c
i
m
e
n
t
o
/
r
e
m
u
n
e
r
a
o
9
9
.
8
7
1
2
,
7
7
1
1
9
.
3
6
5
3
,
6
0
1
3
8
.
2
0
5
3
,
9
8
1
7
6
.
2
6
6
4
,
4
6
2
4
9
.
4
0
7
4
,
9
7
T
o
t
a
l
d
e
a
f
a
s
t
a
m
e
n
t
o
s
3
.
6
0
6
.
6
9
1
1
0
0
,
0
0
3
.
3
1
1
.
6
0
3
1
0
0
,
0
0
3
.
4
7
4
.
0
9
0
1
0
0
,
0
0
3
.
9
5
0
.
7
3
4
1
0
0
,
0
0
5
.
0
2
0
.
1
5
0
1
0
0
,
0
0
F
o
n
t
e
:
R
a
i
s
-
C
G
E
T
/
D
E
S
/
S
P
P
E
/
M
T
E
.
173
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
A leitura dos dados da Rais, segundo as causas dos afastamentos, mostra
uma elevao da participao dos acidentes de trabalho tpico (que ocorrem no
exerccio de atividades prossionais a servio da empresa) de 8,2% em 2005, para
8,7% em 2006, e uma tendncia declinante a partir de ento, chegando ao nvel
de 6,2% em 2009.
No que se refere ao tipo dos acidentes do trabalho de trajeto, nota-se
uma participao ascendente de 2005 a 2008, passando de 0,8% a 1,02% nos
respectivos anos. Porm, no ano de 2009 registra-se um recuo para 0,83%,
percentual muito prximo do vericado em 2005, da ordem de 0,81%.
Registre-se que este tipo de afastamento o segundo menor entre os sete
demais tipos, sendo maior apenas que o afastamento relacionado ao servio
militar, que nesse ltimo ano atinge o percentual de 0,18%, o menor entre
o perodo de 2005 a 2009, registrando a maior representatividade no ano de
2007 (0,30%). Em sentido oposto, vale ressaltar que a causa de afastamento
com maior incidncia de casos ocorre em doenas no relacionadas ao
trabalho, cujo percentual equivale a 71,04% no ano de 2005, apresentando
uma reduo em 2006 (66,86%), percentual que praticamente se mantm
nos dois anos seguintes (67,37%, em 2007 e 67,89% em 2008), mas que
apontou um aumento em 2009 (71,82%), atingindo o maior patamar dos
cinco ltimos anos. A licena maternidade a segunda causa de afastamento
de maior relevncia. Assinalou uma tendncia de expanso no perodo de 2005
a 2007, ao passar de 12,90% a 14,86% nos respectivos anos, e registrou, nos
anos de 2008 (14,86%) e 2009 (13,01%), um declnio na sua participao.
A licena sem vencimento vem apresentando aumentos sucessivos na sua
representatividade entre os anos de 2005 a 2009, cujos percentuais se elevaram
de forma expressiva, de 2,77% em 2005 para 4,97% em 2009. Foi o tipo de
afastamento que mais cresceu a participao. Os afastamentos cujas causas so
doenas relacionadas ao trabalho, evidenciaram um acrscimo entre os anos de
2005 (4,05%) a 2006 (4,83%), e a partir de ento revelaram um declnio que
atingiu um percentual de 2,95% em 2009.
174
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
T
A
B
E
L
A
2
B
r
a
s
i
l
m
e
r
o
d
e
d
e
s
l
i
g
a
m
e
n
t
o
s
s
e
l
e
c
i
o
n
a
d
o
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
i
o
p
e
r
c
e
n
t
u
a
l
(
2
0
0
5
a
2
0
0
9
)
T
i
p
o
d
e
d
e
s
l
i
g
a
m
e
n
t
o
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
E
m
p
r
e
g
o
s
P
a
r
t
i
c
i
p
a
o
(
%
)
E
m
p
r
e
g
o
s
P
a
r
t
i
c
i
p
a
o
(
%
)
E
m
p
r
e
g
o
s
P
a
r
t
i
c
i
p
a
o
(
%
)
E
m
p
r
e
g
o
s
P
a
r
t
i
c
i
p
a
o
(
%
)
E
m
p
r
e
g
o
s
P
a
r
t
i
c
i
p
a
o
(
%
)
6
0
-
F
a
l
e
c
i
m
e
n
t
o
4
6
.
2
2
9
0
,
3
2
4
8
.
1
0
7
0
,
3
1
5
4
.
1
1
9
0
,
3
2
5
8
.
6
5
9
0
,
2
9
6
0
.
9
0
7
0
,
3
1
6
2
-
F
a
l
e
c
i
m
e
n
t
o
d
e
c
o
r
r
e
n
t
e
d
e
a
c
i
d
e
n
t
e
d
o
t
r
a
b
a
l
h
o
t
p
i
c
o
(
q
u
e
o
c
o
r
r
e
n
o
e
x
e
r
c
c
i
o
d
e
a
t
i
v
i
d
a
d
e
s
p
r
o
s
s
i
o
n
a
i
s
a
s
e
r
v
i
o
d
a
e
m
p
r
e
s
a
)
1
.
4
9
2
0
,
0
1
1
.
3
3
9
0
,
0
1
1
.
3
4
7
0
,
0
1
1
.
4
2
8
0
,
0
1
1
.
3
9
6
0
,
0
1
6
3
-
F
a
l
e
c
i
m
e
n
t
o
d
e
c
o
r
r
e
n
t
e
d
e
a
c
i
d
e
n
t
e
d
o
t
r
a
b
a
l
h
o
d
e
t
r
a
j
e
t
o
(
o
c
o
r
r
i
d
o
n
o
t
r
a
j
e
t
o
r
e
s
i
d
n
c
i
a
-
-
t
r
a
b
a
l
h
o
-
r
e
s
i
d
n
c
i
a
)
2
4
2
0
,
0
0
3
1
0
0
,
0
0
2
9
8
0
,
0
0
3
8
3
0
,
0
0
3
5
9
0
,
0
0
6
4
-
F
a
l
e
c
i
m
e
n
t
o
d
e
c
o
r
r
e
n
t
e
d
e
d
o
e
n
a
p
r
o
s
s
i
o
n
a
l
1
6
4
0
,
0
0
1
3
1
0
,
0
0
1
5
3
0
,
0
0
1
5
4
0
,
0
0
1
3
7
0
,
0
0
7
3
-
A
p
o
s
e
n
t
a
d
o
r
i
a
p
o
r
i
n
v
a
l
i
d
e
z
,
d
e
c
o
r
r
e
n
t
e
d
e
a
c
i
d
e
n
t
e
d
o
t
r
a
b
a
l
h
o
2
.
6
6
6
0
,
0
2
1
.
6
3
4
0
,
0
1
1
.
5
6
1
0
,
0
1
1
.
8
0
9
0
,
0
1
1
.
7
1
8
0
,
0
1
7
4
-
A
p
o
s
e
n
t
a
d
o
r
i
a
p
o
r
i
n
v
a
l
i
d
e
z
,
d
e
c
o
r
r
e
n
t
e
d
e
d
o
e
n
a
p
r
o
s
s
i
o
n
a
l
5
.
4
7
3
0
,
0
4
3
.
7
8
6
0
,
0
2
3
.
5
2
2
0
,
0
2
4
.
0
9
4
0
,
0
2
3
.
6
3
4
0
,
0
2
T
o
t
a
l
d
e
d
e
s
l
i
g
a
m
e
n
t
o
s
1
4
.
4
1
8
.
4
8
2
1
0
0
,
0
0
1
5
.
5
4
5
.
7
7
8
1
0
0
,
0
0
1
7
.
0
4
1
.
7
0
3
1
0
0
,
0
0
2
0
.
2
6
4
.
8
5
3
1
0
0
,
0
0
1
9
.
9
1
9
.
3
5
0
1
0
0
,
0
0
F
o
n
t
e
:
R
a
i
s
-
C
G
E
T
/
D
E
S
/
S
P
P
E
/
M
T
E
.
175
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
Com relao s informaes referentes ao nmero de desligamentos segundo
o tipo, constantes da tabela acima, que trata apenas daqueles relacionados segu-
rana e sade do trabalhador, percebe-se uma relativa manuteno dos percentu-
ais de representatividade, sendo esta praticamente irrisria quando comparada ao
total de desligamentos. No caso dos desligamentos por falecimento decorrente de
acidente de trabalho tpico (que ocorre no exerccio de atividades prossionais a
servio da empresa), a participao oscilou de 0,32% em 2005 e 2007 a 0,29% em
2008, alcanando em 2009 um percentual de 0,31%. No que diz respeito aos de-
mais tipos de desligamentos, os dados da Rais demonstram uma representatividade
muito baixa, com percentuais oscilando entre 0% a 0,04%. O falecimento decor-
rente de doena prossional no transcurso dos ltimos cinco anos no apresentou
oscilao, registrou participao nula no total dos desligamentos. Os desligamentos
segundo aposentadoria por invalidez decorrente de doena prossional registraram
uma participao de 0,04% em 2005 e de 0,02% nos ltimos quatro anos. Obser-
va-se tambm uma representatividade pa nos demais desligamentos relacionados
sade do trabalhador, comparativamente ao total dos desligamentos.
5 USO E POTENCIALIDADES DO CAGED
As informaes oriundas do CAGED so amplamente utilizadas para monitorar
o comportamento conjuntural do emprego dos trabalhadores com carteira de
trabalho assinada. Atualmente, os dados do CAGED tm sido divulgados com
uma tempestividade expressiva, considerando-se que, de acordo com a Portaria
n
o
235, de 14 de maro de 2003, o encerramento da entrega das declaraes
pelos estabelecimentos ocorre no dia sete do ms posterior e sua disponibilizao
tem apresentado uma defasagem inferior a 13 dias. Deve-se ressaltar tambm a
abrangncia nacional desse registro, que contempla todos os estabelecimentos
que tiveram movimentao ao longo do ms anterior, distribudos em todo o
territrio nacional, como j comentado anteriormente.
Esse tempo reduzido permite um acompanhamento, quase em tempo real,
da evoluo conjuntural do emprego pela imprensa, pelos gestores pblicos
e estudiosos e pela sociedade civil. Vale lembrar que o Ministrio do Trabalho e
Emprego, mediante a ferramenta prvia on-line, monitora em tempo real o com-
portamento do emprego, desagregado por subsetor e unidade da federao, com
possibilidade de investigar os estabelecimentos que esto impactando em algum
subsetor de determinada UF.
Um aspecto importante desse registro administrativo refere-se abrangncia
geogrca, que permite informaes sobre a espacializao, com possibilidades de
desagregao estadual, regional e municipal. Esta desagregao torna o CAGED
uma fonte nica para analisar a evoluo do mercado de trabalho, no curto prazo,
na esfera municipal.
176
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Os dados do CAGED, assim como os da Rais possibilitam elaborar estudos
mais aprofundados sobre o comportamento especco de cada segmento setorial e
ocupacional, em determinado espao geogrco, visando identicar as mudanas
quantitativas e qualitativas que esto por trs das mdias dos grandes agregados.
As informaes constantes do CAGED sobre os atributos do trabalhador,
tais como gnero, escolaridade, salrios e raa/cor, por exemplo, embora permi-
tam uma anlise mais qualitativa dos empregos gerados, tm seu uso pouco di-
fundido no mundo acadmico, sendo as mais utilizadas aquelas oriundas da Rais
e das Pesquisas Domiciliares.
Para compatibilizar os dados do CAGED com as informaes contidas na
Rais, visando delinear algumas tendncias conjunturais, foram implantados nos
ltimos anos, no CAGED, os campos relativos raa/cor, pessoas com deci-
ncia, aprendiz e, mais recentemente, o CPF do trabalhador. A incluso deste
ltimo campo buscou atender s diversas solicitaes de batimento de dados ca-
dastrais de programas do governo com os dados do CAGED, cujo identicador
o PIS do trabalhador, o que dicultava o atendimento queles rgos.
Mensalmente, a partir dos dados do CAGED, so produzidos conjuntos
de tabelas destinados elaborao da anlise mensal do comportamento do
emprego, com informaes setoriais e geogrcas, em nvel Brasil e Unidades da
Federao. Estas tabelas contm dados, entre outros, sobre a srie histrica setorial
e geogrca, como tambm uma maior desagregao das atividades econmicas
por subsetores e Unidades da Federao, possibilitando maior conhecimento
daqueles segmentos que esto impactando positiva ou negativamente no nvel
de emprego. Quando da divulgao do CAGED, disponibilizado tambm um
ranking do emprego por estados, cujas informaes servem para conscientizar
os gestores sobre os resultados das aes adotadas nesta rea. Neste momento
atualizado, na internet, o sistema Evoluo do Emprego, que contm dados
de admisso, desligamento, saldo, variao relativa no ms, no ano e em doze
meses, por setor, segundo Unidade da Federao e municpios. Estas informaes
so acessadas por cerca de dez mil usurios no dia da divulgao do CAGED.
Por solicitao da Casa Civil, encaminhado, logo aps a divulgao, um
conjunto de dados sobre estoques e saldos do emprego, contemplando todos os
municpios e UFs, para subsidiar a Presidncia.
6 LIMITAES DOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS RAIS E CAGED
Os registros administrativos do Ministrio do Trabalho e Emprego, como toda
fonte de informao estatstica, apresentam limitaes que devem ser considera-
das pelos analistas quando da elaborao de estudos sobre o mundo do trabalho.
Com o intuito de dar transparncia s alteraes, aos aprimoramentos, aos avan-
177
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
os tecnolgicos e s inconsistncias encontradas em algumas variveis da Rais
e do CAGED, so elaboradas Notas Tcnicas e Comunicados, divulgados no
site do MTE, buscando prestar esclarecimentos aos usurios das bases de dados.
Ao persistirem dvidas quanto interpretao e uso das variveis destes registros,
sugere-se contato com a equipe tcnica responsvel.
Umas das principais limitaes apontadas referem-se omisso de
declaraes pelos estabelecimentos, bem como a entrega das declaraes fora do
prazo estipulado em lei, principalmente de estabelecimentos com grande nmero
de vnculos empregatcios. O MTE, visando minimizar este problema, encaminha
comunicados aos estabelecimentos que, no caso da Rais, foram omissos em
comparao com a Rais do ano anterior, responderam ao CAGED no ano da
declarao e estavam ativos no cadastro da Receita Federal CNPJ, nesse ano.
Com relao ao CAGED, os Comunicados aos estabelecimentos so enviados
queles que declararam a Rais do ano anterior e no declararam o CAGED do
ano em questo.
Apesar de todos os esforos do MTE em acompanhar os avanos
tecnolgicos implementando-os na Rais e no CAGED, ainda persistem omisses
de informaes em alguns campos, por no serem obrigatrios, e erros nas
informaes declaradas, que, no entanto, no comprometem e no invalidam,
em termos gerais, os resultados divulgados.
A orientao dada aos declarantes da Rais e do CAGED que as informaes
devem ser prestadas em nvel de estabelecimentos, considerando-se sua localizao
com endereos distintos, separadas espacialmente, no devendo ser informadas
no CNPJ da matriz. Porm, percebe-se que, particularmente em alguns setores
ligados educao, existem alguns casos de agregao da declarao na matriz da
empresa.
As mudanas ocorridas na CNAE e na CBO podem ser consideradas como
limitaes, na medida em que, em algumas sries histricas, gera alteraes
expressivas no estoque de trabalhadores de alguns setores e de algumas ocupaes,
o que pode implicar uma ruptura.
No que se refere aos dados das faixas etrias no CAGED, percebe-se, na
faixa de 16 a 24 anos, um comportamento semelhante ao da Rais, quando se
toma como base de referncia de gerao de emprego aqueles dados oriundos das
admisses e dos desligamentos, e no aqueles provenientes do estoque de cada
ano. Esses dados assinalam uma maior concentrao de gerao de empregos nas
referidas faixas, cujo comportamento pode ser justicado, em parte, pela alta
rotatividade dos trabalhadores nessa faixa etria, como tambm em razo de que as
informaes referentes idade, no CAGED, so estticas para os meses nos quais
so prestadas portanto, vlidas para o ms, porm no reetem as mudanas de
178
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
idade que ocorrem ao longo do ano nas faixas que esto nas franjas, ocasionando
um vis na leitura dos dados. Dessa forma, o MTE recomenda cautela na anlise
de tais informaes.
Apesar das limitaes descritas, os registros administrativos do Ministrio
do Trabalho e Emprego possuem um enorme leque de variveis que permitem
inmeros cruzamentos sem perder a representatividade, possibilitando aos
interessados em analisar e estudar o segmento formal do mercado de trabalho
no Brasil a elaborao de diferentes hipteses para testar modelos tericos,
elaborar diagnsticos e monitorar os programas de polticas pblicas de emprego
e renda, entre outros. Hoje, tanto a Rais quanto o CAGED, dado ao grau de
conabilidade que adquiriram ao longo dos ltimos anos, so reconhecidos
nacional e internacionalmente como umas das principais fontes estatsticas sobre
o mercado de trabalho formal.
7 PROGRAMA DE DISSEMINAO DAS ESTATSTICAS DO TRABALHO (PDET)
O Programa de Disseminao das Estatsticas do Trabalho (PDET) tem por
objetivo divulgar informaes oriundas dos Registros Administrativos, da
Relao Anual de Informaes Sociais (Rais) e do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (CAGED) sociedade civil.
1
Por meio desse Programa, o Ministrio do Trabalho e Emprego vem
procurando disseminar informaes cada vez mais abrangentes sobre o mercado
de trabalho, utilizando diferentes tipos de mdias e atingindo, assim, diferentes
grupos de usurios. As informaes oriundas da Rais e do CAGED esto
disponibilizadas em CD/DVD e via internet.
A participao no Programa de Disseminao de Estatsticas do Trabalho
(PDET) gratuita. O acesso s informaes estatsticas do PDET pode ser feito
mediante trs modalidades:
1. No site do Ministrio do Trabalho e Emprego, onde se encontra uma
srie de produtos abertos ao pblico.
2. Acesso on-line (X-OLAP+W) para pessoa fsica, mediante solicitao via
e-mail, com preenchimento e envio de cadastro do pesquisador solicitante.
3. Acesso local (CD-ROM/DVD) para pessoa jurdica, mediante
assinatura de um Termo de Compromisso entre o MTE e a instituio
interessada. Cerca de mil instituies recebem estes dados mensalmente,
cuja desagregao permite o cruzamento de diversas variveis de forma
mais abrangente que o acesso on-line.
1. O acesso a esse programa se d pelo link: <http://www.mte.gov.br/pdet>.
179
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
Entre os produtos oriundos da Rais e do CAGED para acesso nas diferentes
modalidades, podemos citar:
1. Evoluo do Emprego: contm informaes do CAGED desagregadas
segundo os setores econmicos do IBGE e classicados por UF,
principais regies metropolitanas e municpios com mais de 10 mil
habitantes para o estado de So Paulo e 30 mil habitantes para os demais
estados conforme o ltimo censo realizado.
2. Anurio Estatstico Rais: apresenta um conjunto de tabelas mais
solicitadas da Rais sobre o emprego em 31 de dezembro, remunerao
e estabelecimento, disponibilizado para os anos de 1995 a 2008,
possibilitando a comparao de diversas variveis, com cortes setorial,
geogrco, por atributos.
3. Raismigra: uma base de dados derivada da Rais que visa o
acompanhamento geogrco, setorial e ocupacional da trajetria dos
trabalhadores ao longo do tempo. A base est organizada de forma
longitudinal, permitindo a realizao de estudos de mobilidade,
durao e reinsero de indivduos no mercado de trabalho, o que no
permitido pela base Rais convencional, que est organizada por ano de
referncia da declarao dos vnculos empregatcios.
4. Informaes sobre o Sistema Pblico de Emprego e Renda (Isper):
contm dados sobre populao, emprego, taxas de desemprego, seguro-
desemprego, operaes nanceiras do FAT, intermediao de mo de
obra, sindicatos, indicadores do mercado de trabalho e movimentao
de mo de obra em nvel municipal, estadual e Brasil, mostrando
utuao do emprego por setor de atividade econmica e ocupao,
com base nos dados dos registros administrativos do MTE e de fontes
estatsticas externas (Censo, PNAD, PME e PED). Permite tambm
acesso a links de outras fontes de informaes sobre o mercado de
trabalho e Programas do MTE e de governo.
5. CAGED Estabelecimento: disponibiliza as informaes provenientes
do CAGED, agregadas por estabelecimentos declarantes, permitindo
o acompanhamento das movimentaes mensais de admisso e/ou
desligamento por meio de consultas pre denidas, contendo inclusive
o estoque recuperado e a variao do estoque de empregos em um
determinado perodo, em nvel geogrco e setorial.
6. Perl do Municpio: destinado s Comisses Estaduais e Municipais de
Emprego, s prefeituras, aos sindicatos e a outras instituies usurias de
informaes em nvel municipal. Os dados estatsticos so apresentados
180
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
por setor e subsetor de atividade econmica, em nvel geogrco, permi-
tindo que se visualize a movimentao de um municpio comparando-a
com sua respectiva microrregio ou Unidade da Federao, e em nvel
ocupacional (CBO), possibilitando a comparao das ocupaes que
mais admitiram, mais desligaram e as que tiveram maior ou menor sal-
do em determinado municpio.
8 O SISTEMA FEDERAL DE INSPEO DO TRABALHO (SFIT)
A Conveno n
o
81 da Organizao Internacional do Trabalho (OIT), elaborada
em 1947 e raticada pelo Brasil em 22 de abril de 1957, estabeleceu os parme-
tros bsicos para a organizao de uma inspeo do trabalho. Denunciada em 23
de junho de 1971, durante o governo militar (1964-1985), teve revigorada a sua
raticao por meio do Decreto Legislativo n
o
95.461, de 11 de dezembro de
1987, j no perodo da redemocratizao que se seguiu.
Essa norma determina que o Estado-membro que a raticar deve manter
um sistema de inspeo do trabalho, a m de promover o cumprimento efetivo
da legislao trabalhista. Este sistema deve ser constitudo por servidores pblicos
com qualicao e treinamento adequados, em nmero satisfatrio, e que te-
nham independncia e estabilidade funcional (SIT, 2002, p. 57-58).
O Regulamento da Inspeo do Trabalho (RIT), aprovado pelo Decreto n
o
55.841, de 15 de maro de 1965, determinou no seu Artigo 1
o
que
o Sistema Federal de Inspeo do Trabalho, a cargo do Ministrio do Tra-
balho e Previdncia Social, sob a superviso do Ministro de Estado, tem
por nalidade assegurar, em todo o territrio nacional, a aplicao das dis-
posies legais e regulamentares, incluindo as convenes, internacionais
raticadas, dos atos e decises das autoridades competentes e das conven-
es coletivas de trabalho, no que concerne durao e s condies de
trabalho bem como proteo dos trabalhadores no exerccio da prosso
(BRASIL, 1965a, grifo nosso).
O Artigo 7
o
da Lei n
o
7.855, de 24 de outubro de 1989, instituiu o
Programa de Desenvolvimento do Sistema Federal de Inspeo do Trabalho,
destinado a promover e desenvolver as atividades de inspeo das normas de
proteo, segurana e medicina do trabalho grifo nosso. Estabeleceu, no seu
1
o
, a extenso do pagamento, para os integrantes da scalizao do trabalho,
de um adicional varivel, denominado Graticao de Estmulo Fiscalizao e
Arrecadao dos Tributos Federais (Gefa), que j vinha sendo paga aos scais
tributrios federais. Na poca, a inspeo trabalhista era constituda pelas carreiras
de scal do trabalho, mdico do trabalho, engenheiro e assistente social, com
atribuies parcialmente sobrepostas (BRASIL, 1989a).
181
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
O programa mencionado foi detalhado por intermdio da Portaria MTb
n
o
3.311, de 29 de novembro de 1989 (BRASIL, 1989b). Considerando os seus
princpios, objetivos e diretrizes, pretendia dar maior eccia e efetividade inspeo
trabalhista. Para que isso fosse possvel, seria fundamental o desenvolvimento de
um sistema de controle e acompanhamento da scalizao que permitisse avaliar
a sua abrangncia e profundidade, e que necessitaria ter uniformidade, rapidez na
coleta e transmisso de informaes referentes s inspees e fosse utilizado por
todos os inspetores do trabalho em atividade, bem como por suas cheas.
Dentro de um processo de melhoria da administrao tributria federal,
nos novos parmetros determinados pela Constituio da Repblica Federativa
do Brasil, iniciado em dezembro de 1988, foi promulgada a Lei n
o
8.538, de
21 de dezembro de 1992. Esta norma modicou os critrios para pagamento
da Gefa aos integrantes da inspeo do trabalho, determinando a incluso de
parmetros de produtividade (BRASIL, 1992). Tal graticao foi inicialmente
calculada levando-se em considerao apenas a produtividade global da unidade
descentralizada de lotao do inspetor na poca, as Delegacias Regionais do
Trabalho (DRTs), hoje Superintendncias Regionais do Trabalho e Emprego
(SRTEs). Posteriormente, por meio da Portaria Interministerial n
o
6, de 28 de
maro de 1994 (Ministrio do Trabalho e Secretaria da Administrao Federal),
cou estabelecido que, para a apurao da produtividade, tambm fossem
includos critrios de produtividade individual (BRASIL, 1994).
Nessa poca, o controle da inspeo trabalhista, dentro do Ministrio do
Trabalho, era exercido conjuntamente pela Secretaria de Fiscalizao do Trabalho
(SEFIT), na rea trabalhista geral, e Secretaria de Segurana e Sade no Trabalho
(SSST), na rea de segurana e sade no trabalho. Posteriormente, estes setores
foram fundidos na Secretaria de Inspeo do Trabalho (SIT), mantendo-se assim
no atual Ministrio do Trabalho e Emprego MTE (BRASIL, 2003).
8.1 O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE E
ACOMPANHAMENTO DA INSPEO TRABALHISTA
Em 15 de maio de 1995, por meio da Instruo Normativa Intersecretarial
SEFIT/SSST n
o
8, foi implantado um sistema de acompanhamento e controle da
scalizao trabalhista de mbito nacional, que entrou em vigor em 1
o
de agosto
de 1995 (SEFIT/SSST, 1995).
Essa base centralizada de dados, referente s atividades de inspeo trabalhista,
recebeu a mesma denominao do sistema nacional de inspeo previsto
no Decreto n
o
55.841/89 e na Lei n
o
7.855/89, j mencionados. Atualmente
conhecido apenas como SFIT (ou sistema SFIT), est em plena utilizao,
embora com modicaes e acrscimos. Estabeleceu e consolidou alguns termos
182
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
usados rotineiramente nas atividades de scalizao, tais como: ordem de servio,
scalizao dirigida, scalizao por denncia, atividade especial, entre outros.
A partir de agosto de 1995, os inspetores em atividade passaram a preencher
mensalmente formulrios com cdigos pr-estabelecidos, nos quais constavam os
principais resultados das inspees realizadas, bem como uma relao de outras
atividades executadas, no diretamente relacionadas scalizao de empresas,
tais como plantes de orientao, participao em reunies, seminrios, mesas
de entendimento etc. Estes dados eram posteriormente processados nas unidades
regionais do Ministrio do Trabalho (DRTs), com centralizao nal em Braslia.
Desde 1
o
de janeiro de 1996, o SFIT vem sendo alimentado diretamente
pelos agentes da scalizao, bem como pelas suas cheas, nos seus diversos nveis.
Atualmente, o acesso feito por meio da rede informatizada prpria do MTE ou
diretamente no stio do responsvel pelo seu desenvolvimento e manuteno,
a empresa pblica Servio Federal de Processamento de Dados (Serpro).
Todos os inspetores e suas cheas, integrantes do Sistema Federal de Inspeo do
Trabalho, tm acesso ao sistema, mesmo que eventualmente no sejam auditores-
scais do trabalho (denominao atual dos inspetores do trabalho do MTE).
Desde o incio do seu funcionamento ocorreram algumas mudanas
institucionais e legais exigindo alteraes no sistema. A forma de clculo das
graticaes foi alterada em 2002 e 2004 (com denominaes de GDAT e Gifa,
respectivamente). Alm disso, as carreiras da inspeo trabalhista (scais do
trabalho, mdicos do trabalho, engenheiros e assistentes sociais) foram unicadas
pela Lei n
o
10.593, de 06 de dezembro de 2002 (BRASIL, 2002a). O antigo RIT
foi revogado, e um novo institudo pelo Decreto n
o
4.552, de 27 de dezembro de
2002 (BRASIL, 2002b). Mais recentemente, a Lei n
o
11.890, de 24 de dezembro
de 2008, que estabeleceu o subsdio como forma de remunerao, extinguiu
as graticaes de produtividade individual ou em grupo (BRASIL, 2008).
Alm disso, o sistema foi ampliado e passou a contar com novas funcionalidades,
como a interface com o Sistema Auditor, tambm do MTE, que registra a
lavratura de Noticaes de Dbito para o Fundo de Garantia por Tempo de
Servio (FGTS), e um mdulo especial para registro de anlises de acidentes
de trabalho. O SFIT continua em pleno funcionamento, tanto para os que realizam
as atividades de inspeo, como para os que fazem o seu controle e planejamento.
Para se ter uma dimenso do seu uso, atualmente (junho de 2010), os quase 3 mil
AFTs em atividade fazem, por meio do sistema, cerca de 2 milhes de transaes
ao ms. Em 2009 foram cerca de 23 milhes as transaes realizadas.
2
2. Informao disponibilizada por Tnia Mara Coelho de Almeida Costa, chefe da Coordenao-Geral de Fiscalizao
do Trabalho/Departamento de Inspeo do Trabalho/SIT/MTE.
183
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
8.2 A ESTRUTURA GERAL DO SFIT
O SFIT foi desenvolvido pelo Serpro em plataforma Mainframe da empresa
International Business Machines Corporation (IBM), com gerenciador de banco de
dados Adabas e ferramenta de programao Natural, ambos da Software AG. Pos-
sui interligao on-line, via servidor World Wide Web (Web), com o Sistema Au-
ditor, desenvolvido em plataforma Microsoft, para apurao de dbitos relativos
ao FGTS. Possui tambm conexo com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica
(CNPJ), a Tabela de Organizao de Municpios (TOM) e a Relao Anual de
Informaes Sociais (Rais), todos mantidos pelo Serpro (COSTA, 2005).
O acesso realizado exclusivamente por meio de um cdigo do usurio e de
uma senha, ambas nicas, necessitando esta ltima ser modicada periodicamente.
Rene todos os dados da inspeo do trabalho e organizado dentro de uma
concepo modular. Nem todos os AFTs tm acesso a todas as funcionalidades.
Algumas so de uso exclusivo de cheas, outras acessadas apenas por auditores
especicamente autorizados (como, por exemplo, para a anlise de acidentes de
trabalho). O mesmo ocorre com parte das informaes disponveis para consulta,
que possuem as mesmas limitaes citadas.
Mudanas recentes na metodologia da scalizao, estabelecidas pela Portaria
MTE n
o
546, de 11 de maro de 2010, determinaram algumas modicaes no
SFIT (BRASIL, 2010). Atualmente (junho de 2010), os seus mdulos bsicos
apresentam caractersticas que podem ser observadas no quadro 3.
QUADRO 3
Apresentao inicial do SFIT, com os mdulos bsicos
__ SFIT (SISTEMA FED INSPECAO TRABALHO )___________________________________
USUARIO : FULANO
POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>
ADMAI - ADMINISTRA AUTO DE INFRACAO
AUDITOR - CONTROLE AUDITOR FISCAL TRAB
EMPRESAS - CONTROLE EMPRESAS
GERENCIAL - INFORMACAO GERENCIAL
GIFA - GRATIF INCREM FISCALIZ ARRECAD
OS - ORDEM DE SERVICO
OSADM - ORDEM SERVICO ADMINISTRATIVA
PONTO-GDAT - PONTUACAO - GDAT
PONTUACAO - PONTUACAO
PROJETO - ADMINISTRA PROJETO
RA - RELATORIO DE ATIVIDADE
RI - RELATORIO INSPECAO
TABELAS - TABELAS
X-CI -> CONTROLA IMPRESSAO
COMANDO..... _______________________________________________________________
PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU
Fonte: SFIT/MTE.
Obs.: No SFIT, a apresentao feita em duas pginas. Aqui foram fundidas para facilitar a apresentao.
184
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
1. Administra Auto de Infrao (ADMAI): controla todo o estoque de
autos de infrao (AIs), que so impressos pela Casa da Moeda do Brasil
e possuem numerao nica. Alm do controle de distribuio de AIs,
este mdulo permite consultas, cancelamentos, invalidao, controle de
devoluo, baixa e redistribuio para outro AFT.
2. Controle de Auditor-Fiscal do Trabalho (AUDITOR): permite o
controle do contingente de AFTs em atividade. A permisso de acesso
ao SFIT realizada por este mdulo. Permite consultar nomes, dados
pessoais e unidade de lotao, alm da alterao dos dados cadastrais.
ainda por meio deste mdulo que se suprime o acesso de alguns usurios
em caso de aposentadoria, afastamentos prolongados, morte etc.
3. Controle de Empresas (EMPRESAS): d suporte e auxilia no
planejamento da ao scal a ser desenvolvida tanto pelas cheas quanto
pelo AFTs em suas atividades habituais. Disponibiliza informaes da
Relao Anual de Informaes Sociais (Rais). A cada exerccio, no ms
de agosto, atualizado pelos dados da Rais do ano anterior. Tambm
contm algumas informaes oriundas de inspees anteriormente
realizadas e que constam nos respectivos Relatrios de Inspeo (RI) j
lanados no sistema.
4. Informao Gerencial (GERENCIAL): permite consulta aos Relatrios
de Inspeo j lanados no sistema, com busca por empresas scalizadas,
bem como a dados estatsticos parametrizados referentes a vrios aspectos
da scalizao, tais como informaes sobre acidentes analisados, itens
regularizados, produtividade por unidade descentralizada, entre outros.
Possibilita tambm o gerenciamento, pelas cheas, das atividades de
scalizao e correlatas, desenvolvidas por cada um dos AFT que lhes
seja subordinado.
5. Graticao de Incremento Fiscalizao e Arrecadao (GIFA),
Pontuao GDAT (GDAT), Pontuao (PONTUACAO): mdulos
que permitem aferir a pontuao obtida pelos diversos AFTs nas
competncias mensais, desde agosto de 1995, quando o sistema
entrou em funcionamento, at dezembro de 2009, embora os dados
desse primeiro ano citado estejam incompletos. Com a extino das
graticaes a partir de janeiro de 2010, quando a remunerao dos
AFTs passou a ser feita por meio de subsdio nico, o mdulo Gifa (sigla
da ltima graticao que vinha sendo paga) deixou de incorporar dados
novos. Atualmente se presta apenas consulta de exerccios anteriores a
janeiro de 2010.
185
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
6. Ordem de Servio (OS): o mecanismo de incio do processo de
scalizao, representando o comando formal para as inspees a serem
realizadas pelos AFTs, individualmente ou em grupo. Alm de designar
os projetos e as empresas a serem abordadas, contm os atributos que
necessariamente tm de ser inspecionados (registros, jornadas, trabalho
infantil, normas de segurana e sade no trabalho, entre outros).
Por este mdulo, as OS podem ser emitidas, consultadas, alteradas e
canceladas; nestes dois ltimos casos quando ainda no deram origem
a uma inspeo. O incio da ao scal deve coincidir com o ms da
sua emisso ou do imediatamente posterior. Emitidas para contemplar
as seguintes modalidades de scalizao: i) por denncia; ii) dirigida;
iii) indireta; e iv) para anlise de acidentes de trabalho.
7. Ordem de Servio Administrativa (OSADM): utilizada unicamente
pelas cheas da scalizao, determina o nmero de turnos de trabalho
que os AFTs podem utilizar mensalmente para atividades de apoio, no
ligadas diretamente inspeo das empresas. Estes turnos destinam-
se execuo de tarefas de natureza interna repartio, que no se
traduzem em scalizao propriamente dita, mas que tm relevncia no
esforo da instituio em cumprir suas atribuies funcionais (plantes
de orientao; participao em reunies tcnicas, de planejamento,
capacitao, monitoria, para elaborao de relatrios, entre outras).
Alm disso, utilizada para autorizar afastamentos legais (frias, doena),
exerccio de cheas e assessoria, bem como para a execuo de atividades
especiais de interesse da inspeo.
8. Administra Projeto (PROJETO): funcionalidade que permite
acompanhar o andamento dos projetos que esto sendo desenvolvidos,
tanto no nvel nacional como em cada uma das regionais. Possibilita
comparar as metas estabelecidas com os resultados obtidos at o
momento da consulta. No acessvel a todos os AFTs, mas apenas
queles envolvidos com as atividades de planejamento e controle.
9. Relatrio de Atividade (RA): destina-se ao registro das atividades
internas e especiais devidamente autorizados nas OSADM e j descritas
anteriormente. Constam tambm a os afastamentos legais, bem como
o exerccio de cargos de chea e assessoramento.
10. Relatrio de Inspeo (RI): mdulo onde h o registro de todos os
dados importantes da scalizao desenvolvida, tais como identica-
o da empresa, endereo, cdigo da sua atividade principal, tipo de
186
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
estabelecimento, AFTs que participaram da inspeo, dias em que hou-
ve scalizao, nmero de empregados do estabelecimento e os alcan-
ados pela inspeo. Constam a os resultados da vericao de cada
atributo trabalhista inspecionado, tais como registro, salrio, jornada,
descanso, recolhimentos do FGTS, vale-transporte, Rais, bem como
os itens das normas de segurana e sade no trabalho (SST), denomi-
nadas Normas Regulamentadoras (NRs). Por meio de um sistema de
cdigos numricos possvel determinar se a situao encontrada es-
tava regular, irregular; se foi regularizada durante a ao; se foi objeto
de autuao, interdio, embargo, entre outras possibilidades, e para
todos os atributos relacionados no RI. Tambm constam as informa-
es sobre os autos de infrao lavrados, com nmero e item encon-
trado em situao irregular (todos possuem cdigo de ementa). Podem
ser lanados os dados referentes scalizao das cotas para aprendi-
zes e pessoas com decincia, bem como a situao dos recolhimen-
tos para o FGTS. Neste ltimo caso, se feito o levantamento de al-
gum dbito, h importao de dados do Sistema Auditor, j citado.
Em pgina especca do RI, denominada Informaes Complementa-
res, com possibilidade de suportar 1.014 caracteres, possvel, embora
no obrigatrio, o lanamento de dados importantes de serem destaca-
dos ou esclarecidos, de informaes adicionais necessrias (endereo de
correspondncia, telefone, entre outras), bem como de um brevssimo
resumo da inspeo. Dentro da competncia mensal de realizao da
scalizao, e at o dia 7 do ms subsequente, o RI pode ser modicado
ou inclusive suprimido (com algumas excees). De acordo com a OS
emitida, temos os seguintes tipos de scalizao:
Fiscalizao por denncia resultante de OS originada de denncia
que envolva risco imediato segurana, sade ou ao patrimnio
do trabalhador e que deve merecer apurao rpida, podendo ser
desenvolvida individualmente ou em grupo.
Fiscalizao dirigida resultante de prvio planejamento pelos
setores responsveis pelo controle da scalizao (SIT e cheas de
scalizao das GRTE) e dentro de projetos j estabelecidos, tanto
em nvel regional quanto nacional. Desenvolvida individualmente ou
por um grupo de AFTs especicamente designados.
Fiscalizao indireta resultante de programa especial de scalizao
que demande apenas anlise documental em unidade do MTE.
Iniciada por meio de Noticao para Apresentao de Documentos
187
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
(NAD), enviada habitualmente por via postal, ensejando, para a
sua execuo, a designao de apenas um AFT. Possui um modelo
prprio de RI.
Fiscalizao para anlise de acidente de trabalho consiste no
conjunto de aes iniciadas com emisso de OS especca para anlise
de acidente de trabalho (tpico, de trajeto, ou doena ocupacional).
Visa identicar os fatores causais envolvidos na sua gnese, bem
como a elaborao de um relatrio de anlise e o acompanhamento
das medidas destinadas a eliminar ou minimizar a possibilidade de
novas ocorrncias. Determina a abertura de um mdulo especco no
RI, que ser objeto de discusso posterior neste texto.
Fiscalizao imediata nica inspeo realizada sem a emisso
de OS, em casos em que o AFT constata agrante violao de
disposio legal ou grave e iminente risco sade e segurana dos
trabalhadores. Nestas situaes o atraso decorrente da emisso de
uma OS, com os prazos prprios para o seu cumprimento, poderiam
ensejar prejuzo irreparvel. Se realizada, obrigatria a comunicao
chea competente, bem como a lavratura de autos de infrao e/
ou expedio/proposio de termos de embargo ou interdio.
Demanda auditoria posterior por parte da chea imediata.
11. H a possibilidade de no ser concluda a scalizao na mesma compe-
tncia mensal em que foi iniciada. Neste caso, preenchido um RI ini-
cial, com as informaes bsicas obtidas no ms de incio da inspeo.
Quando da sua concluso, aberto um RI de continuao, com a mes-
ma numerao do inicial, onde lanado o resultado nal da inspeo.
A concluso da scalizao tem prazo mximo de quatro competncias,
desconsiderada a de incluso da OS.
12. Tabelas (TABELAS): mdulo de apoio que permite ao AFT consultar
diversos tipos de cdigos e dados necessrios ao correto preenchimento
do SFIT, tais como nmero do Cdigo Nacional de Atividades Econ-
micas (CNAE), nmero das ementas para lavratura de AI, cdigos de
lanamento dos itens das normas de SST, entre outros. Tambm permi-
te a atualizao destas tabelas, visando adequ-las s modicaes ocor-
ridas no CNAE, de itens das normas de SST etc.
13. Controla Impresso (X-CI): destinado a controlar os arquivos para os
quais houve comando de impresso.
188
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
8.3 A anlise de acidentes de trabalho no SFIT
Ao contrrio da base de dados das comunicaes de acidentes do trabalho (CAT),
protocoladas junto Previdncia Social, o SFIT no tem o registro de todos os
acidentes de trabalho (AT) ocorridos, nem se prope a isso. Dispe apenas das
informaes daqueles que foram analisados pelos AFTs em inspees na rea de
segurana e sade no trabalho (SST), atendendo a OS especcas para este tipo
de atividade, como j descrito.
O mdulo denominado Investigao de Acidente do Trabalho no fazia parte
do modelo original do SFIT. Foi includo em junho de 2001, aps a realizao de
vrios treinamentos para os AFTs da rea de SST sobre metodologia de anlise
de acidentes de trabalho realizados nas unidades descentralizadas do MTE (nas
antigas DRTs). Ainda hoje, apenas auditores especicamente cadastrados podem
incluir uma investigao de acidente no SFIT.
Desde ento, a realizao de anlise de acidentes de trabalho uma das
prioridades da inspeo trabalhista, em todos os planejamentos anuais, em especial
para os AFT sob subordinao tcnica do DSST. Tambm h recomendao para
que sejam investigados todos os acidentes graves, com fatalidades ou no, que
tenham sido comunicados ao MTE, mas o lanamento da anlise no SFIT s
pode ocorrer se a OS for emitida at dois anos aps o evento.
Para que a anlise de AT seja lanada no sistema, necessrio o preenchimento
prvio de pginas do RI com as mesmas caractersticas das efetivadas nas inspees
habituais. A investigao um apndice do RI, ao qual s disponibilizado acesso
se a OS for especca para este tipo de inspeo. Alm disso, o AFT no inspeciona
empresas apenas para analisar um AT. Esta investigao faz parte da scalizao
como um todo, embora possa se restringir a um setor especco da empresa, em
funo do seu tamanho e complexidade.
No que se refere incluso da anlise do AT, o SFIT fornece dois submdulos
de dados, um com informaes do acidente propriamente dito, denominado
Dados do Acidente, e outro com as do(s) acidentado(s), denominado Dados
do Acidentado. No quadro 4 temos a apresentao visual dos dois submdulos
(que no SFIT apresentado em pginas separadas).
189
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
QUADRO 4
Mdulo do SFIT Investigao de acidente do trabalho
__ SFIT,RI,INCRI ( INCLUI RI )________________________________________________
30/06/2010 USUARIO: FULANO
RI 00000000-0 CONCLUIDO COMPET 06/2010 OS 0000000-0 ACIDTRAB URBANA
------------------------------ DADOS DO ACIDENTE -----------------------------
TURNOS DE INVESTIGACAO: __
DATA DO ACIDENTE: __ / __ / ____ HORA DO ACIDENTE: __ : __
QTDE ACIDENTADOS: __ TIPO DE ACIDENTE: __
FATORES CAUSAIS DO ACIDENTE: _______ _______ _______ _______ _______
_______ _______ _______ _______ _______
DESCRICAO DO ACIDENTE:
______________________________________________________________________________
--------------------------- DADOS DO ACIDENTADO - 01 -------------------------
ACIDENTADO FATAL: _ (S-SIM N-NAO)
SEXO: _ (M-MAS F-FEM) DATA DE NASCIMENTO: __ / __ / ____
PARTE DO CORPO ATINGIDA: __ __ __ __ __ __ __ __ __
FATOR IMEDIATO DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE: _______
PERTENCE A EMPRESA INSPECIONADA: _ (S-SIM N-NAO)
INFORMACOES SOBRE A EMPRESA A QUAL O ACIDENTADO PERTENCE:
RELACAO DE TRABALHO: __ SITUACAO: _
DATA DE ADMISSAO NA EMPRESA: __ / __ / ____
TEMPO NA FUNCAO NA EMPRESA: __ ANO(S) __ MES(ES)
OCUPACAO: _____
HORAS APS O INCIO DA JORNADA DE TRABALHO: __
CONTRATADA
CNAE: _______ CNPJ: ______________ CEI: ____________ CPF: ___________
Fonte: SFIT/MTE.
Nota: Descrio do acidente em at 25 linhas, com 78 caracteres cada uma.
Obs.: O presente mdulo antecedido e vinculado obrigatoriamente ao mdulo Relatrio de Inspeo.
No submdulo Dados do Acidente constam informaes referentes a
nmero de turnos de trabalho despendidos pelo AFT para inspecionar a empresa
e analisar o acidente (cada dia de trabalho tem dois turnos), data e horrio do
evento, nmero de acidentados e tipo do acidente (que pode ser tpico, de trajeto,
doena ocupacional, por ato de violncia ou no trnsito). H ainda a necessidade
da incluso de um a dez fatores causais identicados pelo analista, devidamente
codicados. A descrio sumria do acidente realizada atravs do preenchimento
de um campo livre com at 1.950 caracteres.
No submdulo Dados do Acidentado so lanados, em campos fechados,
informaes sobre ocorrncia ou no de fatalidade, sexo da(s) vtima(s), data(s)
190
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
de nascimento, parte(s) do corpo atingida(s), fator desencadeante imediato do
evento e caractersticas ocupacionais (tipo de vnculo, formalidade legal, tem-
po de servio, funo, cdigo da ocupao do(s) acidentado(s) e jornada antes
do acidente). H tambm identicao da empresa contratada, caso o acidentado
com os dados descritos seja seu empregado.
A base terica utilizada na elaborao do mdulo de investigao de AT do
SFIT, em especial no tpico Fatores Causais do Acidente, tem como referncia os
modelos de anlise sistmica de agravos relacionados ao trabalho, discutidos por
Binder, Monteau e Almeida (BINDER, MONTEAU e ALMEIDA, 1996, p. 11-85;
ALMEIDA, 2003, p. 67-82). Estes autores se insurgem fortemente contra as
teorias e prticas tradicionais e maniquestas relacionadas questo, que tendem
a culpabilizar a vtima e/ou a classicar as causas dos acidentes exclusivamente
como atos e/ou condies inseguras, normalmente privilegiando as primeiras.
8.4 Consideraes sobre o SFIT e a sade e segurana no trabalho
O SFIT foi desenvolvido especicamente para quanticar, controlar e auxiliar no
planejamento da inspeo trabalhista desenvolvida pelos AFTs do MTE. Permite
que o auditor, antes de proceder scalizao de determinada empresa, obtenha
dados relevantes para o seu trabalho, a identicao correta, o efetivo atual e
pregresso, o histrico das inspees realizadas, bem como as caractersticas de
cada uma delas. Para as cheas de scalizao tanto nas unidades descentralizadas
quanto na SIT, fundamental para um planejamento adequado, bem como
para acompanhamento das aes, alm de permitir vericar o cumprimento
de metas estabelecidas. Permite tambm controlar especicamente a atividade de
cada AFT. O Brasil foi pioneiro no estabelecimento de um sistema informatizado
desse tipo. Atualmente h informao da existncia de outros, semelhantes, em
funcionamento em Portugal, Espanha e Chile.
3
TABELA 3
Nmero anual de anlises de acidentes de trabalho realizadas, nmero de acidentes
analisados e nmero de bitos nos acidentes analisados (2001 a 2009)
Ano N
o
de anlises concludas Acidentes analisados bitos
2001 200 376 241
2002 758 1.077 567
2003 1.458 1.628 663
(Continua)
3. Informao verbal disponibilizada por Rinaldo Marinho Costa Lima, chefe da Coordenao-Geral de Fiscalizao e
Projetos/Departamento de Segurana e Sade no Trabalho/SIT/MTE.
191
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
(Continuao)
Ano N
o
de anlises concludas Acidentes analisados bitos
2004 1.666 1.592 672
2005 1.327 1.417 556
2006 1.558 1.712 594
2007 2.001 1.909 702
2008 1.938 2.036 791
2009 1.821 1.463 661
Fonte: SFIT/MTE.
Notas: Nmero de Relatrios de Inspeo de Anlise de Acidentes concludos na competncia.
Nmero de acidentes que foram analisados, por ano de ocorrncia.
Nmero de bitos em decorrncia dos acidentes analisados, por ano de ocorrncia.
A tabela 3 mostra o quantitativo de anlises de acidentes includas no SFIT,
desde que isso passou a ser feito, em junho de 2001. Antes de se analisarem estes
nmeros, bom lembrar que, como j observado, um acidente pode ser analisado
e includo no sistema desde que tenha ocorrido at dois anos antes da elaborao
da OS para a realizao da anlise. Desse modo, acidentes de 2008 ainda podem
ser objeto de anlise pelos AFTs at o ms de abril de 2011, dependendo da data
de ocorrncia. Outra ressalva, que em um mesmo acidente pode haver mais de
uma vtima, fatal ou no. Feitas estas consideraes, observa-se que o nmero
de anlises de AT tem se mantido mais ou menos estvel nos ltimos anos as
alteraes do seu quantitativo esto muito relacionadas ao efetivo de AFTs da
rea de SST em atividade, que vem caindo de 2007 para c (at junho de 2010).
Apesar do nmero de anlises no ser elevado, j que correspondeu, em 2009,
apenas a 1,15% das aes scais que tiveram atributos de SST inspecionados,
importante ressaltar que o objetivo primordial a investigao de acidentes graves
(MTE, 2010). Em relao a 2008, e at maio de 2010, cerca de 28% dos bitos
resultantes de acidentes de trabalho comunicados Previdncia Social tiveram o
evento de ocorrncia analisado por AFTs do MTE e seus dados includos no SFIT
(MPS, 2009).
A introduo do mdulo Investigao de Acidentes de Trabalho sistematizou
e aumentou bastante o nmero de inspees trabalhistas realizadas com o objetivo
especco de analisar acidentes de trabalho, com ntidas contribuies para a
qualidade da scalizao, para o aprendizado em SST por parte dos AFTs, bem
como para a identicao de novos riscos ocupacionais e a consequente proposio
de medidas de controle. Alm disso, a anlise introduzida no SFIT apenas um
resumo das informaes e concluses obtidas pela scalizao. Recomenda-
se sempre, mas principalmente nos casos de eventos mais graves, a elaborao
192
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
de relatrios detalhados e explicativos, inclusive com documentao visual.
Tais laudos so muito teis para estudos futuros e tm sido cada vez mais solicitados
pela Advocacia Geral da Unio (na proposio de aes regressivas), pelo Ministrio
Pblico do Trabalho, bem como pelos acidentados e seus dependentes. Contudo,
apesar do acentuado avano resultante da sua implantao, esse mdulo apresenta
algumas limitaes.
Em um trabalho no qual se utilizou a base de dados do SFIT, referentes
a inspees realizadas em estabelecimentos localizados no estado de So Paulo,
foram estudados 580 RIs em que havia anlises de acidentes de trabalho, com
meno a vtimas fatais, ocorridos no estado e inseridos no SFIT de junho de
2001 a dezembro de 2006. Foram encontrados 13 casos de duplicidade, ou seja,
mais de uma anlise inserida para um mesmo evento. Alm disso, 21 RIs foram
descartados do estudo porque no determinaram fatalidades, embora tal fato
estivesse assinalado em campo especco do mdulo (FORTES, 2009, p. 90-
91). Tais problemas ocorreram porque o sistema no exige a identicao do(s)
acidentado(s) envolvido(s) no acidente, seja por meio do seu nome, ou, caso se
objetive manter certa reserva, do nmero de protocolo da CAT emitida e/ou da
sua inscrio no Programa de Integrao Social (PIS). Alm disso, por no haver
cruzamento com bases de dados da Previdncia Social e/ou do Sistema nico de
Sade (SUS), o SFIT permite classicar como fatais eventos que no tiveram tal
desfecho, ou mesmo o contrrio.
Outra questo que s so analisados os acidentes que chegam ao conhe-
cimento das unidades do MTE em tempo hbil. De acordo com a legislao em
vigor, o empregador no tem a obrigao de comunicar diretamente ao MTE
os AT ocorridos na sua empresa, graves ou no, excluindo-se especicamente a
exigncia, nos casos de doena ocupacional, prevista na redao atual do Art. 169
da Consolidao das Leis do Trabalho (CLT), e que no vem sendo cumprida
(BRASIL, 1977). Apesar do acordo de cooperao tcnica assinado entre o MTE
e o MPS, em 28 de setembro de 2008, para, entre outros itens, garantir o envio
regular de informaes sobre as CATs protocoladas na Previdncia Social, isso
ainda vem ocorrendo de modo precrio e com atraso signicativo. Na unidade
em que o autor deste texto exerce suas atividades scais (Gerncia Regional do
Trabalho e Emprego em Varginha/SRTE/MG), a quase totalidade das anlises
teve origem em informaes obtidas durante inspees realizadas, por meio de
notcias veiculadas pela mdia, de denncias encaminhadas pelas vtimas ou seus
dependentes, ou entidades sindicais, bem como por solicitao do Ministrio
Pblico do Trabalho. Isso parece no ser muito diferente em outras unidades do
MTE (MTE/MPS, 2008).
Alm de reduzir o nmero de acidentes analisados, bem como atrasar a
realizao das investigaes, tal situao determina um conjunto de anlises que
193
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
tende a privilegiar aqueles ocorridos em atividades urbanas, nas localidades de
maior porte, em empresas mais organizadas, e os com maior visibilidade, inclusive
da mdia. Isso tambm foi observado no estudo citado, onde 65,2% dos eventos
analisados (com bito) ocorreram em atividades industriais e na construo civil,
embora estes setores sejam responsveis por apenas 34,2% das fatalidades por
AT comunicados Previdncia Social no estado de So Paulo (FORTES, 2009,
p. 113-116). Essa limitao, evidentemente, prejudica eventuais estudos
quantitativos a serem realizados.
Outro problema, observado pela autora do estudo em So Paulo, que
muitas anlises inseridas possuam, alm dos erros j descritos (duplicidade e
declarao de bito inexistente), uma concluso equivocada quanto aos fatores de
risco evidenciados no evento investigado, bem como a falta da insero de alguns,
evidentemente presentes. Alm disso, vrias descries eram muito sintticas,
impedindo uma compreenso minimamente adequada do infortnio analisado
(FORTES, 2009, p. 218-221).
9 CONSIDERAES FINAIS
No mbito da administrao federal, o Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE)
foi uma das instncias pioneiras na utilizao de registros administrativos no
monitoramento social, entre os quais se destacam: a Relao Anual de Informaes
Sociais (Rais) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Em
termos operacionais, enquanto o primeiro subsidia o Abono Salarial, o segundo
importante ferramenta para o pagamento do Seguro Desemprego. Por sua
vez, tendo como suporte os dados da Rais, o Ministrio ainda dispe do SFIT
Sistema Federal de Inspeo do Trabalho.
Conforme mencionado, tanto a Rais como o CAGED passaram por
importantes aprimoramentos nos ltimos anos, implicando um aumento de
seus graus de cobertura em relao ao mercado formal de trabalho, ou seja,
constituindo-se em bases estatsticas nacionais cada vez mais conveis. E mais,
ambos apresentam um amplo conjunto de variveis e um enorme potencial
de cruzamento das mesmas, facultando, por conseguinte, anlises em nveis
agregados e desagregados, a produo de diagnsticos, o acompanhamento
de programas de polticas pblicas de emprego e renda etc. Em particular, os
dados desses sistemas facultam aprofundar conhecimentos, ao subsidiarem
estudos mais aprofundados sobre mudanas por segmentos em nvel setorial ou
ocupacional, associando-os a reas socioespaciais diversas. Enm, um censo do
mercado de trabalho formal brasileiro.
Lembrando que as informaes do CAGED possibilitam monitorar
o comportamento conjuntural do emprego no mercado de trabalho, a Rais,
194
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
em particular, detm importantes informaes sobre causas de afastamentos e
tipos de desligamentos, o que contribui para alavancar compreenses sobre as
condies de sade e segurana nos diversos ambientes de trabalho no pas, por
meio da produo de indicadores especcos ou mesmo como referncia para
o batimento de informaes com outras fontes referidas aos agravos sade
do trabalhador. Isso sem desconsiderar o enorme potencial que encerra a Rais
MIGRA, ainda inexplorada na rea de SST, ao possibilitar o acompanhamento
da trajetria do trabalhador sob as perspectivas ocupacional, setorial e geogrca.
Esta base, por ser organizada de forma longitudinal, pode dar suporte realizao
de estudos de mobilidade que podem vir a ser associados ocorrncia de agravos
sade do trabalhador.
Entretanto, sendo a Rais um registro administrativo cujas informaes se
suportam em declaraes dos empregadores, possvel a existncia de omisses,
especialmente no que se relaciona a quesitos que, pontualmente, possam contribuir
para indicadores de inadequadas condies de trabalho ou de inobservncia
da legislao vigente sobre SST, que, por sua vez, podem resultar em diversas
consequncias dos acidentes de trabalho e das doenas prossionais.
J em relao ao SFIT, este sistema representa um importante avano
no desenvolvimento do controle e das aes de inspeo trabalhistas.
Ele fundamental para que as cheas de scalizao possam realizar o adequado
planejamento e acompanhamento das aes. Como destacado ao longo do texto,
o Brasil foi pioneiro no estabelecimento de um sistema informatizado deste tipo.
importante destacar que, aps nove anos de incio de sua operao, o
mdulo de Anlise de Acidentes de Trabalho do SFIT necessita de reviso e
ampliao (alis, tambm o sistema como um todo precisa de atualizao).
Em primeiro lugar, para evitar os erros graves j mencionados. Em segundo, para
permitir cruzamentos com outras bases de dados, sobretudo da Previdncia Social
e do SUS. E, ao trmino, mas no menos importante, para tornar as anlises
introduzidas muito mais teis para todos os envolvidos com a preveno em SST.
Como j destacado, as informaes presentes no SFIT so um resumo das
anlises efetivamente realizadas, e muitos relatrios detalhados sobre esses eventos
j so habitualmente elaborados. Tentativas de vincular as anlises de AT do SFIT
com uma base de dados contendo tais relatrios foi tentada no incio dos anos
2000, atravs de um projeto ento denominado Sistema de Anlise de Acidentes
de Trabalho (SAAT), que no obteve sucesso. Desde 2009 est em fase de
implantao um Sistema de Referncia em Anlise e Preveno de Acidentes
de Trabalho (Sirena), dotado de um banco de dados com muitas anlises realizadas
pelos AFTs e disponveis para consulta, embora inicialmente apenas para os que
tm acesso rea restrita da rede do MTE. fundamental ampliar o quantitativo
195
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
destas anlises, vinculando-as ao mdulo especco do SFIT, ou a um sistema que
vier a substitu-lo. H tambm a necessidade de disponibiliz-las para consulta
pblica a todos os interessados na questo (empresas, empregados, pesquisadores
e pblico em geral). Longe de ser uma novidade, isso j est ocorrendo, e h
muitos anos, em alguns pases com sistemas de inspeo e vigilncia em SST bem
estruturados. Um bom exemplo so as anlises disponibilizadas, via Web, pelo
Health and Safety Executive, do Reino Unido (HSE, 2010).
REFERNCIAS
ALMEIDA, I. M. Quebra de paradigma: contribuio para a ampliao do
permetro das anlises de acidente do trabalho. In: ______ (Org.). Caminhos da
anlise de acidentes do trabalho. Braslia: SIT/MTE, 2003. cap. 3, p. 67-84. Dis-
ponvel em: <http://www.mte.gov.br/seg_sau/pub_cne_analise_acidente.pdf>.
Acesso em: 22 jun. 2010.
BINDER, M. C. P.; MONTEAU, M.; ALMEIDA, I. M. rvore de causas: mtodo de
investigao de acidentes de trabalho. 2. ed. So Paulo: Publisher Brasil, 1996. 144 p.
BRASIL. Constituio Federal, de 5 de outubro de 1988. Art. 239, 3
o
. Institui
abono salarial equivalente a um salrio mnimo para empregado, com remu-
nerao mdia mensal de at dois salrios mnimos, vinculado a empregador
contribuinte do Fundo de Participao PIS/PASEP. Braslia: Congresso Nacio-
nal, 1988.
BRASIL. Decreto n
o
55.841, de 15 de maro de 1965. Aprova o Regulamento da
Inspeo do Trabalho. Dirio Ocial da Unio, n. 55.841, 17 mar. 1965a. Dis-
ponvel em: <http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.action?codigoB
ase=2&codigoDocumento=115442>. Acesso em: 21 jun. 2010.
BRASIL. Decreto n
o
4.552, de 27 de dezembro de 2002. Aprova o Regulamento
da Inspeo do Trabalho. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 30 dez. 2002. Dis-
ponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4552.htm>.
Acesso em: 21 jun. 2010.
BRASIL. Decreto n
o
55.841, de 15 de maro de 1965. Aprova o Regulamento da
Inspeo do Trabalho. Dirio Ocial da Unio, n. 55.841, 17 mar. 1965a. Dis-
ponvel em: <http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.action?codigoB
ase=2&codigoDocumento=115442>. Acesso em: 21 jun. 2010.
BRASIL. Decreto n
o
76.900, de 23 de dezembro de 1975. Institui a Relao Anual
de Informaes Sociais (Rais). Braslia: Congresso Nacional, 1975.
196
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
BRASIL. Lei n
o
8.213, de 24 de julho de 1991. Prev a incluso de pessoas com
decincia (PCDs) e pessoas reabilitadas no mercado de trabalho. Braslia: Con-
gresso Nacional, 1991.
BRASIL. Lei n
o
10.097, de 19 de dezembro de 2000. Altera dispositivos da CLT
referentes ao menor aprendiz. Braslia: Congresso Nacional, 2000.
BRASIL. Lei n
o
10.593, de 6 de dezembro de 2002. Estabeleceu e consolidou
alguns termos e procedimentos que so bastante utilizados nas atividades cotidi-
anas de scalizao tais como: ordem de servio, scalizao dirigida, scalizao
por denncia, atividade especial, entre outras. Dirio Ocial da Unio, Braslia,
9 dez. 2002. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/
L10593.htm>. Acesso em: 21 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
10.683, de 28 de maio de 2003. Dispe sobre a organizao
da Presidncia da Repblica e dos Ministrios, e d outras providncias. Dirio
Ocial da Unio, 29 maio 2003. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm>. Acesso em 21 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
11.890, de 24 de dezembro de 2008. Dispe sobre a reestrutura-
o da composio remuneratria das Carreiras de Auditoria da Receita Federal
do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei n
o
10.910, de 15
de julho de 2004 e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia,
26 dez. 2008. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Lei/L11890.htm>. Acesso em: 21 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
6.514, de 22 de dezembro de 1977. Altera o Captulo V do Ti-
tulo II da Consolidao das Leis do Trabalho, relativo segurana e medicina do
trabalho e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 23 dez. 1977.
Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6514.htm>. Acesso
em: 22 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
7.855, de 24 de outubro de 1989. Altera a Consolidao das
Leis do Trabalho, atualiza os valores das multas trabalhistas, amplia sua aplicao,
institui o Programa de Desenvolvimento do Sistema Federal de Inspeo do Tra-
balho e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 25 dez. 1989.
Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7855.htm>. Acesso
em: 21 jun. 2010.
BRASIL. Lei n
o
7.998, de 11 de janeiro de 1990. Regula o Programa de Segu-
ro-Desemprego, o abono salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), e d outras providncias. Braslia: Congresso Nacional, 1990.
197
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
BRASIL. Lei n
o
8.538, de 21 de dezembro de 1992. Disciplina o pagamento de
vantagens que menciona e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Bra-
slia, 22 dez. 1992. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L8538.htm>. Acesso em: 21 jun. 2010.
BRASIL. Portaria Interministerial n
o
6, de 28 de maro de 1994 (Ministrio do
Trabalho e Secretaria da Administrao Federal). Dirio Ocial da Unio, Bras-
lia, 6 abr. 1994. Disponvel em: <https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/
legislacao/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=6913>. Acesso em: 21 jun. 2010.
BRASIL. Portaria MTb n
o
3.311, de 29 de novembro de 1989. Estabelece os
princpios norteadores do programa do programa de desenvolvimento do Siste-
ma Federal de Inspeo do Trabalho e d outras providncias. Dirio Ocial da
Unio, Braslia, 30 nov. 1989. Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/legis-
lacao/portarias/1989/p_19891129_3311.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2010.
BRASIL. Portaria MTE n
o
2.590, de 30 de dezembro de 2009. Dispe sobre
preenchimento e entrega da Rais ano-base 2009. Braslia: Ministrio do Trabalho
e Emprego, 2009.
BRASIL. Portaria MTE n
o
546, de 11 de maro de 2010. Disciplina a forma de
atuao da Inspeo do Trabalho, a elaborao do planejamento da scalizao,
a avaliao de desempenho funcional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e d
outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 12 mar. 2010. Disponvel
em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2010/p_20100311_546.pdf>.
Acesso em: 21 jun. 2010.
BRASIL. Portaria n
o
235, de 14 de maro de 2003. O Ministro de Estado do Trab-
alho e Emprego, no uso de suas atribuies legais, e tendo em vista o disposto na
Lei n
o
4.923, de 23 de dezembro de 1965, altera a data limite da entrega da decla-
rao e d outras providncias. Braslia: Ministrio do Trabalho e Emprego, 2009.
COSTA, T. M. C. Sistema Federal de Inspeo do Trabalho. In: SECRETARIA
DE INSPEAO DO TRABALHO (SIT). Inspeo do trabalho no Brasil: pelo
trabalho digno. Braslia: SIT/MTE, 2005. seo 5, p. 22-25.
FORTES, V. J. Anlise de acidentes fatais investigados pelo MTE de acordo com o
porte da empresa: estado de So Paulo, 2001 a 2006. 2009. 303 f. Dissertao
(Mestrado em Sade Coletiva) Faculdade de Sade Pblica, Universidade Es-
tadual Paulista Jlio de Mesquita Filho UNESP, Botucatu, 2009.
HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE (HSE). Cases studies index. Caerphilly/
UK: 2010. Disponvel em: <http://www.hse.gov.uk/slips/experience.htm>. Aces-
so em: 23 jun. 2010.
198
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
MINISTRIO DA PREVIDNCIA SOCIAL. Anurio Estatstico da Previdncia
Social: suplemento histrico (1980-2008). Braslia: DATAPREV, 2009. p. 126-
127. Disponvel em: <http://www.mps.gov.br/conteudoDinamico.php?id=423>.
Acesso em: 22 jun. 2010.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Coordenao Geral de Estatsti-
cas do Trabalho. Comentrios sobre o uso potencial do CAGED. Braslia, 2002.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Coordenao Geral de
Estatsticas do Trabalho. Dados estatsticos da empregabilidade no Brasil: Rais. Bra-
slia, 2006.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Coordenao Geral de
Estatsticas do Trabalho. Dados estatsticos da empregabilidade no BRASIL: Rais.
Braslia, 2007.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Coordenao Geral de Estatsticas
do Trabalho. Manual de orientao da Rais: ano-base 2009. Braslia, 2009.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Coordenao Geral de Estatsti-
cas do Trabalho. Manual de orientao do CAGED. Braslia, set. 2009.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Coordenao Geral de Es-
tatsticas do Trabalho. Notas tcnicas e comunicados: 1996-2010. Braslia: MTE.
Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/pdet/ajuda/notas_comunic/notas_co-
munic.asp>.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Coordenao Geral de Es-
tatsticas do Trabalho. Registros administrativos Rais e CAGED. Braslia, 2010.
17 p.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Dados da inspeo em segu-
rana e sade no trabalho Brasil: acumulado janeiro/dezembro 2009. Braslia,
2010. Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/seg_sau/est_brasil_acumulado_
jan_dez. 2009.pdf. Acesso em: 22 jun. 2010.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MINISTRIO DA PREVI-
DNCIA SOCIAL. Acordo de Cooperao Tcnica n
o
8/2008, de 29 de setembro
de 2008. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 30 set. 2008, n. 179. Seo 3, p. 107.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Secretaria de Fiscalizao do
Trabalho (SEFIT). Secretaria de Segurana e Sade no Trabalho (SSST). Instruo
Normativa Intersecretarial n
o
8, de 15 de maio de 1995. Dirio Ocial da Unio,
Braslia, 22 maio 1995. Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/instru-
coes_normativas/1995/in_19950515_08.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2010.
199
Sistemas de Informao do Ministrio do Trabalho e Emprego Relevantes para a rea de Sade ...
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Secretaria de Fiscalizao do
Trabalho (SEFIT). Secretaria de Segurana e Sade no Trabalho (SSST). Instruo
Normativa Intersecretarial n
o
8, de 15 de maio de 1995. Dirio Ocial da Unio,
Braslia, 22 maio 1995. Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/instru-
coes_normativas/1995/in_19950515_08.pdf>. Acesso em 21 jun. 2010.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Secretaria de Inspeo do
Trabalho (SIT). Convenes da OIT. Braslia: SIT/MTE, 2002. 62 p. Disponvel
em: <http://www.mte.gov.br/seg_sau/pub_cne_convencoes_oit.pdf>. Acesso em:
21 jun. 2010.
CAPTULO 7
MINISTRIO DA PREVIDNCIA SOCIAL: FONTES DE
INFORMAO PARA A SADE E SEGURANA DO
TRABALHADOR NO BRASIL
Eduardo da Silva Pereira
1 INTRODUO
A Previdncia Social tem, ao longo dos ltimos quarenta anos, desempenhado
um papel de crescente importncia no que tange ao registro, armazenamento e
produo de dados e estatsticas sobre sade e segurana do trabalhador no Brasil.
Em 1967, a Lei n
o
5.316 integrou os benefcios decorrentes de acidentes de tra-
balho ao plano de benefcios da Previdncia Social. Esta mesma lei tambm es-
tabeleceu a obrigatoriedade das empresas informarem Previdncia Social, no
prazo de 24 horas, a ocorrncia de acidentes de trabalho. A obrigatoriedade de
comunicao, criada por razes operacionais visando a permitir a concesso dos
benefcios de natureza acidentria, se conformou na criao do documento Co-
municao de Acidentes de Trabalho (CAT), que o mais antigo documento
utilizado para o registro de acidentes de trabalho.
Segundo o Artigo 19 da Lei n
o
8.213, de 24 de julho de 1991, acidente
de trabalho o que ocorre pelo exerccio do trabalho a servio da empresa, ou
pelo exerccio do trabalho do segurado especial, provocando leso corporal ou
perturbao funcional, de carter temporrio ou permanente. Tambm so
considerados como acidentes de trabalho: i) o acidente ocorrido no trajeto
entre a residncia e o local de trabalho do segurado; ii) a doena prossional,
assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exerccio do trabalho
peculiar a determinada atividade; e iii) a doena do trabalho, adquirida ou
desencadeada em funo de condies especiais em que o trabalho realizado
e com ele se relacione diretamente. Nestes dois ltimos casos, a doena deve
constar da relao de que trata o Anexo II do Regulamento da Previdncia
Social, aprovado pelo Decreto n
o
3.048, de 6 de maio de 1999. Em caso
excepcional, constatando-se que a doena no includa na relao constante do
Anexo II resultou de condies especiais em que o trabalho executado e com
202
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
ele se relaciona diretamente, a Previdncia Social deve equipar-la a acidente
de trabalho. Equiparam-se tambm a acidente de trabalho:
1. O acidente ligado ao trabalho que, embora no tenha sido a causa nica,
haja contribudo diretamente para a morte do segurado, para a perda
ou reduo da sua capacidade para o trabalho, ou que tenha produzido
leso que exija ateno mdica para a sua recuperao.
2. O acidente sofrido pelo segurado no local e horrio do trabalho, em
consequncia de ato de agresso, sabotagem ou terrorismo praticado por
terceiro ou companheiro de trabalho; ofensa fsica intencional, inclusive
de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho; ato de
imprudncia, de negligncia ou de impercia de terceiro, ou de compa-
nheiro de trabalho; ato de pessoa privada do uso da razo; desabamento,
inundao, incndio e outros casos fortuitos decorrentes de fora maior.
3. A doena proveniente de contaminao acidental do empregado no
exerccio de sua atividade.
4. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horrio
de trabalho, na execuo de ordem ou na realizao de servio sob a
autoridade da empresa; na prestao espontnea de qualquer servio
empresa para lhe evitar prejuzo ou proporcionar proveito; em via-
gem a servio da empresa, inclusive para estudo, quando nanciada por
esta, dentro de seus planos para melhor capacitao da mo de obra,
independentemente do meio de locomoo utilizado, inclusive veculo
de propriedade do segurado; no percurso da residncia para o local de
trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoo,
inclusive veculo de propriedade do segurado.
Sendo a nica destinatria legal da CAT que necessitava do documento para
subsidiar um processo operacional e a nica a dispor, na poca de sua implantao,
de uma rede de atendimento centralizada, a Previdncia Social acabou por se
constituir na nica instituio que possui, de forma sistematizada, os dados bsicos
sobre acidentes de trabalho. Ao longo dos tempos e de forma mais acentuada nos
ltimos 15 anos, tem tambm realizado um esforo no sentido de melhorar a
cobertura, a qualidade e a disponibilidade desses dados e tambm das estatsticas
deles derivadas
1
esforo este que pode ser avaliado pela publicao, desde o ano
2002, do Anurio Estatstico de Acidentes de Trabalho (AEAT), que consolida
um conjunto de estatsticas e indicadores relacionados aos acidentes de trabalho.
1. Cabe observar que, desde 1999, a CAT preenchida em seis vias; cam com cpias o segurado, a Previdncia Social, o
empregador, o sindicato da categoria do trabalhador, o Sistema nico de Sade (SUS) e as Delegacias Regionais do Trabalho
(DRT). Devido a questes operacionais, apenas a Previdncia Social dispe das CAT em forma magntica e sistematizada.
203
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
Alm das informaes bsicas sobre acidentes de trabalho provenientes da
CAT, a Previdncia Social dispe tambm de outras fontes de dados e informaes
necessrias para a concesso e manuteno dos benefcios acidentrios, que
permitem melhor caracterizar a populao ocupada coberta contra os riscos de
tais acidentes, bem como analisar algumas das consequncias destes. Tais dados
e informaes so importantes para a correta anlise, diagnstico, formulao e
implementao de polticas que tenham como objetivo reduzir a incidncia de
acidentes de trabalho, os quais so coletados, armazenados e processados em um
grande sistema, o Cadastro Nacional de Informaes Sociais (CNIS). Tambm
importante destacar o papel do documento bsico de informaes para a Previdncia
Social a Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social
(GFIP) , na coleta de dados sobre os contribuintes da Previdncia Social.
O objetivo deste captulo permitir que o leitor tenha maior compreenso dos
dados relativos a acidentes de trabalho disponveis nas bases de dados da Previdncia
Social, apresentar os sistemas de informao que os coletam e armazenam os
principais dados disponveis, os usos que so dados a eles na anlise dos acidentes
de trabalho e as limitaes a que esto sujeitos. Ao m, espera-se que o leitor
tenha um conhecimento mais preciso do conjunto de dados disponvel nas bases
de dados da Previdncia Social e possa cotejar estas fontes de dados com outras
fontes disponveis em outros rgos do governo, que so apresentadas em outros
captulos deste volume. Para tanto, este captulo est organizado segundo os sistemas
mencionados; primeiramente ser apresentada a Comunicao de Acidentes de
Trabalho (CAT), seguida do Cadastro Nacional de Informaes Sociais (CNIS)
e da Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social (GFIP).
2 COMUNICAO DE ACIDENTES DO TRABALHO (CAT)
Como mencionado acima, a obrigatoriedade de informar Previdncia Social a
ocorrncia de acidentes de trabalho foi instituda por lei em 1967. Durante muitos
anos, esta obrigao foi cumprida pelo envio, aos postos do ento Instituto Nacional
de Previdncia Social (INPS), de formulrios preenchidos manualmente com um
conjunto de informaes bsicas necessrias para a identicao do segurado, do
empregador e do acidente. Esses formulrios eram processados de forma manual e
armazenados em papel, fazendo com que qualquer informao com algum grau de
agregao sobre os acidentes fosse de difcil obteno. Segundo Melo (2010), at
1995, a contabilizao dos acidentes era feita de forma manual nos postos do INPS,
consolidada no mbito estadual e posteriormente encaminhada Direo Geral
do INPS por meio de um documento chamado Boletim Estatstico de Acidentes
de Trabalho (BEAT), para a produo de informaes em mbito nacional.
A partir de 1995, a preocupao em melhorar a qualidade dos dados
coletados e permitir o seu cruzamento, possibilitando anlises mais complexas,
204
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
tarefa praticamente impossvel por meio da manipulao das milhares de
comunicaes recebidas todos os anos, levou a que fosse desenvolvido um sistema
de entrada de dados da CAT no sistema de processamento dos benefcios nos
postos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
2
Com isso foi possvel
transferir a informao coletada em meio papel para meio magntico, aumentando
a velocidade de concesso de benefcios acidentrios, bem como o comeo da
produo de informaes agregadas com maior velocidade e detalhamento do
que era possvel anteriormente.
Apesar de constituir um avano, a transferncia dos dados da CAT para meio
magntico no alterou o processo de produo e entrega da CAT, signicando
apenas a informatizao do que existia em meio papel; no houve uma reviso
do formulrio para permitir o processamento automatizado dos dados. Com
isso, diversos campos da CAT passaram a ser armazenados em formato de texto,
o que impedia a sua utilizao para a produo de estatsticas e dicultava o
tratamento de grandes volumes de informao, tornando-os de pouca utilidade
para a realizao de estudos e formulao de polticas relacionadas rea de sade
e segurana do trabalhador.
Em funo desse cenrio, o ento Ministrio da Previdncia e Assistncia
Social, em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social e o Ministrio
do Trabalho e Emprego, iniciaram um projeto de reviso da CAT, de forma
a estrutur-la para que fosse no apenas o documento legal para o registro de
acidentes de trabalho, mas tambm uma fonte de dados para subsidiar a
produo de estatsticas e estudos sobre a sade e segurana do trabalhador. Tal
tarefa contou com o apoio de tcnicos da Empresa de Tecnologia e Informaes
da Previdncia Social (DATAPREV), responsvel pelo armazenamento e
processamento das informaes da CAT.
3
Visando reduzir a carga de trabalho dos
postos de atendimento do INSS e permitir a coleta e processamento mais rpido
dos dados, evitando represamentos observados no passado, quando muitas CATs
eram entregues, mas digitadas com muito atraso, foi feita a opo por um sistema
de coleta descentralizado que utilizava uma aplicao com base na internet.
Este sistema foi denominado CAT-Web.
4
Na descrio de Melo (2010, p. 37-38),
A aplicao CAT-Web do tipo desktop, ou seja, o usurio precisa fazer a instalao
em sua mquina, o que permite criar uma base de armazenamento local. Instalado o
2. O INSS, criado em 1990, resultado da fuso do INPS com o Instituto de Administrao Financeira da Previdncia e
Assistncia Social (Iapas). Com isso, uma nica instituio passou a ser responsvel pela arrecadao das contribuies
previdencirias e pela concesso e manuteno dos benefcios previdencirios.
3. Novo formulrio aprovado pela Portaria MPAS n
o
5.817, de 06 de outubro de 1999, publicada no D.O.U. de 6 de
outubro de 1999.
4. Determinao contida na Portaria MPAS n
o
5.200, de 17 de maio de 1999, publicada no D.O.U. de 19 de maio de 1999.
205
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
aplicativo, o usurio pode fazer o cadastramento mediante processamento eletrnico
sem ter de comparecer a uma unidade de atendimento da Previdncia Social. Alm do
conforto e da agilizao no registro da CAT que foi propiciado ao usurio, a utilizao
do aplicativo que contm tabelas para codicao dos campos permitiu a gerao de
um banco de dados eletrnico com a totalidade dos dados provenientes da CAT.
O aplicativo CAT-Web pode ser encontrado na pgina do MPS na internet,
juntamente com o modelo do formulrio em papel e com os manuais de orientao
ao preenchimento. Na atual sistemtica de preenchimento da CAT, o usurio
instala o aplicativo CAT-Web em seu computador e preenche o formulrio, fazendo
a transmisso do mesmo via internet. Uma vez transferido para a DATAPREV, o
arquivo armazenado em uma base de dados especca, onde cam registrados
todos os campos que compem a CAT.
Cabe aqui uma observao sobre a cobertura da CAT e, consequentemente,
da signicncia dos dados coletados por seu intermdio para a interpretao da
incidncia de acidentes de trabalho no Brasil. A CAT somente entregue quando
h uma situao formal de emprego. Ela no prov nenhuma informao sobre
os acidentes de trabalho que ocorrem em situaes de emprego informal. Desta
forma, toda a anlise derivada de dados da CAT somente tem validade no que se
refere ao mercado formal.
Deve ser considerado ainda que no so preenchidas CATs para os trabalha-
dores que no esto vinculados ao Regime Geral de Previdncia Social (RGPS),
militares e servidores pblicos de entes federados que possuem Regimes Pr-
prios de Previdncia Social, assim como para os contribuintes que, vinculados ao
RGPS, no possuem cobertura de risco de acidentes de trabalho, notadamente os
chamados Outros Contribuintes, categoria que compreende os trabalhadores por
conta prpria, empresrios, contribuintes facultativos e empregados domsticos.
5
2.1 Produo de estatsticas com base na CAT
A maior automatizao na entrega e no processamento da CAT abriu espao
para a produo sistematizada de informaes sobre acidentes de trabalho no
Brasil. Antes de 1997, as informaes disponveis sobre acidentes de trabalho
eram obtidas a partir de um trabalho manual de compilao de dados, sem uma
denio clara de conceitos, de forma muito agregada e sem detalhamentos.
Havia ainda os dados relativos aos benefcios de natureza acidentria concedidos e
mantidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. A partir desse ano, o Anurio
5. Esses contribuintes tm direito a benefcios como aposentadoria por invalidez e auxlio-doena, mas do tipo
previdencirio e no acidentrio. Isso porque a concesso de benefcio do tipo acidentrio gera efeitos legais que no
so vlidos para esses contribuintes, tais como estabilidade no emprego e a obrigao do empregador em continuar
a pagar o FGTS durante o afastamento.
206
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Estatstico de Previdncia Social (AEPS)
6
passou a incorporar um captulo com
informaes sobre acidentes de trabalho, inicialmente, contemplando apenas
a quantidade de acidentes registrados isto , com CAT entregue , segundo
as seguintes aberturas: por motivo, ms de ocorrncia, Unidade da Federao e
Regio; por idade do trabalhador; pelos 30 cdigos da Classicao Internacional
de Doenas (CID) mais incidentes; por Cdigo Nacional de Atividade Econmica
(CNAE); e por consequncia do acidente.
7
importante destacar que, nesse perodo, foram criados os conceitos de
acidentes registrados e acidentes liquidados. Acidentes registrados correspondem
ao total de CATs entregues ao INSS em um determinado perodo. Por sua vez,
os acidentes de trabalho liquidados correspondem aos acidentes cujos processos
foram encerrados administrativamente pelo INSS, em determinado perodo,
depois de completado o tratamento e indenizadas as sequelas. Pelo conceito de
acidente registrado tm-se a viso da ocorrncia dos acidentes, enquanto pela viso
dos acidentes liquidados tm-se a viso dos acidentes pelas suas consequncias.
A introduo da CAT-Web permitiu um avano ainda maior na produo
das estatsticas de acidentes de trabalho. Pela nova base de dados foi possvel
iniciar, a partir de 2002, a publicao do Anurio Estatstico de Acidentes de
Trabalho, que avanou em relao ao AEPS ao detalhar os dados de acidentes
segundo a Unidade da Federao. Entre os nveis de detalhamento disponveis
esto aberturas por Unidades da Federao e Regio, por Cdigo Nacional de
Atividade Econmica (CNAE), por grupos de idade e sexo, por motivo do aci-
dente, pelos 200 cdigos da Classicao Internacional de Doenas (CID) mais
incidentes. Posteriormente foi acrescentado ao AEAT um pequeno conjunto de
dados sobre acidentes de trabalho para cada municpio do pas, possibilitando
alguma informao no nvel espacial mais desagregado.
As tabelas 1 e 2 mostram algumas informaes bsicas sobre os acidentes de
trabalho no Brasil produzidas entre 1997 e 1999, com base no registro automati-
zado das CATs nas agncias do INSS, e a partir de 2000, com base no CAT-Web,
utilizando os conceitos de acidente de trabalho registrado e liquidado.
8
6. O AEPS e o AEAT podem ser acessados no endereo: <http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=423> .
7. Evidentemente, nem todas as aberturas esto disponveis simultaneamente.
8. Os dados anuais no coincidem, uma vez que nem todo acidente registrado em um ano liquidado no mesmo ano,
pois o processo de tratamento e indenizao das sequelas pode levar mais tempo do que isso.
207
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
TABELA 1
Acidentes de trabalho registrados por tipo e situao de registro (1997-2008)
Ano
Tpico -
com CAT
Trajeto -
com CAT
Doena do trabalho -
com CAT
Sem CAT Total
1997 347.482 37.213 36.648 0 421.343
1998 347.738 36.114 30.489 0 414.341
1999 326.404 37.513 23.903 0 387.820
2000 304.963 39.300 19.605 0 363.868
2001 282.965 38.799 18.487 0 340.251
2002 323.879 46.881 22.311 0 393.071
2003 325.577 49.642 23.858 0 399.077
2004 375.171 60.335 30.194 0 465.700
2005 398.613 67.971 33.096 0 499.680
2006 407.426 74.636 30.170 0 512.232
2007 417.036 79.005 22.374 141.108 659.523
2008 438.536 88.156 18.576 202.395 747.663
Fonte: AEPS.
TABELA 2
Acidentes de trabalho liquidados por consequncia do acidente (1997-2008)
Ano
Assistncia
mdica
Incapacidade
temporria menos
15 dias
Incapacidade
temporria mais
15 dias
Incapacidade
permanente
bito Total
1997 56.431 206.608 156.104 17.669 3.469 440.281
1998 55.686 188.221 145.013 15.923 3.793 408.636
1999 54.905 204.832 140.202 16.757 3.896 420.592
2000 51.474 172.077 146.621 15.317 3.094 388.583
2001 51.686 151.048 143.943 12.038 2.753 361.468
2002 62.153 179.212 162.008 15.259 2.968 421.600
2003 61.351 194.415 155.888 13.416 2.674 427.744
2004 70.412 248.848 168.908 12.913 2.839 503.920
2005 83.157 282.357 163.052 14.371 2.766 545.703
2006 87.483 309.681 149.944 9.203 2.798 559.109
2007 97.301 302.685 269.752 9.389 2.845 681.972
2008 104.070 313.310 332.725 12.071 2.757 764.933
Fonte: AEPS.
Esses so dois exemplos dos efeitos positivos da mudana na sistemtica de preen-
chimento e entrega da CAT na produo de estatsticas sobre os acidentes de trabalho.
Tais dados, bem como o detalhamento dos acidentes por sexo, grupo de idade e CNAE
permitiram, pela primeira vez, uma viso segmentada dos acidentes e a expanso do
conhecimento sobre o tema dos acidentes de trabalho.
A partir dos registros eletrnicos da CAT tambm foi possvel desenvolver
alguns indicadores para mensurar os acidentes de trabalho segundo algumas
de suas caractersticas, assim como estabelecer alguma comparabilidade dos
208
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
acidentes segundo as diversas atividades econmicas, na medida em que todos
os indicadores so calculados para cada classe da CNAE.
9
So sete os indicadores
publicados no AEAT desde 2002:
1. Incidncia de acidentes de trabalho nmero de novos casos de aci-
dentes de trabalho dividido pelo nmero mdio anual de vnculos com
proteo contra riscos ambientais do trabalho, vezes 1.000.
2. Incidncia especca por doenas relacionadas ao trabalho nmero de
novos casos de doenas relacionadas ao trabalho dividido pelo nmero
mdio anual de vnculos com proteo contra riscos ambientais do tra-
balho, vezes 1.000.
3. Incidncia especca para acidentes de trabalho tpicos nmero de no-
vos casos de acidentes de trabalho tpicos dividido pelo nmero mdio
anual de vnculos com proteo contra riscos ambientais do trabalho,
vezes 1.000.
4. Incidncia especca para incapacidade temporria nmero de aci-
dentes de trabalho que resultaram em incapacidade temporria dividido
pelo nmero mdio anual de vnculos com proteo contra riscos am-
bientais do trabalho, vezes 1.000.
5. Taxa de mortalidade nmero de bitos decorrentes de acidentes de
trabalho dividido pelo nmero mdio anual de vnculos com proteo
contra riscos ambientais do trabalho, vezes 100.000.
6. Taxa de letalidade nmero de bitos decorrentes de acidentes de
trabalho dividido pelo nmero de acidentes de trabalho registrados,
vezes 1.000.
7. Taxa de acidentalidade proporcional especca para a faixa etria de 16
a 34 anos nmero de acidentes de trabalho registrados na faixa etria
de 16 a 34 anos dividida pelo nmero total de acidentes de trabalho
registrados, vezes 100.
A partir desses dados tambm foram desenvolvidos alguns indicadores para
compor a base de dados da Rede Interagencial de Informaes para a Sade
(Ripsa). A tabela 3 apresenta os dados relativos a estes indicadores, conforme
publicado pelo MPS no AEAT.
9. Para a construo dos indicadores, foi essencial tambm a existncia de uma base de informaes sobre os
trabalhadores segurados, o que foi possvel com a implantao da Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes
Previdncia Social (GFIP), em 1999.
209
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
TABELA 3
Indicadores de acidentes do trabalho Brasil (2002 a 2008)
Ano Incidncia
Incidncia de
doenas do
trabalho
Incidncia de
acidentes tpicos
Incidncia de
incapacidade
temporria
Mortalidade Letalidade
Letalidade
faixa etria de
16-34 anos
2002 17,3 1,0 14,2 15,0 13,0 7,6 56,9
2003 17,2 1,0 14,0 15,1 11,5 6,7 56,9
2004 18,8 1,2 15,1 16,8 11,5 6,1 57,7
2005 18,9 1,3 15,1 16,9 10,5 5,5 57,8
2006 18,6 1,0 14,9 16,2 10,0 5,4 58,4
2007 22,0 0,7 13,9 19,1 9,5 4,3 54,8
2008 22,9 0,6 13,5 19,8 8,5 3,7 54,4
Fonte: AEPS.
Simultaneamente, no AEPS foram sendo incorporadas novas estatsticas,
em um grau de abertura geogrca menor do que no AEAT, mas importantes,
tais como acidentes por trabalho segundo a Classicao Brasileira de Ocupaes
(CBO) do trabalhador e por setor de atividade econmica.
A existncia de uma base de dados para a CAT tambm permitiu que
diversos trabalhos com propsitos mais especcos fossem realizados, nestes casos,
por meio de tabulaes especiais encomendadas pelo Ministrio da Previdncia
Social DATAPREV. Muitos destes trabalhos exigiram recortes especcos de
CNAE ou municpios, ou o levantamento de campos que normalmente no so
utilizados para a produo de estatsticas, mas que, por estarem na CAT, fazem
parte da base de dados.
A principal alterao na produo de estatsticas de acidentes de trabalho
ocorrida nesse perodo deu-se em 2007, a partir da alterao da forma de
classicao de um benefcio como de natureza acidentria ou previdenciria.
At maro de 2007, a base de dados da CAT era vinculada ao Sistema nico de
Benefcios (SUB). Com isso, toda vez que havia a solicitao de um benefcio
acidentrio, o SUB buscava na base da CAT o registro de uma CAT para o evento
que poderia ter gerado a situao em anlise pelo INSS. Encontrada esta CAT,
prosseguia o processo de concesso do benefcio de natureza acidentria. Caso
contrrio, o processo de concesso do benefcio continuava sendo classicado
como de natureza previdenciria. Havia, portanto, uma relao entre o nmero
de benefcios acidentrios e o nmero de CATs
10
, e para cada benefcio concedido
era possvel buscar informaes sobre o evento que o originou.
10. Cabe observar que, embora a CAT seja obrigatria para todos os acidentes de trabalho independentemente da
gravidade, os benefcios acidentrios somente so devidos nos casos de afastamentos por mais de 15 dias, invalidez
permanente ou morte.
210
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Em abril de 2007, com a introduo da nova sistemtica de classicao
de benefcios por incapacidade concedidos pelo INSS, a existncia de uma CAT
registrada deixou de ser condio para a classicao de um benefcio como
acidentrio. Com isso foi rompida a vinculao entre a base da CAT e o SUB.
Isso gerou, no momento da produo das estatsticas de acidentes de trabalho do
ano de 2007, a dvida sobre como produzir as estatsticas, uma vez que no havia
mais o vnculo entre benefcio acidentrio-evento causador.
A soluo encontrada foi utilizar a mesma rotina de vinculao entre
benefcios e CATs, que antes existia de forma automtica entre o SUB e a base
da CAT, s que fora do processo de concesso dos benefcios uma rotina que
possibilita identicar, para todos os benefcios acidentrios concedidos, aqueles
que possuem ou no CATs. Com isso possvel classicar os acidentes de trabalho
em dois grupos. O primeiro o dos acidentes que tiveram registro, isto , para
os quais foram entregues CATs. Este grupo corresponde aos acidentes segundo a
metodologia tradicionalmente utilizada, na qual o acidente reconhecido quando
algum, empresa, empregado, sindicato, vem ao INSS e declara, por meio da
CAT, que houve um acidente. O segundo grupo o dos acidentes sem registro,
que tm outra caracterstica: so acidentes reconhecidos pelas suas consequncias,
ou seja, dadas as consequncias, o INSS reconhece que estas foram causadas
por um acidente de trabalho. No entanto, como no houve registro de CAT,
no h informaes sobre as caractersticas do evento que deu origem a estas
consequncias. Com isso, a nica fonte de dados que pode ser associada a tais
acidentes o SUB, que armazena os dados dos benefcios concedidos.
Para o primeiro grupo de acidentes, a Previdncia Social tem todas as
informaes que constam do formulrio da CAT, e para o segundo grupo, apenas
as que compem o registro do benefcio concedido. No AEAT esta diferena se
traduz na existncia de acidentes com e sem registro. Em seguida apresentaremos
as principais variveis que so coletadas pela CAT e as que esto disponveis no
SUB, visando dar uma viso geral sobre o conjunto de dados disponveis sobre
acidentes de trabalho no mbito da Previdncia Social.
A CAT contm 67 campos, que podem, para ns analticos, ser divididos
em sete grupos de dados. Estes grupos e as variveis mais importantes em cada um
deles so apresentados no quadro 1. Deve ser considerado que algumas variveis
se desdobram em mais de um campo como, por exemplo, o endereo, que
possui campos para CEP, complemento, UF e municpio.
211
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
QUADRO 1
Grupos de dados da CAT e suas principais variveis
Grupos de dados Principais variveis
Dados de identicao do trabalhador
Nome, nome da me, data de nascimento, sexo, n
o
CTPS, n
o
NIT, documento de
identidade, endereo completo
Dados de identicao do empregador Razo social/nome, tipo e nmero (CNPJ, CEI, CPF, NIT), CNAE, endereo completo
Dados do vnculo trabalhista
Nome da ocupao, CBO, remunerao mensal, liao Previdncia Social,
aposentado
Dados do acidente ou doena
Data do acidente, hora do acidente, tipo do acidente. Acidente ps quantas
horas de trabalho? Houve afastamento? Data do ltimo dia trabalhado, local do
acidente, especicao do local do acidente, UF e municpio do acidente, parte do
corpo atingida, agente causador. Houve registro policial? Houve morte? Descrio
da situao geradora do acidente ou doena
Dados de testemunhas Nome, endereo completo
Dados do atestado mdico
Unidade de atendimento mdico, data, hora. Houve internao? Durao provvel
do tratamento. Dever haver afastamento do trabalho durante o tratamento?
Descrio e natureza da leso, diagnstico provvel, CID-10
Dados do INSS Data de recebimento, nmero da CAT
Fonte: SPS/MPS.
No conjunto de variveis da CAT, cabe observar que muitas so de
difcil codicao, sendo tratadas no documento como campos livres, no qual
o declarante tem a liberdade de descrever a varivel da forma que melhor lhe
aprouver. Campos importantes como descrio da situao geradora do acidente
ou doena, especicao do local do acidente, agente causador, diagnstico
provvel e descrio e natureza da leso so denidos como livres, o que torna
difcil o processamento automatizado destes dados. Com isso, a obteno de
informaes agregadas com base em tais variveis torna-se impossvel. Outros
campos so importantes em termos legais e/ou operacionais, mas de escassa
utilidade em termos de informaes, tais como as dos grupos de dados de
testemunhas ou de dados do INSS.
Outra limitao da CAT reside no ainda persistente problema da subnoticao
dos acidentes de trabalho. Aqui cabe observar que existe subnoticao de acidentes
em duas situaes: dos acidentes ocorridos com trabalhadores no setor informal que
no so reportados, e dos acidentes com trabalhadores do setor formal que tambm
no so informados por meio da CAT. Tratamos aqui da segunda situao, uma
vez que esta ocorre no universo dos trabalhadores que tm direito aos benefcios
previdencirios. Em vista das consequncias nanceiras, legais e sociais da entrega da
CAT,
11
sempre houve um entendimento generalizado de que existia subnoticao
11. A entrega da CAT leva concesso de benefcio de natureza acidentria, que garante estabilidade de um ano
no emprego aps o retorno do afastamento e a obrigao do empregador de continuar a depositar o Fundo de
Garantia do Tempo de Servio (FGTS) durante o perodo do afastamento. Nos benefcios de natureza previdenciria
tais obrigaes no existem.
212
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
dos acidentes de trabalho no Brasil. Havia a hiptese de que muitos trabalhadores
vtimas de acidentes de trabalho procuravam o INSS e, como no havia nenhuma
CAT registrada, recebiam benefcios de natureza previdenciria e no acidentria.
Este foi um dos principais elementos a estimular a busca de uma forma alternativa de
classicao de benefcios por incapacidade como previdencirios ou acidentrios,
fazendo com que os trabalhadores tivessem reconhecido o seu direito ao benefcio
acidentrio mesmo sem a entrega da CAT.
12
As primeiras estatsticas aps a introduo da nova sistemtica de classicao
dos benefcios por incapacidade, em abril de 2007, comprovaram que a
subnoticao ocorria e que a hiptese mencionada era verdadeira, havendo uma
reduo na quantidade de benefcios previdencirios e um aumento na quantidade
de benefcios acidentrios concedidos. A concluso que se chega que, com a
introduo do NTEP, no possvel mais falar em subnoticao de acidentes
de trabalho no setor formal nos casos em que estes acidentes geram afastamentos
do trabalho por perodos superiores a 15 dias, uma vez que o INSS que assume
a responsabilidade de classicar o benefcio concedido como acidentrio ou
previdencirio, utilizando os instrumentos sua disposio, independentemente
da entrega ou no da CAT. No entanto, a subnoticao continua existindo em
relao aos acidentes de trabalho que tm como consequncia a assistncia mdica
e os afastamentos do trabalho por menos de 15 dias. Tais acidentes, por no
gerarem benefcios no mbito do Regime Geral de Previdncia Social (RGPS),
somente so conhecidos quando uma CAT entregue.
Um ponto importante a ser considerado que a alterao na sistemtica de
concesso de benefcios acidentrios implementada em abril de 2007 alterou a
natureza da CAT. De um documento essencial para a concesso de tais benefcios,
que geram reexos nanceiros e legais para os trabalhadores e as empresas, a CAT
passou a ser um documento utilizado apenas para o registro de acidentes e para
a produo de estatsticas.
13
Havia inicialmente o receio de que isso gerasse um
desestmulo ao preenchimento da CAT por parte das empresas, uma vez que sua
entrega seria apenas mais uma obrigao assessria que o Estado impe s empresas,
sem maiores efeitos para a empresa ou para os empregados.
14
Por outro lado, ao
retirar do documento a responsabilidade pela concesso ou no de um benefcio
acidentrio, seria possvel tambm que as empresas se sentissem menos receosas
de preencher a CAT. O que se observou nos anos de 2007 e 2008 foi que no
12. Esta forma alternativa foi denominada Nexo Tcnico Epidemiolgico Previdencirio NTEP, e consiste na identi-
cao de uma relao entre o agravo produzido e a atividade econmica desenvolvida pelo empregador. O NTEP
mais bem detalhado no captulo 2.
13. Deve ser observado que continuam vigorando a obrigatoriedade legal da entrega da CAT e as penalidades pelo
no cumprimento desta obrigao.
14. A lgica por trs deste raciocnio de que se nem a empresa, nem o empregado so afetados pela entrega da CAT,
haveria pouco estmulo para a sua entrega e pouco interesse na scalizao desta obrigao acessria.
213
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
houve reduo no registro de CATs, mas um crescimento na quantidade de CATs
entregues da ordem de 1,2% entre 2007 e 2006 e de 5,2% entre 2008 e 2007.
A alterao da natureza da CAT abre tambm a possibilidade de modic-la e
atualiz-la. Entre as modicaes que podem ser sugeridas encontram-se a retirada
de campos de natureza mais legal, tais como os do grupo de dados de testemunhas,
abrindo espao para outras variveis de natureza mais tcnica que possam ser
codicadas, processadas e transformadas em informao. Evidentemente, tais
mudanas devem ser discutidas com os rgos pblicos envolvidos com o tema
da segurana e sade no ambiente de trabalho, especialmente o Ministrio do
Trabalho e Emprego.
3 CADASTRO NACIONAL DE INFORMAES SOCIAIS (CNIS)
Em 10 de julho de 1989, o governo editou o Decreto n
o
97.936, que criou o
Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT). O objetivo do CNT era registrar
informaes de interesse do trabalhador, do Ministrio do Trabalho, do Ministrio
da Previdncia e Assistncia Social e da Caixa Econmica Federal.
15
Por trs
deste objetivo genrico encontrava-se a tentativa de construir uma base de dados
que possibilitasse consolidar diversas fontes de informao sobre os trabalhadores
e empresas que estavam dispersas em diversos rgos da administrao federal
direta e indireta. A inteno era agregar os dados de diversos cadastros, permitindo
um maior conhecimento sobre o trabalhador, o empregador e as relaes entre
eles, visando melhorar o gerenciamento de diversos programas federais, tais como
o Seguro-Desemprego, a Previdncia Social, o Fundo de Garantia do Tempo de
Servio (FGTS), entre outros; gerar conhecimento sobre o mercado de trabalho,
coordenar a gesto desses cadastros e reduzir custos para o governo e para as
empresas, aumentando assim sua ecincia, e tambm possibilitar melhoria no
servio prestado pelo governo aos trabalhadores.
Para isso, o CNT foi concebido para agregar oito fontes de dados, que
esto relacionadas no quadro 2, onde apresentada tambm a entidade gestora
responsvel pela fonte de dados.
15. Artigo 1
o
do Decreto n
o
97.936/1989.
214
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
QUADRO 2
Fontes de dados do CNIS e suas entidades gestoras
Fonte de dados Entidade gestora
Cadastro do Programa de Integrao Social PIS Caixa Econmica Federal CEF
Cadastro do Programa de Formao do Patrimnio do Servidor
Pblico PASEP
Banco do Brasil BB
Cadastro de Contribuintes Individuais CI Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas CNPJ Secretaria da Receita Federal SRF/MF
Cadastro Especco do INSS CEI Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Relao Anual de Informaes Sociais Rais Ministrio do Trabalho e Emprego MTE
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED Ministrio do Trabalho e Emprego MTE
Base de Recolhimentos de Contribuintes Individuais Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Elaborao do autor.
Estas fontes de dados foram organizadas em quatro grandes grupos de dados
no CNT. Uma base de dados de pessoas fsicas, que agregava dados do PIS, PASEP
e CI. Nela estavam os dados cadastrais de trabalhadores que alguma vez foram ins-
critos no PIS, PASEP ou no INSS como contribuintes individuais. Uma base de
dados de empregadores, com dados do CNPJ e do CEI.
16
Nela estavam os dados
cadastrais de todos os empregadores com registro nestas duas bases de dados. Foi
criada ainda uma base para registrar os recolhimentos feitos pelos contribuintes in-
dividuais ao INSS, que so pagamentos efetuados por pessoas fsicas Previdncia
Social. Por m foi criada uma base de vnculos e remuneraes, que agregava dados
do CAGED e da Rais, identicando os vnculos entre trabalhadores e empregado-
res e suas respectivas remuneraes.
Ficava evidente que tal estrutura permitia conhecer o histrico laboral
do trabalhador e continha um conjunto de dados muito amplo, capaz de
subsidiar diversas polticas na rea social. Por outro lado cava tambm evidente
a diculdade de agregar oito fontes de dados de origem diversa, criadas com
objetivos distintos e operadas por diversos rgos. Diculdades que eram tanto
tecnolgicas quanto institucionais e legais, uma vez que estas bases foram criadas
para atender programas distintos, todos criados por lei.
Aps um grande esforo de coordenao dos diversos rgos destacados no
quadro 2, o CNT rebatizado de Cadastro Nacional de Informaes Sociais
(CNIS) pela Lei n
o
8.490, de 19 de novembro de 1992 foi implementado de forma
experimental entre 1994 e 1995. No seu desenho, ele foi sicamente instalado na
Empresa de Tecnologia e Informaes da Previdncia Social (DATAPREV), no
16. O CEI registra dados de empregadores pessoa fsica, que no tm registro no CNPJ, mas que, pela legislao
previdenciria, so equiparados a pessoas jurdicas tais como prossionais liberais que contratam trabalhadores.
215
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
Rio de Janeiro, e nanciado com recursos do oramento da Previdncia Social.
Na segunda metade da dcada de 90, o CNIS foi sendo gradativamente mais
utilizado pelo INSS e Ministrio do Trabalho e Emprego para subsidiar suas
atividades. Simultaneamente foi desenvolvido pelo Ministrio da Previdncia
Social, Ministrio do Trabalho e Emprego e Caixa Econmica Federal um grande
projeto visando dotar o CNIS de um documento de informaes que atendesse
s necessidades de informaes destes trs rgos. Tal documento, posteriormente
denominado Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social
(GFIP), consistiu na adaptao do documento de recolhimento do FGTS visando
incorporar informaes necessrias ao funcionamento da Previdncia Social.
Ao aproveitar a estrutura existente de coleta e processamento de informaes,
tinha-se como objetivo reduzir custos para o governo e para as empresas. Outros
objetivos eram dotar o INSS de uma base de dados com validade legal que
permitisse o registro eletrnico do histrico laboral do trabalhador, eliminando
a necessidade de anlise documental no processo de concesso de benefcios,
retirando do trabalhador o nus de comprovar suas contribuies perante o
INSS, reduzindo injustias, facilitando o atendimento e criando condies para
um avano estrutural no gerenciamento da Previdncia Social.
17
A GFIP tornou-
se de entrega obrigatria em janeiro de 1999, tornando-se uma das fontes de
dados do CNIS, no grupo de vnculos e remuneraes.
18
Ao agregar dados desses diversos cadastros, o CNIS passou a armazenar
informaes que remontam a dcadas. Com relao aos vnculos e remuneraes,
o CNIS possui informaes da Rais desde 1976, do CAGED desde 1986 e
do FGTS desde 1996. Nas bases de pessoa fsica e de empregadores, que tm
natureza de cadastro, ou seja, uma vez inscrita uma pessoa fsica ou jurdica, o
dado permanece na base independentemente de sua data de inscrio, os registros
remontam dcada de 1970. Por sua vez, o PIS, o PASEP e o CI remontam
dcada de 1960, caso do Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), que foi
posteriormente substitudo pelo Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas (CNPJ).
A variedade de fontes de dados leva, necessariamente, a que se tenha
um grande volume de variveis nos quatro grupos de dados que compem o
CNIS. Especicar tal conjunto de variveis tarefa impossvel de ser feita neste
17. Esses objetivos foram atingidos com a Lei n
o
10.403, de 08 de janeiro de 2002, que autorizou o uso do CNIS para
o clculo do valor dos benefcios previdencirios, e a Lei Complementar n
o
128, de 19 de dezembro de 2008, que
autorizou o uso dos dados do CNIS para a comprovao do tempo de contribuio Previdncia Social no perodo
anterior a julho de 1994.
18. Na realidade, a GFIP tornou-se a principal fonte de dados do grupo de vnculos e remuneraes por algumas de
suas caractersticas. Por ser desenhada para atender Previdncia Social e ao FGTS, foi concebida, desde o incio, como
fonte de dados do CNIS, no sendo um aproveitamento de uma base anteriormente existente. Ao ter validade legal
para efeitos previdencirios, tornou-se referncia para todos os usos previdencirios do CNIS. Por ser mensal, apresenta
uma velocidade de atualizao que a Rais no possui. Um ponto negativo da GFIP que ela no cobre os servidores
pblicos que participam de Regimes Prprios de Previdncia Social (RPPS).
216
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
texto, e este no o seu objetivo. No entanto, possvel destacar as variveis
mais importantes que compem cada grupo de dados, que esto relacionadas s
caractersticas da informao registrada em cada um destes grupos.
No conjunto de variveis apresentadas, cabem algumas consideraes.
O primeiro aspecto diz respeito atualizao das variveis. No caso das bases
de Pessoa Fsica e Pessoa Jurdica, os dados disponveis so os coletados na data
do cadastramento ou em eventual atualizao realizada posteriormente. Na base
de Pessoa Fsica, esta atualizao no muito frequente, de forma que algumas
variveis que so volteis, tais como grau de instruo, tendem a car defasadas
ao longo do tempo. Na base de Pessoa Jurdica, a atualizao mais frequente, na
medida em que os cadastros fontes so utilizados por outros rgos do governo em
atividades scais. Ainda assim, algumas variveis podem car desatualizadas, caso
a empresa ou equiparado no procure o gestor do cadastro fonte para atualizar
dados como, por exemplo, a atividade econmica. Nas bases de Recolhimento
de Contribuintes Individuais e de Vnculos e Remuneraes, tal problema no
to relevante, uma vez que estas bases registram dados informados ms a ms,
fazendo com que haja uma atualizao frequente das variveis. Isso, no entanto,
pode gerar outro problema, que a variabilidade do dado, ou seja, possvel
que a mesma varivel por exemplo, a atividade econmica seja informada
com diversos valores ao longo do ano quando estes deveriam ser constantes ou
relativamente estveis.
Outra observao importante que nem todas as variveis esto preenchidas
para todos os registros. No caso dos documentos de identicao da pessoa so
solicitados, pelos cadastros fontes: no mnimo um em cinco documentos, nmero
do documento de identidade, nmero do CPF, nmero da CTPS, nmero do
ttulo de eleitor ou nmero da certido de nascimento. Raros so os casos em que
um registro possui todas estas variveis preenchidas.
Na base de Empregadores, deve ser considerado que o empregador pode
ser identicado pelo CNPJ ou pela matricula CEI. No so mantidos histricos
da evoluo das variveis, os valores disponveis so os mais recentes informados
pelos cadastros fontes. Por isso no possvel o levantamento de informaes
histricas nestas variveis, o que seria importante quando se consideram variveis
como atividade econmica ou natureza jurdica do empregador.
A base de Recolhimentos de Contribuintes Individuais comparativamente
uma base mais simples, na qual so registradas todas as Guias de Recolhimento
da Previdncia Social (GPS) pagas por contribuintes individuais. As variveis
contidas nesta base esto basicamente relacionadas ao registro nanceiro de tal
recolhimento, possibilitando ao INSS identicar as contribuies feitas pelos seus
segurados quando do pedido de um benefcio.
217
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
A base de Vnculos e Remuneraes pode ser considerada a principal base
do CNIS. Nela esto registradas as relaes entre trabalhadores e empregadores,
os vnculos trabalhistas e as variveis que dizem respeito a estas relaes, tais como
remuneraes, datas de admisso e demisso, eventuais afastamentos, exposio a
agentes nocivos, cdigo da ocupao, existncia de mltipla atividade,
19
entre outros.
QUADRO 3
Principal variveis do CNIS, segundo suas bases de dados
Base de dados de pessoa fsica
Nmero de Identicao do Trabalhador Sexo Nmero da CTPS
Nome do trabalhador Nmero do CPF Certido de nascimento
Nome da me Nmero de identidade Endereo
Data de nascimento Nmero do Ttulo de Eleitor Data de cadastramento
Nacionalidade Grau de instruo Data de bito
Data de chegada ao Brasil
Tipo de contribuinte Somente para
contribuintes individuais
Base de dados de empregadores
Nmero de identicao do empregador Razo social Nome fantasia
Cdigo de Atividade Econmica CNAE Endereo Natureza jurdica
Data de incio de atividade Situao da empresa Data de opo pelo Simples
Base de dados de recolhimento de contribuintes individuais
Nmero de Identicao do Trabalhador Data do recolhimento Valor recolhido
Competncia de recolhimento Agncia bancria UF de recolhimento
Base de dados de recolhimento de vnculos e remuneraes
Nmero de Identicao do Empregador Data de admisso Categoria do vnculo GFIP
Nmero de Identicao do Trabalhador Fonte de cadastramento Valor da remunerao
13
o
salrio Tipo de admisso Data e motivo de resciso
Tipo de vnculo
Classicao Brasileira de Ocupaes
(CBO)
Classe de exposio a agentes
nocivos
Existncia de mltipla atividade Afastamentos temporrios Histrico de vnculos
Elaborao do autor.
A riqueza do CNIS, derivada da agregao destas oito bases de dados, , no
entanto, difcil de explorar para obter informaes agregadas. Um dos problemas
decorre de que, ao se agregarem as bases de dados, agregam-se tambm os erros
que cada uma delas contm. Tais erros tm diversas origens. Decorrem de decises
administrativas historicamente determinadas, de limitaes tecnolgicas existentes
quando tais bases de dados foram criadas, de falhas na administrao das bases
de dados, entre outras razes. Alm dos erros existem tambm incongruncias
entre variveis, que tm origem no fato de que cada fonte de dados foi criada para
19. Mltipla atividade indica se o trabalhador possui mais de um vnculo trabalhista com vinculao obrigatria ao
RGPS na mesma empresa ou em empresa diferente.
218
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
atender um programa ou atividade especca, no foram concebidas para serem
compartilhadas e utilizadas com outra nalidade. Estas caractersticas tornam
complexa a produo de estatsticas com base no CNIS e exigem um grande
conhecimento das caractersticas de cada uma das bases que o compem, para
se poder fazer uma adequada interpretao dos dados dele extrados. E isso
mais importante quanto mais antigos so os dados, pois lentamente, ao longo
dos anos, principalmente aps a implantao do CNIS e a introduo da GFIP,
a necessidade de uma viso um pouco mais compartilhada dos dados parece
estar sendo incorporada pelos rgos gestores dos cadastros fontes.
20
Colabora
tambm para a melhoria da qualidade dos dados, mais recentemente, a evoluo
tecnolgica, que acelera a velocidade dos processos e permite maior controle
sobre as bases de dados.
Outra limitao importante capacidade de gerao de estatsticas com base
no CNIS comum s demais bases de registros administrativos e deriva do fato
de que o CNIS foi organizado, construdo e mantido com o objetivo de atender
s necessidades operacionais de programas do governo federal, tais como Seguro-
Desemprego e Previdncia Social. A produo de estatsticas uma atividade
de menor relevncia em relao s atividades transacionais, que so prioritrias
em funo da necessidade de o CNIS dar suporte aos programas mencionados.
Colabora tambm para dicultar a produo de estatsticas o tamanho das bases
de dados. Para manter o CNIS atualizado, so recebidos mensalmente mais de 30
milhes de registros de vnculos e remuneraes pela GFIP e cerca de 7 milhes
de registros de contribuies individuais. So tambm recebidas mensalmente
atualizaes das bases do PIS, PASEP, CNPJ. Diariamente so atualizadas as bases
de CI, CEI e Recolhimento de CI, de responsabilidade do INSS. Anualmente
feita a carga dos dados da Rais do ano anterior. Em termos de dimenso de cadastro,
a base de pessoa fsica possui perto de 200 milhes de registros,
21
enquanto a de
empregadores tem perto de 20 milhes de registros.
22
Em vista desses volumes
de atualizaes e do tamanho das bases, e ainda sendo utilizado para dar suporte s
operaes cotidianas da Previdncia Social e do Seguro-Desemprego, a produo
de estatsticas a partir do CNIS se torna um processo demorado.
Apesar destas condies, com a introduo da GFIP em 1999, houve interesse
em se explorar esta fonte de dados, bem como algumas bases do CNIS para a
20. No se deve desconsiderar, no entanto, a possibilidade de retrocessos nesta evoluo rumo a uma viso de com-
partilhamento de dados. A tendncia das organizaes de se isolarem e de procurarem assumir a gesto exclusiva
das bases de dados necessrias operao de programas sob sua responsabilidade fenmeno muito conhecido na
administrao pblica.
21. Em funo das regras de cadastramento adotadas, h pessoas com mltiplos registros. Esto na base todos os
trabalhadores que, desde a dcada de 1970, tiveram alguma inscrio no PIS, no PASEP ou na base de CI.
22. Na base de empregadores esto todos os estabelecimentos com CGC, CNPJ e matrcula CEI registrados, estejam
ativos ou no.
219
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
produo de estatsticas sobre o mercado de trabalho, considerando que a GFIP
tem as caractersticas de um censo do universo de empregados do setor privado, que
so vinculados ao RGPS. Desta forma, entre 2000 e 2002 foi feito um esforo
que acabou levando criao do Boletim Informativo GFIP, do qual houve 11
edies nesse perodo. Nesse mesmo perodo foi desenvolvido o projeto de criao de
um Datamart do CNIS, com o objetivo de produzir estatsticas sobre o mercado
de trabalho a partir da GFIP. O Datamart foi implementado em 2002 e encontra-
se atualmente em funcionamento, embora com algumas limitaes decorrentes do
pouco investimento em seu aprimoramento. Atualmente, o Datamart do CNIS
utilizado principalmente para a produo de estatsticas sobre os contribuintes da
Previdncia Social, que so publicadas no Anurio Estatstico da Previdncia Social
(AEPS), bem como para estudos internos. utilizado tambm para subsidiar a
produo de estatsticas divulgadas por meio do AEAT, da Ripsa e tambm para a
produo de estudos realizados pelo MPS relacionados formulao de polticas
de Previdncia Social.
A tabela 4 apresenta dados que so produzidos a partir da GFIP e que
eram desconhecidos at implantao deste documento. Trata-se do nmero
de vnculos trabalhistas nos quais os trabalhadores esto expostos a agentes
nocivos que do direito aposentadoria especial pelo INSS. Tal benefcio, uma
aposentadoria antecipada com menor tempo de contribuio, depende do grau de
exposio a agentes que trazem dano sade do trabalhador, sendo o tempo
de contribuio exigido vinculado ao potencial de dano que o agente nocivo pode
causar ao trabalhador que a ele est exposto.
TABELA 4
Nmero de vnculos segundo tempo de exposio a agente nocivo necessrio para
concesso de aposentadoria especial pelo INSS Brasil (2000-2008)
Posio no ms de setembro
Ano Sem exposio 15 anos 20 anos 25 anos Total
2000 20.401.294 23.196 21.378 851.254 21.297.122
2001 21.188.228 21.125 19.861 784.712 22.013.926
2002 22.329.353 19.935 17.626 732.201 23.099.115
2003 23.085.612 15.527 15.593 686.171 23.802.903
2004 24.473.484 15.527 16.853 668.496 25.174.360
2005 25.763.873 13.502 15.384 658.831 26.451.590
2006 27.397.883 12.738 19.108 608.519 28.038.248
2007 29.776.182 12.398 19.668 621.836 30.430.084
2008 32.989.700 14.176 22.617 640.963 33.667.456
Fonte: AEPS.
Existe, no entanto, um grande potencial a ser explorado, notadamente no
que diz respeito s estatsticas sobre o mercado de trabalho formal, uma vez que
220
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
os dados coletados pela GFIP constituem praticamente um censo mensal deste
mercado. O CNIS tambm poderia ser utilizado para a realizao de estudos tipo
painel, com a seleo de um grupo de trabalhadores e o acompanhamento de
sua trajetria no mercado de trabalho, visando conhecer esta trajetria. Outro
uso poderia ser para a avaliao de polticas pblicas na rea educacional ou de
emprego, por meio do acompanhamento do pblico de determinada poltica
ou programa para identicar como estes resultaram em maior capacidade de
encontrar emprego e renda dos trabalhadores. No caso especco de temas
relacionados sade e segurana do trabalhador, a principal varivel disponvel
no CNIS a que indica a exposio a agentes nocivos, conforme especica a
legislao previdenciria, ou seja, que d direito aposentadoria especial. Ainda
assim possvel a produo de estatsticas desta varivel por diversos critrios, tais
como por atividade econmica, por Unidade da Federao, por sexo e grupos
de idade, por CBO, entre outros. Para que estudos como estes sejam possveis,
necessrio, no entanto, investimentos adicionais em recursos humanos e
tecnolgicos, bem como uma reviso do processo de coleta e processamento
dos dados e mesmo do ambiente tecnolgico do CNIS, visando tornar mais
fcil e rpida a obteno destas estatsticas. Pode-se armar que hoje o CNIS
subutilizado para a produo de estatsticas, considerando-se o potencial que
uma base com suas caractersticas tem, e que sua maior utilizao para a produo
de estatsticas depende basicamente de uma melhor compreenso da amplitude
das informaes possveis de serem extradas desta base e do uso potencial destas
informaes o que seria acompanhado, evidentemente, de investimentos na
produo de tais estatsticas.
4 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAES
PREVIDNCIA SOCIAL (GFIP)
O decreto que criou o Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT) em 1989
estipulava que este cadastro seria formado por um sistema de identicao do
trabalhador e um sistema de coleta de informaes sociais.
23
O objetivo de tais
sistemas era tratar de forma separada o que seriam a informao cadastral que
registra informaes de natureza no voltil e tem o objetivo de identicar o
indivduo e a informao voltil, mutvel, que registra a trajetria do indivduo
no mercado de trabalho ao longo de sua vida. O primeiro sistema utilizaria como
fonte de dados um documento denominado Documento de Cadastramento do
Trabalhador (DCT), e o segundo sistema teria como fonte de dados um documento
denominado Documento de Informaes Sociais (DIS).
O DCT teria a funo de coletar dados para a concesso do Nmero de
Identicao do Trabalhador (NIT), institudo no Artigo 3
o
, inciso I, do mencionado
23. Decreto n
o
97.936/1989, Art. 2
o
.
221
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
decreto. O NIT seria o nmero que identicaria o trabalhador junto ao CNT,
composto de dez dgitos mais um dgito vericador, cuja estrutura corresponde
estrutura dos nmeros PIS, PASEP e CI.
24
Aps muita negociao entre os rgos
gestores das bases de dados que registravam informaes cadastrais dos trabalhadores,
INSS, Caixa Econmica Federal e Banco do Brasil, o DCT foi implantado em trs
verses, DCT-CI, DCT-PIS e DCT-PASEP. Todas as verses tinham um ncleo
comum de variveis que possibilitavam a concesso, bem como facilitavam o
intercmbio de dados entre estas bases.
O Documento de Informaes Sociais (DIS) deveria, segundo o Artigo 4
o
,
2
o
do Decreto n
o
97.936/1989, registrar informaes referentes
a) nacionalizao do trabalho (CLT, art. 360);
b) ao controle dos registros relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servio FGTS (Lei n
o
5.107, de 13 de setembro de 1966);
c) ao salrio de contribuio do trabalhador, para concesso e manuteno
de benefcios por parte da Previdncia Social;
d) ao pagamento do abono previsto pelo 3
o
do Art. 239 da Constituio;
e) ao pagamento e controle do seguro-desemprego (Decreto-Lei n
o
2.284,
de 10 de maro de 1986); e
f ) admisso e dispensa de empregados (Lei n
o
4.923, de 23 de dezem-
bro de 1965).
Como consequncia do acima disposto, o DIS teria condies de substituir
diversos documentos exigidos dos empregadores. O Decreto n
o
97.936/1989
reconhecia isso e estipulava, em seu Artigo 5
o
:
Art. 5
o
. O DIS substituir os seguintes documentos:
I. Relao Anual de Informaes Sociais Rais (Decreto n
o
76.900, de 23
de dezembro de 1975);
II. Formulrio de comunicao de admisso e dispensa (Lei n
o
4.923, de 1965);
III. Relao de Empregados RE (Lei n
o
5.107, de 1966);
IV. Relao de Salrios de Contribuies - RSC da Previdncia Social;
V. Comunicao de Dispensa CD (Decreto n
o
92.608, de 30 de abril de 1986).
24. Numa uma linguagem taxonmica, o NIT seria um gnero, tendo os nmeros PIS, PASEP e CI como suas espcies.
222
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Em razo da amplitude das funes atribudas ao DIS, da necessidade
de articulao dos diversos rgos pblicos e empresas estatais para o seu
desenvolvimento e implementao, dos altos custos que isso implicaria, bem
como do fato de que sua criao levaria extino os cinco documentos acima
mencionados, ele nunca foi implementado.
No entanto, mesmo aps a implantao do CNT, agora rebatizado de
Cadastro Nacional de Informaes Sociais (CNIS), persistia a necessidade
da Previdncia Social de dispor de um documento de informaes que
permitisse a constituio de uma base de dados com o histrico de vnculos
e remuneraes dos seus segurados
25
e tambm a cobrana das contribuies
previdencirias devidas pelos empregadores. Em funo dessa necessidade, foi
proposto pelo Ministrio da Previdncia Social (MPS), na segunda metade
da dcada de 1990, o desenvolvimento de um documento de informaes
com tais caractersticas.
As opes existentes eram criar um documento prprio do MPS ou
adaptar algum documento de informaes para atender s necessidades da
Previdncia Social. Tendo em vista a busca de ecincia para o governo e para
os empregadores, foi decidido que seria feita a adaptao de um documento j
existente. A questo seguinte era: qual o documento a ser adaptado? As opes
consideradas foram a Rais e a GRE (Guia de Recolhimento do FGTS). Aps
intensas negociaes e considerando-se a maior facilidade de adaptar a GRE
que era um documento entregue mensalmente pelas empresas , optou-se por sua
adaptao para atender s necessidades da Previdncia Social. Entre 1997 e 1998
foram feitas as adaptaes necessrias neste documento, bem como alteraes
legais que visaram criar o arcabouo jurdico, introduzindo-se a obrigatoriedade
da entrega da informao e a possibilidade de utilizao desta informao para a
cobrana de valores devidos Previdncia Social. Nesta perspectiva, foi criada
a diferenciao entre o sonegador e o inadimplente em relao s contribuies
previdencirias com penalizao tambm diferenciada.
26
A Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social (GFIP)
passou a ser de entrega obrigatria, a partir de janeiro de 1999, para todos os
empregadores e equiparados que tivessem registrado fato gerador de contribuio
25. O histrico de remuneraes permitiria abandonar a regra de clculo do valor do benefcio previdencirio que era
feita com base nos ltimos 36 salrios de contribuio. Esta regra existia porque no era razovel exigir do trabalhador
que apresentasse ao INSS um longo histrico de remuneraes. Com o registro pelo INSS dos salrios-de-contribuio
seria possvel ampliar o perodo utilizado para o clculo do benefcio, retirar a responsabilidade do trabalhador, agilizar
o atendimento e automatizar a concesso dos benefcios previdencirios.
26. O sonegador o contribuinte que no declara os fatos geradores e no paga os valores devidos. O inadimplente
declara os fatos geradores, mas no faz o recolhimento integral das contribuies devidas.
223
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
previdenciria em determinada competncia. Inicialmente, a entrega do documento
poderia ser feita em meio papel ou por disquete; posteriormente tornou-se obrigatria
a entrega em meio magntico e pela internet. Ao ser implementada, a GFIP tornou-se
uma espcie de DIS, utilizada para substituir a Relao de Empregados do FGTS
(RE) e a Relao de Salrios de Contribuio (RSC).
O processo de entrega da GFIP comea com a gerao de um arquivo
pelo responsvel pela informao. Este arquivo produzido por um sistema
desenvolvido e mantido pela Caixa Econmica Federal. O arquivo enviado
por meio eletrnico para a Caixa, mediante a adoo de regras de segurana
que garantem sua autenticidade e a identicao precisa do responsvel pela
informao. A Caixa recebe o arquivo e envia uma cpia para a Empresa de
Tecnologia de Informaes da Previdncia Social (DATAPREV), que faz a
carga das informaes no CNIS e adota os procedimentos necessrios para
permitir Secretaria da Receita Federal a cobrana das contribuies declara-
das e no pagas.
27
Em 2009, em mdia, foram recebidos mensalmente dados
de cerca de 34 milhes de vnculos, o que d uma dimenso do volume de
dados e do esforo de seu processamento.
O sistema que gera a GFIP para as empresas denominado Sistema Empresa
de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social (SEFIP) e tem
a funo no apenas de gerar o arquivo da GFIP, mas tambm de calcular o
valor das contribuies previdencirias e do FGTS devidos pela empresa. Esta
funo implica uma complexidade muito grande no programa e tambm no seu
preenchimento, pois ele deve contemplar as inmeras situaes especiais e excees
que existem na legislao das contribuies previdencirias.
28
Implica tambm a
existncia de um nmero muito grande de variveis a serem preenchidas pelos
empregadores, de forma a possibilitar os clculos mencionados. Tais variveis
podem ser esquematizadas em grupos, sendo os principais a identicao do
estabelecimento,
29
os parmetros para o clculo de contribuies previdencirias
e as caractersticas do vnculo. As principais variveis de cada um destes grupos
so apresentadas no quadro 4.
27. Esse o processo operacional atualmente vigente. Em 1999 havia algumas diferenas, notadamente a existncia
de uma etapa de processamento dos dados pela Caixa Econmica Federal.
28. Atenua esta caracterstica o fato de que as excees e situaes especiais, pela sua natureza, so aplicadas a um
nmero reduzido de empregadores.
29. A GFIP entregue por estabelecimento, e no por empresa.
224
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
QUADRO 4
Principais variveis da GFIP, segundo grupos de dados
Grupo de identicao do estabelecimento
Nmero de identicao do empregador Razo Social Endereo
Tomador de Servio / Obra de construo civil
Cdigo de Atividade Econmica CNAE
Preponderante
Cdigo de Atividade
Econmica CNAE
Grupo de parmetros de clculo de contribuies devidas
Fator Acidentrio de Preveno FAP
Alquota RAT (Riscos Ambientais do
Trabalho)
Opo pelo Simples
Percentual de iseno
(para entidades lantrpicas)
Valores pagos a cooperativas de
trabalho
Valor do salrio-famlia
Receitas de eventos desportivos/patrocnio
Valor da comercializao da produo
rural
Valor do salrio-maternidade
Grupo de caractersticas do vnculo
Nmero de Identicao do Trabalhador NIT Nmero da CTPS
Classicao Brasileira de
Ocupaes CBO
Nome do trabalhador Data de nascimento Data de admisso
Existncia de mltiplos vnculos Remunerao Movimentao
Exposio a agentes nocivos 13
o
Salrio Categoria do trabalhador
Elaborao do autor.
No quadro 4, possvel vericar o conjunto de variveis que compem a
GFIP, bem como sua relevncia para o clculo da contribuio previdenciria
devida pelo empregador. Algumas informaes importantes sobre estas variveis:
1. Existncia de mltiplos vnculos: indica se o trabalhador possui
outros vnculos trabalhistas com o mesmo empregador ou com
outro empregador. Situao tpica em algumas atividades, tais como
professores e prossionais de sade.
2. Movimentao: traz uma extensa relao de cdigos de afastamento
e movimentaes do trabalhador afastamento por mais de 15 dias,
afastamento para servio militar obrigatrio, diversas situaes de
resciso de contrato de trabalho, falecimento, afastamento por licena
maternidade etc.
3. Exposio a agentes nocivos: indica se o trabalhador encontra-se
exposto a agentes nocivos que podem gerar direito a aposentadoria
especial com 15, 20 ou 25 anos de contribuio. utilizada para o
clculo da contribuio adicional de 6%, 9% ou 12% incidente sobre a
remunerao do trabalhador exposto a agentes nocivos.
4. Classicao Brasileira de Ocupaes: preenchida na GFIP em nvel
de famlia apenas os quatro primeiros dgitos da codicao.
5. Classicao Nacional de Atividades Econmicas: informada no nvel
de subclasse com sete dgitos da codicao.
225
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
6. Classicao Nacional de Atividades Econmicas Preponderante:
informada no nvel de subclasse e estabelecida com base em Instruo
Normativa que dispe sobre normas gerais de tributao previdenciria e
de arrecadao das contribuies sociais administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB). utilizada para o enquadramento no
Anexo V, do Decreto n
o
3.048/1999, dando origem alquota do RAT.
7. Fator Acidentrio de Preveno: informado a partir da competncia
janeiro de 2010.
8. Categoria do Trabalhador: identica a relao do trabalhador com a
Previdncia Social e com o FGTS, servindo para indicar se ele tem
direito ao FGTS ou no e de que forma deve recolher contribuies
para a Previdncia Social.
A GFIP um documento que permite a reconstituio do histrico do
empregado no mercado de trabalho formal que, analisado em conjunto com
a base de recolhimentos de Contribuintes Individuais, permite reconstituir a
trajetria do trabalhador no mercado de trabalho formal. Evidentemente, o po-
tencial de produo de informaes com base neste documento muito grande,
mas esta uma atividade que est ainda em seu incio. Conforme mencionado
anteriormente, aps a implementao da GFIP foi desenvolvido o Datamart do
CNIS, cujo objetivo era possibilitar a produo de estatsticas sobre o mercado
de trabalho formal a partir das bases de dados do CNIS, mas utilizando princi-
palmente a GFIP. Aps o seu desenvolvimento inicial, no perodo 2001/2002
no foram feitos investimentos signicativos no seu aprimoramento. A prin-
cipal limitao decorre da forma como os dados so recebidos, processados e
armazenados no CNIS, bem como do ambiente tecnolgico utilizado pela DA-
TAPREV. Isso faz com que a extrao, o processamento e a carga do Datamart
do CNIS sejam demorados, implicando limitaes em se fazer a alimentao
mensal deste sistema. O fato de a GFIP ser um documento entregue por com-
petncias tambm tem impacto, uma vez que a qualquer momento pode ser re-
cebida uma GFIP que altera uma competncia passada. Isso gera a necessidade
de reprocessar competncias anteriormente carregadas, implicando uma carga
adicional de trabalho manuteno de tal sistema.
A resoluo de tais problemas por meio de mudanas no ambiente tecno-
lgico e de maiores investimentos na funo de produo de informao a par-
tir da GFIP criaria a possibilidade de este documento atender algumas funes
adicionais da DIS, notadamente a substituio dos formulrios de comunicao
de admisso e dispensa,
30
e de Comunicao de Dispensa (CD), este utilizado
30. Formulrio que a fonte de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
226
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
na concesso do seguro-desemprego. Permitiria tambm a produo de estats-
ticas tempestivas sobre o comportamento do mercado de trabalho, podendo, de
alguma forma, complementar as pesquisas amostrais realizadas por instituies
como o Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica (IBGE) e o Departamento
Intersindical de Estatsticas e Estudos Socioeconmicos (Dieese). Possibilitaria
tambm a abertura de novas reas de estudo no mbito da Previdncia Social,
especialmente sobre a trajetria dos trabalhadores no setor formal, com reexos
positivos para a formulao de polticas previdencirias.
Mesmo com as atuais limitaes, a GFIP tornou-se um documento essen-
cial para o funcionamento da Previdncia Social. Alm da funo mais visvel de
eliminar a necessidade do trabalhador de apresentar grandes volumes de docu-
mentos ao pedir benefcios previdencirios, ela tem sido utilizada para a cobrana
de valores declarados e no pagos; na formulao e implementao de polticas
previdencirias tais como as relacionadas ao Nexo Tcnico Epidemiolgico e
ao Fator Acidentrio Previdencirio ; na produo de estatsticas sobre contri-
buintes do RGPS, como instrumento para permitir a ampliao da cobertura pre-
videnciria, conforme ocorrido com a Medida Provisria n
o
83/2002;
31
e como
fonte de informao para o controle de pagamentos do Seguro-Desemprego.
32
Tais ganhos so resultados concretos da criao da GFIP e do CNIS e sinali-
zam a importncia da coordenao e da integrao das bases de dados do governo
federal no sentido de melhorar a qualidade da formulao, a implementao, a
operao e a avaliao das polticas pblicas nas reas de trabalho e Previdncia
Social, bem como em reas conexas a estas.
5 PRINCIPAIS ESTATSTICAS E INDICADORES EM SST: UMA ANLISE A
PARTIR DOS SISTEMAS DA PREVIDNCIA SOCIAL
As fontes de dados apresentadas anteriormente so utilizadas para a produo
de uma srie de estatsticas de acidentes de trabalho, algumas das quais j foram
apresentadas. Nesta seo procuraremos apresentar uma breve anlise dos dados
sob a perspectiva da Previdncia Social.
O primeiro ponto a destacar nos dados publicados o aumento no nmero de
acidentes de trabalho registrados. Este aumento se d em termos absolutos, como
pode ser vericado na tabela 1, e tambm em termos relativos, comparado com o
nmero de trabalhadores com proteo contra os riscos ambientais do trabalho, que
31. Por essa MP, a empresa cou obrigada a fazer a reteno da contribuio previdenciria dos contribuintes
individuais que lhe prestem servio, sendo a informao desse recolhimento informada na GFIP. Tal medida colaborou
para a ampliao em 42% no nmero de contribuintes individuais no RGPS, que passou de 6,5 para 9,3 milhes entre
2002 e 2003.
32. Os pagamentos do seguro-desemprego so feitos aps a vericao da no existncia de algum vnculo trabalhista
ativo registrado no CNIS.
227
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
foi ampliado signicativamente ao longo da ltima dcada, conforme a tabela 3.
O aumento da incidncia maior a partir de 2007, em funo da mudana da
sistemtica de classicao dos benefcios acidentrios concedidos pelo INSS, o
que aumentou signicativamente a quantidade de acidentes reconhecidos por
esse Instituto. Aqui cabe uma considerao sobre esta nova sistemtica. Hoje, o
universo de acidentes de trabalho reconhecido pelo governo composto por dois
grupos de acidentes: os registrados e os no registrados. Em um caso, o INSS
informado de que houve um acidente; no outro, o INSS arma que houve um
acidente. O aspecto positivo da nova sistemtica a reduo da subnoticao;
mas, como para os novos acidentes no h informao sobre o evento, apenas
sobre suas consequncias, as estatsticas cam prejudicadas.
Desconsiderando o grupo de acidentes sem registro de CAT, pode-se
observar um expressivo aumento no nmero absoluto de acidentes de trajeto
entre 1997 e 2008, assim como uma grande reduo no nmero de doenas
do trabalho. No que tange aos indicadores calculados com base nas informa-
es da CAT e do CNIS/GFIP, apresentados na tabela 3, observa-se reduo
na incidncia de doenas do trabalho e de acidentes tpicos. No sentido con-
trrio vai a taxa de incidncia geral de acidentes, que inuenciada pelo gran-
de nmero de acidentes sem CAT registrada. Este indicador passa de 17,3 para
22,9 acidentes por 1.000 vnculos entre 1997 e 2008 o maior crescimento
observado aps a introduo do NTEP.
Outros indicadores importantes so a taxa de mortalidade e a taxa de
letalidade. A mortalidade decresce, com reduo de 35% entre 2002 e 2008,
resultado da reduo da quantidade de bitos registrados e do aumento do
nmero de vnculos trabalhistas no setor formal da economia. A letalidade, por
outro lado, decresce acentuadamente, com queda de 60% entre 2002 e 2008.
Embora parte desta queda possa ser atribuda introduo do NTEP em 2007,
que, ao aumentar o denominador do indicador, reduz a taxa obtida, pode ser
observado que a variao do indicador monotnica desde 2002, mostrando que
a tendncia de reduo da letalidade dos acidentes uma tendncia mais antiga.
O que chama a ateno a comparao da taxa de letalidade com a taxa de letalidade
especca para as faixas etrias mais jovens. Embora a letalidade especca para
jovens apresente queda entre 2002 e 2008, esta muito menor do que a taxa
de letalidade total, com variao de apenas 4,3%. Alm disso, o comportamento
desta taxa diferente da taxa de letalidade total, pois apresenta crescimento entre
2002 e 2006, com queda apenas aps a introduo do NTEP, em 2007. Isso indica
que a letalidade dos acidentes de trabalho entre jovens est aumentando, o que,
analisado junto com a reduo da taxa de letalidade geral, sugere que os bitos
esto se concentrando na populao mais jovem.
228
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
No que tange s consequncias dos acidentes de trabalho liquidados, mos-
trados na tabela 2, chama a ateno a reduo nos bitos, com queda de 20%
entre 1997 e 2008, e das incapacidades permanentes, com reduo de 33% no
mesmo perodo. Deve ser destacado tambm o comportamento dos acidentes
com menor gravidade, que deram origem a simples assistncia mdica, e os com
incapacidade temporria de menos de 15 dias. Tais acidentes, por no darem ori-
gem a benefcios acidentrios ao trabalhador, somente so conhecidos por meio
do registro de CAT. E estes registros apresentaram uma tendncia de crescimento
regular entre 2001 e 2008, chegando ao nal desse perodo com crescimentos de
mais de 100% em relao a 2001. Considerando-se a hiptese de que a propenso
a informar um acidente varia de forma direta com a gravidade de sua consequn-
cia, os dados sugerem que ao longo dessa dcada teria havido um movimento no
sentido da reduo da subnoticao dos acidentes de menor gravidade. Por ou-
tro lado, sempre possvel imaginar que o aumento dos acidentes liquidados de
menor consequncia resultou do aumento do nmero de acidentes de trabalho.
J os acidentes liquidados com afastamento temporrio por mais de 15 dias apre-
sentaram um comportamento relativamente estvel no perodo, mas com uma
descontinuidade grande aps a introduo do NTEP.
Se dividirmos as consequncias segundo sua gravidade, agregando a simples
assistncia mdica e o afastamento por menos de 15 dias no grupo de menor
gravidade, e os bitos, as incapacidades permanentes e os afastamentos por mais
de 15 dias no grupo de maior gravidade, veremos duas curvas interessantes, apre-
sentadas no grco 2. Nele possvel vericar que, entre 2001 e 2008, houve
um crescimento importante na quantidade de acidentes com consequncias de
menor gravidade, enquanto os acidentes com consequncias de maior gravidade
caram praticamente estveis at 2007, quando passaram a subir acentuadamen-
te, reduzindo a diferena entre estes dois grupos criada ao longo da dcada.
GRFICO 1
Nmero de acidentes liquidados de menor gravidade Brasil (2001-2008)
Fonte: AEPS.
229
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
GRFICO 2
Acidentes de trabalho liquidados segundo gravidade de suas consequncias Brasil
(1997-2008)
Fonte: AEPS.
No que tange aos dados do CNIS/GFIP, a tabela 4 mostra a evoluo da
quantidade de vnculos nos quais o trabalhador est exposto a agentes nocivos
segundo a classicao adotada pelo INSS para a concesso de aposentadoria
especial. Na tabela 5 apresentado mais um exemplo das estatsticas disponveis
sobre sade do trabalhador com base no CNIS/GFIP, a proporo de vnculos
expostos a agentes nocivos segundo grandes regies. Nela podem ser observadas
algumas variaes interessantes. Enquanto responde por 7,5% do total de
vnculos do pas, o Centro-Oeste tem 26,4% do total de vnculos expostos a
agentes nocivos que do direito aposentadoria com 20 anos de contribuio.
A regio Sul se destaca no conjunto de vnculos expostos a agentes nocivos
que permitem aposentadoria com 15 anos de contribuio, decorrente,
possivelmente, da atividade de extrao mineral em regies de Santa Catarina.
Esses dados esto disponveis em nvel estadual e, tomados em conjunto
com a legislao especca que dene os agentes nocivos que do direito
aposentadoria especial e com uma avaliao da atividade econmica do estado
ou da regio, permitem a realizao de anlises comparadas em nvel estadual
sobre a exposio de trabalhadores a agentes nocivos.
230
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
TABELA 5
Proporo de vnculos expostos a agentes nocivos segundo tempo de exposio
necessrio para concesso de aposentadoria especial pelo INSS, grandes regies
Brasil (2008) Posio no ms de setembro
(Em %)
Grandes regies Sem exposio 15 anos 20 anos 25 anos Total
Brasil 100 100 100 100 100
Norte 4,6 1,6 7,0 3,8 4,6
Nordeste 16,0 17,9 12,3 12,0 15,9
Sudeste 53,6 48,0 39,8 67,0 53,8
Sul 18,0 24,8 14,2 14,0 17,9
Centro-Oeste 7,6 7,3 26,4 3,1 7,5
Ignorado 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2
Fonte: AEPS.
6 CONSIDERAES FINAIS
A Previdncia Social tem procurado, ao longo dos ltimos 15 anos, avanar
na produo de dados e informaes sobre os acidentes de trabalho no Brasil.
Os resultados deste esforo so palpveis, ainda que estejam aqum do que se
deseja e do que necessrio para a precisa mensurao e compreenso da questo
dos acidentes de trabalho no pas. Tendo por base o que j foi construdo,
entendemos que importante a realizao de investimentos visando expanso
da produo de estatsticas a partir das bases de dados j disponveis.
Tal investimento, essencial para aumentar a capacidade de transformar
registros administrativos em estatsticas conveis, precisas e estveis, consiste, no
apenas na aquisio de equipamentos e softwares para a produo de estatsticas,
mas tambm no aprofundamento do conhecimento das bases disponveis, suas
caractersticas e peculiaridades, assim como para promover modicaes nos
processos de coleta e tratamento dos dados. Transformar registros administrativos
em estatsticas no tarefa trivial, uma vez que envolve trabalhar dados coletados,
organizados e armazenados com um objetivo, e executar polticas pblicas, para
se atingir outro objetivo. As principais possibilidades de avano na produo de
estatsticas sobre acidentes de trabalho e sade do trabalhador j foram apontadas
ao longo do texto.
Outra considerao a ser feita sobre o uxo de dados sobre acidentes de
trabalho no Brasil. As mudanas introduzidas no preenchimento, no envio e no
processamento da CAT representaram um avano signicativo para a produo
de estatsticas. A introduo do NTEP e o m da vinculao da entrega da CAT
concesso de benefcios de natureza acidentria podem ser considerados tambm
avanos, na medida em que separam o processo de comunicar a ocorrncia
231
Ministrio da Previdncia Social: fontes de informao para a sade e segurana do trabalhador no Brasil
do acidente das obrigaes legais derivadas do acidente. Essa separao pode
contribuir para a reduo da subnoticao dos acidentes de trabalho. O fato
dos acidentes de trabalho liquidados com assistncia mdica e afastamento de
menos de 15 dias terem crescido aps a introduo do NTEP um indcio
de que isso pode estar ocorrendo. Diante de tais eventos e considerando que
a ltima reviso da CAT ocorreu h mais de 10 anos, talvez esteja chegando o
momento de revis-la, de modo a adequ-la ao novo contexto de concesso de
benefcios de natureza acidentria, no qual ela no tem mais o papel desempenhado
ao longo das ltimas dcadas. Nessa reviso talvez se possa rever no apenas a
estrutura do documento, mas o processo de produo da CAT como um todo,
incluindo quem pode preencher, como informar, a quem enviar etc.
Por m, importante tambm ter em mente que a discusso sobre o uxo de
informaes sobre acidentes de trabalho no pode prescindir de tratar de formas
de captao de dados dos acidentes de trabalho que deram origem a benefcios
acidentrios, para os quais no foram entregues CATs. A avaliao de quais dados
sobre o evento podem ser coletados no momento da concesso do benefcio e
de formas alternativas de obter dados em outros sistemas da Previdncia Social
ou de outros rgos deve ser feita. Desta forma, ser possvel fazer com que as
estatsticas sejam beneciadas com maior intensidade do que o avano propiciado
pela introduo do NTEP.
REFERNCIAS
ANSILIERO, G. A evoluo dos registros de acidentes do trabalho no Brasil, no
perodo 1996-2004. Informe da Previdncia Social, Braslia, v. 18, n. 6, jun. 2006.
MELO, L. E. A. Precedentes do Nexo Tcnico Epidemiolgico Previdencirio
NTEP. In: MACHADO, J., SORATTO, L., CODO, W. (Org.) Sade e trabalho
no Brasil: uma revoluo silenciosa o NTEP e a Previdncia Social. Petrpolis:
Vozes, 2010. p. 36-54.
CAPTULO 8
AS FONTES DE INFORMAO DO SISTEMA NICO DE SADE
PARA A SADE DO TRABALHADOR
Dcio de Lyra Rabello Neto
Ruth Glatt
Carlos Augusto Vaz de Souza
Andressa Christina Gorla
Jorge Mesquita Huet Machado
1 BREVE HISTRICO DA VIGILNCIA DE AGRAVOS RELACIONADOS
AO TRABALHO
No contexto da redemocratizao do Estado brasileiro, com inuncia do interesse
na sade por parte de alguns sindicatos de ramos industriais da regio Sudeste, a
discusso da Vigilncia Epidemiolgica em Sade do Trabalhador no pas se
desenvolve inicialmente a partir das experincias da Secretaria de Estado de Sade
de So Paulo, especicamente o Escritrio Regional ERSA Baixada Santista, que, em
1986, estabelece a primeira lista de doenas relacionadas ao trabalho. Em decorrncia
desse mesmo processo, a Secretaria de Estado de Sade do Rio de Janeiro, com a
criao da Coordenao Estadual de Sade do Trabalhador, publica no Dirio Ocial
uma lista similar por meio da Resoluo SES/RJ n
o
443 (SES, 1988).
Em processo paralelo, as intoxicaes exgenas seguem um caminho
relacionado com a perspectiva de aes de vigilncia sanitria e de vigilncia
ambiental, a partir de um referencial da Organizao Pan-Americana de Sade
(OPAS), registrando seus primeiros casos no Paran e no Rio de Janeiro, em que
as intoxicaes por agrotxicos tm um reconhecimento de seu impacto sanitrio
graas a gestes de secretrios de estado de sade com formao sanitarista.
Tal cenrio estabelece, na dcada de 1980, o incio de um processo de vigilncia
calcado em registros de agravos relacionados ao trabalho no Sistema nico de Sade
(SUS). A partir da anlise dos registros da Comunicao de Acidentes de Trabalho
(CAT), a vigilncia epidemiolgica dos acidentes de trabalho tambm disseminada
no SUS, notadamente por So Paulo, a partir da experincia do Programa de Sade
do Trabalhador da Zona Norte da SES/SP (COSTA et al., 1989).
234
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Nesse mesmo perodo, iniciaram-se aes de vigilncia por meio do registro
de casos de mortes por acidentes de trabalho no Sistema de Informaes Sobre
Mortalidade (SIM) (MACHADO e MINAYO, 1994). Um perl da situao dos
bitos por acidentes de trabalho no Brasil foi traado por Beraldo et al. (1993),
ao analisarem as informaes constantes das Declaraes de bito entre os anos
de 1979 e 1988.
Na 2
a
Conferncia Nacional de Sade do Trabalhador (CNST), em 1994,
houve discusso da informao da sade do trabalhador centrada na anlise
dos acidentes e nas potencialidades oferecidas pela noticao compulsria de
agravos relacionados ao trabalho, no sentido de legitimar institucionalmente
e socialmente as aes de vigilncia em sade do trabalhador junto aos
trabalhadores e empregadores.
Posteriormente, em 1999, na Rede Interagencial de Informao para Sade
(Ripsa), foram debatidas, em um grupo tcnico de sade do trabalhador, a
possibilidade de ampliao dessas experincias regionais para o mbito nacional
e a denio de quais agravos seriam os de noticao compulsria, que viriam
fundamentar a lista estabelecida pelo Ministrio da Sade em 2004, na Portaria
GM/MS n
o
777 (BRASIL, 2004c).
No debate interno no Ministrio de Sade, entre as reas de vigilncia
epidemiolgica e de sade do trabalhador, foi acordada a estratgia de criao
de uma rede sentinela para o registro desses agravos composta pela vigilncia
epidemiolgica coordenada pelas secretarias estaduais e municipais e apoiada
pelos Centros de Referncia em Sade do Trabalhador (CERESTs), no bojo
da recm-criada Rede Nacional de Ateno Integral em Sade do Trabalhador
(RENAST), por meio da Portaria GM/MS n
o
1.679/2002 (BRASIL, 2002),
posteriormente ampliada pelas Portarias GM/MS n
o
2.437/2005 (BRASIL,
2005a) e n
o
2.728/2009 (BRASIL, 2009b).
Em conexo com o movimento de criao da RENAST houve uma
expanso nacional das experincias estaduais (SP, PR, RJ, MG, RS e BA), em
que a noticao dos agravos relacionados ao trabalho foi uma das estratgias
estabelecidas em momentos anteriores a 2004. Neste processo, o Ministrio da
Sade apresentou como determinao a implantao nacional da noticao de 11
agravos relacionados ao trabalho na Rede Sentinela de Noticao Compulsria
de Acidentes e Doenas Relacionados ao Trabalho (BRASIL, 2004c), tendo em
vista que este tipo de evento relacionado a um grupo populacional especco
(BRASIL, 2009c).
Recentemente, a Portaria GM/MS n
o
2.472 (BRASIL, 2010b) listou
todos os agravos de noticao compulsria de mbito nacional, o que incluiu
235
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
as doenas relacionadas ao trabalho e os acidentes de trabalho graves em rede
sentinela e as intoxicaes exgenas com vigilncia universal.
Para reforo na identicao de casos e para a padronizao de procedimentos
clnicos epidemiolgicos, foi iniciada a elaborao de protocolos de apoio
implantao da Vigilncia em Sade do Trabalhador a partir do registro e da
anlise epidemiolgica dos agravos relacionados ao trabalho (BRASIL, 2006a).
Cabe ressaltar que, para o desencadeamento de aes de vigilncia em sade
do trabalhador, tm sido utilizados, ainda que de forma desnivelada, os dados
decorrentes do Sistema de Informao de Agravos de Noticao (Sinan), do
SIM e do Sistema de Informaes Hospitalares (SIH/SUS), razo pela qual foram
estabelecidos tais sistemas como focos a serem desenvolvidos neste captulo,
embora existam outros sistemas no SUS, como o Sistema de Informaes
Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de Informao da Ateno Bsica (SIAB), que
registram dados sobre os atendimentos de sade ambulatoriais.
2 BREVE HISTRICO DO SINAN COMO INSTRUMENTO DE NOTIFICAO
DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO
O Sistema de Informao de Agravos de Noticao (Sinan) foi desenvolvido no
incio da dcada de 1990 pelo Ministrio da Sade (MS), com o apoio tcnico da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, tendo por objetivos principais coletar e
processar os dados sobre doenas de noticao compulsria (DNC) em todo o
territrio nacional (BRITO, 1993).
O desenvolvimento do Sinan teve como elementos norteadores a
padronizao da denio de caso de cada agravo, a organizao hierrquica
das trs esferas de governo, o acesso s bases de dados necessrias s anlises
epidemiolgicas em todos os nveis e a possibilidade de disseminao rpida dos
dados gerados na rotina do Sistema Nacional de Vigilncia Epidemiolgica do
Sistema nico de Sade (SNVE/SUS) (LAGUARDIA et al., 2004).
As listas de DNC publicadas tradicionalmente pelo MS, por meio de porta-
rias, desde 1976 eram compostas exclusivamente por doenas transmissveis, at
recentemente. A intoxicao por agrotxico, ainda que no constasse na lista de
DNC, era considerada como um dos agravos de interesse nacional, com dados
registrados no Sinan desde a dcada de 1990. A cha de investigao de tal agravo
inclua campos que caracterizavam os casos relacionados ao trabalho.
O desenvolvimento de projeto piloto para testar a metodologia de vigilncia
de sade de populaes expostas a agrotxicos coordenado pelo MS, Unicamp e
OPAS, em cinco Unidades da Federao, de abril de 1995 a 1996, resultou, entre
outras medidas, no fomento do uso do Sinan para a noticao da intoxicao
por agrotxicos em outros estados (BRASIL, 1997).
236
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Os registros de intoxicaes por agrotxicos no Sinan, nesses anos iniciais,
eram de modo geral insucientes em todo o Brasil, embora em algumas regies
a situao fosse diferenciada, decorrente, em parte, do fato de algumas unidades
federadas terem passado a considerar tal agravo de noticao compulsria estadual.
Em algumas unidades federadas havia ainda a noticao de outros agravos
relacionados ao trabalho, embora estes dados no fossem transmitidos ao MS.
No nal da dcada de 1990 e nos anos subsequentes, a vigilncia na rea da
Sade do Trabalhador no mbito do SUS teve seu processo de institucionalizao
e normatizao aprimorado, conforme detalhado no captulo 3.
Posteriormente publicao da Portaria GM/MS n
o
777, em 2004, que
deniu onze agravos relacionados ao trabalho com noticao compulsria pelo
Sinan, a rea tcnica de Sade do Trabalhador do MS elaborou instrumentos
de coleta de dados, e em articulao com a Gerncia Nacional do Sinan e o
Departamento de Informtica do Sistema nico de Sade (Datasus), rgo
responsvel pela produo, manuteno e desenvolvimento do sistema no MS,
foi desenvolvida a verso do Sinan que incluiu os seguintes agravos relacionados
ao trabalho: acidentes de trabalho fatais; acidentes de trabalho com mutilaes;
acidentes de trabalho em crianas e adolescentes; acidentes de trabalho com
material biolgico; dermatoses ocupacionais; leses por esforos repetitivos (LERs)
e distrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORTs); pneumoconioses
relacionadas ao trabalho; perda auditiva induzida por rudo (PAIR); transtornos
mentais relacionados ao trabalho; cncer relacionado ao trabalho; e as intoxicaes
exgenas relacionadas ao trabalho.
1
Essa verso, desenvolvida de 2004 a 2006,
foi disponibilizada em agosto de 2006 para ser alimentada por unidades de
sade sentinela denidas em cada estado, conforme orientaes da Coordenao
Nacional de ST do MS (BRASIL, 2006).
A utilizao de tal sistema de informao nos estados ocorreu de forma pro-
gressiva e heterognea, de acordo com o grau de implantao da vigilncia em ST,
da articulao desta vigilncia com a gerncia do Sinan e da existncia prvia de
sistema de informao estadual especco.
O grau de estruturao da vigilncia mediante a utilizao do Sinan varia de
acordo com o tipo de agravo, segundo levantamento realizado, em dezembro
de 2008, pela Coordenao Geral de Sade do Trabalhador do Ministrio da Sade
junto aos CERESTs. Entre as doenas relacionadas ao trabalho, o grau de implan-
tao na rede de servios sentinela variou de 40%, para os cnceres, a 69% no caso
1. O registro de casos de intoxicaes exgenas possibilita distinguir grupos de agentes txicos, entre eles, os agro-
txicos. As intoxicaes exgenas, relacionadas ao trabalho, so de noticao compulsria desde 2004 (BRASIL,
2004b) e, independente de sua relao com o trabalho, passaram a fazer parte da lista de DNC a partir de 2010
(BRASIL, 2010).
237
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
das intoxicaes exgenas. Quanto aos acidentes de trabalho, a noticao de casos
graves ou fatais e dos acidentes com material biolgico estava sendo efetuada em
80% e 84% da rede, respectivamente, representando os agravos com maior disse-
minao do processo de vigilncia pela RENAST.
Atualmente, todos os estados utilizam o Sinan NET para noticar agravos
relacionados ao trabalho de noticao compulsria em unidades sentinela, exce-
to o Rio Grande do Sul, que tem sistema de informao prprio, mas que exporta
seus dados para a base estadual do Sinan.
Cabe ressaltar ainda que, para a maioria das demais doenas e agravos
registrados no Sinan, possvel, especialmente a partir de 2001, indicar se o caso
est ou no relacionado ao trabalho e registrar a ocupao do indivduo.
2.1 Descrio do Sistema de Informao de Agravos de Noticao (Sinan)
O objetivo geral do Sinan facilitar a formulao e a avaliao das polticas, dos
planos e programas de sade, subsidiando o processo de tomada de decises nos
nveis municipal, estadual e federal, com vistas a contribuir para a melhoria da
situao de sade da populao. Seus objetivos especcos so coletar, transmitir
e disseminar dados gerados na rotina do sistema de vigilncia epidemiolgica, nos
trs nveis de gesto do Sistema nico de Sade, fornecendo informaes para a
anlise do perl da morbidade (DOMINGUES, 2003).
Seus dados tm sido utilizados, entre outras nalidades, para a realizao de
diagnstico dinmico da ocorrncia de eventos com danos sade de determinada
populao; para a preveno da ocorrncia de eventos; para o fornecimento de
subsdios para explicaes causais; para a indicao dos riscos aos quais as populaes
e as pessoas esto sujeitas; para o monitoramento da sade da populao; para o
planejamento das aes de sade; para a denio de prioridades de interveno; e
para a avaliao do impacto das aes de controle desenvolvidas.
A obrigatoriedade da noticao est baseada normativamente em diversos
instrumentos. Entre eles, destacam-se a Portaria GM/MS n
o
5/2006 (BRASIL,
2006c), que atualizou, naquele ano, a lista de agravos de noticao compulsria
em territrio nacional, e a Portaria GM/MS n
o
777/2004 (BRASIL, 2004c), que
estabeleceu os agravos relacionados ao trabalho de noticao compulsria, ambas
revogadas e substitudas, em setembro de 2010, pela Portaria GM/MS n
o
2.472
(BRASIL, 2010b). Nela constam todas as doenas e os agravos de noticao
compulsria, incluindo no s as doenas transmissveis como outros agravos,
a exemplo dos noticados em unidades sentinela, entre eles, os relacionados ao
trabalho. A partir da sua publicao, todos os casos de intoxicaes exgenas,
incluindo os no relacionados ao trabalho, passaram a ser de noticao
compulsria, com abrangncia universal. Esta portaria dene tambm os agravos
238
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
de noticao imediata, cujos casos devem ser noticados em menos de 24 horas
s vigilncias das trs esferas de governo e registrados no Sinan na mesma semana.
Entre estes agravos destacam-se, pela possibilidade de sua relao com o trabalho,
os surtos ou a agregao de casos ou bitos por exposies a contaminantes
qumicos com potencial relevncia em sade pblica, segundo critrios de risco
estabelecidos pelo Regulamento Sanitrio Internacional (OMS, 2005). A Portaria
GM/MS n
o
3.252, de 22 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2009e), que d, entre
outras, as diretrizes do nanciamento das aes de vigilncia em sade nas trs
esferas de governo, condiciona a transferncia de recursos nanceiros federais s
SES e SMS, alimentao regular do Sinan e do SIM. Cabe citar ainda que vrios
indicadores do Pacto pela Sade e da Programao de Aes de Vigilncia em
Sade (PAVS) tm como fonte o Sinan.
Para os agravos relacionados ao trabalho, de noticao compulsria, assim
como para os demais agravos listados no anexo III da Portaria GM/MS n
o
2.472/2010, a populao atualmente sob vigilncia corresponde quela atendida
em unidades sentinela. Para os demais agravos de noticao compulsria, a po-
pulao sob vigilncia corresponde a toda populao residente no pas.
Alm dos compulsrios, so registrados tambm no Sinan agravos consi-
derados de interesse nacional at agosto de 2010, como os acidentes por animais
peonhentos e as intoxicaes exgenas, independente de sua relao com o
trabalho (BRASIL, 2007).
No que se refere especicamente aos agravos relacionados ao trabalho de
noticao compulsria em unidades sentinela, devem ser noticados os casos
conrmados, segundo critrios de denio de caso de cada um dos agravos esta-
belecidos pela Coordenao Geral de Sade do Trabalhador do MS.
No que se refere coleta de dados, so utilizadas chas de noticao e
de investigao padronizadas, pr-numeradas, especcas para cada agravo de
noticao compulsria, e que incluem em seu cabealho a denio de caso.
Os acidentes fatais, os com mutilaes e os acidentes em crianas e adolescentes
so denominados acidentes de trabalho grave e registrados em instrumento
nico, podendo ser distinguidos na base de dados conforme o critrio de
seleo dos casos.
O controle da numerao e a impresso e distribuio dessas chas para os
municpios de responsabilidade da Secretaria Estadual de Sade, podendo ser
delegada para o municpio. A importncia na utilizao da pr-numerao con-
siste em evitar que haja sobreposio de chas de noticao de dois casos distin-
tos, que tenham os mesmos campos-chave identicadores do registro no Sistema
(CID do agravo, nmero, data e municpio de noticao) (BRASIL, 2007).
239
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
A cha de noticao/investigao de cada agravo, assim como o respectivo
instrucional de preenchimento esto disponveis para consulta no site do MS (BRA-
SIL, 2005b; BRASIL, 2005c) Neste endereo tambm esto disponveis a descri-
o de cada campo das chas, assim como suas caractersticas na base de dados,
em documentos denominados Dicionrio de Dados do Sinan NET de cada agra-
vo compulsrio (BRASIL, 2010b).
As unidades noticantes so, na sua maioria, servios de sade prestadores
do atendimento no Sistema nico de Sade, registrados no Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Sade (CNES). As coordenaes estaduais, regionais
e municipais de sade do trabalhador identicam aquelas que devem compor
a rede de servios para vigilncia de cada agravo relacionado ao trabalho de
noticao compulsria em unidades sentinela. Alguns estados, a exemplo
de So Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, tm estabelecido estratgias prprias,
por meio da ampliao da noticao para alm das unidades sentinelas e,
inclusive, implantando a universalizao do registro dos acidentes e doenas
relacionados ao trabalho.
Todas as unidades de sade que compem a rede sentinela utilizam os
instrumentos padronizados para a coleta de dados, sendo que parte delas conta
com o sistema informatizado e as demais encaminham as chas de noticao/
investigao para digitao, segundo o uxo estabelecido pela SMS e SES e em
conformidade com as normas operacionais do sistema.
Adequado descentralizao de aes, de servios e da gesto de sistemas de
sade, o Sinan permite a coleta, o processamento, o armazenamento e a anlise
dos dados desde a unidade noticante. Contudo, caso o municpio no disponha
de microcomputadores nas suas unidades, o sistema pode ser operacionalizado
a partir das secretarias municipais ou das regionais de sade da SES, pois a
responsabilidade dessas atribuies depende da condio de gesto do municpio
(BRASIL, 2007). Atualmente, a digitao realizada em cerca de 85% dos
municpios em suas SMS e em vrias unidades de sade.
Pelo fato de serem os casos de agravos relacionados ao trabalho noticados
aps a conrmao, exceto a intoxicao exgena, que se notica a partir da
suspeita, os dados da investigao so registrados no sistema na mesma ocasio
da incluso dos dados da noticao. Durante a digitao, so efetuadas crticas,
tanto em relao obrigatoriedade de preenchimento de campos, como em
relao s inconsistncias detectadas. Estas crticas encontram-se descritas nos
dicionrios de dados referidos anteriormente.
No municpio, devem ser noticados e digitados no sistema os casos detec-
tados em sua rea de abrangncia, sejam estes de residentes no prprio municpio
ou em outros.
240
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
No que se refere transmisso de dados, as unidades noticantes enviam se-
manalmente as chas de noticao/investigao preenchidas ou, se for informa-
tizada, o arquivo de transferncia de dados por meio eletrnico para as Secretarias
Municipais de Sade. Estas, por sua vez, enviam semanalmente, s respectivas
regionais de sade ou Secretaria de Estado da Sade, os arquivos de transfern-
cia de dados. Se a SMS utiliza uma ferramenta baseada na internet o aplicativo
SISNET , os dados so transferidos quase que simultaneamente para a SES e
para o MS. Nos estados em que as SMS no utilizam esse aplicativo, os arquivos
de transferncia do Sinan so encaminhados para o MS pelas SES, por meio ele-
trnico, quinzenalmente, conforme calendrio anual estabelecido pelo MS.
Cada nvel do sistema, desde a unidade de sade que digita at o MS, dispe
de base de dados atualizada para realizar suas anlises e responsvel pela sua
integridade, privacidade e qualidade (BRASIL, 2007).
No documento Dicionrio de Dados do Sinan NET de cada agravo registrado
no Sinan, referidos anteriormente, constam quais campos so de preenchimento
obrigatrio, ou seja, aqueles cuja ausncia de dado impossibilita a incluso da
noticao ou da investigao no sistema. Alm destes esto indicados outros
campos que, apesar de no serem obrigatrios, so considerados essenciais para
o preenchimento, tendo como referncia, principalmente, os que so utilizados
para clculos de indicadores epidemiolgicos e operacionais.
Em relao edio, cabe ao primeiro nvel informatizado do sistema corrigir
duplicidades, inconsistncias, digitao incorreta etc., alm de manter atualizada
a base de dados do sistema, realizando as correes e, se necessrio, incluindo a
complementao de dados e a excluso de registros. O papel da gerncia de cada
nvel do sistema est descrito no Manual de Normas e Rotinas do Sinan, cabendo
destacar que a anlise da qualidade dos dados atribuio de todos (BRASIL,
2005d; BRASIL, 2007).
No que diz respeito ao sigilo das informaes, diante do avano do
intercmbio e a integrao de dados eletrnicos, tem aumentado a preocupao
com a privacidade dos indivduos ou pacientes, com a condencialidade dos dados
e a segurana dos sistemas informatizados. So de responsabilidade do gestor do
Sinan, em nvel federal, estadual e municipal, a manuteno, a integridade e o
sigilo das bases de dados, garantindo a condencialidade dos dados noticados e
prevenindo a violao da privacidade.
Os microdados do Sinan referentes aos agravos de noticao compulsria
com vigilncia universal so disponibilizados, sem identicao dos indivduos,
para instituies de ensino/pesquisa, prossionais de sade e para tabulao on-line
241
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
na internet, por meio do TabNet.
2
Neste endereo esto disponveis tambm dados
sobre a completitude dos campos essenciais das bases de dados, segundo agravo e
ano de noticao.
A divulgao na internet de microdados de agravos relacionados ao trabalho
de noticao compulsria em unidades sentinela est em processo de construo
pelo MS na perspectiva, no s de tabul-los on-line, como tambm possibilitar
o download das bases de dados.
Informaes sobre agravos de interesse da rea da sade do trabalhador
so divulgadas principalmente por meio de anlises realizadas pelo MS e pelas
Secretarias Estaduais e Municipais de Sade, disponibilizadas nos respectivos sites e
no Painel de Informaes em Sade Ambiental e Sade do Trabalhador (PISAST).
3
Alguns aspectos do sistema no foram descritos neste captulo por serem
especcos de outros agravos noticados pelo Sinan.
2.2 Dados disponveis nas bases de dados do Sinan relacionados sade
do trabalhador e aspectos relacionados sua qualidade
As bases de dados do Sinan referentes aos agravos relacionados ao trabalho de
noticao compulsria em unidades sentinela dispem de diversos dados para
anlise epidemiolgica e operacional, com campos que possibilitam a caracteriza-
o do trabalhador (do indivduo e localizao de sua residncia), do empregador,
do acidente ou doena e morte, e do vnculo empregatcio, alm das variveis co-
muns aos demais agravos registrados no sistema. Os campos que constam na cha
de noticao/investigao de cada agravo e suas caractersticas esto detalhados
em documentos denominados dicionrios de dados, disponibilizados no site do
MS (BRASIL, 2010b).
Uma base de dados de boa qualidade deve ser completa (conter todos os
casos que se pretende registrar, sem subnoticao), dedigna aos dados originais
registrados nas unidades de sade (conabilidade), sem duplicidades de registros,
e seus campos devem estar preenchidos (completitude dos campos) e com dados
consistentes (consistncia). Assim, seus dados podem ser efetivamente teis
s anlises epidemiolgicas, ao monitoramento das aes e avaliao do seu
impacto no controle dos agravos de noticao compulsria (BRASIL, 2008).
Para avaliar a subnoticao de casos e a conabilidade dos dados,
necessria a realizao de estudos/pesquisas especiais. A identicao e a
excluso das duplicidades devem ser efetuadas rotineiramente utilizando-se uma
funcionalidade disponvel no prprio Sinan, conforme orientaes sobre seu uso
adequado, contidas em normas e materiais especcos do sistema.
2. Disponvel em: <www.datasus.gov.br/tabnet>.
3. Disponvel em: <http: //189.28.128.179:8080/pisast/informacoes-do-trabalhador>.
242
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Na anlise da completitude dos campos (grau de preenchimento do cam-
po, por exemplo, proporo de casos noticados sem preenchimento do campo
Ocupao) e da consistncia (coerncia entre dados registrados em dois campos
relacionados) devem ser avaliados, prioritariamente, os campos que caracterizam
o indivduo e aqueles campos que, apesar de no serem de preenchimento obri-
gatrio no sistema, foram considerados essenciais, incluindo os necessrios para o
clculo de indicadores. Esta caracterstica dos campos est indicada no dicionrio
de dados do respectivo agravo (BRASIL, 2010b).
Os prossionais de sade das SMS e SES e do MS dispem de aplicativo
de domnio pblico desenvolvido pelo Datasus/MS TabWin para analisar a
magnitude da falta de informao de variveis essenciais e das inconsistncias entre
dados, de modo a intervir visando sua correo/complementao. Informaes
sobre a qualidade das bases de dados do Sinan e orientaes como realizar anlises
por agravo so disponibilizadas no site do MS. Para os agravos relacionados ao
trabalho de noticao compulsria, esse instrumento encontra-se em fase nal
de elaborao e teste.
O Sinan tem sido utilizado como fonte para clculo de indicadores
epidemiolgicos e operacionais em diversos nveis de gesto entre eles, o
indicador para monitoramento e avaliao do Pacto pela Sade, relativo ao
binio 2010-2011, referente sade do trabalhador e que mede o incremento
no nmero de noticaes de agravos relacionados ao trabalho de noticao
compulsria, pactuado entre as trs esferas de governo.
A seguir so descritos sumariamente alguns aspectos das noticaes
registradas nas bases de dados do Sinan referentes aos agravos de interesse na rea
da sade do trabalhador.
2.2.1 Dados sobre agravos relacionados ao trabalho com noticao compulsria em
unidades sentinela
Considerando-se que o Sinan foi disponibilizado para registro dos agravos
relacionados ao trabalho de noticao compulsria em unidades sentinela a
partir de agosto de 2006, quando algumas Unidades da Federao no tinham
ainda vigilncia especca estruturada, os dados desse ano no foram considerados
nesta breve anlise. Cabe ressalvar que as intoxicaes exgenas j eram registradas
no Sinan desde 2001 como agravo de interesse nacional, independente da relao
dos casos com o trabalho.
No perodo de 2007 a 2009 observam-se nmeros crescentes de noticaes
anuais em todas as Unidades Federadas. Ao todo foram registradas cerca de
170.000 noticaes. O estado de So Paulo (SP) representou 57% de todas
as noticaes, seguido dos estados de Minas Gerais e Paran, com 9% e 6%,
respectivamente. Cada um dos demais estados contribuiu com menos de 5%.
243
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
Em alguns estados, a vigilncia sentinela encontrava-se incipiente at 2009, como
nos estados do Acre, Rondnia, Par e Piau (tabela 1). A distribuio proporcional
das noticaes entre os estados reete o porte populacional de cada UF, mas
tambm a maturidade e a estruturao da vigilncia em ST nos estados. Assim, a
proporo anual de noticaes registradas por SP apresenta tendncia decrescente
na medida em que a vigilncia implementada nas demais Unidades Federadas.
TABELA 1
Casos conrmados de agravos relacionados ao trabalho de noticao compulsria,
1
segundo ano da noticao, por unidade federada noticadora, em ordem decres-
cente de nmero total de noticaes Brasil (2007 a 2009)
Unidade Federada
2007 2008 2009 Total
n
o
% n
o
% n
o
% n
o
%
So Paulo 26.441 65,7 35.433 57,4 35.273 52,1 97.147 57,2
Minas Gerais 2.657 6,6 6.147 9,9 6.834 10,1 15.638 9,2
Paran 2.897 7,2 4.011 6,5 3.918 5,8 10.826 6,4
Rio de Janeiro 1.573 3,9 3.216 5,2 3.246 4,8 8.035 4,7
Bahia 2.401 6,0 2.165 3,5 3.035 4,5 7.601 4,5
Distrito Federal 69 0,2 1.511 2,4 1.637 2,4 3.217 1,9
Santa Catarina 564 1,4 1.272 2,1 1.204 1,8 3.040 1,8
Cear 438 1,1 1.044 1,7 1.400 2,1 2.882 1,7
Rio Grande do Norte 343 0,9 561 0,9 1.273 1,9 2.177 1,3
Tocantins 406 1,0 681 1,1 994 1,5 2.081 1,2
Mato Grosso 492 1,2 609 1,0 941 1,4 2.042 1,2
Gois 254 0,6 650 1,1 1.081 1,6 1.985 1,2
Alagoas 87 0,2 793 1,3 888 1,3 1.768 1,0
Rio Grande do Sul 321 0,8 443 0,7 734 1,1 1.498 0,9
Amap 41 0,1 640 1,0 789 1,2 1.470 0,9
Esprito Santo 271 0,7 520 0,8 640 0,9 1.431 0,8
Mato Grosso do Sul 245 0,6 474 0,8 581 0,9 1.300 0,8
Paraba 188 0,5 335 0,5 504 0,7 1.027 0,6
Maranho 11 0,0 280 0,5 560 0,8 851 0,5
Sergipe 92 0,2 222 0,4 503 0,7 817 0,5
Roraima 94 0,2 192 0,3 527 0,8 813 0,5
Pernambuco 102 0,3 244 0,4 353 0,5 699 0,4
Amazonas 173 0,4 174 0,3 283 0,4 630 0,4
Piau 10 0,0 21 0,0 265 0,4 296 0,2
Par 33 0,1 92 0,1 151 0,2 276 0,2
Rondnia 22 0,1 44 0,1 115 0,2 181 0,1
Acre 2 0,0 8 0,0 21 0,0 31 0,0
Total 40.227 100,0 61.782 100,0 67.750 100,0 169.759 100,0
Fonte: Sinan NET/SVS/MS (setembro de 2010).
Nota:
1
Agravos listados na Portaria GM/MS n
o
777, de 2004.
244
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Ao se analisar a distribuio dos registros segundo o agravo, constata-se
que os acidentes de trabalho representaram 89% das noticaes efetuadas no
perodo de 2007 a 2009. As leses por esforo repetitivo (LERs) e as intoxi-
caes exgenas relacionadas ao trabalho contriburam, nesse mesmo perodo,
com cerca de 6% e 3%, respectivamente, e cada um dos demais agravos com
menos de 1% (tabela 2). Esta distribuio consequente da histria da vigiln-
cia dos agravos relacionados ao trabalho que esteve focalizada, desde a dcada
de 1980, nos acidentes de trabalho, que eram a maioria dos agravos registrados
pela CAT e que representam a primeira fonte de dados de aes de vigilncia
desenvolvidas pelos programas de sade do trabalhador (COSTA et al., 1989),
alm de representarem casos agudos e de maior facilidade para se estabelecer a
relao com as atividades de trabalho.
Entre os acidentes de trabalho graves noticados em 2009, vericou-se que
os bitos, os casos em menores de 18 anos e os casos com mutilaes contribu-
ram com 2%, 4% e 95%, respectivamente. Cabe ressaltar que alguns casos esto
includos em mais de uma destas categorias.
As LERs/DORTs e as intoxicaes exgenas apresentaram importn-
cia secundria, pois foram objetos de programas de vigilncia e de acolhi-
mento de casos em situaes focais, mediante o desenvolvimento de servios
que se especializaram e estabeleceram portas de entrada para estes casos no
SUS (tabela 2).
Deve ser destacado o baixo registro de casos de dermatoses, de PAIR, de
transtornos mentais, de doenas altamente prevalentes e com relevante relao com
o trabalho. Tal situao pode indicar que a Rede Sentinela no est devidamente
estruturada para identicar estes agravos (tabela 2).
O cncer relacionado ao trabalho o agravo menos noticado (tabela 2).
Um sub-registro que est relacionado diculdade em se estabelecer sua re-
lao com o trabalho e, em grande parte, falta de perspectiva na preveno
dos casos e ao distanciamento dos servios de diagnstico e tratamento com as
instncias de vigilncia. Ainda assim, o nmero de casos aumentou a cada ano
no perodo analisado.
245
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
TABELA 2
Casos conrmados de agravos relacionados ao trabalho de noticao compulsria
em unidades sentinela,
1
segundo ano de noticao, por agravo Brasil (2007 a 2009)
Agravo
2007 2008 2009 Total
n
o
% n
o
% n
o
% n
o
%
Acidentes de trabalho com
exposio material biolgico
15.513 38,6 24.366 39,4 27.178 40,1 67.057 39,5
Acidentes de trabalho grave
2
19.715 49,0 31.141 50,4 33.487 49,4 84.343 49,7
Cncer relacionado ao trabalho 5 0,0 12 0,0 31 0,0 48 0,0
Dermatoses ocupacionais 126 0,3 284 0,5 386 0,6 796 0,5
Intoxicaes exgenas
3
1.325 3,3 1.497 2,4 1.668 2,5 4.490 2,6
LER/DORT 3.206 8,0 3.344 5,4 4.293 6,3 10.843 6,4
PAIR 111 0,3 200 0,3 246 0,4 557 0,3
Pneumoconioses 104 0,3 749 1,2 172 0,3 1.025 0,6
Transtornos mentais 122 0,3 189 0,3 289 0,4 600 0,4
Total 40.227 100,0 61.782 100,0 67.750 100,0 169.759 100,0
Fonte: Sinan NET/SVS/MS (setembro de 2010).
Notas:
1
Agravos listados na Portaria GM/MS n
o
777, de 2004.
2
Inclui acidente de trabalho fatal, acidente em pessoas menores de 18 anos e acidentes com mutilaes.
3
Intoxicaes conrmadas e relacionadas ao trabalho.
A distribuio percentual dos tipos de agravos noticados em cada Unidade
Federada similar observada para o pas, reetindo a semelhana dos condicio-
nantes do processo de noticao e do perl epidemiolgico que a Rede Sentinela
em seu estgio atual de implantao consegue captar.
Os campos sexo e idade so de preenchimento obrigatrio no Sinan.
Com relao distribuio dos casos de agravos relacionados ao trabalho de no-
ticao compulsria em unidades sentinela, de acordo com o sexo, as mulheres
representaram 45% e os homens 55% dos casos noticados em 2009 (tabela 3).
Ao se comparar a distribuio proporcional dos distintos agravos por
sexo, evidencia-se que entre as mulheres predominam os acidentes de trabalho
com exposio a material biolgico (69%), e entre os homens os acidentes de
trabalho graves (73%). Ainda que com baixo peso proporcional em relao ao
total em cada sexo, vericaram-se tambm diferenas expressivas entre homens e
mulheres em outros agravos. A participao das intoxicaes exgenas e as PAIRs
tm maior peso entre os homens, e as LERs/DORTs e transtornos mentais entre
as mulheres (tabela 3).
246
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
TABELA 3
Distribuio proporcional de casos por agravo relacionado ao trabalho de
noticao compulsria em unidades sentinela,
1
por sexo Brasil (2009)
Agravo
Feminino Masculino Ign.
Total
n
o
% n
o
% n
o
Acidente de trabalho com
exposio a material biolgico
20.861 68,8 6.313 16,9 4 27.178
Acidente de trabalho grave
2
6.336 20,9 27.136 72,5 15 33.487
Cncer relacionado ao trabalho 3 0,0 28 0,1 0 31
Dermatoses ocupacionais 150 0,5 235 0,6 1 386
Intoxicaes exgenas
3
500 1,6 1.168 3,1 0 1.668
LER/DORT 2.257 7,4 2.035 5,4 1 4.293
PAIR 18 0,1 228 0,6 0 246
Pneumoconioses 10 0,0 162 0,4 0 172
Transtornos mentais 178 0,6 111 0,3 0 289
Total 30.313 100,0 37.416 100,0 21 67.750
Fonte: Sinan NET/SVS/MS (setembro de 2010).
Notas:
1
Agravos listados na Portaria GM/MS n
o
777, de 2004.
2
Inclui acidente de trabalho fatal, acidente em pessoas menores de 18 anos e acidentes com mutilaes.
3
Intoxicaes conrmadas e relacionadas ao trabalho.
Na anlise da distribuio de casos segundo sexo, entre as noticaes de
cada agravo considerado, observou-se que a proporo de casos em mulheres
excedeu a de homens nos acidentes com exposio a material biolgico, nas
LERs/DORTs e no transtorno mental (grco 1).
GRFICO 1
Proporo de casos por sexo, segundo agravo relacionado ao trabalho de
noticao compulsria
1
Brasil (2009)
Fonte: Sinan NET/SVS/MS (setembro de 2010).
Nota:
1
Agravos listados na Portaria GM/MS n
o
777, de 2004.
247
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
Quanto idade, 98% dos casos de agravos relacionados ao trabalho de
noticao compulsria em unidades sentinela registrados no Sinan, em 2009,
tinham de 14 a 69 anos de idade faixa etria que compreende os aprendizes e os
trabalhadores at atingir a idade na qual a aposentadoria compulsria. Ao analisar
a distribuio dos casos desta faixa etria, subdividindo-a em trs subcategorias,
observa-se que, dos 40 aos 69 anos, encontram-se mais de 70% dos casos com
cncer, PAIR e pneumoconioses. Os casos com 18 a 39 anos predominam entre
os acidentes com material biolgico, acidentes graves e intoxicaes exgenas,
com 74%, 69% e 66%, respectivamente. A faixa etria de 14 a 17 anos ultrapassa
1% apenas entre os casos de intoxicaes exgenas e de acidentes de trabalho
grave, representando 5% e 3%, respectivamente (grco 2). Cabe destacar que
as noticaes de casos relacionados com o trabalho com idades improvveis
(por exemplo, igual ou inferior a um ano) deveriam ser identicadas e corrigidas
no primeiro nvel informatizado do sistema.
GRFICO 2
Distribuio proporcional de casos na faixa etria de 14 a 69 anos, segundo
subcategorias, por agravo relacionado ao trabalho de noticao compulsria em
unidades sentinela
1
Brasil (2009)
Fonte: Sinan NET/SVS/MS (setembro de 2010).
Nota:
1
Agravos listados na Portaria GM/MS n
o
777, de 2004.
Os casos de intoxicao exgena relacionados ao trabalho devem ser
identicados na base de dados por ser este agravo noticado no Sinan,
independente de sua relao com o trabalho. Nesta anlise foram consideradas
as intoxicaes conrmadas e cuja relao com o trabalho foi estabelecida.
Portanto, o nmero de intoxicaes exgenas relacionadas ao trabalho depende
no s da incluso das noticaes no Sinan e da realizao da investigao
248
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
dos casos, como tambm da qualidade da base de dados, ou seja, do grau de
preenchimento do campo que indica a relao com o trabalho (A exposio/
contaminao foi decorrente do trabalho/ocupao) e do campo que registra a
conrmao da intoxicao (Classicao nal). Observa-se que cerca de 16%
de todas as intoxicaes exgenas noticadas anualmente, no perodo de 2007 a
2009, no tinham informao sobre a classicao nal do caso, variando, entre
as nove UFs que noticaram acima de 1.000 casos, de 5% (SC) a 63% (RJ). Tal
proporo no se altera quando calculada entre as intoxicaes da faixa etria
de 14 aos 69 anos de idade. Entre todas as intoxicaes noticadas em 2009
(39.011), 16% no tinham informao sobre a classicao nal do caso, 21%
estavam preenchidas com outras categorias (s exposio, reao adversa, outro
diagnstico, sndrome de abstinncia) e 63% foram conrmadas (24.603). Entre
as conrmadas, 7% (1.668) estavam relacionadas ao trabalho e 11% no tinham
informao sobre esta relao. Na faixa etria de 14 a 69 anos, essas propores
atingiram valores semelhantes, com 8% e 12%, respectivamente.
Quanto ao campo ocupao, seu preenchimento no sistema no
obrigatrio. A tabela utilizada a partir de 2007 corresponde tabela de 2002 do
Cdigo Brasileiro de Ocupaes (CBO 2002), acrescida de cinco cdigos para
situaes no classicveis como ocupao (dona de casa, estudante, aposentado,
desempregado crnico e presidirio), alm da categoria ignorado. Assim, na anlise
da completitude deste campo, os registros foram classicados em trs categorias:
registros cujo campo Ocupao est preenchido com cdigo de ocupao
classicada na CBO 2002; registros cujo campo Ocupao est preenchido com
categoria no classicvel como ocupao na CBO 2002; e os Sem informao, que
correspondem aos registros com campo Ocupao no preenchido ou preenchido
com cdigo que indica que a ocupao ignorada.
A anlise da qualidade do preenchimento do campo Ocupao entre casos
de agravos relacionados ao trabalho de noticao compulsria em unidades
sentinela, com 14 a 69 anos, noticados em 2009, evidencia que em torno de
23% dos acidentes de trabalho graves correspondem ao agravo mais noticado
entre os homens, e que 44% das intoxicaes exgenas estavam sem informao.
Para os demais agravos relacionados ao trabalho, esta proporo variou de 0% a
5% (grco 3).
Na anlise por sexo, constata-se falta de informao sobre a ocupao em
pelo menos 42% das intoxicaes exgenas e 23% dos acidentes graves, em ambos
os sexos, com percentuais mais altos entre mulheres (grcos 4 e 5).
Chama a ateno ainda que, apesar de as noticaes serem de casos
relacionados ao trabalho, constam na base de dados registros cujo campo
Ocupao est preenchido com categorias no classicveis como ocupao,
249
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
representando 12%, 8% e 6% das dermatoses ocupacionais, dos acidentes
de trabalho com exposio a material biolgico e das intoxicaes exgenas,
respectivamente, para ambos os sexos. Para os demais agravos, este percentual
variou de 0% a 3% (grco 3). Entre os homens, o agravo que apresentou
maior proporo dessa categoria foi acidente de trabalho com exposio a
material biolgico (9%) e os demais agravos no ultrapassaram 4% (grco 4).
Entre os casos do sexo feminino, essa categoria participou com 30%,
13% e 7% das noticaes de dermatoses ocupacionais, das intoxicaes
exgenas e dos acidentes de trabalho com exposio a material biolgico,
respectivamente (grco 5).
Tais aspectos relacionados qualidade do preenchimento do campo Ocupao
indicam, provavelmente, diculdade na compreenso do conceito de ocupao e
na identicao da ocupao na tabela do sistema. Entre as intoxicaes exgenas
pode ocorrer ainda diculdade na classicao das ocupaes da rea rural,
segundo o cdigo da CBO 2002.
GRFICO 3
Distribuio proporcional dos casos na faixa etria entre 14 e 69 anos, ambos os
sexos, segundo a qualidade da informao sobre ocupao, por agravo relacionado
ao trabalho de noticao compulsria
1
Brasil (2009)
Fonte: Sinan NET/SVS/MS (setembro de 2010).
Nota:
1
Agravos listados na Portaria GM/MS n
o
777, de 2004.
250
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
GRFICO 4
Distribuio proporcional dos casos na faixa etria entre 14 e 69 anos, do sexo mas-
culino, segundo a qualidade da informao sobre ocupao, por agravo relacionado
ao trabalho de noticao compulsria
1
Brasil (2009)
Fonte: Sinan NET/SVS/MS (setembro de 2010).
Nota:
1
Agravos listados na Portaria GM/MS n
o
777, de 2004.
GRFICO 5
Distribuio proporcional dos casos na faixa etria entre 14 e 69 anos, do sexo
feminino, segundo a qualidade da informao sobre ocupao, por agravo relacio-
nado ao trabalho de noticao compulsria
1
Brasil (2009)
Fonte: Sinan NET/SVS/MS (setembro de 2010).
Nota:
1
Agravos listados na Portaria GM/MS n
o
777, de 2004.
251
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
Cabe destacar que, nas chas de investigao dos agravos relacionados ao
trabalho e de noticao compulsria, consta tambm campo para registrar
o ramo de atividade econmica da empresa contratante, segundo o Cdigo
Nacional de Atividade Econmica (CNAE), que no analisado nesta
publicao. Para este campo, assim como para os demais que constam na cha
de noticao/investigao e que foram classicados como essenciais para o
preenchimento, devem ser efetuadas anlises sistemticas da sua completitude e
consistncia (BRASIL, 2008).
2.2.2 Dados de doenas transmissveis e agravos de noticao compulsria no Sinan
Para as demais doenas e agravos de noticao compulsria registrados no Sinan,
independentemente de sua relao com o trabalho, possvel obter informaes
que associam o caso ao trabalho utilizando principalmente um campo especco, o
qual indica se a doena ou o agravo estava relacionado ao trabalho e que foi inclu-
do, a partir de 2001, na maioria das chas de investigao do Sinan, alm do campo
Ocupao. Assim, a identicao de casos relacionados ao trabalho depende do pre-
enchimento destes campos. Os agravos com maior nmero de casos relacionados
ao trabalho entre as noticaes de 2009, com idade de 14 a 69 anos, foram os
acidentes com animais peonhentos, a leishmaniose tegumentar americana (LTA),
a tuberculose, a esquistossomose, a leptospirose e a violncia (noticada em unida-
des sentinela) (tabela 4). Os demais agravos contriburam com menos de 500 casos.
TABELA 4
Nmero de casos conrmados na faixa etria entre 14 e 69 anos, segundo categoria
de preenchimento do campo que relaciona o caso com o trabalho, por doena trans-
missvel ou agravo selecionado de noticao compulsria Brasil (2009)
Agravo
Doena/agravo relacionado ao trabalho?
Sim No Sem informao Total
n
o
% n
o
% n
o
% n
o
%
Acidentes com animais peonhentos 20.885 22,4 56.172 60,2 16.297 17,5 93.354 100,0
Leishmaniose tegumentar americana (LTA) 6.018 31,2 8.066 41,8 5.190 26,9 19.274 100,0
Tuberculose
1
1.511 1,8 48.249 59,0 32.080 39,2 81.840 100,0
Esquistossomose
2
1.127 8,3 6.783 50,2 5.596 41,4 13.506 100,0
Leptospirose 843 23,9 1.872 53,0 817 23,1 3.532 100,0
Violncias
3
483 2,0 18.678 78,0 4.782 20,0 23.943 100,0
Fonte: Sinan NET/SVS/MS (setembro de 2010).
Notas:
1
Excludos os casos com mudana de diagnstico.
2
Agravo com investigao registrada no Sinan a partir de 2007; casos noticados em reas no endmicas.
3
Violncia domstica, sexual e/ou autoprovocada; agravo de noticao compulsria em unidades sentinela, noticado
pelo Sinan a partir de 2007. Foram considerados os casos conrmados ou provveis.
Embora a proporo de noticaes sem informao sobre a relao do caso
com o trabalho ao longo do perodo de 2001 a 2009 apresente, de um modo
252
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
geral, tendncia decrescente (grco 6), entre os casos noticados em 2009 com
idade de 14 a 69 anos, observam-se, ainda, valores acima de 17% em todos os
agravos considerados (tabela 4 e grco 6).
GRFICO 6
Proporo de casos conrmados na faixa etria de 14 a 69 anos, sem informao
no campo Doena relacionada ao trabalho?, por doena/agravo de noticao
compulsria selecionado, segundo ano de noticao Brasil (2001 a 2009)
Fonte: Sinan/SVS/MS (atualizado em setembro 2010).
Nota: Foram consideradas todas as noticaes de tuberculose, exceto as com mudana de diagnstico, e os casos de
esquistossomose em reas no endmicas e de violncias noticados a partir de 2007, quando foram inseridas as
respectivas chas de investigao no Sinan.
As informaes sobre ocupao e ramo de atividade econmica tambm
podem ser usadas como uma aproximao na determinao da possvel relao
com o trabalho (NOBRE, 2002).
Embora a denio de ocupao nos instrucionais de preenchimento das -
chas considere o ramo de atividade econmica, no Sinan no possvel registrar este
dado na investigao dos agravos cuja noticao compulsria no est relacionada
exclusivamente ao trabalho. O campo existente permite registrar apenas a ocupao.
Atualmente, o campo Ocupao consta em praticamente todas as chas
de investigao (exceto paralisia cida aguda, rotavrus e sndrome da rubola
congnita). Para algumas doenas incidentes em crianas (por exemplo: Aids em
menores de 13 anos e slis congnita), a ocupao registrada no sistema corres-
ponde da me. No entanto, a qualidade do seu preenchimento ainda deve ser
253
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
aprimorada. Em 2009, por exemplo, mais de 50% das noticaes de acidentes
por animais peonhentos no tinham informao sobre a ocupao, ainda que
considerados exclusivamente os casos da faixa etria de 14 a 69 anos.
2.3 Consideraes gerais sobre o Sinan
A noticao de agravos relacionados ao trabalho no Sinan relativamente
recente. Esto disponveis atualmente dados de agravos relacionados ao trabalho
nas trs esferas de governo; no entanto, vrios aspectos devem ser aprimorados
como os relacionados aos instrumentos de coleta, ao aplicativo Sinan, ao
gerenciamento do sistema e qualicao dos prossionais envolvidos visando
melhoria da qualidade das bases do Sinan.
Os dados devem ser interpretados considerando-se que so obtidos em Rede
Sentinela e outras caractersticas da vigilncia em cada Unidade Federada.
Por outro lado, importante ressaltar que, assim como ocorre para outros
agravos, muitas crticas apontadas, inclusive sobre a qualidade dos dados, so
decorrentes da forma como o sistema gerenciado ou da forma como foi percebida
a concepo da vigilncia e sua implantao, e no devido s caractersticas do
aplicativo (LAGUARDIA et al., 2004).
A Coordenao Geral de Sade do Trabalhador do MS, em articulao com
a gerncia nacional do Sinan, tem estimulado o uso dos dados registrados no
Sinan por meio de capacitaes de tcnicos das SES e de outras atividades de
fortalecimento da RENAST, alm da elaborao de roteiro especco que orienta
o uso do Sinan e do TabWin na rea da ST.
Os aspectos identicados durante o uso do Sinan NET para noticao dos
agravos relacionados ao trabalho subsidiaro a reformulao dos instrumentos de
coleta de dados e o desenvolvimento de uma nova verso do sistema de informa-
o, com a perspectiva de noticar em tempo real.
3 O SISTEMA DE INFORMAO SOBRE MORTALIDADE E AS POSSIBILIDADES
DE USO PELA REA DE SADE DO TRABALHADOR
3.1 Breve histrico do Sistema de Informaes sobre Mortalidade (SIM)
O Sistema de Informao sobre Mortalidade (SIM) foi criado em 1976, a partir da
unicao dos mais de 40 modelos de Declarao de bito (DO) ento utilizados
no pas como instrumentos para a coleta de dados de mortalidade. O documento
nico resultante deste processo incorporou variveis de interesse epidemiolgico,
inclusive um bloco padronizado internacionalmente para o atestado mdico, com
campos para registro das condies e causas do bito, destacando-se os diagnsticos
que contriburam ou levaram morte, ou estiveram presentes no momento do
bito, tal como aprovado pela Organizao Mundial de Sade (OMS, 2008).
254
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
O SIM tem como nalidade a captao de dados sobre bitos ocorridos no
territrio nacional e a gerao de informaes epidemiolgicas sobre mortalidade
no Brasil, norteando a tomada de decises em todos os nveis de gesto do Sistema
nico de Sade e subsidiando boa parte da pesquisa epidemiolgica no pas.
Desenvolvido e implantado pelo Ministrio da Sade, est sob gesto das
trs esferas do SUS, representadas pela Secretaria de Vigilncia em Sade no nvel
federal, e pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Sade nos nveis estaduais
e municipais, respectivamente. Tem como rgos de apoio: o Datasus, no que
se refere ao desenvolvimento e manuteno dos aplicativos informatizados,
incluindo o armazenamento dos dados na esfera federal; o Centro Brasileiro
de Classicao de Doenas da Faculdade de Sade Pblica da Universidade de
So Paulo, no apoio a todas as aes que envolvam a Classicao Internacional
de Doenas; e o Comit Tcnico Assessor do SIM, cuja nalidade assessorar o
Ministrio da Sade na tomada de decises estratgicas relacionadas ao sistema
(BRASIL, 2004b).
O SIM disponibiliza por diversos meios, inclusive na rede mundial de
computadores (internet), a mais antiga srie histrica de dados do Sistema de Sade
brasileiro, com registros de bitos desde 1979 at os dias atuais. Por mais de 10
anos, no incio de sua operao, os dados coletados nos municpios e estados eram
transcritos para planilhas padronizadas em papel e enviados para processamento
centralizado no Ministrio da Sade, em Braslia. A municipalizao das aes e
servios de sade, iniciada a partir da implantao do SUS na dcada de 1990,
e suas normas operacionais criaram demandas favorveis descentralizao do
SIM, impulsionando seu aprimoramento. O desenvolvimento e a disseminao da
microinformtica, tambm nessa dcada, aceleraram o processo de descentralizao
da coleta e do processamento da informao pelas Secretarias Estaduais e Municipais
de Sade. A partir de 2006, o sistema vem passando por um forte processo de
modernizao tecnolgica e normativa, que tem provocado uma signicativa
reduo no intervalo de tempo entre a digitao dos eventos e a consolidao da base
de dados no nvel nacional. Nesse processo, o sistema foi dotado de ferramentas da
internet, que permitiram a criao de um ambiente virtual de compartilhamento de
informaes para diversos atores dentro do sistema de sade, que vem incrementado
paulatinamente uma maior utilizao do sistema como ferramenta de vigilncia em
sade, no s de anlise da situao de sade.
3.2 Caractersticas do sistema
A noticao de bitos ao Sistema de Informaes sobre Mortalidade universal,
englobando todos os eventos identicados no territrio nacional, independente
de terem ocorrido em hospital ou outro servio de sade de natureza pblica ou
privada, ou ainda no domicilio, ou na via pblica localizados na zona rural
255
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
ou urbana , das caractersticas dos indivduos falecidos e tambm de terem ocor-
rido antes (fetais), durante ou aps o nascimento (no fetais).
Do ponto de vista normativo, o SIM est baseado principalmente na
Resoluo CFM n
o
1.779/2005, que regulamenta a responsabilidade mdica
na emisso da Declarao de bito; na Portaria SVS n
o
116, de 11 de fevereiro
de 2009, que regulamenta a coleta de dados, o uxo e a periodicidade de envio
das informaes sobre bitos e nascidos vivos; na Portaria GM/MS n
o
1.119,
de 5 de junho de 2008, que regulamenta a Vigilncia de bitos Maternos; na
Portaria GM/MS n
o
72, de 11 de janeiro de 2010, que estabelece a vigilncia do
bito infantil e fetal obrigatria nos servios de sade (pblicos e privados) que
integram o Sistema nico de Sade (SUS); na Portaria GM n
o
1.405, de 29 de
junho de 2006, que institui a Rede Nacional de Servios de Vericao de bito
e Esclarecimento da Causa Mortis (SVO); na Portaria GM n
o
3.252, de 22 de
dezembro de 2009, que aprova as diretrizes para execuo e nanciamento das
aes de Vigilncia em Sade pela Unio, estados, Distrito Federal e municpios
e d outras providncias. E, tambm de modo indireto, o marco regulatrio est
ancorado pelo Pacto Nacional pela Reduo da Mortalidade Materna e Neonatal,
Pacto pela Vida, e pela Programao de Aes de Vigilncia em Sade (BRASIL,
2004a; 2006d; 2009a; 2009d).
A emisso do documento padro utilizado na coleta dos dados sobre mortalida-
de a Declarao de bito (DO) uma responsabilidade exclusiva e intransfervel
dos mdicos, cujas atribuies no que concerne a este assunto esto bem denidas
no Cdigo de tica Mdica e na Resoluo do Conselho Federal de Medicina
n
o
1.779, de 5 de dezembro de 2005. Embora tenha sido instituda pelo Minist-
rio da Sade com a funo precpua de alimentar o Sistema de Informaes sobre
Mortalidade, com enfoque especco na gerao de informaes epidemiolgicas,
a emisso da DO pelo mdico adquiriu na prtica, paulatinamente, a funo tam-
bm de documento reconhecido para informar bitos aos Cartrios do Registro
Civil, prevista na Lei do Registro Civil (Lei Federal n
o
6.015, de 31 de dezembro
de 1973). A partir desta informao, os cartrios emitem a Certido de bito, que
permite famlia obter a Guia de Sepultamento e tomar as demais medidas legais
cabveis relacionadas morte e s questes sucessrias implcitas neste momento.
Os formulrios de Declarao de bito so impressos sob a responsabilidade
do Ministrio da Sade em jogos de trs vias autocopiativas, pr-numerados e
distribudos anualmente para as Secretarias Estaduais de Sade (SES), em quantidade
compatvel com as estimativas do nmero de bitos por Unidade da Federao
(UF). As SES, por sua vez, fazem a distribuio para os municpios, a cargo das
Secretarias Municipais de Sade (SMS), que assumem ento a responsabilidade pelo
controle e distribuio para os estabelecimentos de sade, os Institutos Mdicos
Legais, os Servios de Vericao de bitos, os mdicos, os Cartrios do Registro
256
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Civil, os prossionais mdicos e outras instituies que as utilizem. O Ministrio
da Sade se responsabiliza tambm pela capacitao e orientao aos prossionais
para o bom preenchimento, bem como pelo recolhimento das primeiras vias e sua
destinao para os locais de processamento dos dados.
A estratgia de captao dos eventos do SIM se d por local de ocorrncia
dos bitos, ou seja, o registro da Declarao de bito deve obrigatoriamente
ser feito no municpio de ocorrncia destes, independente do indivduo falecido
residir ou no naquele local.
O processamento dos dados do SIM pode ser feito nas SMS (maior parte)
ou na SES (regional ou central), o que se tem feito de forma bastante descentrali-
zada no pas, de modo que atualmente quase 90% dos registros coletados so pro-
cessados pelas SMS dos municpios onde os bitos ocorreram e foram captados.
Em vrios estados, o processamento municipal representa 100% dos registros
coletados. Quando o prprio municpio no processa os dados, por decincia de
infraestrutura de informtica ou falta de pessoal, ou por opo do gestor estadual
devido ao tamanho do municpio (geralmente apenas aqueles muito pequenos), o
processamento feito pela SES, seja no nvel regional (6% dos registros em 2008)
ou central (5% dos registros no mesmo ano) destas Secretarias.
Aps a digitao das DO, as SMS ou SES geram arquivos de transferncia,
que so lanados regularmente em uma ferramenta baseada na internet (o Sis-
Net), que insere os dados simultaneamente nas bases de dados estadual e nacional
do SIM de forma automtica. Ao entrarem na base nacional, os dados cam
disponveis para retroalimentar e complementar as bases de dados locais com os
bitos ocorridos fora do municpio de residncia ou digitados fora do municpio
de ocorrncia, conforme a demanda dos noticantes em relao aos registros de
seu interesse, e para outras nalidades.
O Ministrio da Sade pactua anualmente com as SES e as SMS, com base
nas estimativas e outros parmetros, o nmero de bitos esperados por UF. Com
base nesta pactuao so denidas as metas anuais de transferncia de dados,
que so fracionadas em metas mensais, monitoradas continuamente. Quebras na
regularidade do envio de dados podem ensejar o bloqueio no repasse de recursos
federais do bloco de nanciamento das aes de vigilncia em sade do SUS, do
Fundo Nacional para os Fundos Estaduais e Municipais de Sade.
O Sistema apresenta um grau de cobertura bastante elevado, captando
acima de 90% dos bitos que o IBGE estima que ocorram no pas. Em nmeros
absolutos, signica um volume acima de um milho de bitos captados por
ano, para o conjunto do pas. Apesar da cobertura elevada no quadro nacional,
aferem-se desigualdades regionais importantes no percentual de bitos captados
pelo sistema em relao ao que estimado pelo IBGE. Em 2008, ltimo ano
com base de dados nacional consolidada, o SIM alcanou nas regies coberturas
257
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
de 82% no Norte, 77% no Nordeste, 99% no Sudeste, 100% no Sul, e 93%
no Centro-Oeste. Diferentes magnitudes de incrementos de cobertura ocorreram
nos ltimos anos, apontando para uma crescente reduo nestas desigualdades.
Na comparao com 1996, foram observados aumentos de 8% no Brasil (de 85%
para 91%), 39% na regio Norte (de 59% para 82%), 39% na regio Nordeste (de
56% para 77%), 9% na regio Centro-Oeste (de 86% para 93%) e estabilidade
nas regies Sudeste e Sul (em torno de 100%) (grco 7).
GRFICO 7
Cobertura do SIM Razo (%) entre nmero de bitos captados pelo SIM
e o estimado pelo IBGE, por regio de residncia e Brasil (1996 a 2008)
Fonte: SIM/SVS/MS.
Os microdados do SIM so armazenados em variveis que caracterizam o
falecido, incluindo nome, idade, sexo, raa/cor, escolaridade, endereo de residncia
(logradouro, bairro, distrito, entre outros), ocupao habitual; o local de ocorrncia
do bito (se ocorreu em hospital, domicilio, via pblica, outros, e seu endereo); sobre
aspectos especcos quando so bitos fetais e de menores de um ano relacionados
a sade materno-infantil; sobre os diagnsticos que levaram morte ou para ela
contriburam, ou estiveram presentes no momento do bito, a causa bsica do bito
selecionada por meio de regras internacionais da CID-10, todas codicadas no grau
mximo de desagregao desta classicao; sobre bitos de mulheres em idade
frtil visando estudos sobre mortalidade materna; sobre o mdico que assinou a DO
para elucidao de dvidas sobre informaes prestadas; sobre causas externas que
devem ser preenchidas sempre que se tratar de morte decorrente de leses causadas
por homicdios, suicdios, acidentes (inclusive se foram por acidentes de trabalho)
ou mortes suspeitas; sobre a localidade onde no exista mdico, quando, ento, o
registro ocial do bito tenha sido feito por testemunhas.
258
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
O armazenamento dos dados feito em bases distribudas em todos os nveis
da cadeia de sua produo, desde o municpio, nas Secretarias Municipais de Sade,
passando pelas regionais e nvel central das Secretarias Estaduais de Sade, e no
nvel nacional, no Ministrio da Sade. Assim, a disponibilidade do microdado se
d em todos os nveis, acompanhando a sua produo e respeitando o seu nvel de
abrangncia. No nvel nacional, consoante sua transferncia, os dados completos do
SIM so disponibilizados em tempo real, em um ambiente de compartilhamento
de informaes proporcionado pelo Ministrio da Sade, por meio da internet,
para integrantes do sistema de vigilncia em sade, mediante cadastro e termos
de responsabilidade e condencialidade para utilizao ao longo do processo de
produo em carter preliminar, para diversas nalidades, como: retroalimentao
de dados dos eventos ocorridos fora do municpio, recurso para complementar as
bases de dados produzidas localmente, retroalimentao para municpios que no
digitam bitos ocorridos em seu territrio, anlises preliminares de tendncias e
situaes de sade, e para ns de investigao de bitos, garantindo acesso aos dados
a integrantes das equipes de vigilncia de bitos maternos e infantis, como fontes
para orientar seu trabalho de campo. As equipes de vigilncia de bitos maternos
e infantis tm neste acesso oportunidade tambm de sugerir aos responsveis pela
informao de mortalidade correes e complementos s informaes obtidas na
DO, a partir do resultado de suas investigaes, pois os chamados mdulos de
investigao dos sistemas garantem a estes atores telas de entrada onde se deve
digitar a sntese dos resultados das investigaes, em um prazo de tempo denido.
Os microdados do SIM so disponibilizados sem as variveis de identicao
dos indivduos (nome, logradouro e nmero da casa) em publicaes de
duas naturezas: preliminares, no segundo semestre do ano seguinte ao ano
de ocorrncia dos bitos, por meio da internet, acessvel para tabulao por meio
do TabNet (informaes em sade, estatsticas vitais), e em carter ocial, no
primeiro semestre do ano subsequente, no mesmo endereo da internet, para
tabulao on-line e download dos microdados, e por meio de publicao em
CD de dados. Desde o momento do envio, os dados de cada registro podem ser
revisados, aprimorados, atualizados e retransferidos, at sua publicao ocial.
Assim, os dados disponibilizados preliminarmente para qualquer nalidade
podem sofrer alteraes at sua publicao ou republicao ocial. Nos ltimos
anos, as consolidaes de dados ociais do SIM tm sido publicadas, em mdia,
18 meses aps o nal do ano de ocorrncia.
3.3 Objetivos gerais do sistema
O SIM fonte de dados e informao para apoio tomada de deciso em
diversas reas da assistncia sade, isoladamente ou associado a outras fontes,
e na elaborao de vrios indicadores, com razovel grau de conabilidade.
259
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
Entre outros indicadores que utilizam o SIM, destacam-se alguns denidos
pela Rede Interagencial para a Informao em Sade (Ripsa): i) mortalidade
infantil taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade neonatal precoce,
taxa de mortalidade neonatal tardia, taxa de mortalidade ps-neonatal, taxa
de mortalidade perinatal; e ii) mortalidade especca taxa de mortalidade ma-
terna, mortalidade proporcional por grupos de causas, mortalidade proporcional
por causas mal denidas, mortalidade proporcional por doena diarreica aguda
em menores de cinco anos de idade, mortalidade proporcional por infeco
respiratria aguda em menores de cinco anos de idade, taxa de mortalidade
por doenas do aparelho circulatrio, taxa de mortalidade por causas externas,
taxa de mortalidade por neoplasias malignas, taxa de mortalidade por acidente
de trabalho, taxa de mortalidade por diabetes mellitus, taxa de mortalidade por
cirrose heptica, taxa de mortalidade por Aids, taxa de mortalidade por afeces
originadas no perodo perinatal.
Algumas vezes, o SIM o primeiro sistema de informao a captar a
ocorrncia de alguns agravos de interesse para a vigilncia epidemiolgica.
So exemplos disso casos de meningite, quadros graves de leptospirose e
hantavirose, entre outros, incluindo a Aids, para a qual, o bito constitui critrio
excepcional para conrmao de caso (BRASIL, 2003). No caso da vigilncia
em sade do trabalhador, muitos acidentes de trabalho tambm passam a ser
conhecidos a partir da informao do bito no SIM (SANTOS et al., 1990;
WALDMAN e MELLO JORGE, 1999).
Alm de cumprir com suas nalidades mais tradicionais como ferramenta
para a anlise da situao de sade, como um de seus pilares mais importantes,
e com as nalidades de pesquisa, o SIM tem tido nos ltimos anos o seu uso
amplamente estimulado para a vigilncia epidemiolgica de agravos de noticao
compulsria captados somente no momento do bito, e para a investigao
sobre as circunstncias em que ocorreram bitos maternos e infantis, buscando
classic-los quanto sua evitabilidade e fazendo recomendaes que sirvam para
que no se repitam, sempre que possvel (BRASIL, 2008b; BRASIL, 2010a).
O processo de descentralizao e a modernizao das ferramentas de
informtica empregadas no SIM, em especial o advento de ferramentas baseadas
na internet, vm aumentando a intensidade com que este sistema vem sendo
utilizado como fonte de informao para a vigilncia em sade como no caso
da investigao de bitos infantis e bitos maternos, recentemente, mediante o
suporte do sistema de mortalidade.
Entretanto, muito antes das novidades incorporadas ao SIM nos ltimos cin-
co anos, a rea de sade do trabalhador j se utilizava deste sistema como ferra-
menta de vigilncia, identicando bitos relacionados com o trabalho e escolhendo
260
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
estes eventos fatais como sentinelas para desencadear processos de investigao de
acidentes de trabalho. Na perspectiva da vigilncia em sade, a rea de sade do
trabalhador uma das mais antigas usurias do SIM.
O Ministrio da Sade desenvolve vrias atividades e aes na perspectiva
de induzir e potencializar cada vez mais o uso do SIM como fonte de informao
para a tomada de deciso. Isso envolve capacitao tcnica de prossionais de
sade das Secretarias Estaduais e Municipais de Sade, a utilizao de indicadores
de mortalidade como parmetro de planejamento e pactuao, entre outras.
3.4 Caractersticas de algumas variveis do SIM de interesse para a rea
de sade do trabalhador
3.4.1 Ocupao
Captada por meio do quesito Ocupao habitual (informar a anterior se
aposentado ou desempregado) da DO, esta varivel alimenta o campo do banco
de dados chamado OCUP, com seis caracteres numricos. Os valores vlidos para
esta varivel so, a partir de 2006, as 2.422 categorias da Classicao Brasileira de
Ocupao (CBO)de 2002, no seu nvel mais desagregado, e mais seis categorias
inseridas pelo MS (Estudante, Dona de casa, Aposentado/pensionista,
Desempregado, Presidirio e Ignorado), que no so ocupaes. Antes de
2006, as respostas mesma pergunta alimentavam o campo do banco de dados
com o mesmo nome OCUP , mas, ento, com cinco caracteres numricos. Os
valores vlidos eram categorias vlidas da CBO 94, no seu nvel mais desagregado,
e mais oito categorias inseridas pelo MS ( procura do primeiro emprego,
Ocupao no identicvel, Ocupao no declarada, Desempregado,
Estudante, Aposentado/pensionista, e Dona de casa), que tambm no
faziam parte da classicao de ocupaes vigente.
Para analisar a qualidade do preenchimento da varivel ocupao, desde
1996 at 2009, os registros foram categorizados em trs tipos:
1. Categoria de ocupao classicada na CBO: agrupando todos os registros
codicados com algum valor vlido entre as categorias ociais das CBO, 94 ou
2002, dependendo do perodo.
2. Categoria no classicvel como ocupao: agrupando todos os registros
codicados com alguns dos valores inseridos pelo Ministrio da Sade, sendo
eles Desempregado, Estudante, Aposentado/pensionista e Dona de casa, no
perodo de 1996 a 2005, e as mesmas categorias mais a categoria Presidirio,
no perodo de 2006 em diante.
3. Sem informao: agrupando todos os registros em branco, ou preenchidos
mas codicados com valores com descrio procura do primeiro emprego,
Ocupao no identicvel, Ocupao no declarada, no perodo de 1996
a 2005, e de Ignorado, no perodo a partir de 2006.
261
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
Complementarmente, foram tabulados os registros de indivduos entre 14 e
69 anos de idade, segundo a distribuio em um destes trs agrupamentos.
Observa-se que, de modo geral, com exceo de 2006, a maior parte dos
registros foram preenchidos com um dos cdigos associados a Categoria de
ocupao classicada na CBO. Na primeira parte da srie, quando se utilizava
a CBO 94, isso representava algo em torno de 50% dos registros. A partir da
adoo da CBO 2002, em 2006, o percentual de registros neste agrupamento
teve uma forte queda para 35%, seguida de uma suave recuperao, para prximo
dos 50% novamente, por volta de 2009, com dados preliminares (grco 8).
Estes efeitos, possivelmente, deveram-se adoo de uma nova CBO e ao processo
de divulgao e aprendizado intrnseco ao uso de uma nova classicao.
GRFICO 8
Proporo de bitos de indivduos entre 14 e 69 anos de idade, por ano de
ocorrncia, segundo qualidade da informao sobre ocupao Brasil (1996 a 2009)
1
Fonte: SIM/SVS/MS.
Nota:
1
Dados preliminares para 2009.
Ao se efetuar a mesma anlise, estraticada por sexo, observam-se
diferenas importantes no preenchimento do campo Ocupao habitual.
Considerando-se apenas os indivduos do sexo masculino, o percentual de
registros preenchidos com um dos cdigos associados a uma Categoria
de ocupao classicada na CBO oscilava entre 65% e 70% na primeira parte
da srie, quando se utilizava a CBO 94. A partir da adoo da CBO 2002, em
2006, o percentual de registros neste agrupamento caiu para 45%, seguida de
uma suave recuperao, para prximo dos 55% novamente, por volta de 2009,
com dados preliminares (grco 9).
262
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
GRFICO 9
Proporo de bitos de indivduos do sexo masculino, entre 14 e 69 anos de idade,
por ano de ocorrncia, segundo qualidade da informao sobre ocupao Brasil
(1996 a 2009)
1
Fonte: SIM/SVS/MS.
Nota:
1
Dados preliminares para 2009.
GRFICO 10
Proporo de bitos de indivduos do sexo feminino, entre 14 e 69 anos de idade,
por ano de ocorrncia, segundo qualidade da informao sobre ocupao Brasil
(1996 a 2009)
1
Fonte: SIM/SVS/MS.
Nota:
1
Dados preliminares para 2009.
263
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
Entre os indivduos do sexo feminino, o agrupamento predominante
representado pelos registros preenchidos com alguma categoria no classicvel
como ocupao nas duas revises da CBO utilizadas ao longo do perodo, com
valores entre 75% e 65% at 2005, e acima de 50% entre 2006 e 2009.
O comportamento da curva dos registros da categoria Sem informao
(grcos 8, 9 e 10) mostra diferenas pouco expressivas ao se analisar o conjunto de
registros totais (grco 8) ou os estratos por sexo, masculino ou feminino (grcos 9
e 10). Ressalte-se, entretanto, que, no perodo marcado pela entrada da CBO 2002,
a partir de 2006, o percentual de registro da categoria Sem informao aumentou
bastante nos dois casos, saindo do patamar dos 20% entre o sexo masculino para
valores prximos de 40%, no primeiro ano aps a mudana, e caindo em seguida
para valores em torno de 30% nos dois ltimos anos, e do patamar dos 10% entre
as mulheres para 30%, no primeiro ano, e caindo em seguida para valores em torno
de 20% nos dois ltimos anos.
A anlise mais detalhada do preenchimento do campo Ocupao habitual
desagregada com os valores da Categoria no classicvel como ocupao
mostra como respostas predominantes as opes Aposentado/Pensionista, que
comea a srie em 1996 em torno de 20% dos registros e gradativamente se reduz
ao patamar prximo a 12% dos registros em 2009, e Dona de casa, que parte
do patamar em torno de 19% no incio da srie e a acaba em torno de 14% dos
registros. As opes Desempregado e Estudante tm preenchimento residual
e comportamento estvel, com valores oscilando em torno de 0,5% e 2,5%,
respectivamente, ao longo da srie. A opo Presidirio foi utilizada em apenas
dois registros ao longo da srie.
Ao se analisar por sexo, percebem-se diferenas considerveis na composio
do agrupamento que se convencionou chamar de categoria no classicvel
como ocupao. Enquanto no sexo masculino predomina Aposentado/
pensionista, com quase a totalidade dos registros deste agrupamento, com
valores que vo de 21% a 12%, considerando-se os anos iniciais e o nal da
srie, no sexo feminino, o preenchimento com a opo Dona de casa comea a
srie com 53% e a encerra no patamar dos 39% do total de registros deste sexo.
As opes Desempregado e Estudante apresentam padro de preenchimento
similar no que se refere tendncia de estabilidade, ao se analisarem os estratos
de sexo masculino ou feminino, sendo discretamente maior entre indivduos do
sexo masculino, mas no chegando a 4,5% do total, quando somados. Entre
indivduos do sexo feminino, somadas, as duas opes de preenchimento no
chegam a 4% a cada ano.
A anlise do preenchimento do campo Ocupao habitual com alguma
Categoria classicada na CBO, estraticada por regies (grco 11), mostra
264
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
curvas muito semelhantes para todas as regies, com patamares iniciais entre 45%
(Nordeste) e 53% (Sul), passando por valores entre 45% e 59% para as mesmas
regies em 2005, seguida de queda acentuada para todas as regies em 2006 ano
em que muda a classicao CBO 94 para CBO 2002 no SIM , para valores que
variaram entre 29% (Sudeste) e 45% (Norte), e um desempenho em 2009
que variou entre 39% (Sudeste) e 51% (Sul). Chamam, portanto, a ateno trs
aspectos: o baixo percentual de preenchimento com um valor vlido para as CBOs
utilizadas ao longo de toda a srie, a piora no desempenho de todas as regies por
ocasio da mudana na classicao e o forte impacto desta mudana para a regio
Sudeste, que inicia a srie com desempenho prximo ao da regio Sul, com 52% dos
registros classicados em alguma categoria da CBO, e que oscila neste patamar at
2005, cai para menos de 30% em 2006 e ainda no retornou ao patamar acima de
40% ao nal da srie, que apresenta dados preliminares de 2009.
Tal comportamento sugere, a princpio, uma maior diculdade no
preenchimento do campo Ocupao habitual, durante o processamento dos dados
nos sistemas de informao, quando estes passaram a adotar a CBO 2002, tendo
em conta que os formulrios no sofreram mudanas na forma de perguntar sobre
esta varivel no mesmo perodo. Em que pesem caractersticas prprias das verses
das tabelas internas do sistema informatizado, um olhar mais cuidadoso sugere
que as diculdades com o campo comeam antes do processamento dos dados,
no momento da captao do dado, e na codicao (ou falta de codicao) antes
da digitao.
Junto com a queda observada em 2006, na proporo de registros vinculados
Categoria classicada na CBO, h uma queda na proporo de registros
vinculados s Categorias no classicveis como ocupao e aumento na
proporo de registros Sem informao. A ausncia de campos sobre a insero
no mercado de trabalho pode explicar o fato dos percentuais de registros Sem
informao ou com Categoria no classicvel como ocupao serem muito
mais altos entre registros de bito de indivduos do sexo feminino do que do sexo
masculino ao longo de toda a srie, embora entre os registros de indivduos do
sexo feminino tambm se observem avanos ao se comparar o desempenho no
nal da srie com os primeiros anos da mesma.
265
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
GRFICO 11
Proporo de bitos de indivduos entre 14 e 69 anos de idade, informados com o
campo ocupao preenchido com alguma Categoria classicada na CBO, por ano
de ocorrncia Brasil e regies (1996 a 2009)
1
Fonte: SIM/SVS/MS.
Nota:
1
Dados preliminares para 2009.
GRFICO 12
Proporo de bitos de indivduos entre 14 e 69 anos de idade, informados com
o campo ocupao preenchido com alguma Categoria no classicvel na CBO,
por ano de ocorrncia Brasil e regies (1996 a 2009)
1
Fonte: SIM/SVS/MS.
Nota:
1
Dados preliminares para 2009
266
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Com relao ao percentual de registros com o campo ocupao preenchido
com Categorias no classicveis na CBO (grco 12), o comportamento das
curvas por regio de queda constante ao longo da srie, para as regies Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Para a regio Sudeste, h inicialmente uma queda
grande em 2006 ano da mudana da CBO no sistema informatizado , seguida
por uma inverso na tendncia e uma estabilizao em 2007, 2008 e 2009, em
patamar inferior ao apresentado em 2005. Para a regio Sul, observa-se o mesmo,
com variaes menos bruscas. O comportamento das curvas nestas duas regies
se reete no comportamento da curva nacional, com as mesmas variaes, de
modo mais suave.
3.4.2 Acidente de trabalho
Captada por meio da pergunta Acidente de Trabalho, esta varivel, presente no
bloco sobre causas externas da DO, que rene informaes sobre as provveis
circunstncias de mortes no naturais, alimenta o campo do banco de dados
chamado ACIDTRAB, com um caractere numrico. Os valores vlidos para esta
varivel so: 1 Sim, 2 No, 9 Ignorado.
Ao se analisarem os dados do SIM a partir dessa varivel, a srie histrica de
1996 a 2009 contabiliza 37.171 bitos nos quais a DO vinculou a causa do bito
a uma circunstncia de acidente de trabalho (grco13). O nmero de registros
por ano, com este status, crescente e tem oscilado em torno de 3.000 bitos por
ano nos ltimos cinco anos da srie em questo.
GRFICO 13
N
o
de bitos com informao de acidente de trabalho nas circunstncias da causa
externa da declarao de bito, por ano de ocorrncia Brasil (1996 a 2009)
1
Fonte: SIM/SVS/MS.
Nota:
1
Dados preliminares para 2009.
267
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
A distribuio por regio mostra nmeros estveis (grco 14) para o
perodo inteiro em algumas regies, como o caso das regies Sul e Sudeste.
Nestas, observam-se nmeros em torno de 1000 bitos anuais para a regio
Sudeste e de 800 bitos anuais para a regio Sul. Para as regies, vericam-
se mudanas de patamar em determinado ponto da curva, seguidas por uma
estabilizao em patamar superior. o que ocorre na regio Centro-Oeste, que
passa de valores em torno de 100 bitos por ano para nmeros que oscilam,
sem muita variao, em torno de 400 bitos anuais. A regio Norte, neste
quesito, tambm tem um comportamento de mudana de patamar da ordem
de 200 registros por ano, para uma situao de estabilidade, e oscilao em
torno de 300 registros por ano. Por m, digno de nota que a curva do nmero
de bitos informados com estas circunstncias, para a regio Nordeste, tem
uma inclinao ascendente mais evidente que todas as demais. Nesta regio, o
nmero de bitos dentro deste recorte crescente, de forma sustentada a partir
de 2003, quando apresentou aproximadamente 250 bitos, tendo alcanado
quase 600 registros em 2009, e no parece indicar estabilidade ainda, com
dados preliminares do SIM.
GRFICO 14
N
o
de bitos com informao de acidente de trabalho nas circunstncias da causa
externa da declarao de bito, por ano de ocorrncia Regies (1996 a 2009)
1
Fonte: SIM/SVS/MS.
Nota:
1
Dados preliminares para 2009.
Outra observao interessante que a qualidade do preenchimento do
campo Ocupao habitual foi melhor avaliada no conjunto de dados cujas
circunstncias foram informadas como relacionadas a Acidente de Trabalho, no
268
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
SIM. Neste conjunto de dados (grco 15), pode-se perceber que o percentual
de registros preenchidos com alguma Categoria de ocupao classicada na
CBO bem maior que nos dados gerais, oscilando em torno de 90% no
perodo em que se utilizava a CBO 94, caindo para 60% no ano da mudana e
indicando tendncia de recuperao moderada do desempenho, com resultados
em torno de 70% em 2008 e 2009. V-se ainda que o inverso se d em relao
ao percentual de registros na Categoria no classicvel como ocupao, que
bem mais baixo que o conjunto geral de dados, oscilando em torno de 5%
ao longo de toda a srie.
GRFICO 15
Proporo de bitos com informao de acidente de trabalho, nas circunstncias
da causa externa, por ano de ocorrncia, segundo qualidade da informao sobre
ocupao Brasil (1996 a 2009)
1
Fonte: SIM/SVS/MS.
Nota:
1
Dados preliminares para 2009.
Ainda em relao s ocupaes dos indivduos que morreram em circunstn-
cias relacionadas a acidentes de trabalho, entre aqueles preenchidos com alguma
Categoria classicada na CBO, 17 so os subgrupos principais da classicao
da CBO 2002 (agrupamentos de famlias de ocupaes, com quatro caracteres),
que agregam 87% dos eventos no perodo de 2006 a 2009. So eles: trabalha-
dores de funes transversais (22%); trabalhadores da indstria extrativista e da
construo civil (18%); trabalhadores na explorao agropecuria (14%);
trabalhadores dos servios (8%); trabalhadores da transformao de metais e de
compsitos (5%); produtores na explorao agropecuria (3%); trabalhadores
em servios de reparao e manuteno mecnica (2%); outros trabalhadores da
269
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
conservao, manuteno e reparao (2%); gerentes (2%); escriturrios (2%);
vendedores e prestadores de servios do comrcio (2%); pescadores e extrati-
vistas orestais (2%); trabalhadores da mecnica agropecuria e orestal (2%);
e tcnicos de nvel mdio nas cincias administrativas (2%). Os 13% restantes
esto distribudos em diversos subgrupos principais, que congregam percentuais
de 1% ou menos do total de registros com informao, classicveis na CBO.
Setenta e duas ocupaes, desagregadas em grau mximo de seis dgitos da
CBO, representam quase 70% do conjunto de bitos em circunstncias de acidente
de trabalho informados ao SIM no perodo compreendido entre 2006 e 2009. So
elas, em ordem decrescente: motorista de caminho (rotas regionais e internacionais
(10%); pedreiro (8%), trabalhador agropecurio em geral (7%); trabalhador volante
da agricultura (5%); motorista de carro de passeio (5%); servente de obras (3%);
empregado domstico nos servios gerais (3%); produtor agrcola polivalente (2%);
eletricista de instalaes (2%); ajudante de motorista (2%); comerciante varejista
(1%); tratorista agrcola (1%); pintor de obras (1%); motociclista no transporte
de documentos e pequeno (1%); carpinteiro (1%); caseiro (agricultura) (1%);
representante comercial autnomo (1%); soldador (1%); mecnico de manuteno
de automveis, motocicletas (1%); motorista de nibus urbano (1%); operador de
mquinas xas, em geral (1%); motorista de txi (1%); trabalhador da manuteno
de edicaes (1%); motorista de furgo ou veculo similar (1%); produtor
agropecurio, em geral (1%); serralheiro (1%); vigilante (1%); vendedor de comrcio
varejista (1%); motorista de nibus rodovirio (1%); caminhoneiro autnomo (rotas
regionais e internacionais (1%); auxiliar de escritrio, em geral (1%); operador
de motosserra (1%); alimentador de linha de produo (1%); auxiliar geral de
conservao de vias permanentes (1%); soldado da polcia militar (1%); faxineiro
(1%). Os 30% restantes esto distribudos em diversas ocupaes desagregadas em
grau mximo da classicao seis dgitos , que congregam percentuais menores
que 1% do total de registros com informao, classicveis na CBO.
3.4.3 Causas de morte
As causas de morte so todas as doenas, os estados mrbidos ou as leses que
produziram a morte, ou que contriburam para ela, e as circunstncias do aci-
dente ou da violncia que produziu estas leses, registradas no bloco sobre con-
dies e causas do bito da DO. Todas estas causas cam registradas no SIM, em
forma de cdigos, da Classicao Internacional de Doenas (CID) 9
a
reviso
entre 1979 e 2005, e CID-10
a
reviso, a partir de 2006, armazenadas nos campos
LINHA_A, LINHA_B, LINHA_C, LINHA_D, PARTE_II do banco de dados,
podendo haver um ou mais cdigos por campo, representando o el preenchi-
mento da DO pelo mdico. Estas informaes so bastante teis para a realizao
de estudos de causas mltiplas de morte, nos quais uma das aplicaes consiste
270
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
em estudar o perl de todas ou algumas causas associadas a determinados eventos
fatais. As causas de morte so tambm o substrato essencial para a denio da
causa bsica do bito.
3.4.4 Causa bsica da morte
Uma das principais informaes de mortalidade oferecidas pelo SIM a causa
bsica da morte. Este dado obtido a partir da aplicao de regras internacionais
de codicao das causas de morte informadas pelo mdico no atestado, e pela
seleo de uma nica causa que denida pela Organizao Mundial de Sade
como: a) a doena ou leso que iniciou a cadeia de acontecimentos patolgicos
que conduziram diretamente morte; ou b) as circunstncias do acidente ou
violncia que produziu a leso fatal.
A codicao das causas de morte realizada por prossionais formados
especicamente para esta funo (codicadores de causa bsica), cada vez mais
vinculados s Secretarias Municipais de Sade. A padronizao da classicao
da causa bsica de bito, a formao de multiplicadores e o credenciamento de
centros de treinamento so considerados fatores que conferem comparabilidade
dos dados e conabilidade do sistema, sendo as inconsistncias, especialmente
de sexo, idade e causa bsica, sempre inferiores a 0,5% do total de bitos
(CARVALHO, 1997).
O SIM utiliza, desde 1994, um subaplicativo informatizado, que ajuda
a padronizar a seleo de causa bsica dos registros de mortalidade do Brasil,
chamado SCB, ou selecionador da causa bsica. Avaliao realizada acerca da
eccia do SCB no Municpio de So Paulo mostrou concordncia entre a seleo
feita pelo programa e por codicadores em 96% dos casos em uma amostra de
572 declaraes de bito (DRUMOND JR. et al., 1999).
Um dos indicadores de qualidade dos sistemas de mortalidade o percentual
de bitos com causas mal denidas. Projetos voltados a aprimorar a qualidade da
informao do SIM, intensicados nos ltimos anos, foram responsveis por forte
reduo da proporo de bitos com causas mal denidas no pas. Comparando
o desempenho deste indicador no ano de 2008 com o ano de 1996, foram
observadas redues de 51% para o Brasil, que passou de 15% dos bitos com
causas mal denidas para 7% do total de bitos. Por regies, foram observadas
redues de 47% na regio Norte (24% para 13%), 76% na regio Nordeste (de
32% para 8%), 17% na regio Sudeste (de 9% para 8%), 43% na regio Sul
(de 9% para 5%), e 62% na regio Centro-Oeste (de 11% para 4%).
Entre os 37.171 registros de bitos de indivduos com informao de acidente
de trabalho como circunstncia da causa da morte, 63% tiveram como causa
bsica causas agrupadas por uma das listas de mortalidade da edio brasileira da
271
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
CID-10, a CID-BR (OMS, 2009), como Acidentes de transporte (48%) e
Quedas (15%). Outros 5% dos eventos tiveram como causa bsica causas agrupadas
como Afogamento e submerses acidentais (2%), Exposio fumaa, ao fogo e
s chamas (1%), Envenenamentos, intoxicaes por ou exposio a substncias
nocivas (0,5%), Agresses (1%), e 32% Outras causas externas diversas.
Segundo Nobre (2002, p. 9), o dimensionamento da mortalidade por
doenas relacionadas ao trabalho continua sendo muito difcil devido ao no
diagnstico, precariedade das informaes sobre ocupao e atividade econmica
nos sistemas de mortalidade e o no registro da relao com o trabalho nesses
sistemas. Ainda segundo Nobre, contribuem para a diculdade de dimensionar
esta mortalidade especca os seguintes aspectos:
1. a maioria das doenas relacionadas ao trabalho no se distingue das doenas
comuns (no ocupacionais); ex., cncer de pulmo por asbesto no se diferencia
de cncer de pulmo por tabagismo; 2. poucas condies podem ser consideradas
exclusivamente relacionadas ao trabalho: mesotelioma, pneumoconiose de traba-
lhadores de carvo, asbestose e silicose; 3. treinamento limitado dos prossionais
mdicos para fazer diagnstico de doenas ocupacionais. Entre as doenas que
resultam em mortes que geralmente no so identicadas como ocupacionais,
pode-se citar: leucemia em trabalhadores expostos a benzeno; cncer de bexiga
em trabalhadores expostos a anilinas; cncer de pulmo em trabalhadores expos-
tos a asbesto; cncer nasal em trabalhadores expostos a poeira de madeira; doena
respiratria crnica e asma, que podem ser causadas por mais de 200 substncias;
doenas cardiovasculares, que podem ser causadas por txicos como monxido
de carbono ou stress no trabalho; vrias doenas infecciosas, como tuberculose,
em trabalhadores de servios de sade (HERBERT e LANDRIGAN, 2000, apud
NOBRE, 2002, p. 9).
3.5 Consideraes gerais sobre o SIM
O sistema de informaes sobre mortalidade um patrimnio do sistema de
sade e da sociedade brasileira, que possui dados consolidados e disponveis
de 1979 at os dias atuais, alm de ter uma cobertura importante, superior a 90%
dos eventos que se estima que deva captar, em que pesem as diferenas regionais
que o desaam. Possui uma qualidade da informao sobre a causa da morte que
o coloca em patamar invejvel em comparao com sistemas de outros pases.
Tem passado por um processo de modernizao tecnolgica e renovao normativa
que o tem credenciado como importante ferramenta de vigilncia em sade, que
vem se agregar ao tradicional papel que desempenha de maneira central nas
anlises da situao de sade.
Este processo de renovao tem aumentado a disponibilidade de dados
com oportunidade a quem deles precisa para realizar aes de vigilncia em
272
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
sade. Assim tem sido para a vigilncia do bito materno e infantil, por meio
de mdulos de investigao de bitos com este perl, disponvel na internet, que
permite a agentes cadastrados acessar com toda a segurana e a condencialidade
necessrias listas e informaes detalhadas disponveis nas Declaraes de
bitos sobre eventos a investigar, bem como disponibilizar telas de entrada de
dados para receber e agregar novas informaes ao sistema, oriundas do resultado
dessas investigaes. Este movimento tem propiciado um aprofundamento das
parcerias estabelecidas entre as reas de informao em sade e as reas de sade
da mulher e sade da criana de todos os nveis do Sistema nico de Sade,
mediante o desenvolvimento de roteiros, manuais e ocinas de capacitao para
orientar o trabalho de campo da investigao.
Uma renovao da vocao do SIM como ferramenta de vigilncia na rea
de sade do trabalhador possvel, e os desaos para que isso possa ocorrer passam
pela construo de uma pauta de temas a serem aprofundados visando fortalec-lo
nesta direo. Alguns pontos dessa pauta podem ser apontados a partir das breves
reexes feitas nesta seo sobre o SIM. Assim, uma retomada das discusses com
vistas a revisar os campos que interessam sade do trabalhador no formulrio
da Declarao de bito um dos pontos dessa pauta. Nesta discusso deve ser
considerada a possibilidade de criar campo(s) que ajude(m) a identicar o tipo de
vnculo que o falecido mantinha com o mundo do trabalho antes da morte, para s
em seguida rever o campo onde so registradas informaes sobre a ocupao, que
seria de preenchimento pertinente somente para os indivduos que efetivamente
estavam vinculados ao mundo do trabalho, evitando assim o elevado percentual
de registros com informaes que no so ocupaes classicveis na CBO.
Complementarmente deve-se considerar a hiptese de que um dos caminhos
para enfrentar o problema do alto percentual de registros sem informao no
campo ocupao habitual pode ser a adoo da tabela da CBO 2002, com os
7.500 sinnimos, que se somariam s 2.422 categorias de ocupaes j existentes.
Parcerias para sensibilizar e capacitar para o preenchimento e a codicao do campo
ocupao devem ser pensadas, e alguns atores para esta parceria como os agentes
da sade do trabalhador e do Ministrio do Trabalho devem ser considerados.
Uma retomada da discusso sobre a necessidade de reinserir campos sobre a
Atividade Econmica qual a ocupao habitual estava relacionada tambm deve
ser considerada como proposta com potencial de ampliar a utilidade da informao
sobre a ocupao habitual.
A combinao das duas informaes pode melhorar a caracterizao do perl
de risco que uma ou outra isoladamente pode sugerir. Prope-se que outros temas
sejam abordados neste esforo, alm da reviso do formulrio da DO. Um deles
seria a criao, no componente on-line do SIM, de um mdulo de investigao
de bitos relacionados sade do trabalhador, que no se restringisse apenas aos
273
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
bitos por causas externas. Este mdulo disponibilizaria informao em tempo
oportuno aos prossionais de sade que tm como misso fazer vigilncia em sade
do trabalhador, por um lado; por outro, permitiria a incorporao de informaes
obtidas a partir do resultado das investigaes como, por exemplo, eventuais
relaes de alguns eventos com o trabalho e outros atributos dos ambientes de
trabalho onde estes eventos aconteceram. Outro tema a ser debatido neste esforo
seria a identicao de processos e de atores capazes de desencadear um movimento
visando a construo de uma lista (ou listas) de causas bsicas de morte presumveis
de relao com o trabalho, para auxiliar e orientar o processo de investigao de
bitos potencialmente relacionados sade do trabalhador entre aqueles que
no sejam declarados ou codicados desta forma no registro original do bito, a
Declarao de bito.
4. SISTEMA DE INFORMAES HOSPITALARES (SIH/SUS)
4.1 Breve histrico e caractersticas gerais do sistema
A implantao do SIH foi regularizada pelo INAMPS com base no Sistema de
Assistncia Mdico-Hospitalar da Previdncia Social (SAMHPS), e o seu instrumento,
a Autorizao de Internao Hospitalar (AIH), utilizado pela rede hospitalar prpria
federal, estadual, municipal ou privada com ou sem ns lucrativos.
Em 1991, a Secretaria Nacional de Assistncia Sade (SNAS/MS)
implantou, como parte do SIH/SUS, a tabela nica de remunerao pela Assistncia
Sade na modalidade hospitalar, com estrutura e valores idnticos para todos os
prestadores, independente da natureza jurdica e do tipo de vnculo com o SUS.
Deniu tambm que o acervo do Sistema de Assistncia Mdico-Hospitalar da
Previdncia Social (SAMHPS) passaria a compor a base do SIH/SUS.
O SIH um relevante instrumento de informao para orientar o gestor na
tomada de decises relacionadas ao planejamento das aes de sade, inclusive
para a Vigilncia em Sade. Desde que corretamente preenchido, a morbidade/
mortalidade hospitalar do municpio ou do estado estar reetida por meio da
Classicao Internacional de Doenas (CID) registrada na AIH, servindo, por
vezes, como indicador da ateno ambulatorial. O desempenho e as condies
sanitrias do estabelecimento podem ser avaliados a partir das taxas de bito e de
infeco hospitalar.
Com o tempo, as funcionalidades so introduzidas no SIH com a nali-
dade de aprimorar a qualidade das informaes. O SIH realizou, at abril de
2006, o processamento das AIH de forma centralizada pelo Ministrio da Sa-
de, por meio do Departamento de Informtica do SUS/Datasus/SE/MS. Com
o avano da tecnologia da informao e em conformidade com os princpios do
SUS, tornou-se necessrio estabelecer mecanismos para a sua descentralizao.
274
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Assim, o Ministrio da Sade, aps amplo processo de discusso com os gestores
estaduais e municipais, editou a Portaria GM/MS n
o
821/2004, determinando
a descentralizao do processamento do SIH/SUS para estados, Distrito Federal
e municpios plenos.
A partir de abril de 2006, aps a capacitao das Secretarias Estaduais e
Municipais de Sade e do Distrito Federal, realizada pela Coordenao Geral de
Sistemas de Informao/Departamento de Regulao, Avaliao e Controle/SAS/MS
e da Coordenao Geral de Informao Hospitalar/Datasus/SE/MS, foi implantado
no pas o processamento descentralizado do SIH/SUS. O Sistema de Informaes
Hospitalares do Sistema nico de Sade (SIH/SUS) o maior sistema de informao
nacional; registra cerca de 11,5 milhes de internaes/ano. Seu objetivo principal
a remunerao de internaes ocorridas nos hospitais pblicos e privados,
conveniados com o SUS. A autorizao de Internao Hospitalar (AIH) o
documento que compe cada registro de sua base de dados.
O SIH/SUS foi concebido para operar o sistema de mapeamento de
internaes dos hospitais contratados e tem apresentado melhoras gradativas
ao longo de sua existncia. Sua abrangncia limita-se s internaes no mbito
do SUS, excluindo as que so custeadas diretamente ou cobertas por planos de
sade. De acordo com Risi Jr. (2006), este sistema rene informaes sobre cerca
de 70% das internaes hospitalares do pas; entretanto, apesar da limitao
quantitativa e de haver problemas quanto qualidade das informaes, alguns
autores como Lecovitz e Pereira (1993), Lebro, Mello Jorge e Laurenti (1997)
referem que as estatsticas hospitalares permitem um quadro quase completo da
mortalidade mais grave da populao, qual seja, a que leva hospitalizao.
O SIH/SUS dispe de dados informatizados desde 1984 e rene informaes
de cerca de 70% dos internamentos hospitalares realizados no pas, tratando-se,
portanto, de uma grande fonte de dados sobre os agravos sade que requerem
internao, contribuindo expressivamente para o conhecimento da situao
de sade e a gesto de servios. Assim, este sistema vem sendo gradativamente
incorporado rotina de anlise e de informaes de alguns rgos de vigilncia
epidemiolgica de estados e municpios.
O instrumento de coleta de dados a autorizao de internao hospitalar
(AIH), atualmente emitida pelos estados a partir de uma srie numrica nica
denida anualmente em portaria ministerial. Este formulrio contm os dados
de atendimento, com o diagnstico de internao e da alta (codicado de acordo
com a CID), informaes relativas s caractersticas da pessoa (idade e sexo),
a tempo e lugar, (procedncia do paciente e das internaes), a procedimentos
realizados, a valores pagos e a dados cadastrais das unidades de sade, entre
outros, que permitem a sua utilizao para ns epidemiolgicos.
275
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
Entre as limitaes desse sistema encontram-se a cobertura dos seus
dados (que depende do grau de utilizao e acesso da populao aos servios da
rede pblica prpria, contratada e conveniada do SUS), a ausncia de crticas
informatizadas, a possibilidade de informaes pouco conveis sobre o endereo
do paciente, distores decorrentes de falsos diagnsticos, menor nmero de
internamentos que o necessrio, em funo das restries de recursos federais.
Tais aspectos podem resultar em vieses nas estimativas.
A base de dados do SIH vem sendo de extrema importncia para o
conhecimento do perl dos atendimentos da rede hospitalar. Adicionalmente, no
pode ser desprezada a extrema agilidade do sistema. Os dados por ele aportados
tornam-se disponveis aos gestores com uma defasagem menor que um ms, sendo
de cerca de dois meses o prazo para a divulgao do consolidado nacional. Para
a vigilncia epidemiolgica, a avaliao e o controle de aes devem estimular a
anlise rotineira desse banco (MINISTRIO DA SADE, 2009).
4.2 O Sistema de Informaes Hospitalares (SIH) e suas potencialidades
no campo da sade do trabalhador
Na rea de sade do trabalhador foram feitos investimentos no aperfeioamento do
sistema de informao do SUS (SIH) para reduzir o alto grau de subnoticao de
doenas e acidentes relacionados ao trabalho. Buscou-se a adequao dos registros
de atendimento de Sade do Trabalhador ao Sistema de Informaes Hospitalares
do SUS, abrangendo a promoo, a proteo, a recuperao e a reabilitao; a
assistncia aos trabalhadores acidentados ou portadores de doenas relacionadas
ao trabalho; a vigilncia dos ambientes, das condies e dos processos de trabalho
e a educao para a sade do trabalhador.
Nesse contexto, tornou-se obrigatrio o preenchimento dos campos CID
principal e CID secundrio nas Autorizaes de Internao Hospitalar (AIH),
nos casos compatveis com causas externas e doenas e acidentes relacionados
ao trabalho. A Portaria GM/MS n
o
1.969, de outubro de 2001, que criou esta
obrigatoriedade, permitiu a melhoria da qualidade das informaes relacionadas
com a sade do trabalhador, necessrias ao desenvolvimento de polticas
assistenciais mais efetivas e consistentes.
A portaria obriga, ainda, a que sejam fornecidas informaes sobre a
atividade econmica do empregador, o tipo de ocupao do empregado, alm
de denir como de responsabilidade do responsvel tcnico da unidade de
atendimento hospitalar que prestou assistncia ao paciente a noticao, por
escrito, Vigilncia Epidemiolgica e Sanitria do estado, do municpio ou do
Distrito Federal e Delegacia Regional do Trabalho, nos casos comprovados ou
suspeitos de agravos sade relacionados ao trabalho, cuja fonte de exposio
represente riscos a outros trabalhadores ou ao meio ambiente.
276
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
A Portaria MS/GM n
o
3.947/1998, que aprova os atributos comuns a serem
adotados, obrigatoriamente, por todos os sistemas e bases de dados do Ministrio da
Sade, dene que, para os sistemas que assim o requererem, so dados complementares
para o reconhecimento do indivduo assistido: a raa/cor; o grau de escolaridade; a
situao no mercado de trabalho (empregado, autnomo, empregador, aposentado,
dona de casa, estudante e vive de renda); a ocupao, codicada de acordo com a CBO,
em nvel de desagregao de quatro dgitos; e ramo de atividade econmica, de acordo
com a CNAE, em nvel de agregao de dois dgitos (BRASIL, 1998).
Deve-se citar que, para ns de vigilncia e avaliao e controle de aes, o
SIH tem uma qualidade, que sua grande agilidade os dados gerados tornam-se
disponveis para os municpios e demais gestores com menos de um ms de
defasagem, o consolidado na internet nunca disponibilizado em menos de dois
meses. Isso facilita bastante o conhecimento do perl dos atendimentos na rede
hospitalar e sua utilizao por todos os interessados (CARVALHO, 1997).
No caso especco dos agravos relacionados ao trabalho, possvel obter
o nmero e os diagnsticos de internaes por acidentes no local de trabalho
e por acidentes de trajeto, desagregados por municpio ou at pela unidade da
internao, por faixa etria, por sexo; e tambm os casos de acidentes internados
que resultaram em bito, alm dos custos das internaes. Um indicador que
pode ser obtido a proporo de internaes por acidentes de trabalho em todas
as internaes por causas externas, que revela a contribuio do trabalho na
determinao desses agravos (CONCEIO e NOBRE, 2002).
4.2.1 Uso das informaes para a sade do trabalhador
Entre outros campos ressaltem-se, como de interesse para a sade do trabalhador,
os campos carter da internao, diagnstico principal, diagnstico secundrio,
alm dos campos ocupao habitual do indivduo internado e a atividade
econmica do empregador.
Em relao ao campo carter da internao, regulamentado pela Portaria MS
n
o
142/97, possvel saber para cada registro, em campo de preenchimento
obrigatrio, se a internao foi por Acidente no local de trabalho, Acidente
no trajeto de ida e volta do trabalho, Urgncia/Emergncia Acidente local de
trabalho, Urgncia/Emergncia Acidente de trabalho de trajeto, possibilitando,
portanto, a anlise destes eventos que geram internaes nos hospitais da rede
prpria ou conveniada ao SUS (BRASIL, 1997).
Alm destas quatro possibilidades relacionadas aos acidentes de trabalho, o
campo tem ainda como possibilidade de respostas vlidas as seguintes categorias de
internao: Eletiva, Urgncia/Emergncia em Hospital de referncia, Urgncia/
Emergncia AIH pr-emitida, AIH de alta complexidade, Urgncia/
277
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
Emergncia AIH ps-emitida, Outros acidentes de trnsito, Outras causas
externas, Urgncia/Emergncia Outros acidentes de trnsito, Urgncia/
Emergncia Outras causas externas, Hospital-Dia Eletivo, Hospital-Dia
Urgncia/Emergncia, Hospital-Dia Alta complexidade, Ignorado. Estas
foram as categorias de resposta varivel, possveis at 2007.
A partir de 2008, pela PT SAS n
o
716, o campo passa a ser obrigatrio apenas
para os casos relacionados a causas externas, sendo possvel os seguintes registros:
Eletivo, Urgncia, Acidente no local trabalho ou a servio da empresa,
Outros tipos de acidente de trnsito e Outros tipos de leses e envenenamentos
por agentes qumico-fsicos.
Para se analisarem as informaes oriundas do campo carter da internao, as
quatro categorias relacionadas a acidentes de trabalho foram agrupadas em apenas
duas: Acidente no local de trabalho e Acidente no trajeto para o trabalho. s
categorias que as subdividiam em urgncia e emergncia foram incorporadas as
duas categorias, pois apresentaram, na srie entre 2000 e 2007, valores residuais,
com mdias em torno de 400 internaes por ano, para as urgncias/emergncias
por acidente no local do trabalho, e 25 internaes anuais para as urgncias/
emergncias por acidente no trajeto de ida ou volta ao local do trabalho.
Ao se analisarem os dados da srie entre 2000 e 2007, a primeira constatao
que h uma forte queda no nmero total de registros relacionados a este carter
da internao, agrupados nas duas categorias denidas para a anlise, a cada ano.
Nos dois primeiros anos da srie, o nmero total de internaes por este motivo se
aproxima de 35.000 casos, caindo para 25.000 em 2002, em seguida para valores
entre 15.000 e 20.000, e encerrando a srie com valores abaixo de 10.000 (grco 16).
Vale ressaltar que a portaria obriga noticao do campo com qualquer dos
itens na portaria institudos. A queda brusca no nmero de internaes por acidente
de trabalho no decorrer dos anos pode ser em parte atribuda subnoticao destes
eventos pelos estabelecimentos hospitalares. O preenchimento do campo carter
da internao com alguma referncia a acidente de trabalho obriga identicao
do CNPJ do empregador, e isso pode ser entendido como algo excessivamente
burocrtico pelos estabelecimentos noticadores.
278
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
GRFICO 16
Nmero de internaes de indivduos entre 14 e 69 anos de idade, cujo carter
do atendimento foi denido como devido a acidentes de trabalho na AIH Brasil
(2000 a 2007)
Fonte: SIH/SUS.
GRFICO 17
Percentual de tipos de internaes de indivduos entre 14 e 69 anos de idade
cujo carter do atendimento foi denido como devido a acidentes de trabalho
na AIH Brasil (2000 a 2007)
Fonte: SIH/SUS.
A segunda constatao (grco 17) que, entre as internaes cujo carter
de atendimento foi denido como devido a acidentes de trabalho, na AIH, entre
2000 e 2007, o peso proporcional dos acidentes de trabalho no local do trabalho,
incluindo os casos de urgncia e emergncia, tiveram representao que oscilou
279
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
entre 50% e 60% ao longo de toda a srie, cando os acidentes de trabalho no
trajeto de ida ou volta para o trabalho incluindo as urgncias e emergncias
com peso proporcional entre 40% e 50%, tambm ao longo de toda a srie. A
queda brusca destes nmeros no decorrer dos anos pode ser atribuda subnoti-
cao por parte dos estabelecimentos hospitalares, visto que o preenchimento deste
campo muito burocrtico e obriga a identicao do CNPJ do empregador.
A terceira constatao em relao s internaes por acidente de traba-
lho, diz respeito ao custo das internaes. Ao longo dos anos de 2000 a 2007,
as internaes motivadas por acidentes de trabalho, custeadas pelo SUS, re-
presentaram em valores pagos, segundo a tabela do SUS, em torno de R$
128 milhes um montante que signica uma mdia de R$ 16 milhes por
ano com estas internaes. No grco 18 pode-se observar que o custo m-
dio das internaes varia conforme o carter da internao, sendo mais baixo
nos acidentes de trajeto e no local do trabalho, sem meno urgncia/emer-
gncia, com valores prximos de R$ 500,00 por internao; mais elevado
nas internaes envolvendo urgncia/emergncia relacionadas a acidentes de
trabalho, com valores que oscilaram entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00 a par-
tir de 2003, nas urgncias envolvendo acidentes no local do trabalho; e entre
R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 nas urgncias envolvendo acidentes de trajeto.
GRFICO 18
Valor mdio, em reais (R$), das internaes de indivduos entre 14 e 69 anos de idade
cujo carter do atendimento foi denido como devido a acidentes de trabalho na AIH,
segundo carter da internao Brasil (2000 a 2007)
Fonte: SIH/SUS.
280
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
4.2.1.1 Causas da internao
Com relao aos campos que informam sobre as causas da internao, desta-
cam-se, alm do carter da internao, o Diagnstico principal e o Diagnstico
secundrio, codicados em CID-10, a partir das anotaes feitas na AIH. Estas
so informaes de grande potencial para aplicao nas anlises de interesse para
a Sade do Trabalhador, podendo ser trabalhadas em suas frequncias relativas,
absolutas, ou segundo o custo das internaes, em reais, em valores totais, ou
valor mdio das internaes. A Portaria GM/MS n
o
737/2001, que aprovou a
Poltica Nacional de Reduo de Morbimortalidade por Acidentes e Violncias,
estabelece mecanismos para incentivar as atividades assistenciais relacionadas
identicao das causas externas. A Portaria GM/MS n
o
1.969/2001 torna
obrigatrio o preenchimento dos campos CID Principal e CID Secundria, nos
registros de atendimento s vitimas de causas externas e de agravos sade do
trabalhador na AIH.
O responsvel tcnico pelo hospital que atende o paciente responsvel pela
emisso da noticao, por escrito, ao responsvel tcnico pela sade do trabalhador
do municpio, o qual, por sua vez, deve comunic-la Vigilncia Epidemiolgica.
Se o CID principal informado na AIH for do Captulo XIX da CID-10
Cdigos de S00 a T98 Leses, Envenenamento e Algumas Outras Consequncias
de Causas Externas, o sistema exige que o CID Secundrio seja informado, e
este obrigatoriamente dever ser do Captulo XX da CID-10, cujos cdigos
esto no intervalo V01 a Y98 Causas Externas de Morbidade e Mortalidade
e tem a funo de informar que circunstncia(s) deu(ram) origem s leses.
Estas circunstncias podem ser agrupadas em acidentes, agresses, autoagresses
e as causas externas de inteno indeterminada.
Ao longo da srie de dados acima mostrada, de 2000 a 2007 observou-se
que, entre os casos de internao cujo carter esteve relacionado a algum acidente
de trabalho, fosse ele de trajeto ou no local do trabalho, em mais de 99,6%
dos casos em todos os anos o diagnstico principal foi categorizado com um
cdigo do Captulo XIX da CID-10 Leses, Envenenamento e Algumas Outras
Consequncias de Causas Externas.
Em todos esses anos, as fraturas responderam por um percentual entre
45% e 51% do total de internaes deste carter; de 5% a 9% das internaes
desta natureza foram por intoxicao por drogas, medicamentos e substncias
biolgicas ou efeitos txicos de substncias de origem predominantemente no-
medicinal; os ferimentos responderam por algo entre 3% e 6%; de 2,5% a 4% das
internaes foram por queimaduras e corroses; e as amputaes e esmagamentos
responderam por 2% a 3% das internaes.
281
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
Ao se analisar o diagnstico secundrio, que informa a circunstncia em
que as leses causadoras da internao foram provocadas, observa-se que quase a
metade dos casos, ao longo dos anos (44% a 53% do total de internaes relacio-
nadas a acidente de trabalho), se deveram a quedas. Mais de dois teros das que-
das foram codicadas como queda do mesmo nvel, escorrego ou tropeo, passo
falso (W01), e quedas sem especicao (W19). A seguir s quedas, a circunstn-
cia mais prevalente compreende os acidentes de transporte, com uma varincia de
25% a 32% do total de internaes por acidente de trabalho. Em seguida, vm
os cdigos que se agrupam como exposio a foras mecnicas inanimadas (W00
a W49), que rene uma diversidade de diagnsticos como impacto causado por
objeto lanado ou projetado em queda; contato com ferramentas manuais sem
motor; contato com maquinaria agrcola ou outras mquinas no especicadas;
exploso ou ruptura de caldeira, ou de cilindro de gs, ou ainda de pneumticos,
ou de tubulao ou mangueira de presso, ou outros aparelhos pressurizados es-
peccos, entre outros, que renem 5,5% dos casos em mdia das internaes
(varincia de 4,2% a 7%) no perodo apresentado, de 2000 a 2007.
4.2.1.2 Campo ocupao habitual e atividade econmica
Os campos ocupao habitual e atividade econmica da AIH apresentam uma
baixssima completitude no banco de dados do SIH, ao longo dos anos estudados,
mesmo restringindo a anlise aos casos de internao por acidente de trabalho.
As duas variveis no esto preenchidas em mais de 5% dos registros ao longo dos
nove anos analisados.
4.3 Consideraes gerais sobre o SIH
Embora os dados providos por alguns sistemas de informao em sade
(principalmente o SIM, o SINASC e o Sinan) venham sendo gradualmente
incorporados por muitos municpios em seu planejamento anual e plurianual
ou em programaes especcas (vigilncia epidemiolgica, imunizao, sade
materno-infantil etc.), o mesmo no tem se dado com o SIH/SUS. Apesar de suas
limitaes, poderia ser mais utilizado nas anlises, pois o nico a oferecer dados
que permitem mostrar quanto est sendo gasto e com o qu. Anlises de tendncia
temporal podem fornecer hipteses sobre como est se gastando e por qu.
O uso do SIH na perspectiva da construo de cenrios epidemiolgicos da
sade do trabalhador, embora incipiente, promissor. A anlise das internaes
pelos agravos relacionados na Portaria GM/MS n
o
777/2004 (BRASIL 2004c)
deve ser feita tambm para a anlise da adequao da rede sentinela e da comple-
mentao entre os dois sistemas.
282
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
5 CONSIDERAES FINAIS SOBRE AS FONTES DE INFORMAO DO SUS
PARA A SADE DO TRABALHADOR
A superao das decincias na implementao das aes de vigilncia inclui o
fomento anlise sistemtica dos dados nos diferentes nveis do SUS que inter-
ferem diretamente na qualidade das bases de dados. De acordo com as normas
operacionais voltadas para o bom funcionamento do sistema de informao, a
anlise da base de dados deve ser efetuada regularmente nas trs esferas de gover-
no. necessria ainda a sensibilizao dos prossionais de sade envolvidos para
o adequado preenchimento dos instrumentos de coleta de dados dos sistemas de
informao em sade utilizados pela rea da sade do trabalhador.
Uma retomada da discusso sobre a necessidade de reinserir, nos formulrios
que deixaram de utiliz-lo, o campo sobre a Atividade Econmica qual a ocupa-
o habitual estava relacionada tambm deve ser considerada como proposta com
potencial de ampliar a utilidade da informao sobre a ocupao habitual, como
uma combinao que aproxima o perl de risco que as mesmas podem conferir
quando ligadas a uma ou outra atividade.
O trabalho sendo ocupao e ramo de atividade, elementos denidores
ou indicadores dele no apenas uma varivel a mais que interfere no processo
sade-doena, mas sim uma das categorias centrais para a anlise desse
processo (NOBRE, 2002).
A varivel ocupao comum aos sistemas SIM, SIH e Sinan e permite uma
aproximao da abordagem do trabalho como componente do perl epidemiolgico.
A ocupao pode ser vista como indicador do perl socioeconmico, na sua relao
direta e indireta com a morbimortalidade (NOBRE, 2002).
A informao sobre ocupao e ramo de atividade econmica pode ser usada
como uma aproximao denio de exposio na determinao da possvel
relao com o trabalho, especialmente quando se avalia um evento sentinela
(RUTSTEIN e COLS, 1983; BALMES et al., 1992, apud NOBRE, 2002).
Os registros de casos de doenas relacionadas ao trabalho, seja por noticao
compulsria ou em servios sentinela, a relao da mortalidade com o trabalho e a
anlise sistemtica dos registros hospitalares constituem um acervo de dados com
grande potencial para a vigilncia em sade do trabalhador, em que pesem alguns
desaos e necessidades de aprimoramentos. Neste sentido, vm sendo realizadas
iniciativas voltadas para a insero sistemtica da sade do trabalhador nas anlises
da situao de sade em mbito nacional (SANTANA e SILVA, 2010).
H um crescente movimento no mbito da RENAST de anlise das
informaes epidemiolgicas disponveis e se evidencia uma ao sistemtica de
formao da rede sentinela de vigilncia em sade do trabalhador (MACHADO
et al., 2010). Em mbito nacional, o Programa Integrado de Sade Ambiental
283
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
e do Trabalhador (PISAT) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) vem
realizando anlises sistemticas das informaes de acidentes de trabalho
do Sinan e propiciando um apoio para a avaliao das aes de vigilncia na
RENAST realizadas em 2008.
A integrao das informaes oriundas de diversos sistemas deve ser
incentivada no sentido de complementar as anlises de situao de sade e de
melhoria dos prprios sistemas. Alguns cruzamentos so de particular interesse
para a vigilncia em sade do trabalhador por exemplo, vericar a proporo
dos casos de acidentes com material biolgico em soropositivos para Aids e de
hepatite em trabalhadores do setor de sade, noticados no Sinan como casos
de hepatite e de Aids. Tais registros podem tambm ser comparados com as
AIHs de internaes por hepatite e Aids. Com similar interesse, as internaes
por intoxicaes exgenas podem ser comparadas com o seu registro no Sinan.
A anlise da mortalidade por cncer registrada no SIM pode ser comparada
com os dados do sistema de registro populacional de cncer, em especial para a
sade do trabalhador, como os mesoteliomas, o cncer pulmonar por asbestos, os
casos de silicose, as leucemias e outros cnceres hematopoiticos em adultos, que
so agravos de interesse para a vigilncia em sade do trabalhador.
REFERNCIAS
ARAJO, C; VIOLA, C; MANOEL, P. Sistema de Informao de Acidentes de
Trabalho: 5 anos de experincia no Paran. In: ENCONTRO NACIONAL DE
SADE DO TRABALHADOR, 1999, Braslia, DF. Anais. Braslia: Ministrio
da Sade, 2001.
BALMES, J. et al. Hospital records as a data source for occupational disease
surveillance: a feasibility study. American Journal of Industrial Medicine, v. 21, n
3, p. 341-351, 1992.
BERALDO, P. S. S. et al. Mortalidade por acidentes do trabalho no Brasil: uma
anlise das declaraes de bito, 1979-1988. Epidemiologia e Servios de Sade, p.
41-54, jan/fev 1993.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Manual de
vigilncia da sade de populaes expostas a agrotxicos. Braslia, 1997.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
1.679/GM, de 19 de setembro de
2002. Dispe sobre a estruturao da rede nacional de ateno integral sade do
trabalhador no SUS e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n.
183, 20 set. 2002. Seo 1, p. 53-56.
284
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Programa Na-
cional de DST e Aids: critrios de denio de casos de Aids em adultos e crianas.
Braslia, 2003.
BRASIL. Ministrio da Sade. Comisso Intergestores Tripartite do SUS. Aprova-
o do Pacto Nacional pela Reduo da Mortalidade Materna e Neonatal, de 18 de
maro de 2004. Braslia, 2004a. Mimeo.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
8 MS/ SVS, de 1
o
de maro de 2004.
Institui o Comit Tcnico Assessor do Sistema de Informaes sobre Mortalidade
CTA-SIM, dene diretrizes e atribuies do Comit e d outras providncias.
Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 78, 26 abr. 2004b. Seo 1, p. 34.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
777/MS/GM, de 28/4/2004. Dispe
sobre os procedimentos tcnicos para a noticao compulsria de agravos sade
dos trabalhadores em rede de servios sentinela especca do Sistema nico de
Sade. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 81, 29 abr. 2004c. Seo 1, p. 37-38.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
2.437/GM, de 7 de dezembro de
2005. Dispe sobre a ampliao e o fortalecimento da Rede Nacional de Ateno
Integral Sade do Trabalhador (RENAST) no Sistema nico de Sade (SUS)
e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 236, 9 dez. 2005a.
Seo 1, p. 78-80.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Fichas de noti-
cao e investigao do Sinan NET 4.0. 2005b. Disponvel em: <http://dtr2004.
saude.gov.br/SINANweb/index.php>. Acesso em: set. 2010.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Instrucionais
das chas de noticao e investigao do Sinan NET 4.0. 2005c. Disponvel em:
<http://dtr2004.saude.gov.br/SINANweb/index.php>. Acesso em: set. 2010.
BRASIL. Ministrio da Sade. Instruo Normativa n
o
2/MS/SVS, de 22 de no-
vembro de 2005. Regulamenta as atividades da vigilncia epidemiolgica com rela-
o coleta, uxo e a periodicidade de envio de dados da noticao compulsria
de doenas por meio do Sistema de Informao de Agravos de Noticao Sinan.
Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 224, 30 nov. 2005d. Seo 1, p. 46-48.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento de
Aes Programticas Estratgicas. Protocolos de Complexidade Diferenciada. Bra-
slia: Ministrio da Sade, 2006a. Disponvel em: <http://portal.saude.gov.br/
portal/saude/area.cfm?id_area=1147>.
BRASIL. Ministrio da Sade. Rede Nacional de Ateno Integral Sade do
Trabalhador: manual de gesto e gerenciamento. 1 ed. So Paulo: Hemeroteca
Sindical Brasileira, 2006b.
285
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
5 MS/SVS, de 21 de fevereiro de
2006. Inclui doenas na relao nacional de noticao compulsria, dene
doenas de noticao imediata, relao dos resultados laboratoriais que devem
ser noticados pelos Laboratrios de Referncia Nacional ou Regional e normas
para noticao de casos. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 38, 22 fev. 2006c.
Seo 1, p. 34.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio
Descentralizao. Coordenao-geral de apoio gesto descentralizada: diretrizes
operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gesto. Braslia, 2006(d).
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Departamento de
Vigilncia Epidemiolgica. Sistema de Informao de Agravos de Noticao Sinan:
normas e rotinas. 2. ed. Braslia, 2007. (Srie A, Normas e Manuais Tcnicos).
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Roteiro para
uso do Sinan Net: anlise da qualidade da base de dados e clculo de indicadores
epidemiolgicos e operacionais: caderno geral. Braslia, 2008. Disponvel em:
<http://dtr2004.saude.gov.br/SINANweb/index.php>. Acesso em: set. 2010.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
1.119 MS/GM, de 5 de junho de
2008. Regulamenta a vigilncia de bitos maternos para todos os eventos, con-
rmados ou no, independentemente do local de ocorrncia, a qual deve ser
realizada por prossionais de sade, designados pelas autoridades de vigilncia em
sade das esferas federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. Dirio Ocial
da Unio, Braslia, 6 jun. 2008b. Seo I, p. 48-50.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
116 MS/SVS, de 11 de fevereiro de 2009.
Regulamenta a coleta de dados, uxo e periodicidade de envio das informaes sobre
bitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informaes em Sade sob gesto da
Secretaria de Vigilncia em Sade. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 30, 12 fev.
2009a. Seo 1, p.37.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
2.728/GM, de 11 de novembro de 2009.
Dispe sobre a Rede Nacional de Ateno Integral Sade do Trabalhador (RE-
NAST) e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 216, 12 nov.
2009b. Seo 1, p. 75-77.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Departamento de
Vigilncia Epidemiolgica. Guia de vigilncia epidemiolgica. 7. ed. Braslia, 2009c.
(Srie A, Normas e Manuais Tcnicos).
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria GM/MS n
o
3.008, de 1
o
de dezembro de
2009. Determina a Programao das Aes de Vigilncia em Sade (PAVS), como
um elenco norteador para o alcance de metas do Pacto e demais prioridades de
286
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
relevncia para o Sistema Nacional de Vigilncia em Sade e Vigilncia Sanitria,
eleitas pelas esferas federal, estadual e municipal. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n.
232, 4 dez. 2009d. Seo 1, p. 59.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
3.252/MS/GM, de 22 de dezembro de
2009. Aprova as diretrizes para execuo e nanciamento das aes de Vigilncia em
Sade pela Unio, estados, Distrito Federal e municpios e d outras providncias.
Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 245, 23 dez. 2009e. Seo 1, p. 65-69.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
72 MS/GM, de 11 de janeiro de 2010.
Regulamenta a Vigilncia de Infantis e Fetais. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 12
jan. 2010a. Seo 1, p. 29-31.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n
o
2.472/MS/GM, de 31 de agosto de 2010.
Dene as terminologias adotadas em legislao nacional, conforme disposto no Reg-
ulamento Sanitrio Internacional 2005 (RSI 2005), a relao de doenas, agravos e
eventos em sade pblica de noticao compulsria em todo o territrio nacional e
estabelece uxo, critrios, responsabilidades e atribuies aos prossionais e servios
de sade. Dirio Ocial da Unio, Braslia, n. 168, 1
o
set. 2010b. Seo 1, p. 50.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Dicionrios de
dados Sinan NET 4.0. 2010b. Disponvel em: <http://dtr2004.saude.gov.br/SIN-
ANweb/index.php>. Acesso em: set. 2010.
BRITO, L. S. F. Sistema de Informaes de Agravos de Noticao Sinan. In:
SEMINRIO DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA, 1993, Braslia. Anais.
Braslia: Ministrio da Sade, 1993. p. 145-146.
CARVALHO, D. Grandes sistemas nacionais de informao em sade: reviso e dis-
cusso da situao atual. Epidemiologia e Servios de Sade, v. 4, ano VI, p. 7-46, 1997.
CONCEIO, P. S. A. et al. Acidentes de trabalho entre os atendimentos por
causas externas num servio de emergncia em Salvador, Bahia, 1999. In: CON-
GRESSO BRASILEIRO DE SADE COLETIVA, 6., 2000, Salvador. Anais. Sal-
vador: Abrasco, 2000.
CONCEIO, P. S. A. et al. Perl dos acidentes e das doenas causadas pelo trab-
alho no Brasil, a partir do estudo da Comunicao de Acidentes do Trabalho (CAT),
no perodo compreendido entre 1996 a 1999. Braslia: Ministrio da Sade, 2001.
(Relatrio do Projeto: Bra/98-006 Promotion of Health). Mimeo.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). Resoluo Conselho Federal
de Medicina n
o
1.779/2005. Regulamenta a responsabilidade mdica no forneci-
mento da Declarao de bito. Revoga a Resoluo CFM n. 1601/2000. Dirio
Ocial da Unio, Braslia, 5 dez. 2005. Seo I, p. 121.
287
As Fontes de Informao do Sistema nico de Sade para a Sade do Trabalhador
COSTA, D. F. et al. Vigilncia em sade do trabalhador. In: ______. Programa de
sade do trabalhador da zona norte: uma alternativa em sade pblica. So Paulo:
Hucitec, 1989.
DOMINGUES, C. M. et al. O processo de implantao do Sistema de Informao de
Agravos de Noticao Sinan. [S.l.], 2003. Mimeo.
DRUMOUND, J. R. et al. Avaliao da qualidade das informaes de mortalidade
por acidentes no especicados e eventos com inteno indeterminada. Revista de
Sade Pblica, v. 33, n. 3, p. 273-80, 1999.
LAGUARDIA, J. et al. Sinan e o desenrolar de um sistema nacional
de informao em sade. Epidemiologia e Servios de Sade, v. 13, n. 3,
p. 135-46, 2004.
LEBRO, M. L; MELLO-JORGE, M. H. P LAURENTI, R. Morbidade hos-
pitalar por leses e envenenamentos. Revista de Sade Pblica, n. 31 (supl.),
p. 26-37, 1997.
LEUCOVITZ, E.; PEREIRA, T. R. C. SIH/SUS (Sistema AIH): uma anlise do
sistema pblico de remunerao de internaes hospitalares no Brasil 1983-1991.
Rio de Janeiro: Instituto de Medicina Social, Universidade Estadual do Rio de Ja-
neiro, 1993. 83p. (Srie Estudos em Sade Coletiva, n. 57).
MACHADO, J. M. H; MINAYO-GOMES, C. Acidentes de trabalho. In:
MINAYO, Ceclia (Org.). Os muitos Brasis. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994.
MACHADO, J. M. H. et al. Avaliao da implantao da Rede Nacional de Aten-
o a Sade do Trabalhador, RENAST, em 2008. Braslia: Ministrio da Sade;
Coordenao Geral de Sade do Trabalhador; DSAST-SVS, 2010. Relatrio.
MARINS, I. C. et al. Sistema de Vigilncia do Centro de Referncia em Sade
do Trabalhador da Freguesia do . In: ENCONTRO NACIONAL DE SADE
DO TRABALHADOR, 16 a 18 de junho de 1999, Braslia, DF. Anais. Braslia:
Ministrio da Sade, 2001. (Organizado por Jandira Maciel. Colaborao de Ja-
cinta F. Senna da Silva et al.)
NOBRE, L. C. C. Estudo referente utilizao da Classicao Brasileira de Ocu-
paes (CBO) e da Classicao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) nos
Sistemas de Informao em Sade. Braslia: Organizao Pan-Americana da Sade;
Representao no Brasil da Organizao Mundial da Sade, 2002.
ORGANIZAO MUNDIAL DA SADE (OMS). Regulamento Sanitrio
Internacional (2005). Disponvel em: <http://www.anvisa.gov.br/paf/legislacao/
regulatec_nv.pdf>. Acesso em: out. 2010.
288
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
ORGANIZAO MUNDIAL DA SADE (OMS). Regras e disposies para a
codicao de mortalidade e morbidade: Classicao Estatstica Internacional de
Doenas e Problemas Relacionados Sade. 8. ed. So Paulo: EDUSP, 2008. v. 2.
ORGANIZAO MUNDIAL DA SADE (OMS). Listas especiais de tabulao
para mortalidade e morbidade: Classicao Estatstica Internacional de Doenas
e Problemas Relacionados Sade. 10. ed. So Paulo: EDUSP, 2007. v. 1.
RAMOS, A. J. et al. Comit de Investigao de bitos e Amputaes Relaciona-
dos ao Trabalho do Estado do Paran: propondo um novo uso da informao. In:
ENCONTRO NACIONAL DE SADE DO TRABALHADOR, 16 a 18 de
junho de 1999, Braslia, DF. Anais. Braslia: Ministrio da Sade, 2001.
RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de Sade. Resoluo n
o
443 de 7 de
janeiro de 1988. Dispe sobre noticao compulsria de acidentes de trabalho
graves e doenas de origem ocupacional. Dirio Ocial do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 8 jan. 1988.
RISI JR., A. B. Informao em sade no Brasil: a contribuio da Ripsa. Cincia
& Sade Coletiva, v. 11, n. 4, 2006.
RUTSTEIN, D. D. et al. Sentinel health events (occupational): a basis for phy-
sician recognition and public health surveillance. American Journal of Public
Health, n. 73, p. 1.054-62, 1983
SANTANA, V; SILVA, J. M. Os 20 anos de sade do trabalhador no Sistema nico
de Sade do Brasil: limites, avanos e desaos: sade Brasil 2008: 20 anos do
Sistema nico de Sade (SUS) no Brasil. Braslia: Ministrio da Sade, 2009
(Srie G, Estatstica e Informao em Sade).
SANTOS, Ubiratan de Paula et al. Sistema de vigilncia epidemiolgica para aci-
dentes do trabalho: experincia na zona norte do municpio de So Paulo (Brasil).
Rev. Sade Pblica [on-line], v. 24, n. 4, p. 286-293, 1990.
WALDMAN, Eliseu Alves; MELLO JORGE, Maria Helena de. Vigilncia para
acidentes e violncia: instrumento para estratgias de preveno e controle. Cinc.
Sade Coletiva [on-line], v. 4, n.1, p. 71-79.
CAPTULO 9
INDICADORES DA SADE E SEGURANA NO TRABALHO:
FONTES DE DADOS E APLICAES
Ana Maria de Resende Chagas
Luciana Mendes Santos Servo
Celso Amorim Salim
1 APRESENTAO
Este captulo tem por objetivo precpuo reunir os indicadores usualmente utilizados
na rea de segurana e sade no trabalho, com suas formas de clculo, locais de
divulgao e responsveis pela sua produo. Alguns indicadores de organismos
internacionais so mostrados, dando-se destaque queles produzidos pela
Organizao Internacional do Trabalho (OIT) e pela Organizao Mundial da Sade
(OMS). So apresentados os indicadores produzidos no Brasil a partir dos registros
administrativos dos Ministrios do Trabalho, da Previdncia Social e da Sade e os
indicadores utilizados no acompanhamento das polticas pblicas. As informaes
dos levantamentos de base populacional, especialmente sobre mercado de trabalho,
contribuem para a construo dos indicadores e so tambm discutidas. Tambm
so sugeridos alguns indicadores teis para evidenciar alguns aspectos especcos do
trabalho, como jornada excessiva, formao educacional e formao prossional,
considerados importantes na anlise dos acidentes de trabalho.
Privilegia-se aqui um recorte analtico mais diretamente remetido produ-
o e disseminao destes indicadores via de regra classicveis como simples,
descritivos e objetivos , quando algumas de suas caractersticas, ou, segundo
Jannuzzi (2001), propriedades desejveis, devem ser consideradas.
Tendo em vista a possibilidade de se buscarem elementos balizadores para
o aprofundamento da questo remetida abrangncia dos indicadores, discute-
se, ao nal, e de forma preliminar, a possibilidade de constru-los de forma mais
desagregada ou por mtodo composto ou sinttico, objetivando uma melhor
avaliao de particularidades da Sade e Segurana no Trabalho (SST). O que,
290
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
no caso brasileiro, seria fundamental para a avaliao das polticas pblicas em
termos de ecincia no uso de recursos, de abrangncia social e de consecuo de
metas na rea.
2 INDICADORES USUAIS EM SST
A principal caracterstica esperada para um indicador retratar, com dedignida-
de, a realidade que tenta representar. Para isto, so propriedades desejveis a rele-
vncia social, a validade, a conabilidade, a cobertura, a especicidade, a factibili-
dade para sua obteno, a inteligibilidade da sua construo, a desagregabilidade,
a historicidade, entre outras (JANNUZZI, 2001, p. 26-31).
Os indicadores de SST devem referir-se s questes relevantes da rea,
sem desconsiderar o contexto em que se inserem, que diz respeito ao mercado
de trabalho e suas caractersticas, como regulao do mercado, proporo do
mercado informal, setores de atividade, importncia atribuda SST e formao
tcnica dos trabalhadores. Alguns aspectos normativos so destacados a seguir.
Na Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1988 (CRFB) esto
includos, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana e o trabalho como
um valor social (Artigo 1
o
). O direito ao trabalho tambm considerado um direito
social (Artigo 6
o
da CRFB), cuja proteo est prevista no Artigo 7
o
. Integram
os direitos e deveres individuais o livre exerccio de qualquer trabalho, ofcio ou
prosso, atendidas as qualicaes prossionais exigidas por lei (Artigo 5
o
).
Os direitos sociais evoluram no Brasil antes do reconhecimento dos direitos
civis e do exerccio consciente dos direitos polticos (CARVALHO, 2002).
Os direitos do trabalho tiveram insero na normatizao brasileira de maneira
gradual, com as primeiras regulaes reunidas na Consolidao das Leis do
Trabalho (CLT), na dcada de 1940,
1
e, na esteira da aquisio destes direitos,
vieram aqueles relativos s questes de segurana e sade no trabalho.
Para a conformao da regulao atual dos direitos sociais, muito contribuiu
o referencial estabelecido pelos organismos internacionais e, em relao ao trabalho,
especialmente a OIT. Os direitos sobre sade e segurana no trabalho esto inseridos
na Constituio Federal Captulo II, Dos Direitos Sociais, Artigo 7
o
, itens XXII
e XXVIII.
2
Mas, considerando-se que alguns dos direitos do trabalho pertencem
1. Uma reviso sobre a evoluo normativa na legislao trabalhista brasileira pode ser consultada no cap. 1, sees
2, 3, 4.3, 4.4 e 4.5 desta publicao.
2. Art. 7
o
, item XXII reduo dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de sade, higiene e segurana;
item XXVIII seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenizao a que este est
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
291
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
tambm aos direitos humanos, torna-se til esclarecer sobre sua incorporao
legislao nacional: a aceitao pelo Brasil das convenes internacionais sobre
direitos humanos corresponde s emendas constitucionais, como determinado pelo
3
o
do Artigo 5
o
,
3
integrando, assim, a norma brasileira.
2.1 Indicadores de organismos multilaterais: Organizao Internacional do
Trabalho (OIT) e Organizao Mundial de Sade (OMS)
2.1.1 Indicadores da Organizao Internacional do Trabalho (OIT)
A OIT foi fundada em 1919 e tornou-se em 1946 a primeira agncia especializada das
Naes Unidas, sendo a nica instncia tripartite deste organismo a reunir represen-
tantes dos governos, dos empregadores e dos trabalhadores. Conta, atualmente, com
183 Estados-membros. Sua nalidade promover os direitos do trabalho, encorajar
o trabalho decente, incrementar a proteo social e estreitar o dilogo nos temas rela-
cionados ao trabalho. Por meio de votao dos pases membros, formula os padres
internacionais do trabalho inscritos nas Convenes e Recomendaes que estabele-
cem os padres mnimos dos direitos do trabalho.
4
Integra a OIT o Centro Internacional de Informao sobre Segurana e Sade
no Trabalho (CIS), que gerencia os temas relativos segurana no trabalho. O CIS
foi fundado em 1959 e hoje congrega Centros Colaboradores de 110 pases que
se renem anualmente e realizam Congressos em Segurana e Sade no Trabalho.
O CIS produz a Enciclopdia de Sade e Segurana Ocupacional, disponvel em
meio eletrnico nos idiomas ingls e francs, atualmente na quinta edio.
5
A OIT produz, tambm, o Anurio de Estatsticas do Trabalho desde 1969,
publicado em trs idiomas (espanhol, ingls e francs), que inclui entre seus ca-
ptulos um relacionado aos acidentes de trabalho. Esta publicao fornece estats-
ticas sobre cada pas
6
, em meio eletrnico, que se referem a pessoas acidentadas;
taxas de acidentes fatais e dias de trabalho perdidos com todas as informaes
segundo a atividade econmica. Algumas destas estatsticas esto no anexo a este
captulo, para pases e anos selecionados.
Os acidentes ou doenas do trabalho foram tema das Conferncias Internacio-
nais dos Estatsticos do Trabalho, no mbito da OIT, nos seguintes anos e eventos:
3. Art 5
o
, 3
o
: Os tratados e convenes internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos, por trs quintos dos votos dos respectivos membros, sero equivalentes s
emendas constitucionais. (Includo pela Emenda Constitucional n
o
45, de 2004).
4. Informaes adicionais sobre a OIT podem ser obtidas no captulo 2, seo 4.1 desta publicao.
5. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. Disponvel em meio eletrnico, nos idiomas ingls e francs,
em: <http://www.ilocis.org/en/default.html> ou <http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/index.htm>.
Acesso em: 15 set. 2010.
6. Disponvel em meio eletrnico, nos idiomas ingls, francs e espanhol, em: <http://laborsta.ilo.org/applv8/data/
SSMe.html>. Acesso em: 15 set. 2010.
292
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
QUADRO 1
Conferncias Internacionais dos Estatsticos do Trabalho (OIT) sobre acidentes de
trabalho e doenas ocupacionais
Conferncia (ICLS) ICLS Edio Ano
Estatsticas de sobre acidentes
industriais Statistics of industrial
accidents
1
o
1923
Estatsticas de sobre acidentes
industriais Statistics of industrial
accidents
6
o
1947
Padronizao das estatsticas de
acidentes industriais e doenas
ocupacionais Standardization of
statistics of industrial injuries and
occupational diseases
7
o
1949
Mtodos estatsticos para as
doenas ocupacionais Methods of
statistics of occupational diseases
8
o
1954
Estatsticas de acidentes de trabalho
Statistics of employment injuries
9
o
10
o
1957
1962
Estatsticas de acidentes de trabalho
Statistics of occupational injuries
13
o
16
o1
1982
1998
Fonte: OIT. Temas considerados pelas Conferncias Internacionais do Trabalho (Subjects considered by International Conferences of
Labour Statisticians). Disponvel em: <http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/techmeet/icls/subjects.htm>.
Nota:
1
Resultou em Resoluo que representa a atual recomendao da OIT sobre o assunto.
A Conveno n
o
155 de 1981, em seu Artigo 11, j armava que, para a
efetiva implementao e reviso de uma poltica nacional sobre segurana e sade
ocupacional e ambientes de trabalho, as autoridades competentes deveriam assegurar,
progressivamente, o cumprimento de algumas funes. Entre essas funes estava
includa a produo anual de estatsticas sobre acidentes e doenas ocupacionais.
Em 1985, a Conferncia Geral da OIT adotou a Conveno n
o
160,
denominada Conveno de Estatsticas do Trabalho.
7
Os Estados-membros que
a raticassem se comprometiam a organizar, produzir e publicar estatsticas do
trabalho que, em seu Artigo 14, incluem estatsticas de leses ocupacionais e,
na medida do possvel, doenas ocupacionais. Estas estatsticas deveriam ter
representatividade para todo o pas e cobrir, onde possvel, todos os ramos de
atividade econmica. Nessa mesma data, elaborou-se a Recomendao n
o
170
(R170) sobre Estatsticas do Trabalho, que, em seus incisos 12 e 13, indicava
7. Essa Conveno rev a Conveno n
o
63, de 1938, que tratava de estatsticas de salrios e horas.
293
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
aos pases a produo de estatsticas sobre doenas do trabalho e acidentes de
trabalho
8
pelo menos uma vez ao ano, segundo a atividade econmica e, se
possvel, de acordo com as caractersticas dos empregados (sexo, grupo etrio,
ocupao ou grupo ocupacional e grau de qualicao), alm de informaes
sobre os estabelecimentos.
Os indicadores da OIT para as estatsticas de acidentes de trabalho
foram determinados por Resoluo
9
da 16
a
Conferncia Internacional dos
Estatsticos do Trabalho (CIET), realizada em Genebra e organizada pelo
Conselho de Administrao da OIT em outubro de 1998, quando
participaram delegados de 90 Estados-membros. A 16
a
Conferncia atualizou
a resoluo anterior sobre acidentes de trabalho (Resoluo III) formulada
pela 13
a
Conferncia Internacional dos Estatsticos do Trabalho, de 1982, que
continha as seguintes denies:
As leses prossionais compreendem as mortes, as leses corporais e as
doenas provocadas por acidentes do trabalho;
Os acidentes do trabalho so acidentes ocorridos no local do trabalho
ou no trajeto e que compreendem a morte, a leso corporal ou a doena
prossional. (Traduo nossa)
A Resoluo III da 16
a
Conferncia rev as diretrizes internacionais anteriores
e prope um quadro amplo, no qual os conceitos so identicados e descritos de
forma inter-relacionada. Tendo em vista a produo de estatsticas de acidentes de
trabalho, so utilizados os termos e denies seguintes:
a) acidente de trabalho: todo acontecimento inesperado e imprevisto,
incluindo os atos de violncia, derivado do trabalho ou com ele
relacionado, do qual resulta uma leso corporal, uma doena ou a
morte, de um ou vrios trabalhadores; so considerados acidentes de
trabalho os acidentes de viagem, de transporte ou de circulao, nos
quais os trabalhadores cam lesionados e que ocorrem por causa, ou no
decurso do trabalho, isto , quando exercem uma atividade econmica,
ou esto a trabalhar, ou realizam tarefas para o empregador;
b) acidente de trajeto: acidente que ocorre no trajeto habitualmente efetuado
pelo trabalhador, qualquer que seja a direo na qual se desloca, entre o
seu local de trabalho ou de formao ligada sua atividade prossional e:
8. Ao longo deste texto, utilizou-se a traduo acidentes de trabalho para o termo em ingls Occupacional injuries.
Ainda que a traduo da OIT indique o termo leses prossionais, quando se analisa o caso brasileiro, observa-se que
a referncia na verdade aos acidentes de trabalho, e que a principal base utilizada no clculo dos indicadores a
Comunicao de Acidentes do Trabalho (CAT).
9. Resoluo III: Resoluo sobre as estatsticas das leses prossionais devidas a acidentes de trabalho.
294
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
i. a sua residncia principal ou secundria;
ii. o local onde toma normalmente as suas refeies;
iii. o local onde recebe normalmente o seu salrio; ou
iv. do qual resulta a morte ou leses corporais.
c) leso prossional: leso corporal, doena ou morte provocadas por
um acidente de trabalho; a leso prossional , portanto, distinta da
doena prossional, que uma doena contrada na sequncia de uma
exposio, durante um perodo de tempo, a fatores de risco derivados
da atividade prossional;
d) caso de leso prossional: caso de um nico trabalhador vtima de uma
leso prossional, resultante de um nico acidente de trabalho; e
e) incapacidade para trabalhar: incapacidade da pessoa lesionada, devido
leso prossional de que foi vtima, para executar as tarefas normais
correspondentes no emprego ou posto de trabalho que ocupava, no
momento em que se produziu o acidente de trabalho (traduo nossa).
Nessa Resoluo, o conceito acidentes de trabalho no inclui as doenas
prossionais, mas h a recomendao de referncia s doenas prossionais e aos
acidentes de trabalho no programa de estatsticas sobre a sade e segurana no trabalho.
Na preparao da Dcima Sexta Conferncia houve, em 1994, uma Reu-
nio de Peritos convocada pelo Conselho de Administrao da OIT, para estabe-
lecimento de um cdigo de recomendaes prticas da OIT sobre o registro e a
declarao de acidentes de trabalho e doenas prossionais.
10
Este cdigo fornece
os fundamentos de um sistema de noticao e registro de acidentes de trabalho
e de doenas prossionais ao nvel do estabelecimento e para informao das
autoridades centrais.
Na elaborao de indicadores, tem-se em vista a importncia de se
estabelecerem comparaes das estatsticas dos pases ou regies entre perodos
e atividades econmicas, considerando-se as diferenas do volume de emprego,
as alteraes no nmero de trabalhadores includos no grupo de referncia, assim
como as horas efetuadas por esses trabalhadores.
Para cada uma das taxas a seguir apresentadas, o numerador e o denominador
devem referir-se ao mesmo grupo. Por exemplo, se os trabalhadores por conta
prpria so includos nas estatsticas de acidentes de trabalho, eles devem tambm ser
includos no denominador. Todas as medidas podem ser estabelecidas por atividade
econmica, prosso, grupo de idade etc., ou por combinao destas variveis.
10. Registro y noticacin de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Repertorio de recomendaciones
prcticas de la OIT. Ginebra, Ocina Internacional del Trabajo, 1996.
295
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
Taxa de frequncia de novos casos de acidentes de trabalho
Este clculo pode ser efetuado, separadamente, para as leses mortais e para as
leses no mortais. O denominador deve referir-se ao nmero de horas trabalhadas,
mas, se no for possvel, esta taxa pode ser calculada com base na durao normal de
trabalho, considerando-se o direito a perodos de ausncia remunerados tais como
as frias pagas, as ausncias por doena remuneradas e os dias feriados.
Taxa de incidncia dos novos casos de leso prossional
O nmero de trabalhadores do grupo de referncia deve ser a mdia dos
trabalhadores no perodo de referncia. Para calcular a mdia, preciso ter em
conta a durao normal do trabalho destas pessoas. O nmero de trabalhadores
em tempo parcial deve ser convertido em nmero de trabalhadores equivalente a
tempo completo.
Taxa de gravidade de novos casos de acidentes de trabalho
Esta taxa deve ser calculada somente para as incapacidades temporrias
para o trabalho. O tempo de trabalho efetuado pelos trabalhadores do grupo de
referncia deve, de preferncia, ser expresso em horas trabalhadas.
Nmero de dias perdidos por novos casos de acidentes de trabalho
Mediana ou mdia do nmero de dias perdidos por cada novo caso de
acidente de trabalho durante o perodo de referncia.
296
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
2.1.2 Indicadores da Organizao Mundial da Sade (OMS)
A OMS tem produzido vrios relatrios e indicadores relacionados sade.
As duas principais formas de divulgao destas informaes tm sido os Relatrios
Mundiais de Sade (WHR)
11
e a sua base de estatsticas, antes denominada de
Sistema de Informaes Estatsticas da OMS (WHOSIS) e que, recentemente,
passou a incorporar o Observatrio Global em Sade (GHO).
12
Os WHR so produzidos anualmente pela OMS, desde 1995, e a cada
ano um tema de relevncia para a sade escolhido para ser trabalhado com
maior profundidade. Estes relatrios apresentam, tambm, um anexo estatstico
contendo uma srie de indicadores de sade. Ainda que, especicamente, em
nenhum dos WHRs o foco tenha sido a sade ocupacional, pode-se dizer
que todos eles trazem informaes importantes para contextualizar a sade
ocupacional em relao s questes prioritrias da sade. Nos relatrios de 2001,
sobre sade mental e de 2004, sobre HIV/Aids, so mencionadas suas relaes
com o trabalho. Em 2002, o relatrio inclui a ocupao como um dos 24 fatores
de risco mais importantes para a sade. Com relao aos riscos ocupacionais,
argumenta que, como a maioria dos adultos e algumas crianas passam boa parte
de seu dia no trabalho, eles enfrentam uma srie de perigos que incluem, entres
outros, agentes qumicos, condies econmicas adversas, agentes biolgicos,
uma variedade de fatores psicolgicos. Estes riscos podem produzir resultados
indesejveis sobre a sade, incluindo acidentes, cnceres, perdas auditivas,
distrbios neurolgicos, problemas musculoesquelticos, distrbios psicolgicos,
doenas cardiovasculares, entre outras. O relatrio analisa alguns riscos para os
quais foi possvel obter informaes para vrios pases e argumenta que os riscos
ocupacionais responderam por 1,5% da carga global de doena em termos de
anos de vida perdidos por incapacidade (Disability Adjusted Life Years DALYs).
Chama ateno para o fato de que a maioria dos riscos ocupacionais passvel
de preveno. Apresenta, tambm, a frao atribuvel para HIV e hepatites B e
C para trabalhadores da sade de 20 a 65 anos, devido a acidentes com materiais
perfurocortantes contaminados. Inclui vrias estimativas de risco, entre elas a
estatstica que mostra que 20 a 30% da populao em idade ativa masculina de
15 a 64 anos estaria exposta a carcingenos pulmonares durante sua vida laboral.
Esses elementos incluiriam asbestos, arsnico, cdmio, cromo, nquel, slica.
As exposies responderiam por 10% dos casos de cncer de pulmo no mundo
(OMS, 2002, p. 73-75).
13
11. World Health Report (WHR).
12. WHO Statistical Information System (WHOSIS) e Global Health Observatory (GHO).
13. Essas discusses sobre os riscos a sade foram realizadas em mais detalhes em outros relatrios setoriais da
OMS, incluindo o relatrio de 2009, Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major
risks. Assim como o WHR de 2002, esse relatrio traz uma discusso sobre o trabalho e os fatores de risco de sade
a ele relacionados.
297
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
QUADRO 2
Relatrios Mundiais da Sade do Sculo XXI que fazem alguma meno questo
do trabalho ou de riscos a sade relacionados ao trabalho
Titulo Ano Linha temtica
Sade mental: nova
concepo, nova
esperana
2001
Argumenta que a sade mental foi negligenciada por muito tempo e que ela
crucial para o bem-estar dos indivduos, da sociedade e dos pases. Argumenta
em favor de polticas contra o estigma e a discriminao e a efetiva preveno e
tratamento.
Reduzindo riscos,
promovendo uma
vida saudvel
2002
Descreve o montante de doenas, incapacidades e mortes no mundo que pode ser
atribudo a um conjunto dos mais importantes riscos sade do homem. Mostra
quanto a carga de doenas poderia ser reduzida nos prximos 20 anos se alguns
destes riscos fossem reduzidos. Trata especicamente da ocupao como um dos
24 riscos para a sade analisados nesse relatrio.
Mudando a histria 2004
um chamado para uma estratgia abrangente para o HIV/Aids que vincule
preveno, tratamento, ateno e cuidados de longo prazo. Argumenta que se est
vivendo um momento crucial relacionado a esta doena e que h uma oportuni-
dade sem precedentes para alterar o curso da histria e fortalecer os sistemas de
sade em favor de toda a populao.
Trabalhando juntos
pela sade
2006
Arma que se vive uma crise global em relao fora de trabalho da sade, com
uma lacuna de 4,3 milhes de mdicos, parteiras, enfermeiras e pessoas de apoio
ao redor do mundo. Discute propostas de como resolver esse problema, que mais
srio em pases subdesenvolvidos.
Fonte: OMS. Relatrios Mundiais de Sade (World Health Reports). Disponvel em: <http://www.who.int/whr/previous/en/
index.html>. Acesso em: 22 nov. 2010.
Para alm dos WHR, a OMS tem produzido relatrios especcos que
tambm tm uma relao direta ou indireta com a sade ocupacional. Apenas
como exemplo, cabe citar o Relatrio Mundial sobre Violncia e Sade, de 2002,
que trata de vrias formas de violncia e seus impactos sobre a sade, destacando
entre elas as diversas formas de violncia no local de trabalho.
No caso de todos esses relatrios, pode-se dizer que, alm de indicadores
quantitativos, eles trazem uma srie de informaes e indicadores qualitativos que
podem ajudar nas anlises sobre SST.
Quanto ao GHO, o portal da OMS que permite o acesso a um conjunto
de informaes em sade para a construo de indicadores e dados primrios
para monitoramento da situao de sade ao redor do mundo. H vrios in-
dicadores demogrcos e de sade que podem ajudar na anlise das condies
gerais para a populao. Contudo, indicadores diretamente relacionados sade
ocupacional ainda no esto incorporados nessa base. Mas a expectativa de que
isso ocorra posteriormente.
2.2 Indicadores nacionais
2.2.1 Indicadores do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE)
O Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE) produz dois registros administra-
tivos que so utilizados primeiramente para dar respostas s suas incumbncias
298
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
institucionais, mas que so essenciais para as estatsticas do mercado de trabalho:
a Relao Anual de Informaes Sociais (Rais) e o Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (CAGED). Alm deles, o ministrio produz tambm o Sistema
Federal de Inspeo do Trabalho (SFIT), gerido pela Secretaria de Inspeo do
Trabalho (SIT), que destinado ao registro das atividades dos auditores-scais
do trabalho (AFT), por meio de insero e armazenamento dos dados relativos
aos resultados das aes scais quanto aos atributos de Legislao e Segurana e
Sade,
14
sendo utilizado para seguimento da situao das empresas scalizadas
e para aferio da produo dos auditores-scais do trabalho.
As estatsticas oriundas da Rais e do CAGED so divulgadas por meio das
publicaes de anurios, no stio eletrnico do Ministrio, e por meio do Programa
de Disseminao das Estatsticas do Trabalho (PDET) no portal do Observatrio
do Mercado de Trabalho.
15
O PDET tambm contm informaes provenientes
de outras fontes: IpeaData, com base de dados macroeconmicos e regionais; Sis-
tema IBGE de Recuperao Automtica (Sidra), com banco de dados agregados
do IBGE e tabelas com dados agregados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME)
e da Pesquisa Nacional de Amostra de Domiclios (PNAD); e Banco de Dados de
Mercado de Trabalho do Dieese, que dispe de indicadores obtidos da Pesquisa
de Emprego e Desemprego (PED) das Regies Metropolitanas de Belo Horizonte,
Porto Alegre, Recife, Salvador, So Paulo e do Distrito Federal.
Os anurios produzidos pelo MTE so: Anurio de Qualicao Social e Pro-
ssional MTE/Dieese; Anurio do Sistema Pblico de Emprego, Trabalho e Renda;
e Anurio dos Trabalhadores.
Informaes importantes para a rea de SST esto disponveis no stio do
Ministrio e so oriundas de controles internos, como o quantitativo e a distri-
buio regional dos AFT (que tem por fonte o SFIT/SIT/MTE) e o quantitativo
de AFT aposentados por UF (cuja fonte so informaes disponibilizadas pela
Coordenao Geral de Recursos Humanos do MTE).
Segundo Srgio Paixo,
16
a OIT prope para pases em desenvolvimento
uma mdia de um AFT para cada 25.000 pessoas na populao economicamente
ativa (PEA). No Brasil, o quantitativo dos AFT em anos recentes decresceu, con-
forme a tabela 1.
14. Conforme o Sistema Federal de Inspeo do Trabalho: manual do usurio Braslia: MTE, CGI, SIT, 2008.
15. Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/observatorio/estatisticas_mundo_trab.asp>. Acesso em: 21 set. 2010.
16. Coordenador de Assuntos Internacionais da Assessoria Internacional do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE),
em palestra proferida no Seminrio Internacional Boas Prticas na Inspeo do Trabalho, ocorrido em Braslia de 6 a
8 de dezembro de 2010.
299
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
TABELA 1
Quantitativo de auditores scais do trabalho
Perodo AFT
1
PEA
2
(em mil pessoas)
% PEA/AFT
AFTs
necessrios
dez. /2007 3.172 97.872 30.855 3.915
dez. /2008 3.112 99.500 31.973 3.980
dez. /2009 2.949 101.110 34.286 4.044
Fonte: SFIT/SIT/MTE.
Nota:
1
Dados cedidos gentilmente por Leonardo Soares de Oliveira (Diretor do Departamento de Fiscalizao do Trabalho/SIT/MTE.
2
Dados da PEA obtidos da PNAD, com data de referncia no ms de setembro.
Das bases de dados do MTE, o SFIT o que mais se aproxima das
preocupaes relacionadas SST. Entre suas variveis h a modalidade de
scalizao, sendo uma de suas categorias o acidente de trabalho. As variveis
para o trabalhador acidentado contemplam aspectos inexistentes em outras bases
de dados, como tempo na funo e hora aps o incio da jornada, muito teis
para estudos sobre fatores intevenientes na ocorrncia dos acidentes de trabalho,
alm da Classicao Brasileira de Ocupaes (CBO), que comum a outras
bases e imprescindvel numa anlise sobre SST. Sobre o acidente de trabalho, o
diferencial do SFIT a informao sobre nmero de acidentados no trabalho,
tipo e descrio do acidente e cdigo do fator causal, que permitem, entre outras
coisas, ter uma ideia da gravidade do acidente, tendo em vista o nmero de
trabalhadores envolvidos. Estas informaes podem ser relevantes para a tomada
de deciso para a preveno.
A partir das variveis constantes do SFIT, so produzidas estatsticas que so
divulgadas no portal do Ministrio, que se referem a:
total de AFTs;
empresas scalizadas;
trabalhadores alcanados;
trabalhadores registrados sob ao scal:
trabalhadores com decincia contratados sob ao scal;
trabalhadores aprendizes contratados sob ao scal.
crianas/adolescentes encontrados em situao de trabalho e afastados
pela scalizao;
empresas autuadas;
autos de infrao lavrados;
recolhimento do FGTS:
300
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
noticaes lavradas;
valor noticado (R$ mil); e
valor recolhido pela ao scal (R$ mil).
taxa de regularizao em estabelecimentos scalizados (TREF); e
resultados das operaes de scalizao mvel para erradicao do
trabalho escravo:
operaes;
fazendas scalizadas;
trabalhadores libertados; e
pagamentos de indenizaes aos trabalhadores.
O Ministrio tambm produz relatrios especcos sobre scalizao
para erradicao do trabalho infantil e sobre erradicao do trabalho escravo.
O Sistema de Informaes sobre o Trabalho Infantil (SITI) tem dados, a partir de
2008, disponveis em meio eletrnico.
17
Tambm so divulgados pelo portal do Ministrio os dados da inspeo em
segurana e sade no trabalho por setor econmico, informando sobre:
aes scais;
trabalhadores alcanados;
noticaes (com concesso pelo auditor-scal do trabalho, de prazo
para regularizao);
autuaes (que representam o incio do processo administrativo que
pode resultar na aplicao de multa);
embargos/interdies; e
acidentes analisados.
Para a scalizao do trabalho, a taxa utilizada a taxa de regularizao
em estabelecimentos scalizados (TREF) que mede a eccia da ao scal e
que calculada usualmente para cada estado. Para o Brasil, a TREF calculada
diretamente, sem utilizar a soma ou mdia dos estados. No perodo analisado a
TREF se elevou at 2005, quando iniciou uma tendncia de queda, conforme
tabela a seguir.
17. Ver em: <http://siti.mte.gov.br>.
301
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
Taxa de regularizao em estabelecimentos scalizados (TREF)
TABELA 2
Taxa de regularizao em estabelecimentos scalizados (1996-2010)
Anos TREF Anos TREF Anos TREF
1996 64,85 2001 82,31 2006 86,46
1997 66,26 2002 84,89 2007 86,03
1998 69,10 2003 83,62 2008 83,53
1999 74,45 2004 87,13 2009 81,42
2000 80,94 2005 88,77 2010 78,27
1
Fonte: Sistema Federal de Inspeo do Trabalho SFIT/SIT/MTE. Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/sca_trab/resulta-
dos_scalizacao_2003_2010.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2011.
Nota:
1
A TREF de 2010 corresponde ao perodo janeiro-novembro.
2.2.2 Indicadores do Ministrio da Previdncia Social (MPS)
As estatsticas da Previdncia Social so divulgadas por meio do Anurio Estats-
tico da Previdncia Social (AEPS), do Boletim Estatstico da Previdncia Social
(BEPS), do Boletim Estatstico de Acidentes do Trabalho (BEAT) e do Anurio
Estatstico e Acidentes do Trabalho (AEAT) e podem ser acessadas pela internet.
18
As estatsticas informadas no AEPS referem-se aos benefcios previdencirios,
acidentrios e assistenciais. Os benefcios acidentrios classicam-se em:
aposentadoria por invalidez espcie 92;
penso por morte espcie 93;
auxlio-doena espcie 91;
auxlio-acidente espcie 94; e
auxlio suplementar espcie 95 (cessa com a aposentadoria e foi extinto
em 1991).
So tambm divulgadas informaes sobre valor mdio dos benefcios pagos
pelo INSS, quantidade e valor de exames mdico-periciais (cuja fonte o Sntese
divulgado pelo DATAPREV), quantidade de acidentes do trabalho registrados por
motivo (cuja fonte a Comunicao de Acidentes do Trabalho CAT) publicados
18. Disponvel em: <http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=423>.
302
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
no BEAT, e quantidade de acidentes do trabalho liquidados por consequncia
(assistncia mdica, incapacidade temporria, incapacidade permanente ou bito).
As estatsticas de reabilitao prossional produzidas pela Diviso de
Reabilitao Prossional do INSS informam sobre clientes registrados; concluso
da avaliao inicial; retorno ao trabalho; clientes inelegveis; clientes elegveis;
clientes reabilitados; quantidade e valor mdio mensal.
O AEAT produzido em conjunto pelos Ministrios da Previdncia Social e
do Trabalho e Emprego, e sua srie de publicaes se iniciou em 1999. O anurio
tem como fonte as informaes extradas da Comunicao de Acidente do
Trabalho (CAT), do Sistema nico de Benefcios (SUB) e do Cadastro Nacional
de Informaes Sociais (CNIS). Contm denio dos conceitos e das categorias
utilizados e apresenta estatsticas regionalizadas relativas aos acidentes de trabalho,
alm de estatsticas municipais por situao do registro (com ou sem CAT), motivo
(tpico, trajeto ou doena do trabalho) e bito. As demais estatsticas referem-se
ao quantitativo de acidentes do trabalho, segundo os seguintes critrios:
acidentes de trabalho com ou sem CAT registrada;
motivo (tpico, trajeto ou doena do trabalho);
CNAE (CNAE 2.0 a partir de 2007);
grupos de idade e sexo;
meses do ano;
acidentes de trabalho liquidados por consequncia (assistncia mdica,
menos de 15 dias, mais de 15 dias, incapacidade permanente, bito); e
CID-10 (com ou sem CAT registrada, a partir de 2007).
A Seo II do AEAT sobre indicadores de acidentes do trabalho traz um texto
explicativo dos indicadores utilizados, sumarizado a seguir. Os indicadores so
apresentados para cada ano, para o Brasil e cada UF, segundo a classicao CNAE.
As taxas so a razo entre o evento medido em cada ano e a populao exposta
ao risco de sofrer algum tipo de acidente, ou seja, o quantitativo mdio de vnculos
de trabalho do mesmo grupo de referncia e do mesmo perodo de tempo.
Taxa de incidncia de acidentes do trabalho
So considerados no denominador apenas os trabalhadores com cobertura
contra os riscos decorrentes de acidentes do trabalho. No esto cobertos os
303
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
contribuintes individuais (trabalhadores autnomos e empregados domsticos,
entre outros), os militares e os servidores pblicos estatutrios.
Como um trabalhador pode ter mais de um vnculo de trabalho e a
CNAE um atributo do vnculo, a associao de CNAE a um trabalhador
com mais de um vnculo constitui um fator de impreciso indesejado para o
clculo dos indicadores.
Alm da taxa de incidncia para o total de acidentes do trabalho, so
calculadas tambm taxas de incidncia especcas para doenas do trabalho,
acidentes tpicos e incapacidade temporria, que sero vistas a seguir:
Taxa de incidncia especca para doenas do trabalho:
O numerador desta taxa de incidncia considera somente os acidentes do
trabalho registrados cujo motivo seja doena prossional ou do trabalho, peculiar
a determinada atividade e constante da relao existente no Regulamento de
Benefcios da Previdncia Social.
Taxa de incidncia especca para acidentes do trabalho tpicos:
Considera-se acidente do trabalho tpico o decorrente das caractersticas da
atividade prossional desempenhada (MPS, 2003, p. 11).
Taxa de incidncia especca para incapacidade temporria
Cabe empresa o custo relativo ao pagamento do salrio durante os
primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade. Aps este perodo,
o segurado deve ser encaminhado percia mdica da Previdncia Social para
requerimento de um auxlio-doena acidentrio espcie 91.
304
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Taxa de mortalidade por acidente de trabalho
Taxa de letalidade por acidente de trabalho
Mede a gravidade do acidente. Corresponde ao maior ou menor poder que
tem o acidente de ter como consequncia a morte do trabalhador acidentado.
Taxa de acidentalidade proporcional especca para a faixa etria de 16 a 34 anos
2.2.3 Os indicadores SAT (GIILDRAT), RAT e FAP
A Previdncia Social recebe das empresas as contribuies relacionadas aos riscos
ambientais do trabalho denominadas Seguro de Acidente do Trabalho (SAT)
e Risco Ambiental do Trabalho (RAT). Em 2009 houve a transformao da
alquota SAT em Grau de Incidncia de Incapacidade Laborativa Decorrente de
Riscos Ambientais do Trabalho (GIILDRAT). Por ser o SAT mais conhecido,
sua denominao ser mantida. O SAT custeia a aposentadoria especial e todos
os benefcios concedidos em razo do grau de incidncia da incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Refere-se aos riscos
leve, mdio ou grave, que correspondem s alquotas de 1%, 2% ou 3% sobre
toda a folha de pagamento, segundo a classicao de atividade preponderante
da empresa (Anexo V do Regulamento da Previdncia Social). Na denio da
atividade da empresa, considera-se preponderante a atividade em que h mais
empregados atuando na atividade-m, independente de qual seja a atividade que
tenha maior faturamento.
O RAT se refere alquota adicional do SAT e custeia a aposentadoria especial
(em conjunto com parte do SAT), sendo devido apenas sobre a remunerao do
trabalhador sujeito s condies especiais, isto , aquele que efetivamente est
exposto a agentes nocivos. O RAT corresponde s alquotas de 12%, 9% ou 6%,
305
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
conforme a atividade realizada que permita a aposentadoria especial aos 15, 20 ou
25 anos, respectivamente.
19
Alteraes no clculo do Fator Acidentrio de Preveno (FAP) e nos percen-
tuais do RAT foram introduzidas pelo Decreto n
o
6.957, de 9 de setembro de 2009,
que modicou o Regulamento da Previdncia Social Decreto n
o
3.048/1999.
O FAP consiste em um multiplicador que varia entre 0,5 e 2,00 e resulta da apli-
cao dos ndices de frequncia, gravidade e custo dos benefcios acidentrios
ocorridos na empresa sobre os percentuais de contribuio de 1%, 2% e 3%.
Desta forma, pode reduzir a contribuio em at 50% ou aument-la em at 100%.
As ocorrncias utilizadas para clculo do FAP e apuradas por empresa so:
auxlio doena previdencirio (B31), auxlio doena acidentrio (B91), aposenta-
doria por invalidez previdenciria (B32), aposentadoria por invalidez acidentria
(B92), penso por morte acidentria (B93)
e auxlio-acidente por acidente de traba-
lho (B94) (OLIVEIRA, 2010, p. 83; BRASIL, 1999; 2007; 2009). Outros dados
inuem no clculo de desempenho da empresa, tais como: massa salarial, nmero
de empregados, dias de afastamento e valor do RAT potencialmente arrecadado.
Os ndices de frequncia, gravidade e custo so calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdncia Social e tem
redao dada pelo Decreto n
o
6.957/2009. Diferem da metodologia estabelecida
pela OIT, mencionada na seo 2.1.1.
ndice de frequncia
Indica o registro dos acidentes e doenas do trabalho informados ao INSS
por meio da Comunicao de Acidente do Trabalho (CAT) e dos benefcios
19. Exemplos da aplicao das alquotas so disponveis em: <http://www.forumcontabeis.com.br/ler_topico.
asp?id=2474>.
Exemplo:
Alquota RAT Empresa: 6% (Empregado que ir se aposentar com 25 anos de servio)
Grau de risco SAT RAT Total
1 1% 6% 7%
2 2% 6% 8%
3 3% 6% 9%
Exemplo:
Alquota RAT Empresa: 9% (Empregado que ir se aposentar com 20 anos de servio)
Grau de risco SAT RAT Total
1 1% 9% 10%
2 2% 9% 11%
3 3% 9% 12%
Exemplo:
Alquota RAT Empresa: 12% (Empregado que ir se aposentar com 15 anos de servio)
Grau de risco SAT RAT Total
1 1% 12% 13%
2 2% 12% 14%
3 3% 12% 15%
306
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
acidentrios estabelecidos por nexos tcnicos da percia mdica do INSS, ainda
que sem CAT a eles vinculados.
Coeciente de frequncia
Os dados referentes ao auxlio-acidente (B94) no compem o coeciente de
frequncia, pois, necessariamente, este benefcio precedido de um B31 ou B91,
que j esto computados. Todavia integram os coecientes de gravidade e custo.
ndice de gravidade
Considera-se o caso de afastamento com mais de 15 dias. Refere-se aos casos de
auxlio-doena, auxlio-acidente, aposentadoria por invalidez e penso por morte,
todos de natureza acidentria, aos quais so atribudos pesos diferentes em razo
da gravidade da ocorrncia, como segue:
a) penso por morte: peso de cinquenta por cento;
b) aposentadoria por invalidez: peso de trinta por cento; e
c) auxlio-doena e auxlio-acidente: peso de dez por cento para cada um.
Coeciente de gravidade
A quantidade de dias potencialmente trabalhados obtida a partir do
produto do nmero mdio de vnculos empregatcios pela constante 365,25.
ndice de custo dos benefcios acidentrios
Os valores dos benefcios de natureza acidentria pagos ou devidos pela Previdncia
Social, apurados da seguinte forma:
a) nos casos de auxlio-doena (B91), com base no tempo de afastamento
do trabalhador, em meses e frao de ms; e
307
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou total, mediante pro-
jeo da expectativa de sobrevida do segurado, na data de incio do
benefcio, a partir da tbua de mortalidade construda pela Funda-
o Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica (IBGE) para toda
a populao brasileira, considerando-se a mdia nacional nica para
ambos os sexos.
Coeciente de custo
Sendo que o valor dos benefcios pagos pelo INSS corresponde soma, em reais,
das rendas mensais dos benefcios e toma em considerao a durao do benecio.
O valor potencialmente arrecadado pelo INSS corresponde soma, em reais, dos
produtos mensais da respectiva massa salarial pela alquota de SAT correlata e sofre
padronizao para obteno da comparabilidade entre empresas e CNAE.
2.2.3 Indicadores da Sade
Alm das informaes e dos indicadores apresentados no captulo 8, o Ministrio
da Sade, em conjunto com outras instituies, tem discutido a construo de
indicadores para a SST. Atualmente, os indicadores utilizados para acompanha-
mento sistemtico da sade do trabalhador podem ser encontrados nas produes
da Rede Interagencial de Informaes para a Sade (Ripsa).
A Ripsa foi formalizada em 1996 por Portaria do Ministrio da Sade e
mediante acordo de cooperao com a representao da OPAS/OMS no Brasil.
A Ripsa baseia-se em estratgia de articulao interinstitucional, da qual
participam vrias instituies.
20
Os produtos da Rede baseiam-se nos dados e informaes gerados em parce-
ria e suas estatsticas so encontradas em seu stio eletrnico. Alguns indicadores
tm srie histrica, com incio da srie a partir da dcada de 1990. As estatsti-
cas se referem aos aspectos demogrcos, socioeconmicos, de mortalidade, de
morbidade e fatores de risco, de recursos e de cobertura. Entre as publicaes
da Ripsa esto os Indicadores e Dados Bsicos para a Sade no Brasil (IDB).
Em sua verso mais recente, de 2009, constam os seguintes indicadores relaciona-
dos sade e segurana no trabalho:
20. Na Ripsa esto representados alguns ministrios, agncias de governo, organizaes internacionais, instituies de
pesquisa governamentais, instituies acadmicas, alm de associaes de pesquisadores. Para maiores informaes
sobre sua composio, ver <http://www.ripsa.org.br/php/index.php>.
308
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Na seo B, sobre Indicadores socioeconmicos, a taxa de trabalho in-
fantil (B.7).
Na seo C, sobre Indicadores de mortalidade, a taxa de mortalidade
especca por acidente de trabalho (C.11).
Na seo D, sobre Indicadores de morbidade e fatores de risco, a taxa
de incidncia de doenas relacionadas ao trabalho (D.6), a taxa de inci-
dncia de acidentes de trabalho tpicos (D.7) e a taxa de incidncia de
acidentes de trabalho de trajeto (D.8).
A incluso da taxa de trabalho infantil pelos autores nessa relao se justica
por ser uma atividade exercida em desacordo com a legislao e potencialmente
geradora de acidentes de trabalho e doenas ocupacionais. Esta percepo coinci-
de com aquela formulada no Relatrio III Estatsticas de acidentes de trabalho
(16
a
Conferncia CIET/OIT), no qual foi considerado importante constarem
as informaes acerca das estatsticas sobre trabalho infantil. Coincide tambm
com o enfoque de Santos, autor do primeiro captulo deste livro.
Todas as taxas podem ser obtidas com recortes especcos, tais como: per-
odo, regio, setor de atividade, sexo e idade. As estatsticas baseiam-se exclusiva-
mente em informaes para parte dos segurados do Regime Geral da Previdncia
Social (RGPS) e, portanto, no incluem os militares, os trabalhadores informais e
os servidores pblicos vinculados a regimes prprios de previdncia social. Tam-
bm so excludos os trabalhadores contribuintes individuais vinculados ao RGPS
como trabalhadores autnomos e empregados domsticos que correspondiam
a cerca de 23% do total de contribuintes da Previdncia Social em 2004. Pode
ocorrer subnoticao, tendo em vista que o conhecimento de casos est condicio-
nado ao manifesto interesse do segurado na concesso de benefcio previdencirio
especco, mediante a apresentao da Comunicao de Acidente do Trabalho
(CAT). No denominador das taxas utiliza-se a mdia anual de segurados por causa
da utuao, durante o ano, do nmero de segurados empregados, trabalhadores
avulsos e segurados especiais, sendo considerados trabalhadores segurados apenas
os que possuem cobertura contra incapacidade laborativa decorrente de riscos am-
bientais do trabalho. No esto disponveis as informaes por municpio.
Taxa de trabalho infantil B.7
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD).
309
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
Taxa de mortalidade especca por acidentes do trabalho C.11
Fonte: Coordenao Geral de Estatstica e Aturia do Ministrio da Previdncia Social (CGEA/MPS).
Essa taxa expressa o nvel de segurana no ambiente de trabalho, associado
a fatores de risco decorrentes da ocupao e da atividade econmica exercida.
H possibilidade de imprecises no registro da atividade econmica. Alm disso,
a atividade econmica registrada a da empresa, que pode no estar associada
ocupao real do trabalhador.
Taxa de incidncia de doenas relacionadas ao trabalho D.6
Fontes: i) Sistema nico de Benefcios (SUB) e Cadastro Nacional de Informaes Sociais (CNIS), da Empresa de Tecnologia e
Informaes da Previdncia Social (DATAPREV); e ii) Anurio Estatstico de Acidentes do Trabalho, do MPS.
Taxa de incidncia de acidentes do trabalho tpicos D.7
Fonte: i) SUB e CNIS, da DATAPREV; e ii) Anurio Estatstico de Acidentes do Trabalho, do MPS.
Considera-se acidente do trabalho tpico aquele decorrente das caractersticas
da atividade prossional desempenhada. Este indicador permite anlises que
considerem a desagregao temporal ou por categorias e contribui para a avaliao
e a preveno de riscos e agravos sade na atividade laboral.
Taxa de incidncia de acidentes do trabalho de trajeto D.8
Fonte: i) SUB e CNIS, da DATAPREV; e ii) Anurio Estatstico de Acidentes do Trabalho, do MPS.
Considera-se acidente do trabalho de trajeto aquele ocorrido no percurso
entre a residncia e o local de trabalho e vice-versa. Esta taxa indica o risco de
um trabalhador acidentar-se no seu deslocamento entre a residncia e o local
de trabalho, e vice-versa, apesar de que os acidentes de trajeto tm determinantes
310
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
muito variados, que dicultam a sua caracterizao. Permite estimar o risco de
um trabalhador exposto ao risco de sofrer um acidente do trabalho de trajeto
numa determinada populao em intervalo de tempo determinado.
2.2.4 Indicadores de acompanhamento do PPA 2008-2011
No Plano Plurianual (PPA) do governo federal para o perodo 2008-2011,
h vrios programas que tm aes relacionadas rea de SST. No caso do
Ministrio do Trabalho e Emprego, o acompanhamento da poltica para a rea
de SST se faz por meio do Programa Segurana e Sade no Trabalho (Programa
1.184), gerido pela Secretaria de Inspeo do Trabalho. Este programa tem por
nalidade reduzir a precarizao das relaes de trabalho por meio da proteo
da vida, da promoo da segurana, da sade e do bem-estar dos trabalhadores
formais e informais, alm da produo e difuso de conhecimento sobre
Segurana e Sade no Trabalho.
Os indicadores monitorados para o programa esto relacionados a seguir e
suas estatsticas, referidas aos anos recentes, so apresentadas na tabela 2. Alguns
deles j tiveram suas frmulas de clculo apresentadas anteriormente.
a) Coeciente de acidentes decorrentes do trabalho;
b) Coeciente de doenas relacionadas ao trabalho;
c) Coeciente de mortalidade por acidentes de trabalho;
d) Coeciente de trabalhadores alcanados pela inspeo de segurana e sade;
e) Nmero de produo cientca dos pesquisadores da Fundacentro
(Nmero absoluto de artigos publicados em veculos de relevncia
cientca, no mnimo relacionados no sistema Qualis da Capes, + livros
ou captulos de livros publicados que tenham passado pelo conselho
editorial da Fundacentro); e
f ) Taxa de acidentes fatais investigados.
Alm desse programa, h outros que tambm podem ser relacionados
rea de SST. Entre eles, podem ser destacados o programa de Erradicao
311
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
do Trabalho Escravo (0107) e o programa de Erradicao do Trabalho Infantil
(0068). O primeiro gerido pelo Ministrio do Trabalho e Emprego e o segundo
pelo Ministrio do Desenvolvimento Social. A estes programas esto relacionados
os seguintes indicadores:
a) nmero de trabalhadores escravos libertados (Somatrio do nmero abso-
luto de trabalhadores em situao de trabalho escravo libertados no ano); e
b) taxa de trabalho infantil
H ainda outros programas cujas aes podem ser consideradas, como no
caso, por exemplo, do programa de Promoo da Capacidade Resolutiva e da
Humanizao na Ateno Sade (1312), que contm a ao especca de sade
do trabalho: Implementao de Polticas de Ateno Sade do Trabalhador,
mas que no apresenta nenhum indicador especco para esta rea. O programa
Previdncia Social Bsica (0083), gerido pelo Ministrio da Previdncia, apresenta
um indicador relacionado SST:
Taxa de retorno de segurados reabilitados para o mercado de trabalho:
TABELA 3
Indicadores de acompanhamento do PPA (2008-2011)
1
Indicadores 2006 2010 2011
Coeciente de acidentes decorrentes do trabalho 15,63 13,60 13,40
Coeciente de doenas relacionadas ao trabalho 12,00 53,00 52,00
Coeciente de mortalidade por acidente de trabalho 10,75 9,40 9,10
Coeciente de trabalhadores alcanados pela inspeo de
segurana e sade
770,00 720,00 750,00
Taxa de acidentes fatais investigados 22,45 28,00 30,00
Nmero de trabalhadores escravos libertados 1.741
3.500
1
2.617
3.000
Taxa de trabalho infantil 7,2
0.00
5,6
0,0
(Continua)
312
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Indicadores 2006 2010 2011
Taxa de retorno de segurados reabilitados para o
mercado de trabalho
65,00 55,32 70,00
Nmero de produo cientca da Fundacentro 15
30
37
35,00
Fonte secundria: Sigplan.
Fontes primrias: Anurio Estatstico de Acidentes do Trabalho; Relatrio de atividades anual da Fundacentro; Sistema Federal
de Inspeo do Trabalho; e Fundao Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica (IBGE).
Nota: ndices previstos.
ndice apurado em 2010.
3 ANLISE DOS DADOS RELACIONADOS A ALGUNS INDICADORES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Alguns dos indicadores sugeridos pela OIT so utilizados no Brasil pelo MPS
com algumas variaes que resultam do tipo de informao da qual dispe e
da nalidade da estatstica produzida, relacionada s questes previdencirias.
Assim, divergem na apurao do dado, mas coincidem na inteno da estatstica
produzida, os seguintes indicadores:
Taxa de frequncia de novos casos de acidentes de trabalho indicada
pela OIT refere-se, para o MPS, aos benefcios incapacitantes que geram
benefcios e s penses por morte acidentria.
Taxa de gravidade de novos casos de acidentes de trabalho que, pela OIT,
refere-se aos dias de trabalho perdidos e representa, para o MPS, o tempo
de durao do benefcio incapacitante, considerando a expectativa de
vida do benecirio.
Como no se pode falar de indicadores sem apresentar alguns de seus resultados,
so apresentados, para ilustrao, alguns dos mencionados nas sees anteriores.
No portal da Ripsa so encontrados alguns indicadores, para anos intercalados
e para o Brasil e as grandes regies, oriundos dos produtores da informao, os
quais reproduzimos na tabela 4.
TABELA 4
Taxa de mortalidade especca por acidentes de trabalho
Por 100.000 trabalhadores segurados, Brasil e grandes regies (1997, 2000, 2003 e 2005)
Brasil e regies 1997 2000 2003 2005
Brasil 16,9 17,4 11,7 11,0
Norte 24,3 41,5 24,6 17,7
Nordeste 19,9 19,4 12,0 11,3
Sudeste 13,4 14,0 9,7 9,7
(Continuao)
(Continua)
313
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
Brasil e regies 1997 2000 2003 2005
Sul 20,5 18,2 11,3 10,3
Centro-Oeste 30,0 30,5 20,7 17,9
Fonte: MPS/Coordenao Geral de Estatstica e Aturia CGEA/DATAPREV.
Notas: O nmero de segurados corresponde ao nmero mdio de contribuintes empregados. No inclui dados de Segurados
Especiais.
Dados de 2005 preliminares, sujeitos a alteraes.
Em todos os perodos, as taxas de mortalidade especca por acidentes
de trabalho nas regies Norte e Centro-Oeste, com forte peso da atividade
agropecuria e extrativista e baixo adensamento populacional, so, no geral,
bastante superiores s das demais regies.
TABELA 5
Taxa de incidncia de doenas relacionadas ao trabalho
Por 10 mil trabalhadores segurados, por ano, segundo regio, Brasil (1997 a 2005)
Brasil e regies 1997 1999 2001 2003 2005
Brasil 22,0 13,1 8,8 10,5 12,3
Norte 8,8 11,7 8,3 10,6 10,4
Nordeste 12,3 8,9 8,9 10,3 11,3
Sudeste 27,5 15,4 9,4 11,3 13,4
Sul 17,7 11,2 8,2 9,6 12,2
Centro-Oeste 11,1 6,8 5,3 6,9 8,5
Fonte: i) MPS; e ii) SUB e CNIS, do DATAPREV.
A taxa de incidncia para o Brasil decresceu entre 1997 e 2005, principalmente
at 2001, aumentando a partir de ento. Embora a maior taxa para 2005 tenha
ocorrido na regio Sudeste (13,4 casos por 10.000 trabalhadores segurados),
esta regio apresenta a maior reduo na incidncia de doenas relacionadas ao
trabalho entre 1997 e 2005, de menos 51%.
TABELA 6
Taxa de incidncia de acidentes de trabalho tpicos
Por mil trabalhadores, por ano, segundo regio, Brasil (1997 a 2005)
Brasil e regies 1997 1999 2001 2003 2005
Brasil 20,9 17,9 13,5 14,3 16,0
Norte 12,5 13,2 12,1 12,8 14,6
Nordeste 9,6 8,1 7,0 8,3 10,0
Sudeste 23,4 19,7 13,8 14,7 16,9
Sul 25,6 21,9 18,3 18,6 19,7
Centro-Oeste 13,0 12,0 11,4 12,6 13,4
Fonte: i) MPS; e ii) SUB e CNIS, do DATAPREV.
As taxas de incidncia de acidentes do trabalho tpicos mostram utuaes
entre 1997 e 2005, com tendncia decrescente at 2001 e crescente a partir de
(Continuao)
314
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
ento. A regio Sul, que apresentava alta taxa de incidncia em 1996 (quase o
dobro das regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste), apresentou nos ltimos anos
tendncia de queda, apesar de ainda possuir a taxa mais alta entre as regies.
A regio Sudeste tambm teve importante decrscimo.
TABELA 7
Taxa de incidncia de acidentes de trabalho de trajeto
Por mil trabalhadores, por ano, segundo regio, Brasil (1997 a 2005)
Brasil e regies 1997 1999 2001 2003 2005
Brasil 2,2 2,1 1,9 2,2 2,7
Norte 1,6 1,8 1,8 1,8 2,1
Nordeste 1,4 1,4 1,2 1,5 1,8
Sudeste 2,5 2,2 2,0 2,4 3,0
Sul 2,3 2,1 2,0 2,3 2,9
Centro-Oeste 2,1 2,0 1,9 2,3 2,8
Fonte: i) MPS; e ii) SUB e CNIS, do DATAPREV.
Todas as regies apresentaram crescimento nas taxas entre 1997 e 2005.
As regies Sudeste e Sul mantm as maiores taxas de incidncia de acidentes do
trabalho de trajeto, enquanto os menores valores correspondem s regies Norte
e Nordeste. A tendncia nacional e das regies de crescimento do indicador.
Para o acesso s estatsticas internacionais, o portal Laborsta,
21
do Escritrio
Internacional do Trabalho, que operado pelo Departamento de Estatstica
da OIT, destina-se a disponibilizar dados estatsticos por temas, pases ou
publicaes e inclui a seo de metadados que esclarecem sobre as denies, as
classicaes e as fontes e mtodos utilizados na construo das estatsticas.
Para a extrao da estatstica, faz-se a seleo entre as informaes disponibilizadas
e obtm-se a tabulao solicitada. Para o tema de acidentes do trabalho, h trs
possibilidades de tabulao:
22
Tabela 8A Casos de acidentes do trabalho com perda de dias de trabalho,
por atividade econmica;
Tabela 8B Taxas de acidentes do trabalho, por atividade econmica;
Tabela 8C Dias de trabalho perdidos, por atividade econmica.
As tabelas 8A e 8B e 8C so apresentadas em anexo, ao m do captulo, onde
so denominadas A, B e C, e contm a seleo de alguns anos e de alguns pases
considerados teis para comparao com o Brasil, seja por seu grau de desenvol-
vimento, seja pela dimenso territorial, ou pela importncia que tem a questo da
segurana e sade no trabalho. Os mesmos pases e anos foram selecionados para
21 Disponvel em: <http://laborsta.ilo.org/>.
22. As trs possibilidades correspondem s tabelas 8A, 8B e 8C anexas a este captulo.
315
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
a composio das trs tabelas e, no entanto, h campos em branco correspon-
dentes ausncia daquela informao, o que demonstra certa irregularidade no
fornecimento da informao pelos pases OIT. Na comparao das estatsticas
internacionais, importante levar em conta aspectos fundamentais, a saber: i) o
grau de desenvolvimento do pas; ii) a estrutura produtiva; e iii) o modo de apura-
o da informao, considerando os setores de atividade, o grupo de trabalhadores
e a abrangncia do conceito utilizado. Nas tabelas apresentadas as informaes
podem referir-se aos trabalhadroes segurados, aos trabalhadores benecirios de
pagamentos de seguros, aos trabalhadores pertencentes a setores de atividade espe-
ccos como administrao pblica ou a apenas alguns setores e no ao conjunto
da atividade produtiva, ou ainda queles alcanados pela inspeo trabalhista. Por
sua heterogeneidade, recomenda-se cautela nos estudos comparativos.
4 FONTES DE INFORMAES NECESSRIAS CONSTRUO DE INDICADORES
4.1 Fontes de informaes existentes
O clculo de indicadores depende da existncia de informaes conveis e, no
caso brasileiro, utilizam-se informaes de vrias fontes, entre elas os registros
administrativos e sistemas de informaes do MTE, MPS e MS, analisados nos
captulos anteriores.
Outras importantes fontes de informao para clculo dos indicadores
so as pesquisas censitrias e amostrais do Instituto Brasileiro de Geograa e
Estatstica (IBGE). Os dados censitrios ou amostrais levantados pelo IBGE
em suas pesquisas do Censo Demogrco, da Pesquisa Mensal de Emprego
(PME) e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) so
usualmente utilizados na composio de indicadores os mais diversos, no s
pela informao especca que trazem, mas tambm pela informao mais geral
e que pode ser referncia para o indicador apurado, quando ento utilizada
no denominador das taxas.
O Censo Demogrco de 2000 do IBGE apresenta quesitos teis rea de
SST nas sees relativas Educao e Trabalho e Renda do questionrio da amostra.
Os quesitos sobre Educao indagam se a pessoa sabe ler ou escrever,
se frequenta escola, qual o curso que frequenta (por nveis de ensino) ou que
frequentou, qual o curso mais elevado concludo, qual a srie que frequenta ou
que frequentou com aprovao e se concluiu o ltimo curso em que estudou.
Os quesitos sobre Trabalho e Renda perguntam quantos trabalhos a pessoa
tinha na semana de referncia, qual a ocupao que exercia no trabalho principal
23
23. Os critrios utilizados pelo IBGE no Censo Demogrco e na PME para denir o trabalho principal na semana so
trs: 1 Maior nmero de horas normalmente trabalhadas por semana; 2 Trabalho que possui h mais tempo; e
3 Maior rendimento mensal.
316
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
naquela semana; qual a principal atividade do local onde trabalhava; se era
domstico com ou sem carteira de trabalho; se empregado com ou sem carteira
assinada; se empregador, conta prpria, aprendiz ou estagirio sem remunerao;
se trabalhador para o prprio consumo; o nmero de empregados do local onde
trabalhava; se contribua para instituto de previdncia ocial; se era aposentado;
se auferia rendimentos de aposentadoria ou penso; qual o rendimento do
trabalho principal e dos demais trabalhos; qual o nmero de horas habitualmente
trabalhadas por semana e, caso empregado, se era funcionrio pblico ou militar.
As informaes do Censo Demogrco permitem construir tbuas de
mortalidade para estimativa da expectativa de vida das pessoas e consideram a
mdia nacional para ambos os sexos. Estas tbuas de mortalidade so utilizadas
pela Previdncia Social para estimar a sobrevida do segurado, na data de incio
do benefcio.
A Pesquisa Mensal de Emprego (PME), na parte 4 sobre caractersticas
do trabalho do morador de 10 anos ou mais de idade, indaga se, na semana
de referncia, a pessoa tinha algum trabalho remunerado do qual estava
temporariamente afastada por motivo de frias, licena, falta voluntria, greve,
suspenso temporria de contrato de trabalho, doena, ms condies de tempo
ou por outra razo. Para a pessoa ocupada com remunerao que no trabalhou
na semana de referncia, por que motivo no exerceu esse trabalho remunerado
durante pelo menos uma hora na semana de referncia, dando, entre as opes de
resposta, a licena remunerada por instituto de previdncia e o afastamento do
prprio empreendimento, por motivo de gestao, doena ou acidente, sem ser
remunerado por instituto de previdncia. Na parte relativa s caractersticas do
morador com mais de 10 anos de idade, as questes se referem a se concluiu
algum curso de qualicao prossional, se frequenta curso de qualicao
prossional e qual foi o nvel de escolaridade exigido para poder frequentar
este curso de qualicao prossional. Para a pessoa ocupada na semana de
referncia, quantos trabalhos ela tinha naquela semana, qual era a ocupao
que exercia, qual era a atividade principal em que trabalhava, se nesse trabalho
era trabalhador domstico, empregado, conta prpria, empregador, trabalhador
no remunerado de membro da unidade domiciliar que era conta prpria ou
empregador, trabalhador no remunerado de membro da unidade domiciliar
que era empregado; se esse emprego era na rea federal, estadual, municipal;
se era militar ou servidor pblico, se nesse trabalho tinha carteira de trabalho
assinada; se era contribuinte de instituto de previdncia por esse trabalho; se
nesse emprego estava contratado por prazo determinado ou indeterminado; qual
era o rendimento bruto mensal que ganhava habitualmente nesse trabalho;
qual foi o rendimento bruto que recebeu efetivamente nesse trabalho no ms de
referncia e a retirada habitual mensal; quantas horas trabalhava habitualmente
317
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
por semana nesse trabalho; quantas horas trabalhou efetivamente nesse trabalho
na semana de referncia.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) tem quesitos referi-
dos associao a sindicato, carteira de trabalho, providncias para conseguir empre-
go, horas trabalhadas, contribuio previdncia e se era aposentado ou pensionista.
A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), elaborada conjuntamente pelo
Departamento Intersindical de Estatsticas e Estudos Socioeconmicos (Dieese) e
a Fundao Seade, traz entre seus indicadores a estimativa da populao economi-
camente ativa (PEA) e sua distribuio; a estimativa dos ocupados; a proporo de
assalariados no total de ocupados; o rendimento mdio real dos ocupados; a jornada
mdia dos ocupados; a proporo de ocupados que trabalham acima de 44 horas
semanais; a jornada mdia dos assalariados e a proporo de assalariados que traba-
lham acima de 44 horas semanais, todas variveis desagregveis por sexo. J existiu
tentativa de explorar estas informaes por meio de convnio entre Fundacentro
e Fundao Joo Pinheiro, que teve a inteno de realizar um exaustivo perl dos
acidentes, especialmente das doenas ocupacionais, inserindo um bloco parte com
quesitos capazes de mensurar aspectos essenciais relacionados a estes eventos. Com
este estudo, em carter pioneiro, seria possvel apreender aspectos em relao ao
mercado informal de trabalho.
A riqueza de informao que pode ser capturada dessas fontes de informao e
aplicada rea de SST grande, mas, como se pode observar, os indicadores usuais no as
utilizam. Por isso, na seo 5, so propostos alguns indicadores que podem ser teis rea.
5 ALGUNS INDICADORES QUE TAMBM PODEM SER UTILIZADOS
Sabe-se que diversos fatores interferem na ocorrncia dos acidentes de trabalho
e que a parcela desses fatores passvel de mensurao deveria ser convertida em
indicadores, de modo a permitir o acompanhamento dos fenmenos vinculados
SST. A questo conhecer a sua ocorrncia por meio de informao estatstica.
Estes fatores podem estar relacionados ao setor de atividade, ao tempo de expe-
rincia, ao nmero de horas de trabalho contnuo, durao da jornada, idade
(no que afeta aos muito jovens ou muito idosos), ao fato de o trabalhador estar ou
no em jejum durante a execuo de tarefas de fora ou de preciso, formao
educacional e formao prossional.
A fadiga e o estresse podem contribuir para o aumento dos acidentes de trabalho,
como, por exemplo, nas ocupaes que utilizam a operao de mquinas. Por outro
lado, h atributos que tendem a minimizar os riscos de agravos no ambiente de tra-
balho, como a escolaridade e a formao prossional, alm do tempo de experincia
na ocupao. Ademais, h setores de atividade com maiores riscos que outros, como a
construo civil e a minerao. Em um mesmo setor de atividade podem existir graus
318
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
de risco diferenciados, como o caso do cultivo de cereais (2%) e de hortas ou ores
(1%) na atividade agrcola, conforme a tabela RAT. Inclusive algumas ocupaes tam-
bm podem oferecer mais riscos que outras, por suas condies peculiares de execuo.
Assim sendo, sugere-se a apurao de alguns indicadores que levem em
considerao os fatores mencionados e que sejam construdos por categorias
prossionais, pela especicidade das suas ocupaes. Sabe-se, no entanto, que
existe estatstica que trata dos aspectos apontados nas taxas propostas a seguir;
o que no h, atualmente, so estatsticas que os relacionem aos acidentes de
trabalho, porque at agora a informao sobre aspectos da sade e segurana
no trabalho no tem sido considerada nas pesquisas de levantamento de base
populacional, mas deveria ser.
Taxa de incidncia de acidentes do trabalho tpicos em jornada de trabalho excessiva
A Constituio Federal estabelece em 44 o nmero de horas de trabalho
semanais, com o mximo de 8 horas de trabalho dirias (Artigo 7
o
sobre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais).
24
No entanto, importa considerar
que algumas categorias prossionais tm jornadas variveis, determinadas em
acordos coletivos de trabalho ou em contrato de trabalho. Entre estas categorias
esto mdicos, enfermeiros, ascensoristas, vigilantes, alguns servidores pblicos,
que fazem turnos corridos diferenciados que podem ser de 6 ou 12 horas.
Na apurao da taxa, seria relevante ter em conta a categoria prossional a
que se refere o indicador e o nmero legal de horas de trabalho dirias. Caso
contrrio, seriam necessrios levantamentos especcos recorrentes por categorias,
o que implicaria elevados custos e diculdades operacionais na construo de
indicadores sob o pressuposto da requerida periodicidade na atualizao.
25
Taxa de incidncia de acidentes do trabalho tpicos com formao prossional especca
24. Art. 7
o
, inciso XIII durao do trabalho normal no superior a oito horas dirias e quarenta e quatro semanais, facultada
a compensao de horrios e a reduo da jornada, mediante acordo ou conveno coletiva de trabalho; Art. 7
o
, inciso XIV
jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociao coletiva.
25. Evidentemente, no se nega a importncia de estudos tpicos envolvendo demandas de categorias especcas.
Aqui a questo diz respeito apenas sua efetividade na construo de indicadores imbudos de historicidade.
319
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
O resultado esperado para esta taxa que seja menor que o seu complemen-
tar (sem formao especca), e seu decrescimento ao longo do tempo ir indicar
que a formao especca relevante na preveno dos acidentes de trabalho.
Taxa de incidncia de acidentes do trabalho tpicos com tempo na ocupao maior que 5 anos
Esta taxa permite testar hipteses sobre a relao entre o quadro acidentrio
e o tempo na ocupao. No entanto, o perl das ocupaes difere tambm em
relao ao tempo de permanncia, sendo necessrio, ao analisar os resultados, ter
em considerao o tempo mdio de permanncia na ocupao, alm do problema
da rotatividade diferenciada por ramos de atividade.
importante registrar que, segundo as estatsticas da Previdncia Social, os
jovens so os mais vitimados por acidentes tpicos e de trajeto no Brasil. Ainda
que anlises mais efetivas sejam necessrias, no h como desconsiderar hipteses
sobre suas possveis relaes com a condio de ocupao, o ramo de atividade
e, mais especicamente, com a formao prossional, o que incluiria mobilidade
prossional voltada adequao da ocupao em si. Por outro lado, as sries
estatsticas tambm evidenciam que as faixas etrias mais sujeitas s doenas
relacionadas ao trabalho correspondem quelas mais envelhecidas, o que, segundo
Ansiliero (2005), pode ser explicado pela exposio continuada a fatores de risco,
levando, portanto, algum tempo para (as doenas) se manifestarem.
Muitas vezes, a ausncia de indicadores mais detalhados decorre da
indisponibilidade de informao para constru-los, mas esta no deve ser uma
situao imutvel e impeditiva de aprimoramento dos mesmos, a partir da
conscincia da sua importncia e das possibilidades de interferir na produo
dos dados primrios, que deve ser incumbncia dos usurios e dos produtores da
informao. Mas no se nega a possibilidade de se avanar na construo de novos
indicadores a partir do conjunto de informaes existentes, como apresentado
nos artigos relativos s fontes de dados nos captulos precedentes.
De forma exemplar, caberia destacar dois pontos crticos e possveis alterna-
tivas sua superao.
Primeiro, hoje as informaes disponibilizadas publicamente pelo MPS
no permitem que se analisem os acidentes de trabalho por porte ou tamanho
dos estabelecimentos. Estas informaes esto disponveis, mas somente por
acesso restrito, o que diculta a construo e o acompanhamento sistemtico
320
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
de indicadores com esse recorte por parte de pesquisadores e outros atores que
atuam na rea de SST. A Rais, por meio do PDET, j disponibiliza para uso
pblico os dados que permitem a construo de indicadores separando os esta-
belecimentos de acordo com o nmero de trabalhadores a eles vinculados, sem
que isso implique quebra de sigilo das informaes.
26
Considerando-se a impor-
tncia de tal distribuio no mbito da ao pblica e mesmo na elegibilidade
de prioridades no plano da gesto da SST segundo a natureza das empresas,
a disponibilizao pblica dessas informaes por parte da Previdncia Social
viabilizaria uma gama mais qualicada de indicadores em SST, especialmente
em termos de um melhor enquadramento dos acidentes de trabalho.
27
Adicio-
nalmente, isto se conguraria em uma possibilidade concreta que, sem dvida,
ensejaria novas perspectivas, sem o nus decorrente da necessidade de estudos
tpicos complementares seguidos de arranjos para o cruzamento de informa-
es de registros administrativos distintos, como Rais e CAT. Situao ainda
mais problemtica em se tratando de unidades espaciais mais desagregadas.
28
Enm, uma alternativa quanto ao ajustamento de dados de importncia maior
para anlises consentneas baseadas em novo padro de indicadores.
Segundo, em relao ao conjunto de indicadores disponveis, h necessidade
de se sistematizarem metodologias de aglutinao para novos indicadores a partir
da trade Trabalho-Previdncia-Sade, ou seja, a construo de indicadores
compostos, tambm conhecidos como sintticos, de forma a se avaliar de maneira
mais condizente os ambientes de trabalho no pas em termos de um elenco maior
de variveis i. , para alm do FAP, bastante focado em objetivo scal. Melhor
explicando, a denio e a formalizao de indicadores compostos que, nos moldes
do ndice de desenvolvimento humano (IDH), se reportassem mensurao da
Qualidade do Trabalho, considerando-se um conjunto de indicadores simples
e descritivos j existentes e at mesmo incorporando o processo de construo
de novos indicadores orientados para esta nalidade, preferencialmente baseados
na juno de fontes de dados de base populacional e de informaes de registros
administrativos sobre mercado de trabalho, ocupao, gnero, escolaridade,
rendimento mdio, relaes de trabalho, rotatividade, agravos seletivos sade,
rea geogrca e assim por diante. Isso se justicaria em funo da importncia
26. Para o setor industrial, a microempresa corresponderia aos estabelecimentos com at 19 funcionrios e a pequena
empresa aquela que tivesse entre 20 e 99 empregados. Por sua vez, seriam consideradas empresas de porte mdio
aquelas que contavam entre 100 a 499 empregados; acima de 500, seriam denominadas de grandes. Para o setor de
comrcio e servios, escalas seriam menores. Por exemplo, at 9 e entre 10 e 49 empregados para as micro e pequenas,
respectivamente.
27. A qualicao dos eventos em SST segundo o porte ou a natureza das empresas bastante valorizada na Unio
Europeia. Em especial, a ateno com as micro e pequenas empresas nos pases mais desenvolvidos, cujo papel e im-
portncia na economia e no mercado de trabalho so inquestionveis de tal ordem, que as mesmas so consideradas
base da economia de mercado e de sustentao do Estado democrtico (Ahorn, 2006).
28. Em pesquisa sobre os acidentes de trabalho nas micro e pequenas empresas em ramos selecionados, essa estrat-
gia, onerosa e laboriosa, teve que ser adotada em nvel operacional (cf. Fundacentro e Sesi, 2007).
321
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
de se detectarem pers ou padres diferenciados das condies de trabalho, tendo
por base a exposio a riscos no ambiente de trabalho e, se possvel, a incorporao
de indicadores normativos sobre proteo e medidas de segurana, por meio
das informaes relativas inspeo do trabalho, que, nos moldes do IDH,
apresentassem, como propriedade intrnseca, o preceito da desagregabilidade.
29
Enm, indicadores capazes de sustentar avaliaes mais sistemticas e permanentes,
alargando o signicado e a compreenso emprica de conceitos relevantes em SST
isto , instrumentos que possam melhor balizar a eccia e a ecincia das aes
e dar suporte a proposies proativas ou a elenco de prioridades nas polticas
pblicas voltadas amplitude do campo da SST no pas.
6 CONSIDERAES FINAIS
Os indicadores utilizados na rea de segurana e sade no trabalho, nacionais e
internacionais, foram apresentados nas sees deste captulo e tambm algumas
das estatsticas disponveis. Pode-se observar que alguns indicadores so utilizados
pela previdncia social com diferenas daqueles sugeridos pela OIT, tendo em
vista a especicidade do dado e a nalidade da informao previdenciria.
Considerando-se a amplitude de fatores a intervir na SST, discutiu-se a
necessidade de outros indicadores detalhados que, complementarmente aos
atuais, melhor pudessem representar a rea. A informao hoje existente em
algumas pesquisas elaboradas pelo IBGE permitiria iniciar esta empreitada.
No entanto, outras informaes deveriam ser disponibilizadas ou ter a qualidade
do dado aprimorada para possibilitar a obteno de novos indicadores. Com as
informaes hoje disponveis, tm sido construdos indicadores que mostram
apenas parte do problema. Vrios segmentos de trabalhadores no esto sendo
cobertos pelas estatsticas e indicadores que hoje so calculados para mostrar a
situao da SST no Brasil. Essa questo da qualidade da informao objeto de
anlise no captulo dez desta publicao.
Esforo adicional seria necessrio por parte dos ministrios produtores
das informaes discutidas neste livro, no sentido de compatibilizar algumas das
variveis de identicao de suas bases de dados, com vistas complementao
de informao entre bases, produo de novas estatsticas e possibilidade de
29. Considerando a estrutura produtiva e a vasta territorialidade do Brasil, bem como os seus elevados ndices de
acidentes do trabalho, a construo desses indicadores no apenas permitiria diagnsticos e avaliaes mais condi-
zentes em relao ao conjunto das disparidades existentes, como fariam do pas uma referncia importante na rea.
Nesta direo, como exemplo, posto que no diretamente referido ao mundo do trabalho, vale registrar a importncia
das estimativas em nvel municipal sobre condies de vida, viabilizadas, com o apoio do PNUD, pela parceria entre a
Fundao Joo Pinheiro e o Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada. Isso possibilitou a obteno no apenas das
estimativas de IDH em nvel municipal, mas tambm a construo do ndice de Condies de Vida (ICV), que leva em
considerao um nmero de dimenses e aspectos das condies de vida locais maior que o contemplado pelo IDH.
Enquanto o IDH utiliza quatro indicadores bsicos para obter uma medida sinttica de desenvolvimento humano, o ICV
utiliza , alm desses quatro, um conjunto adicional de 16 indicadores (PNUD, 1996, p. 1).
322
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
renamento dos indicadores. Nesta linha, poderiam ser tambm construdos
indicadores compostos e desagregveis que, ao sintetizarem a qualidade no
trabalho, serviriam proposio e avaliao de polticas pblicas.
REFERNCIAS
AHORN, M R. A dimenso socioambiental das pequenas empresas no contexto da
terceirizao: fragilidades e alternativas. 2006. Dissertao (Mestrado) Centro
Universitrio SENAC, So Paulo, 2006.
ANSILIERO, G. Evoluo dos registros de acidentes de trabalho no Brasil no perodo
1996-2004. Nota Tcnica n
o
052/2005. Braslia: CGEP/SPS/MPS, 2005.
AQUINO, Jos Damsio de. Consideraes crticas sobre a metodologia de coleta e
obteno de dados de acidentes do trabalho no Brasil. 1996. Dissertao (Mestrado)
Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade, Universidade de So
Paulo, So Paulo, 1996.
BRASIL. Ministrio da Previdncia Social. Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999. Aprova o Regulamento da Previdncia Social, e d outras providncias.
Dirio Ocial da Unio, Braslia, 7 maio 1999 (Republicado em 12 maio 1999).
Disponvel em: <http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1999/3048.
htm>.
a
Acesso em: 30 nov. 2010.
BRASIL. Ministrio da Previdncia Social. Decreto n
o
6.042, de 12 de fevereiro
de 2007. Altera o Regulamento da Previdncia Social, aprovado pelo Decreto
n
o
3.048, de 6 de maio de 1999, disciplina a aplicao, acompanhamento e
avaliao do Fator Acidentrio de Preveno FAP e do Nexo Tcnico Epidemi-
olgico, e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 12 fev. 2007.
Disponvel em: <http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/2007/6042.
htm>. Acesso em: 21 out. 2010.
CARVALHO, Jos Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 2002.
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Proposal for a regu-
lation of the European parliament and of the council on community statistics on
public health and health and safety at work. Brussels, 7 fev. 2007, v. 2.
CONSELHO NACIONAL DE PREVIDNCIA SOCIAL. Resoluo n
o
1.308,
de 27 de maio de 2009. Dirio Ocial da Unio, n. 106, 5 jun. 2009, seo 1.
DICKEL & MAFFI AUDITORIA E CONSULTORIA. Sistema OCERGS -
SESCOOP/RS. Boletim Informativo, n.18, ano V, 7 maio 2008. Disponvel em:
<http://site.ocergs.com.br/boletins/arqs/200718.pdf>. Acesso em:
323
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH. Occupational
health and safety indicators. Asian-Pacic Newsletter on Occupational Health and
Safety, v. 7, n. 1, Mar. 2000.
FUNDACENTRO; SESI. Acidentes do trabalho em micro e pequenas empresas in-
dustriais nos ramos caladista, moveleiro e de confeces: resultados consolidados.
Belo Horizonte: PRODAT, 2007 (Relatrio Tcnico 4). Disponvel em: < http://
www.fundacentro.gov.br/dominios/ctn/indexAcervoDigital>. Acesso em: 2 dez. 2010.
IBGE. Censo Demogrco 2000. Disponvel em: <http://www.ibge.gov.br/censo/
quest_amostra.pdf >. Acesso em: 30 jun. 2010.
______. Pesquisa Mensal de Emprego (PME) Questionrio de mo de obra.
Disponvel em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoe-
rendimento/pme_nova/questionarioPME.pdf >. Acesso em: 15 set. 2010 .
______. Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) Questionrio da
pesquisa. Disponvel em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
trabalhoerendimento/pnad2008/questpnad2008.pdf>. Acesso em: 7 julho 2010.
JANUZZI, P. M. Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fonte de dados e aplica-
es. Campinas: Alnea, 2001.
MINISTRIO DA PREVIDNCIA SOCIAL (MPS). Anurio Estatstico da
Previdncia Social (AEPS) 2005: suplemento histrico: acidentes de trabalho.
Braslia, 2005.
______. Texto Explicativo da Seo II de Indicadores de Acidentes do Trabalho.
Anurio Estatstico de Acidentes do Trabalho 2005. Disponvel em: <http://
www.previdenciasocial.gov.br/anuarios/aeat-2005/14_08_01_02_01.asp>.
______. Anurio estatstico da previdncia social: suplemento histrico (1980
1996). Braslia: MPS/DATAPREV, 1997. v. 1
______. Boletim Estatstico de Acidentes do Trabalho - BEAT, INSS, Diviso de Plane-
jamento e Estudos Estratgicos. DATAPREV, CAT.
______. Anurio Estatstico de Acidentes do Trabalho. Braslia: MPS, 2003.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Sistema Federal de In-
speo do Trabalho: manual do usurio. Braslia, 2008.
OLIVEIRA, P. R. A. Nexo Tcnico Epidemiolgico Previndencirio NTEP
e Fator Acidentrio de Proteo FAB: o desenvolvimento de um mtodo. In:
MACHADO, I.; SORATTO, L.; CODO, W. Sade e trabalho no Brasil: uma
revoluo silenciosa O NTEP e a Previdncia Social. Petrpoles: Vozes, 2010.
p. 77-103.
324
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
ORGANIZAO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Perl diag-
nstico en seguridad y salud en el trabajo del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Par-
aguay y Uruguay 2006. Disponvel em: <http://www.ilo.org/public/portugue/
bureau/stat/res/accinj.htm>.
______. Registro y noticacin de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales:
repertorio de recomendaciones prcticas de la OIT. Ginebra: Ocina Internacio-
nal del Trabajo, 1996.
______. Conjunto de Protocolos de Indicadores LA. Disponvel em: <http://
www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/4855C490-A872-4934-9E0B-
8C2502622576/2614/IP_LA_Portuguese_BR.pdf>.
PROGRAMA DAS NAES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO
(PNUD). Desenvolvimento humano e condies de vida: indicadores para a Regio
Metropolitana de Belo Horizonte 1980-1991. Belo Horizonte: FJP/Ipea, 1996.
REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAES PARA A SADE RIPSA.
Disponvel em: <http://www.ripsa.org.br/php/index.php>.
SERVIO BRASILEIRO DE APOIO S MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
(SEBRAE). Coletnea estatstica da micro e pequena empresa. Braslia: Sebrae, 1999.
325
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
ANEXO
TABELA 8A
Estatsticas de acidentes e doenas do trabalho, com perda de dias de trabalho
Pases selecionados Anos selecionados
Alemanha 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais 1.558 1.403 1.153 1.071 812
Casos no fatais 1.670.812 1.597.569 1.512.570 1.305.701 1.054.984
Incapacidade temporria
Total (fatais + no fatais) 1.672.370 1.598.972 1.513.723 1.306.772 1.055.796
Argentina 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais 915 680 1.020
Casos no fatais 309.268 381.266 278.980 597.682
Incapacidade temporria 262.476 544.144
Total (fatais + no fatais) 309.919 382.181 279.660 598.702
Brasil 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais 4.824 5.238 5.355 3.469 2.503
Casos no fatais 1.293.393 1.131.880 688.210 380.381 323.568
Incapacidade temporria 362.712
Total (fatais + no fatais) 1.298.217 1.137.118 693.565 383.850 326.071
Canad 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais 796 809
846 943 833 882 934 1.055
Casos no fatais 612.127 592.824
602.531 593.952 379.851 392.502 359.174 317.522
Incapacidade temporria
Total (fatais + no fatais)
602.531 593.952
603.377 594.895 380.684 393.384 360.108 318.577
Chile 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais 30 338 305 301
Casos no fatais 91.656 10
269.795 194.065 203.590
Incapacidade temporria 269.590 193.885 203.361
Total (fatais + no fatais)
91.686 177.357 215.682 270.133 194.370 203.891
19.609
China 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais 17.558
3
11.681
3
14.924
3
Casos no fatais 8.811
2
3.999
2
3.755
2
Incapacidade temporria
Total (fatais + no fatais) 26.369
2
15.680
2
18.679
2
(Continua)
326
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
(Continuao)
Finlndia 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais 114 81 74 57 47 37 37
Casos no fatais 118.519 104.505 102.664 56.273 58.056 57.767 62.095
Incapacidade temporria 61.970
Total (fatais + no fatais) 118.633 104.586 102.738 56.330 58.103 57.804 62.132
Frana 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais
1.423 1.004 1.213 690 730 686 622
1.213
Casos no fatais 759.779 657.861 743.435 759.980 720.150
Incapacidade temporria 693.759 612.972 695.339 712.971 673.724
Total (fatais + no fatais) 971.301 662.800 760.992 658.551 744.165 760.666 720.772
ndia 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais 642 998 885
Casos no fatais 301.812 180.683 102.908
Incapacidade temporria
Total (fatais + no fatais) 312.560 181.681 103.793
Mxico 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais 1.140 1.385 1.212 1.568
1
1.740
2
1.361
2
1.279
2
Casos no fatais 552.250 542.455 517.893 427.305
1
450.089
2
387806
2
450.102
2
Incapacidade temporria 416.596
1
427.972
2
367.379
2
368.500
2
Total (fatais + no fatais) 428.873
1
451.829
2
389.167
2
451.381
2
Nova Zelndia 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais 212 104 59 63 82 84
43
Casos no fatais 48.966 20.845 20.750 24.561 25.861
36.433
Incapacidade temporria 20.826 20.726 24.537 25.833
Total (fatais + no fatais)
46.970 49.070 20.904 20.813 24.643 25.945
36.476
Portugal 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais 327 548 203 227 368 357 276
Casos no fatais 258.285 266.011 305.309 213.695 179.867 176.884 173.587
Incapacidade temporria
Total (fatais + no fatais) 258.612 266.559 305.512 213.922 180.235 177.241 173.863
Fonte: <http://laborsta.ilo.org/>. Caminho da pesquisa: Statistics/ By topic/ Occupational Injuries/ Select countries, years and
tables.
Notas:
1
Informaes originrias de registros do seguro, de dados adminsitrativos (Chile), de acidentes compensados (Canad),
ou de inspeo trabalhista (ndia).
2
Informaes podem se referir a setores de atividade diferenciados.
3
Apesar de Alemanha, Brasil, China, Finlndia e Portugal terem sido includos na seleo de pases, suas estatsticas
no esto disponveis para os anos selecionados.
4
(Mxico) Cobertura: IMSS, ISSTE, PEMEX and STPS.
327
Indicadores da Sade e Segurana no Trabalho: fontes de dados e aplicaes
TABELA 8B
Taxas de acidentes do trabalho. Pases selecionados Anos selecionados
Alemanha 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais (por mil traba-
lhadores empregados)
Casos no fatais (pelo
equivalente a 100 mil
trabalhadores full time)
5.440 4.196 4.001 3.554 2.803
Argentina 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais (por 100 mil
trabalhadores segurados)
14,9 18,6 15,2 14,1
Casos no fatais (por
100 mil trabalhadores
segurados)
7.088 7.747 6.240 8.250
Brasil 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais (por 100 mil
empregados)
21,0 23,0 23,5 14,1 11,5
Casos no fatais (por 100
mil empregados)
5.071 3.024 1.552 1.491
Canad 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais (por 100 mil
empregados)
8,2 8,5 6,1 6,0 6,1 6,3
Casos no fatais 2.777 2.659 2.346 1.883
Chile 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais (por 100 mil
trabalhadores segurados)
13 12 11
Casos fatais (por mil traba-
lhadores segurados)
0,060
Casos no fatais (por
100 mil trabalhadores
segurados)
10.309 7.614 7.701
Finlndia 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais (por 100 mil
empregados)
5,9 3,9 3,5 3,1 2,3 1,8 1,7
Casos no fatais (por 100
mil empregados)
3.048 2.879 2.793 2.845
Frana 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais (por mil
empregados)
0,101 0,075 0,084
Casos fatais (por 100 mil
trabalhadores segurados)
8,4 4,8 4,4 3,8 3,4
Casos no fatais (por
100 mil trabalhadores
segurados)
5.271,3 4.535,7 4.300,0 3.943,1
ndia 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais (por mil traba-
lhadores empregados)
0,17 0,20
Mxico 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais (por 100 mil
trabalhadores segurados)
15 11 12
1
14
2
11
2
9
2
(Continua)
328
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
(Continuao)
Mxico 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos no fatais (por
100 mil trabalhadores
segurados)
3.273
1
3.624
2
3.202
2
3.120
2
Nova Zelndia 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais (por mil traba-
lhadores empregados)
0.166 0.071
Portugal 1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Casos fatais (por 100 mil
trabalhadores segurados)
10,2 8,7 8,1 6,3
Casos no fatais (por
100 mil trabalhadores
segurados)
9.153 4.260 4.016 3.965
Fonte: <http://laborsta.ilo.org/>. Caminho da pesquisa: Statistics/By topic/Occupational Injuries/Select countries, years and tables.
Notas:
1
Informaes originrias de registros do seguro, de dados adminsitrativos (Chile), de acidentes compensados (Canad),
ou de inspeo trabalhista (ndia).
2
Informaes podem se referir a setores de atividade diferenciados.
3
Apesar de Alemanha, Brasil, China, Finlndia e Portugal terem sido includos na seleo de pases, suas estatsticas
no esto disponveis para os anos selecionados.
4
(Mxico) Cobertura: IMSS, ISSTE, PEMEX and STPS.
TABELA 8C
Estatsticas de dias de trabalho perdidos por incapacidade temporria por
acidentes ou doenas do trabalho , . Pases selecionados Anos selecionados
1980 1987 1990 1997 2000 2002 2007
Alemanha ... ... ... ... ... ... ...
Argentina ... ... ... 4.092.711 7.771.910 6.381.975 17.818.104
Brasil ... ... ... ... ... ... ...
Canad ... ... 18.500.000 15.404.000 16.607.000 16.471.000 ...
Chile 1.334.754 ... ... ... ... ... ...
China ... ... ... ... ... ... ...
Finlndia ... ... ... ... ... ... ...
Frana 27.268.900 21.989.297 26.542.267 25.633.189 30.684.007 35.123.699 35.871.141
ndia 3.127.771 1.794.428 1.045.079 ... ... ... ...
Mxico 9.188.184 9.907.780 12.030.150 9803090 4 ... ... ...
Nova Zelndia ... ... ... 1.467.825 1.391.095 1.634.283 2.026.732
1.381.319 1.627.892 1.940.682
Portugal ... ... ... ... ... ... ...
Fonte: ILO/Laborsta. Acesso: <http://laborsta.ilo.org/>. Caminho da pesquisa: Statistics/ By topic/ Occupational Injuries/ Select
countries, years and tables.
Notas:
1
Informaes originrias de registros do seguro, de dados adminsitrativos (Chile), de acidentes compensados (Canad),
ou de inspeo trabalhista (ndia).
2
Informaes podem se referir a setores de atividade diferenciados.
3
Apesar de Alemanha, Brasil, China, Finlndia e Portugal terem sido includos na seleo de pases, suas estatsticas
no esto disponveis para os anos selecionados.
4
(Mxico) Cobertura: IMSS, ISSTE, PEMEX and STPS.
CAPTULO 10
SISTEMAS DE INFORMAO E ESTATSTICAS SOBRE SADE
E SEGURANA NO TRABALHO: QUESTES, PERSPECTIVAS E
PROPOSIO INTEGRAO
Celso Amorim Salim
Ana Maria de Resende Chagas
Luciana Mendes Santos Servo
1 APRESENTAO
Este trabalho tem por objetivo contribuir com elementos tcnicos e subsdios
analticos voltados busca de melhorias das informaes sobre Sade e Segurana
no Trabalho (SST) no Brasil, destacando, em especial, alguns pontos crticos no
processo de planejamento de um sistema integrado de informaes estatsticas
para o setor pblico, sob a perspectiva de sua convergncia com as diretrizes da
Poltica Nacional de Segurana e Sade no Trabalho (PNSST).
Nessa direo, pressupe-se a quebra de paradigmas na sua concepo,
construo e gerenciamento em um ambiente colaborativo, ou seja, uma maior
cooperao das organizaes pblicas sobre um problema de grande interesse
da sociedade, que ainda carece do devido equacionamento, situao esta
justicada por razes tcnicas, interesses corporativos e ausncia de uma agenda
poltica especca. Exatamente por isso, as questes relativas importncia da
intersetorialidade e transversalidade das aes bem como da interdisciplinaridade
como estratgia aqui so retomadas enquanto possibilidades de ampliar discusses
na busca de solues consensuais e consentneas para a promoo de mudanas
efetivas nesse quadro.
Alm desta introduo, este captulo apresenta mais trs sees, de forma
que, sequencialmente, possam ser retidas as principais caractersticas dos sistemas
de informao de interesse da rea de SST que, individualmente, so apresentados
em outros captulos deste livro. Em adio, apontam-se, subsidiariamente,
elementos e proposies voltados construo de um sistema de informaes
330
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
estatsticas de natureza interorganizacional sobre doenas e acidentes de trabalho,
como um possvel componente da futura estruturao da Rede Integrada de
Informaes em Sade do Trabalhador, aventada nos documentos da PNSST.
1
Longe da pretenso de se esgotar uma anlise comparativa sobre a evoluo e
a situao dos principais sistemas de informao da administrao pblica federal
reportados trade previdncia-sade-trabalho, as duas subsees que se seguem
suportam-se, sobretudo, no resgate de algumas contribuies focais recentes da
Fundacentro em projetos internos e interinstitucionais que trabalharam nessa
direo. Cabe mencionar que as parcerias incluem projetos conjuntos com a
Fundao Sistema Estadual de Anlise de Dados (Seade) e o Fundo de Populao
das Naes Unidas (FNUAP), e recentemente uma agenda de atividades no
mbito do Acordo de Cooperao Tcnica entre a Fundacentro e o Ipea.
2 SISTEMAS DE INFORMAO EM SST: EVOLUO E SITUAO ATUAL
No caso das informaes sobre a relao sade-trabalho em diferentes ambientes
laborais, em que a complexidade intrnseca inequvoca (ECHTERNACHT,
2004), tm-se hoje grandes desaos, valendo destacar pelo menos duas de suas
dimenses particulares, ambas objetos de debates continuados. A primeira,
recorrente por dcadas, reporta-se qualidade das informaes disponveis,
expressas, sobretudo, nas estatsticas e indicadores sobre os acidentes de
trabalho. A segunda, mais recente, diz respeito PNSST, fruto da articulao
interministerial nas esferas dos Ministrios da Sade, da Previdncia Social e
do Trabalho e Emprego. Desde sua verso de 2004, disponibilizada em 2005,
esta poltica, entre suas diretrizes, prope a estruturao de uma Rede Integrada
de Informaes em Sade do Trabalhador, segundo seis estratgias, conforme
apresentadas a seguir (PNSST, 2005, p. 11-12). Este trabalho deter-se- mais
diretamente s trs primeiras e ltima.
I. Padronizar os conceitos e critrios quanto concepo e caracterizao
de riscos e agravos segurana e sade dos trabalhadores relacionados
aos processos de trabalho.
II. Compatibilizar os sistemas e bases de dados a serem partilhados pelos
Ministrios do Trabalho, Previdncia Social, Meio Ambiente e Sade.
III. Compatibilizar os instrumentos de coleta de dados e uxos de informaes.
IV. Instituir a concepo do nexo epidemiolgico presumido para acidentes
e doenas relacionadas ao trabalho.
1. A construo desta Rede explicitada nas diretrizes de duas verses da PNSST, uma de 2004 e outra de 2010.
A primeira, com ttulo focado no sujeito e um nvel maior de detalhamento, denomina-se Poltica Nacional de Segu-
rana e Sade do Trabalhador (PNSST, 2005). A segunda, onde o ambiente de trabalho mais destacado, intitula-se
Poltica Nacional de Segurana e Sade no Trabalho (CTSST, 2010).
331
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
V. Atribuir tambm ao SUS a competncia de estabelecer o nexo etiolgico
dos acidentes e doenas relacionados ao trabalho e analisar possveis
questionamentos relacionados com o nexo epidemiolgico presumido.
VI. Incluir nos Sistemas e Bancos de Dados as informaes contidas nos re-
latrios de intervenes e anlises dos ambientes de trabalho elaborados
pelos rgos de governo envolvidos nesta Poltica.
A verso atual da PNSST, aprovada em fevereiro de 2010 pela Comisso
Tripartite de Sade e Segurana no Trabalho (CTSST), manteve como diretriz a
estruturao de uma Rede Integrada de Informaes em Sade do Trabalhador.
Contudo, as estratgias ainda no foram apresentadas, embora devam ser
incorporadas como atividades no Plano Nacional de Segurana e Sade no
Trabalho.
2
Assim, por ora, cabe discuti-la a partir das estratgias previstas na
verso da PNSST de 2004. Na realidade, tais estratgias foram postas porque,
conjuntamente, as informaes disponveis sejam qualitativas e quantitativas
ou, hierarquicamente, nos nveis institucional, intermedirio e operacional de
interesse da rea de SST, geradas em contextos organizacionais distintos, a par
dos problemas que lhes so peculiares, ainda no so devidamente exploradas
em termos de suas possibilidades cognitivas ou em face das condies tcnicas
de sua disseminao sob dois aspectos: primeiro, de forma seletiva, para ns de
gerenciamento de aes; segundo, de forma ampla, para ns de informao aos
diversos segmentos da sociedade.
Embora as informaes quantitativas sobre acidentes e doenas do trabalho
sejam parciais por causa do grau de cobertura, e limitadas, por apresentarem tanto
problemas relativos captura dos dados, compatibilidade interbases e gerao
de conhecimentos (SALIM, 2003), quanto por indicarem elevada magnitude do
sub-registro (SANTANA et al., 2005; WALDVOGEL, 2002) as tendncias e
variaes de seus nmeros e taxas faziam, ainda h pouco, o pas um dos recordistas
em acidentes de trabalho no cenrio internacional, como bem anotam Facchini
et al. (2007).
3
Fato que incidia na composio do chamado custo Brasil e, por
conseguinte, na competitividade sistmica internacional do pas, alm, claro,
dos custos desses acidentes onerarem toda a sociedade (SANTANA et al., 2006).
2. Uma minuta da primeira verso deste Plano j est sendo discutida pela CTSST. Sua estruturao se d a partir das
diretrizes da PNSST, de modo a estabelecer para cada uma delas atividades especcas associadas a instituio(es)
responsvel(is), parceiras, indicadores de acompanhamento e prazos de execuo. Todas as atividades devero ter
como referencial os princpios da PNSST, a saber: a universalidade; a preveno; a precedncia das aes de pro-
moo, a proteo e preveno sobre as de assistncia, reabilitao e reparao; o dilogo social; e a integralidade
(Plano Nacional de Segurana e Sade no Trabalho, p. 1 verso preliminar, novembro de 2010).
3. Baseados em dados de documentos do Ministrio da Previdncia Social, de 2003, CUT, de 2004, e OIT, de 2005,
os autores armam que o Brasil ainda um recordista mundial de acidentes de trabalho, com trs mortes a cada
duas horas e trs acidentes no fatais a cada um minuto. Isto sem considerar a subnoticao de casos, quando os
acidentes de trabalho, contabilizados em 390 mil, poderiam inclusive atingir a cifra de 1,5 milho de casos, em se
considerando todas as ocorrncias que deveriam ser registradas (Facchini et al., 2007, p. 858).
332
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Por outro lado, proposies que pressupem as perspectivas de articulao
intersetorial e de transversalidade, ao buscarem maior convergncia das aes
bsicas em SST, ou seja, diagnstica, normalizadora-scalizadora e securitria,
respectivamente nas esferas dos Ministrios da Sade, do Trabalho e Emprego
e da Previdncia Social, no se isentam de problemas e obstculos de causas
diversas. Isso sem desconsiderar a questo inerente ao desenho das bases de dados
corporativas setoriais, muitas vezes tornando no intercambiveis partes de suas
informaes, dicultando uma melhor identicao de prioridades ou mesmo a
avaliao das intervenes em SST.
Ao destacar o desao que representa a abordagem integrada das inter-relaes
entre as questes de SST, meio ambiente e o modelo brasileiro de desenvolvimento,
expresso pelo atual perl de produo-consumo, a PNSST tem como um dos seus
eixos a superao da fragmentao, da desarticulao e da superposio de aes
setorialmente implementadas (PNSST, 2005). Ainda aponta os objetivos de se
promover a melhoria da qualidade de vida e de sade do trabalhador, mediante a
articulao e a integrao continuada das aes de governo, metodologicamente
possveis com a atuao multiprossional, interdisciplinar e intersetorial,
vis--vis a estruturao e a articulao intragovernamental das aes de SST, hoje
marcadamente dispersas e bem exemplicadas pelo no compartilhamento dos
sistemas de informao dos ministrios supracitados.
Em relao ao perl de acidentes, mortes e adoecimentos relacionados ao
trabalho, so, em geral e sob consenso, destacados dois problemas que ainda
carecem de resoluo e que, como tais, dicultam a denio de prioridades
para o planejamento e a implementao de aes focais: primeiro, a qualidade
e a consistncia das informaes sobre o quadro de sade dos trabalhadores;
segundo, o carter parcial das informaes, cobrindo, sobretudo, o mercado
formal de trabalho.
Na realidade, como se pretende demonstrar, tais problemas so mais amplos
e ainda no sucientemente diagnosticados em termos de seu real estado da arte.
Reside neste fato a diculdade de se proporem alternativas para a sua superao.
A partir dos sistemas e registros administrativos nacionais, obtm-se
informaes que do uma dimenso muito diferente dos acidentes de trabalho
fatais e no fatais no Brasil. Isso pode ser visto nas tabelas 1 e 2 a seguir, que
apresentam as estatsticas obtidas a partir de tais sistemas. Na tabela 1 encontram-se
informaes sobre acidentes no fatais, ao passo que a tabela 2 apresenta dados
de acidentes fatais.
333
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
T
A
B
E
L
A
1
A
c
i
d
e
n
t
e
s
d
e
t
r
a
b
a
l
h
o
n
o
f
a
t
a
i
s
,
s
e
g
u
n
d
o
d
i
v
e
r
s
o
s
r
e
g
i
s
t
r
o
s
B
r
a
s
i
l
(
2
0
0
0
-
2
0
0
8
)
A
n
o
A
I
H
A
E
A
T
R
a
i
s
I
n
t
e
r
n
a
e
s
p
o
r
a
c
i
d
e
n
t
e
s
d
e
t
r
a
b
a
l
h
o
1
A
c
i
d
e
n
t
e
s
d
e
t
r
a
b
a
l
h
o
r
e
g
i
s
t
r
a
d
o
s
2
A
c
i
d
e
n
t
e
s
d
e
t
r
a
b
a
l
h
o
l
i
q
u
i
d
a
d
o
s
D
e
s
l
i
g
a
m
e
n
t
o
s
A
f
a
s
t
a
m
e
n
t
o
s
3
A
p
o
s
e
n
t
a
d
o
r
i
a
s
p
o
r
i
n
v
a
l
i
d
e
z
A
c
i
d
e
n
t
e
d
e
t
r
a
b
a
l
h
o
A
c
i
d
e
n
t
e
d
e
t
r
a
j
e
t
o
D
o
e
n
a
p
r
o
s
s
i
o
n
a
l
T
p
i
c
o
T
r
a
j
e
t
o
D
o
e
n
a
s
A
s
s
i
s
t
n
c
i
a
m
d
i
c
a
I
n
c
a
p
a
c
i
d
a
d
e
t
e
m
p
o
r
r
i
a
I
n
c
a
p
a
c
i
d
a
d
e
p
e
r
m
a
n
e
n
t
e
A
c
i
d
e
n
t
e
d
e
t
r
a
b
a
l
h
o
D
o
e
n
a
p
r
o
s
s
i
o
n
a
l
A
c
i
d
e
n
t
e
s
d
e
t
r
a
b
a
l
h
o
o
u
d
o
e
n
a
s
p
r
o
s
s
i
o
n
a
i
s
2
0
0
0
2
5
.
9
2
0
3
0
4
.
9
6
3
3
9
.
3
0
0
1
9
.
6
0
5
5
1
.
4
7
4
3
1
8
.
6
9
8
1
5
.
3
1
7
1
.
6
7
7
3
.
7
7
0
5
.
4
4
7
-
-
-
2
0
0
1
2
3
.
7
0
4
2
8
2
.
9
6
5
3
8
.
7
9
9
1
8
.
4
8
7
5
1
.
6
8
6
2
9
4
.
9
9
1
1
2
.
0
3
8
1
.
9
5
5
3
.
7
1
1
5
.
6
6
6
-
-
-
2
0
0
2
1
8
.
5
1
6
3
2
3
.
8
7
9
4
6
.
8
8
1
2
2
.
3
1
1
6
2
.
1
5
3
3
4
1
.
2
2
0
1
5
.
2
5
9
2
.
6
5
5
3
.
7
4
7
6
.
4
0
2
-
-
-
2
0
0
3
1
5
.
5
2
5
3
2
5
.
5
7
7
4
9
.
6
4
2
2
3
.
8
5
8
6
1
.
3
5
1
3
5
0
.
3
0
3
1
3
.
4
1
6
2
.
3
6
9
3
.
9
2
8
6
.
2
9
7
2
1
4
.
7
3
7
1
4
.
7
4
0
1
3
4
.
2
8
1
2
0
0
4
1
4
.
9
3
3
3
7
5
.
1
7
1
6
0
.
3
3
5
3
0
.
1
9
4
7
0
.
4
1
2
4
1
7
.
7
5
6
1
2
.
9
1
3
2
.
2
2
2
3
.
8
7
2
6
.
0
9
4
2
6
2
.
1
3
6
2
2
.
6
1
0
1
6
5
.
3
3
2
2
0
0
5
1
1
.
9
9
7
3
9
8
.
6
1
3
6
7
.
9
7
1
3
3
.
0
9
6
8
3
.
1
5
7
4
4
5
.
4
0
9
1
4
.
3
7
1
2
.
6
6
6
5
.
4
7
3
8
.
1
3
9
2
9
5
.
7
4
1
2
9
.
3
1
7
1
4
5
.
9
1
9
2
0
0
6
1
1
.
1
5
2
4
0
7
.
4
2
6
7
4
.
6
3
6
3
0
.
1
7
0
8
7
.
4
8
3
4
5
9
.
6
2
5
9
.
2
0
3
1
.
6
3
4
3
.
7
8
6
5
.
4
2
0
2
8
9
.
0
5
3
3
1
.
4
8
3
1
5
9
.
9
9
7
2
0
0
7
6
.
6
2
0
4
1
7
.
0
3
6
7
9
.
0
0
5
2
2
.
3
7
4
9
7
.
3
0
1
5
7
2
.
4
3
7
9
.
3
8
9
1
.
5
6
1
3
.
5
2
2
5
.
0
8
3
2
8
9
.
1
0
3
3
5
.
0
2
7
1
3
8
.
7
4
0
2
0
0
8
-
4
3
8
.
5
3
6
8
8
.
1
5
6
1
8
.
5
7
6
1
0
4
.
0
7
0
6
4
6
.
0
3
5
1
2
.
0
7
1
1
.
8
0
9
4
.
0
9
4
5
.
9
0
3
3
0
6
.
1
5
2
4
0
.
4
2
1
1
5
0
.
7
4
4
F
o
n
t
e
s
:
i
)
M
i
n
i
s
t
r
i
o
d
a
S
a
d
e
,
A
u
t
o
r
i
z
a
o
d
e
I
n
t
e
r
n
a
e
s
H
o
s
p
i
t
a
l
a
r
e
s
/
S
i
s
t
e
m
a
d
e
I
n
f
o
r
m
a
e
s
H
o
s
p
i
t
a
l
a
r
e
s
(
A
I
H
/
S
I
H
)
;
i
i
)
M
i
n
i
s
t
r
i
o
d
a
P
r
e
v
i
d
n
c
i
a
S
o
c
i
a
l
,
A
n
u
r
i
o
E
s
t
a
t
s
t
i
c
o
d
e
A
c
i
d
e
n
t
e
s
d
e
T
r
a
b
a
l
h
o
(
A
E
A
T
)
;
E
i
i
i
)
M
i
n
i
s
t
r
i
o
d
o
T
r
a
b
a
l
h
o
e
E
m
p
r
e
g
o
,
R
e
l
a
o
A
n
u
a
l
d
e
I
n
f
o
r
m
a
e
s
S
o
c
i
a
i
s
(
R
a
i
s
)
.
N
o
t
a
s
:
1
D
a
d
o
s
f
o
r
n
e
c
i
d
o
s
d
i
r
e
t
a
m
e
n
t
e
p
e
l
a
C
G
S
I
/
D
R
A
C
/
S
A
S
/
M
S
.
I
n
c
l
u
e
m
a
t
e
n
d
i
m
e
n
t
o
s
u
r
g
n
c
i
a
/
e
m
e
r
g
n
c
i
a
.
2
N
o
i
n
c
l
u
e
m
,
p
a
r
a
o
s
a
n
o
s
d
e
2
0
0
7
e
2
0
0
8
,
o
s
a
c
i
d
e
n
t
e
s
d
e
t
r
a
b
a
l
h
o
r
e
g
i
s
t
r
a
d
o
s
s
e
m
C
A
T
,
o
u
s
e
j
a
,
1
4
1
.
1
0
8
e
2
0
2
.
3
9
5
r
e
g
i
s
t
r
o
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
a
m
e
n
t
e
.
3
A
s
i
n
f
o
r
m
a
e
s
s
o
b
r
e
a
f
a
s
t
a
m
e
n
t
o
s
d
a
R
a
i
s
p
a
s
s
a
r
a
m
a
s
e
r
d
i
s
p
o
n
v
e
i
s
a
p
a
r
t
i
r
d
e
2
0
0
3
.
334
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
TABELA 2
Acidentes de trabalho fatais segundo diversos registros - Brasil (20002008)
Ano
SIM AIH AEAT RAIS
bitos por
acidentes de
trabalho
bitos com
internaes por
acidentes de
trabalho
1
Acidentes de
trabalho liquidados
por bito
Desligamentos por falecimento
Acidente do
trabalho tpico
Acidente do
trabalho de
trajeto
Doena
prossional
2000 2.422 625 3.094 - - -
2001 2.517 486 2.753 - - -
2002 2.799 427 2.968 - - -
2003 2.841 314 2.674 1.537 171 140
2004 3.011 332 2.839 1.647 279 168
2005 2.740 240 2.766 1.492 242 164
2006 2.782 223 2.798 1.339 310 131
2007 2.992 153 2.845 1.347 298 153
2008 3.089 - 2.817 1.428 383 154
Fontes: SIM e AIH/SIA/MS; AEAT/MPS; e Rais/MTE.
Nota:
1
Dados fornecidos diretamente pela CGSI/DRAC/SAS/MS.
De fato, afora alguns estudos e levantamentos tpicos, hoje o pas vem
contando nica e exclusivamente com sistemas setoriais de informao muitos
deles como registros administrativos nas esferas dos Ministrios da Previdncia,
da Sade e do Trabalho e Emprego como meio de suprir informaes sobre as
condies de SST e, mais especicamente, para dimensionar a realidade acidentria
nos diversos ambientes de trabalho que compem a sua vasta base territorial.
Porm, cada um deles apresentando especicidades estruturais que conformam o
alcance e as possibilidades analticas de seus dados. Alm disto, tais registros no
necessariamente cumprem funcionalidades diretas quanto aos eventos da rea,
exceo do sistema especialista da Previdncia Social e, em escala menor quanto
abrangncia temtica, o SIM, que registra os casos fatais de acidentes de trabalho,
alm do Sinan e do mdulo Anlise de Acidentes de Trabalho do SFIT, que se
atm a registros mais especcos e localizados, respectivamente.
Em resumo, a par das informaes estatsticas disponveis sobre a sade do
trabalhador se suportarem, sobretudo, em bases de dados construdas a partir de
registros administrativos, ainda h que se considerar o fato de que, em face dos
distintos objetivos na gerao e captura dos dados, os mesmos, embora hoje j
tenham incorporado ajustes e mudanas importantes, padeciam, at h pouco
tempo, de maior representatividade quanto ao conjunto de eventos registrados e
seu grau de cobertura. E mais, qualidade intrnseca de seus dados associava-se,
ainda, a construo diferenciada no tempo das bases de dados, segundo objetivos
institucionais circunscritos. Alm disso, ambas as tabelas mostram que, alm das
335
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
importantes diferenas na dimenso dos acidentes de trabalho nelas apresentadas,
h tambm diferenas conceituais no tratamento deste fenmeno. Apenas mais
recentemente, a pertinncia de se produzirem estatsticas e indicadores mais acu-
rados vem tendo prioridade maior.
2.1 Estratgias de integrao de informaes: a experincia da Fundacentro
Em coerncia com a sua misso institucional, a Fundacentro empreendeu em pas-
sado recente, esforos em relao ao desenvolvimento de estratgias de integrao
de informaes em SST principalmente ao criar um programa de ao de mbito
nacional, o Programa de Melhoria das Informaes Estatsticas sobre Doenas e
Acidentes do Trabalho (PRODAT), institudo em 1999 e encerrado em 2007.
Tambm foram formalizadas vrias parcerias tcnicas. Por ora, sero
apontadas apenas aquelas rmadas com o Seade, focadas na realidade do estado
de So Paulo e que se constituram em importantes contribuies pioneiras. Duas
delas, referidas aos anos noventa, so anteriores ao PRODAT (FUNDAO
SEADE, 1995a; 1995b). Uma relativa pesquisa Acidentes do trabalho na Grande
So Paulo: ocorrncia e caracterizao, por meio da aplicao de questionrio
suplementar quele utilizado pela Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED),
realizada mensalmente em parceria com o Dieese, junto a aproximadamente 3.000
domiclios. Outra, denominada Acidentes do trabalho e doenas prossionais:
a viso dos trabalhadores do estado de So Paulo, por meio da Pesquisa de
Condies de Vida, resultou, em 1994, na aplicao de questionrio suplementar
a 29.796 pessoas.
4
Posteriormente, j no incio deste sculo, como produtos de levantamentos
amplos, baseados na busca ativa de informaes em arquivos do INSS, foram
produzidos relatrios tcnicos (FUNDAO SEADE e FUNDACENTRO,
2001; 2002), que, por sua vez, se tornaram referncias para uma srie de trabalhos
tcnico-cientcos ou mesmo para a realizao de outros estudos como, por
exemplo, sobre os acidentes de trabalho em pequenas e micro empresas de alguns
ramos industriais (FUNDACENTRO e SESI, 2007).
Especicamente, o PRODAT, como um dos programas prioritrios da
Fundacentro, buscou, em termos de concepo, estabelecer um conjunto de
princpios, diretrizes e aes com o objetivo de desenvolver, alm de estudos e
pesquisas, aes cooperativas diversas, sendo que algumas resultaram na realizao
de seminrios e ocinas de trabalho estrategicamente voltados discusso dos
problemas relativos aos sistemas de informao, visando melhorias na gerao, no
4. Registre-se o seguinte: do total de respondentes indivduos com dez anos ou mais, com experincia anterior no
trabalho , cerca de 5% disseram ter sofrido acidentes nos ltimos anos e aproximadamente 10% declararam j ter
apresentado sinais ou sintomas de doenas prossionais (Fundao Seade, 1995a, p.1).
336
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
tratamento, na anlise e, sobretudo, na disseminao sistemtica de informaes
i., tanto estatsticas gerais como indicadores especcos sobre as doenas e
acidentes do trabalho no Brasil.
Esse programa foi referncia ao promover vrios eventos singulares: coordenou
nove ocinas de trabalho sobre Integrao de Bases de Dados Relacionadas Sade
do Trabalhador, que cobriram todas as grandes regies brasileiras e envolveram
a participao direta de prossionais de diversas instituies,
5
e realizou dois
seminrios nacionais sobre o tema, mas abrangendo, separada e sequencialmente,
os setores formal e informal do mercado de trabalho o primeiro, realizado em So
Paulo, em 2000, com o tema Estatsticas sobre Doenas e Acidentes do Trabalho
no Brasil: Situao e Perspectivas;
6
o segundo, tambm realizado em So Paulo,
em 2002, com o tema Estatsticas sobre Doenas e Acidentes do Trabalho no
Brasil: Questes de Identicao e Mensurao no Setor Informal.
7
No primeiro seminrio exploraram-se de modo mais detalhado as possibilidades
de uso dos registros administrativos na melhoria das estatsticas sobre os agravos nos
ambientes de trabalho, suas principais consequncias, bem como a busca de subsdios
no sentido de se promover uma maior integrao dos dados. Tambm foi objeto de
anlise e debate um melhor uso dos levantamentos nacionais de base populacional ou
domiciliar na produo de indicadores. No caso, o uso de parte das informaes dos
registros administrativos como numeradores e os levantamentos domiciliares como
denominadores, ou seja, a populao potencial exposta ao risco entre eles, o Censo
Demogrco e a PNAD.
O eixo principal dos debates foram os limites e as possibilidades das
estatsticas que cobrem os eventos globalmente relacionados s doenas e aos
acidentes de trabalho, por meio de balanos crticos e de uma anlise comparativa
sobre as informaes quantitativas disponveis e oriundas das diferentes fontes
de dados, independentemente de sua natureza ou nalidade imediata. Esse
processo foi importante na medida em que possibilitou um pensar coletivo e,
por conseguinte, um elenco de elementos como ponto de partida na busca de
solues concretas. Nessa direo, dois problemas imediatos se impunham:
5. Prossionais vinculados s seguintes instituies: Fundacentro, IBGE, DATAPREV/MPAS, Rais-CAGED/MTE; Datasus/
MS, Cenepi/MS e Seade.
6. Contou, alm de pesquisadores da prpria Fundacentro, com representantes dos Ministrios da Previdncia Social,
Sade e Trabalho e Emprego, Seade, IBGE, Prefeitura Municipal de So Paulo, Secretaria Estadual de Sade da Bahia,
Confederao Nacional dos Trabalhadores do Setor Mineral, alm de professores e pesquisadores da Faculdade de
Cincias Mdicas da Santa Casa de So Paulo, Universidade de Braslia, Universidade Federal da Bahia e Universidade
Federal de Minas Gerais.
7. Alm da Fundacentro, registrou a participao do Seade, Centro Latinoamericano e Caribenho de Demograa (Cela-
de/Cepal), FNUAP, Frum Estadual de Sade e Segurana do Trabalhador em Minas Gerais, Hospital de Pronto Socorro
de Porto Alegre, Secretaria Estadual de Sade do Rio Grande do Sul, Secretaria Municipal de Sade de So Paulo,
Faculdade de Medicina da UNESP/Botucatu, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal da Bahia e
Universidade Federal de Minas Gerais.
337
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
primeiro, a incompatibilidade operativa de alguns sistemas de informao e as
diculdades diferenciadas de acesso aos bancos de dados existentes; segundo, os
conhecimentos disponveis no permitiam avaliar quantitativa e qualitativamente
a adequao e a efetividade dos servios na rea de SST. Vale dizer: as estatsticas
eram insucientes para a realizao de diagnsticos e a elaborao de polticas
preventivas mais efetivas na rea. Situao, que, mais que um limite, seria um
srio obstculo a esta nalidade.
8
Tanto esse como o segundo seminrio nacional propiciaram no apenas
uma divulgao seletiva do PRODAT, como, sem dvida, serviram de suporte
comunidade cientca e a prossionais de SST para uma maior legitimao de
seus objetivos e metas. Em contrapartida, geraram expectativas quanto ao papel
que a prpria Fundacentro deveria assumir no que diz respeito a uma contribuio
maior, duradoura, em termos de se avanar na construo de um cenrio capaz de
possibilitar novos dados, estatsticas e indicadores.
Por conseguinte, foram priorizadas duas linhas de ao: a primeira, voltada
anlise dos sistemas de informao, pela execuo do projeto Prospeco e
Diagnstico Tcnico dos Bancos de Dados e Remodelagem das Estatsticas
sobre Sade do Trabalhador (Projeto PRODIAG), cujo relatrio sntese est
listado nas referncias deste trabalho (Fundacentro, 2002);
9
a segunda buscava
a compatibilizao e integrao dos dados, por intermdio de um projeto de
cooperao internacional que inclua intervenes como a criao de um centro
de excelncia para a produo e anlise de estatsticas sobre Sade e Segurana no
Trabalho (Projeto CENAEST).
Ainda que a integrao no tenha sido alcanada, tais projetos
trouxeram informaes teis para se caminhar nesta direo.
Os resultados e as proposies dos dois projetos sero brevemente apresentados e
discutidos em seguida.
8. poca, mas aqui suprimindo as fontes de dados de base populacional que tambm foram abordadas no referido
seminrio, as principais bases de dados ou sistemas de informao remetidos ao tema e l apresentadas, segundo a sua
locao, por ministrio, foram: Ministrio do Trabalho e Emprego Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED), Relao Anual de Informaes Sociais (Rais), Sistema Federal de Inspeo do Trabalho (SFIT); Ministrio
da Previdncia e Assistncia Social Sistema nico de Benefcios (SUB), Sistema CAT/SUB; Ministrio da Sade
Sistema de Informaes sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informaes Ambulatoriais (SIA), Sistema de Informaes
Hospitalares (SIH) e Sistema de Informaes sobre Agravos de Noticao (Sinan) (cf. Fundacentro, 2000).
9. Este e outros resultados do Projeto PRODIAG, vinculado ao PRODAT, foram encaminhados Diviso de Documentao
e Biblioteca do Centro Tcnico Nacional da Fundacentro, em So Paulo, sob a forma de relatrios tcnicos preliminares
contendo informaes detalhadas distribudas em oito volumes, a saber: 1) Relatrio Tcnico: Diagnstico das bases
de dados dos registros administrativos federais relacionados sade, trabalho e previdncia: anlise e sntese dos
aplicativos e variveis dos Sistemas SIM, AIH, CAT/SUB e Rais/CAGED; 2) Relatrio Preliminar da Base de Dados: AEPS
Anurio Estatstico da Previdncia Social; 3) Relatrio Preliminar de Base de Dados: SIM - Sistema de Informao sobre
Mortalidade; 4) Relatrio Preliminar de Base de Dados: AIH - Movimento de Autorizao de Internao Hospitalar; 5)
Relatrio Preliminar de Base de Dados: Rais - Relao Anual de Informaes Sociais; 6) Relatrio Preliminar de Base
de Dados: CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados; 7) Projeto PRODIAG - Dicionrios de Dados:
Volume I - SIM; e 8) Projeto PRODIAG - Dicionrio de Dados: Volume II - AIH, CAT/SUB, Rais/CAGED.
338
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
O projeto PRODIAG teve como objetivo precpuo avaliar a qualidade e a
consistncia dos bancos de dados que suportam informaes sobre doenas e
acidentes do trabalho no caso, registros administrativos no mbito da trade
sade-trabalho-previdncia no Brasil. Todavia, embora tenham sido selecionados
outros sistemas como objetos de estudo, poca foram priorizados quatro deles,
sendo dois do Ministrio da Sade Sistema de Informao sobre Mortalidade
(SIM) e Autorizao de Internao Hospitalar (AIH); um do Ministrio da
Previdncia Social/Instituto Nacional do Seguro Social Sistema CAT/SUB; um do
Ministrio do Trabalho e Emprego Relao Anual de Informaes Sociais (Rais).
10
Os resultados mais relevantes, mas no necessariamente individualizados,
podem ser sumarizados em trs blocos:
1. Problemas cadastrais e de qualidade intrnseca dos registros determi-
nando discrepncias e no convergncia das estatsticas oriundas dos
quatro sistemas.
2. Limitaes decorrentes da subnoticao de casos, da representativida-
de espacial e setorial das informaes e, por ltimo, da m cobertura dos
dados, que, alm de no se estender ao setor informal do mercado de
trabalho, decitria para o meio rural.
3. Apesar das diferenas das respectivas plataformas quanto ao emprego de
recursos de informtica, os seguintes problemas foram detectados em
relao aos dados: captura e tratamento, imiscibilidade, no integrao
relacional, diferenas de coortes, perodos de referncia e construo de
sries temporais.
Quadro esse que suportava as informaes setoriais sobre os agravos sade
no ambiente de trabalho e suas principais consequncias. Enm, dicultava
sobremaneira avanos no que respeita elaborao de proposies concretas
alternativas de forma a contribuir para uma maior efetividade das aes corretivas
e preventivas em SST.
Em outras palavras, ainda que ulteriores estudos se faam necessrios, a
importncia da pesquisa citada justicava-se enquanto uma tentativa primeira
de se analisarem comparativamente os dados de diferentes fontes, de sorte a se
construir um referencial inicial para balizamento das propostas necessrias aos
ajustes requeridos na anlise integrada dos dados bsicos, transformando-os,
na prtica, em informaes mais acuradas e, como tais, potencializadoras na
produo de novos conhecimentos para os prossionais que atuam nos diferentes
domnios da SST e, mais especicamente, com a sade do trabalhador.
10. As colocaes que se seguem se baseiam, sobretudo, no primeiro relatrio citado na nota anterior (cf. Fundacentro, 2002).
339
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
Nesse sentido, pelo menos duas possibilidades se apresentavam: por um lado,
a auditagem tcnica das variveis discretas, contnuas e do tipo nominal para
uma melhor identicao e, por conseguinte, mensuraes mais condizentes das
doenas e acidentes de trabalho, seja considerando as suas diferentes modalidades,
seja em face das suas possveis consequncias; por outro, a anlise preliminar
dos recursos das Tecnologias da Informao (TIs),
11
especialmente quanto s
facilidades e entraves existentes, de maneira a avanar na anlise integrada das
informaes de diferentes fontes.
Pressupe-se que as facilidades das TIs vis--vis a anlise dos aplicativos
ou softwares dos sistemas examinados no obstante as suas inequvocas
especicidades intrnsecas contribuiriam, de certa forma, para a harmonizao
das informaes, ao possibilitar, sob novos conceitos em sua reestruturao
tcnica, formas alternativas de processamento e disseminao, alm de uma
nova plataforma de operao. Isso porque, com a utilizao de metodologias de
extrao para cada tabulador dos registros administrativos, tabelas foram geradas
e analisadas para vericar a coerncia dos dados e o grau de preenchimento de
alguns campos atinentes qualicao das informaes. Vale dizer, a vericao
dos campos, aps o transporte dos dados para programas especcos de anlise
estatstica, mesmo evidenciando algumas discrepncias, necessariamente no
impossibilitava ajustes voltados compatibilizao de algumas variveis de
diferentes fontes, quando se buscou modelar dados sobre acidentes de trabalho
(SALIM e JURZA, 2002).
Se problemas foram detectados na anlise das variveis, no que respeita s
TIs, todos os sistemas apresentavam algum tipo de facilidade para o seu manuseio.
No entanto, isso no implicava a excluso de esforos comuns para uma maior
integrao dos mesmos, envolvendo os mantenedores ou responsveis por tais
sistemas no que tange compatibilizao dos campos de suas tabelas, rumo a
um possvel sistema nico de informaes em SST, onde no s os eventos
relativos ao trabalho seriam registrados, mas todo o universo de informaes ao
trabalhador e sua sade, sem, todavia, desconsiderar os trabalhadores do setor
informal. Sem dvida, uma tarefa difcil, mas no impossvel.
De qualquer forma, a partir da contraposio das facilidades implcitas nos
sistemas analisados, destacam-se, abaixo, pelo menos quatro das concluses obtidas,
11. poca, denominadas recursos de informtica. Hoje, mais recorrente tem sido a expresso Tecnologias de
Informao e Comunicao (TICs), aqui compreendidas como o conjunto convergente de tecnologias em microe-
letrnica, computao (hardware e software), telecomunicaes, radiodifuso e optoeletrnica (CASTELLS, 1999, p.
49). Todavia, dada a natureza deste trabalho, recorre-se aqui mais ao termo Tecnologias da Informao, doravante
simplicada na sigla TIs.
340
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
as quais foram analisadas amide em trabalhos especcos (FUNDACENTRO,
2002; SALIM, 2003; SALIM e JURZA, 2002).
1. No geral, constatou-se que tabuladores incompatveis so bices maior
integrao; mesmo com os vrios recursos da informtica examinados, eram
frequentes as inconsistncias e a no convergncia de muitas das variveis
(SALIM e JURZA, 2002); havia problemas com o perodo de referncia
dos eventos o dia do acidente, a data de afastamento do acidentado e
mesmo quanto denio do local do acidente ; e as faixas etrias, por
serem distintas, dicultavam ajustes e elaborao de estimativas.
2. Quanto identicao e comparao das variveis relevantes,
inicialmente foram selecionadas 12 variveis, a saber: rea geogrca,
idade, sexo, estado civil, instruo, ocupao, atividade econmica, data
do acidente, data do bito, causa, local do acidente e caracterizao do
acidente de trabalho. Posteriormente, para efeito de anlise detalhada
das variveis interbases, trabalhou-se de forma binria, quando se
exploraram amide as variveis comuns a cada dois sistemas tomados
isoladamente, ou seja, SIM/AIH, SIM/CAT, SIM/Rais, AIH/CAT,
AIH/Rais e, nalmente, CAT/Rais. Resultado: as variveis comuns a
todos os sistemas eram apenas quatro, ou seja, sexo, idade, caracterizao
do acidente de trabalho e rea geogrca. A ltima, no entanto, em
sentido amplo, podendo, por conseguinte, referir-se ao local do evento
ou do estabelecimento, como na Rais (FUNDACENTRO, 2002).
12
3. Embora basicamente cobrindo o setor formal do mercado de trabalho,
os nmeros sobre os casos fatais de acidentes de trabalho da Previdn-
cia Social eram signicativamente superiores aos nmeros congneres
obtidos do Ministrio da Sade, que, em tese, estariam cobrindo os
bitos decorrentes de acidentes de trabalho referidos tanto ao setor for-
mal quanto ao setor informal do mercado de trabalho (SALIM, 2003).
4. Outras concluses: como utilizavam o mesmo tabulador, seria exequvel
a integrao de variveis do SIM e do AIH, haja vista que os seus conte-
dos estavam organizados de forma similar. J em relao Rais, a data
de afastamento do acidentado no correspondia ao dia, e sim ao ms do
acidente de trabalho, e o local do acidente era a matriz da empresa. Para
uma melhor comparabilidade, tanto as idades constantes na AIH como
12. O leque das variveis comuns destes quatro sistemas alterou um pouco posteriormente, elevando-se para um total
de seis, ao nal de 2009, quando foram aferidas novamente. Veja este e outros detalhes mais adiante (seo 2.2).
341
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
no SIM deveriam ser ajustadas s faixas de idade da Rais ou vice-versa
procedimento, alis, que poderia ser adotado em relao varivel idade
constante na CAT (FUNDACENTRO, 2002).
Todavia, no decorrer da primeira dcada do sculo XXI, j se constata uma
maior convergncia dos dados de bitos relacionados a acidente de trabalho do
SIM com os da Previdncia Social. Convergncia no sentido da maior equivalncia
dos dados ou sobreposio de curvas ao nal do perodo (grco 1). Mesmo
assim, permanece o problema quanto aos registros, especialmente em relao ao
setor informal.
Os resultados desse projeto mostraram a necessidade de se priorizarem
anlises mais detalhadas prioridade que deveria ser dada aos casos mais graves
de acidentes, os acidentes fatais, no sentido de se buscarem simultaneamente
subsdios e alternativas ao seu melhor conhecimento, em especial, com relao
s diculdades de qualicar os casos fatais e aos limites quanto consecuo de
quanticaes, a partir dos registros contnuos de dados.
Metodologicamente, h procedimentos j testados voltados melhor
identicao e quanticao dos casos fatais, incluindo a caracterizao
demogrca e epidemiolgica dos trabalhadores vitimados, via comparao
das informaes dos referidos registros da CAT e do SIM, o que possibilita
uma anlise mais realista em termos de tendncia e variaes, e at mesmo a
deteco de casos ocorridos no setor informal, a partir dos nmeros disponveis.
Melhor explicando, j possvel aplicar tcnicas especcas voltadas a uma
melhor identicao e caracterizao dos casos fatais originrios do ambiente
de trabalho. Neste particular, destaca-se o potencial que encerra a metodologia
de vnculo de fontes de dados proposta por Waldvogel (1999; 2002), que
tambm se suporta nos resultados das pesquisas nanciadas pela Fundacentro
nos anos 1990 (FUNDAO SEADE e FUNDACENTRO, 1994; 2001) e
nos resultados obtidos pelas pesquisas mais recentes (FUNDAO SEADE
e FUNDACENTRO, 2001; 2002), os quais igualmente suportaram outros
trabalhos, agora no apenas referidos aos casos fatais como morbidade e
a outros aspectos da acidentabilidade laboral (WALDVOGEL, 2002; 2003;
COSTA et al., 2003).
13
13. Ver ainda neste livro o captulo A Fundao Seade e os estudos sobre mortalidade por acidentes de trabalho no
estado de So Paulo, de Waldvogel, Freitas e Teixeira.
342
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
GRFICO 1
Brasil: bitos por acidente do trabalho (2000-2008)
Fontes: SIM e AIH/SIA/MS; AEAT/MPS; e Rais/MTE.
Nota: Conforme nota da tabela 2, os dados do SIM para 2008 so preliminares.
Quanto s proposies de poca voltadas harmonizao das informaes,
h que se resgatar o Projeto CENAEST, ttulo curto de uma proposta que en-
volveu cooperao tcnica multilateral com organismo da ONU.
14
Embora previsse a criao de uma unidade especializada de mbito nacional
vinculada Fundacentro para a anlise e estudos no campo da SST, tal projeto no
pretendia ser soluo nica e cabal, exatamente pelo motivo de trazer em seu bojo
a perspectiva de maiores discusses entre os stakeholders previamente identicados.
Da uma perspectiva processual para eventuais adequaes. Neste sentido, entre
2002 e 2003, sua proposta foi apresentada em eventos e reunies, destacando-
se aqueles promovidos, alm da prpria Fundacentro, pela Associao Brasileira
de Sade Coletiva (Abrasco), Associao Brasileira de Estudos Populacionais
(ABEP); Associao Brasileira de Estudo do Trabalho (ABET); Grupo Executivo
Interministerial sobre Sade do Trabalhador (GEISAT).
Como meta principal, buscava contribuir para a melhoria das condies de
SST, por meio de aes voltadas simultaneamente ao fortalecimento e ampliao
da capacidade nacional, de forma a aperfeioar os processos de formulao,
monitoramento e avaliao de polticas pblicas relativas aos diversos ambientes
14. No caso, a rea Estratgias de Populao e Desenvolvimento do Fundo de Populao das Naes Unidas
(FNUAP), sendo a modalidade do projeto do tipo cost-sharing e a sua identicao pela rubrica ocial BRA/03/02/03-
02/P01/33/99, atravs da Agncia Brasileira de Cooperao. Com oramento global de cerca de 3,5 milhes dlares
ao cmbio de fevereiro de 2002, o prazo para a sua execuo foi estimado em 36 meses. O ttulo longo do projeto
resumia bem essa ideia, ou seja, Criao do Centro Nacional de Anlise e Estatsticas sobre Sade e Segurana no
Trabalho (CENAEST).
343
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
de trabalho no pas. Para isso, apresentavam-se trs proposies bsicas: i)
produo de novos conhecimentos na rea da SST; ii) gerao de tecnologia e
processos de harmonizao de dados de SST; e iii) otimizao das informaes
e das condies tcnicas de sua produo.
15
Enm, era uma proposta enquanto alternativa para a integrao de informaes
para a rea de SST, capaz de gerar servios e produtos e, principalmente, de canalizar
esforos ou meios para viabiliz-los. Infelizmente, por razes diversas, incluindo
prioridades de hora de transio entre governos, permaneceu na condio de no
iniciada. Hoje, mesmo desconsiderando a sua no retomada na forma original, soa
plausvel no deixar de se referir a algumas de suas proposies guisa de subsdios
para as discusses acerca das estratgias postas em relao diretriz de se estruturar
uma Rede Integrada de Informaes em Sade do Trabalhador, segundo a PNSST.
Todavia, aqui, a pretexto de argumentos em prol da projeo de um sistema de base
interorganizacional de informaes estatsticas sistema este que, estruturalmente,
poderia ser um dos componentes da referida Rede.
2.2 Novas perspectivas da parceria Fundacentro/Ipea
O Acordo de Cooperao Tcnica Ipea/Fundacentro
16
tem como objetivo
a implementao de aes conjuntas que assegurem a realizao de estudos e
pesquisas de interesse mtuo, principalmente a respeito de temas concernentes s
polticas de Segurana e Sade no Trabalho (SST).
Em termos operacionais, este Acordo est sendo executado atravs de trs
linhas de pesquisa: Estatsticas e Indicadores em SST, Custos Econmicos e
Sociais dos Acidentes de Trabalho e Avaliao de Polticas Pblicas em SST.
17
A primeira linha, de interesse mais direto deste captulo, por sua vez,
compreende dois projetos, ambos sob a coordenao da Fundacentro:
1. Prospeco e diagnstico tcnico dos bancos de dados e remodelagem
das estatsticas e indicadores sobre a sade do trabalhador (PRODIAG
Fase II) Projeto Piloto.
15. De forma indita, a referida proposta ainda planejava realizar, a partir de pesquisas de base populacional em
mbito nacional, levantamento sobre as condies de SST, observando-se, no mnimo, dois momentos distintos,
preferencialmente atravs da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD), do IBGE, pela incluso de um
questionrio suplementar.
16. N
o
23/2008 Processo: 03010.000183/2008-06 Partcipes: Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (Ipea) e a
Fundao Jorge Duprat Figueiredo de Segurana e Medicina do Trabalho (Fundacentro), cujos signatrios foram Marcio
Pochmann, presidente do Ipea, e Jurandir Boia Rocha, presidente da Fundacentro. Publicado no Dirio Ocial da Unio,
n
o
14, 21 jan. 2009. Seo 3. Vigncia: cinco anos.
17. Registre-se que um balano geral e as perspectivas do Acordo de Cooperao Ipea/Fundacentro foram apresentados
na 9
a
Reunio da Comisso Tripartite em Sade e Segurana no Trabalho (CTSST), realizada em So Paulo, em 23 de
fevereiro de 2010.
344
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Objetivo geral: concluir diagnstico tcnico dos dados disponveis sobre
a relao sade-trabalho-previdncia na esfera federal para ns de har-
monizao de suas informaes e, sequencialmente, projetar e construir
piloto de banco de dados para a produo e disseminao de estatsticas
sobre doenas e acidentes do trabalho.
2. Pesquisa sobre mortalidade por acidentes do trabalho nos estados de
So Paulo e Minas Gerais.
18
Objetivo geral: identicar, quanticar e caracterizar, para todos os mu-
nicpios dos estados de So Paulo e Minas Gerais, os trabalhadores que
foram vtimas fatais de acidentes de trabalho, por intermdio da vin-
culao das informaes das declaraes de bito e dos processos de
acidentes de trabalho, a partir do ano 2000.
19
At o presente momento, arranjos no plano interinstitucional foram
providenciados, bem como a realizao de um conjunto de atividades referidas
aos projetos e pesquisas mencionados anteriormente, todos resultando na
elaborao de relatrios especcos. Por ora, mas em coerncia com o presente
Artigo, registre-se a realizao de duas ocinas de trabalho, ambas promovidas
pelas linhas de pesquisa 1 e 2. Estas se constituram em oportunidade mpar
para se reunir e discutir o estado da arte dos sistemas de informao e bases de
dados no mbito da administrao federal, direta ou indiretamente relacionados
a aspectos inerentes realidade da SST no pas.
A primeira ocina Integrao de Bases de Dados Relacionadas Sade
do Trabalhador no Brasil: Situao e Perspectivas , realizada em Braslia em ju-
lho de 2009, alm de pesquisadores e tcnicos das duas instituies promotoras,
contou com a participao de convidados dos Ministrios da Sade, Previdncia
Social e Trabalho e Emprego, incluindo o Datasus e o DATAPREV, alm da
Fundao Seade.
A segunda, mais focada, intitulada Integrao de Bases de Dados Rela-
cionadas Sade do Trabalhador no Brasil: Elementos e Subsdios Constru-
o do Sistema Piloto, foi realizada em Belo Horizonte no ms de novembro
do mesmo ano. exceo do Datasus, contou com representantes das mesmas
instituies presentes na primeira ocina. Seu objetivo principal, com vistas
harmonizao das informaes, foi realizar um balano tcnico sobre os dados
que cobrem a relao trabalho-sade-previdncia no Brasil, de forma a se produ-
zirem subsdios e elementos construo de um piloto de sistema de informao
18. Originalmente, este projeto conta com uma parceria da Fundacentro com a Fundao Seade, rmada em 2005.
19. Conforme destacado na introduo, alm destes dois, outros projetos se distribuem pelas outras duas linhas:
Linha 2 Custos econmicos e sociais dos acidentes de trabalho. Coordenao: Ipea; Linha 3 Avaliao de polticas
pblicas em SST. Coordenao: Fundacentro.
345
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
enquanto experincia para a ampliao e melhor qualicao da produo e dis-
seminao de estatsticas e indicadores sobre o quadro de agravos sade dos
trabalhadores no Brasil.
Ambas as ocinas abriram novas perspectivas em relao possibilidade de
aprofundamento da cooperao tcnica interministerial no campo das informaes
em SST, sendo o presente livro inclusive um de seus resultados concretos.
Todavia, foi na segunda ocina que se avanou em termos de um melhor
conhecimento do conjunto de variveis que compem cada um dos domnios
das bases de dados, bem como na denio de recortes essenciais dos microdados
desses sistemas, de forma a viabilizar tratativas e operacionalidades rumo
integrao das informaes.
Em particular, pelo procedimento inicial de identicao de um total de
124 variveis que compem vrios sistemas CNIS, GFIT, SUB, CAT, Rais,
SIM, Sinan, SIH e SIA , foi possvel no apenas comparar individualmente as
variveis de cada sistema entre si, mas ainda estabelecer prioridades quanto ao
seu uso prtico, a partir da possibilidade de manipulao futura dos microdados.
Para o conjunto dessas variveis, rigorosamente apenas quatro seriam
comuns a todos: nome, sexo, data de nascimento e rea geogrca, podendo
a ltima, como j foi ponderado, em sentido amplo, ser o local do evento, da
residncia ou do estabelecimento. Ao se excluir o SIA dessa relao, as variveis
comuns seriam cinco, pela incluso da CBO.
Para ns de comparao com o que tinha sido detectado no diagnstico
anterior (FUNDACENTRO, 2002), e apresentado anteriormente, quando se
consideraram o SIH, a CAT, a Rais e o SIM, sendo as variveis comuns apenas
em nmero de quatro isto , sexo, idade, caracterizao do acidente de trabalho
e rea geogrca, hoje a relao seria ampliada para um total de seis variveis,
devido incluso de nome e CBO.
No entanto, outras simulaes indicaram resultados particularmente
signicativos, especialmente comparando-se os sistemas dois a dois. Segundo os
pares considerados, relacionados em ordem decrescente de acordo com as variveis
comuns (quadro 1), os dois sistemas que tiveram o maior nmero de variveis em
comum foram a CAT e o Sinan, seguidos de longe pelos pares CAT/SIM e CAT/
SIH. As 37 variveis comuns aos sistemas CAT e Sinan esto relacionadas no
quadro 2.
346
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
QUADRO 1
Comparao binria das variveis comuns aos sistemas AIH, CAT, Rais, SIM e Sinan
Fontes Quantidade de variveis comuns
CAT x Sinan 37
CAT x SIM 19
CAT x SIH 17
Rais x CAT 16
SIH x SIM 13
Rais x AIH 9
Rais x SIM 9
Fonte: Ocina de Trabalho Integrao de Bases de Dados Relacionadas Sade do Trabalhador no Brasil Elementos e
Subsdios Construo do Sistema Piloto.
Elaborao: Ipea/Fundacentro.
QUADRO 2
Variveis comuns aos sistemas CAT e Sinan (2009)
Variveis Tipo 1 CAT Sinan
Nome Cadastral X X
Nome da me Cadastral X X
Sexo Cadastral X X
Data de nascimento Cadastral X X
Descrio da ocupao Temporal X X
CBO Temporal X X
Municpio de residncia do trabalhador Temporal X X
UF de residncia do trabalhador Temporal X X
Bairro/distrito Temporal X X
Logradouro do trabalhador Temporal X X
Razo social Cadastral X X
CNPJ Cadastral X X
CNAE Cadastral X X
CNAE do estabelecimento Cadastral X X
UF Temporal X X
Municpio Temporal X X
Bairro/distrito Temporal X X
Logradouro Temporal X X
Data do acidente Cadastral X X
Hora do acidente Cadastral X X
Horas aps incio da jornada Cadastral X X
Houve afastamento Cadastral X X
Local do acidente Cadastral X X
UF do local do acidente Cadastral X X
Municpio do local do acidente Cadastral X X
Tipo de acidente Cadastral X X
Parte(s) do corpo atingida(s) Cadastral X X
Agende causador Cadastral X X
Descrio da situao geradora do acidente ou doena Cadastral X X
(Continua)
347
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
Variveis Tipo 1 CAT Sinan
Houve internao? Cadastral X X
Durao provvel do tratamento Cadastral X X
CID Cadastral X X
Agravo/doena Cadastral X X
Data do atendimento mdico Cadastral X X
Acidente de trabalho Cadastral X X
Municpio de ocorrncia do acidente Cadastral X X
Fonte: Ocina de Trabalho Integrao de Bases de Dados Relacionadas Sade do Trabalhador no Brasil Elementos e
Subsdios Construo do Sistema Piloto.
Elaborao: Ipea/Fundacentro.
Nota:
1
As variveis cadastrais no se alteram ao longo do tempo. A varivel temporal muda, e o que se busca na base
a ltima informao disponvel para aquela situao ou a informao ao longo do tempo. Exemplo: no caso da
Previdncia, na categoria de contribuinte, h vrios cdigos que dizem se conta prpria, contribuinte individual,
empregado, avulso, com o tipo de liao ao Regime Geral da Previdncia Social (RGPS). Num ms, ele pode estar
liado como conta prpria; no seguinte, como empregado. Isso depende de como se busca a informao na base e
em qual momento do tempo.
Em resumo, em funo de melhorias contnuas nos sistemas de informao,
hoje seria possvel repensar estratgias que se direcionassem efetiva integrao dos
mesmos por meio da linkage de algumas poucas variveis eletivas, que seriam esco-
lhidas de forma consensual. Com isso, at mesmo o controle de nveis de acesso via
segmentos ou camadas de informaes, quando, por exemplo, se poderiam destacar
tanto as questes de gesto em termos de segurana dos sistemas, especialmente
quanto aos requisitos de sigilo e condencialidade, quanto aos propsitos de disse-
minao seletiva ou ampla das informaes. Neste sentido, discutem-se, sequencial-
mente, uma alternativa, algumas estratgias e suas implicaes.
3 A CONSTRUO DE UM SISTEMA INTERORGANIZACIONAL DE
INFORMAES ESTATSTICAS
Esta seo explicita a ideia central de se incorporarem novos saberes e olhares
como condio para se discutirem alternativas no cmputo das diretrizes ditadas
pela PNSST relativas padronizao dos conceitos e critrios, integrao dos
sistemas no plano interministerial e, por m, compatibilizao dos instrumentos
de coleta de dados e uxos de informaes. Importante ainda apontar a
perspectiva multiprossional, operando de forma interdisciplinar, em que um
valor agregado importante deve ser remetido aos recentes avanos da cincia da
informao, em termos de gerenciamento das informaes e das TIs, governana
dita eletrnica, s formas de accountability e aos parmetros para os chamados
sistemas interorganizacionais de informao, alm, claro, de uma concepo
preliminar do que seria e do que se pretende com um sistema nesses moldes.
(Continuao)
348
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Todavia, ressalve-se que as colocaes que se seguem, particularmente em
relao s subseces 3.1 e 3.2, baseadas seletivamente em alguns poucos autores,
so ainda exploratrias. Como tais, carecem de maiores extenses tericas em n-
vel explicativo, ou seja, no so aportes de especialistas da cincia da informao.
Por conseguinte, so postas to somente como justicativas s argumentaes e
questes mais aplicadas que se seguem s subsees mencionadas.
3.1 Informao: cooperao insterinstitucional, governana e accountability
Beal (2007) aborda as principais etapas que compem a globalidade de todo o
processo de gesto estratgica da informao estruturada e das tecnologias da
informao (TIs) nas organizaes, dissecando temas como o planejamento,
a execuo das estratgias de informao e a sua avaliao associada ao
corretiva etc. Na etapa de planejamento, quando a importncia da necessidade
de alinhamento entre a estratgia corporativa e os planos de informao e TIs
so destacados, o realinhamento de objetivos s novas realidades dos ambientes
externo e interno tido como elemento essencial. Da a premncia, aps a execuo
do planejamento, de se priorizar a avaliao ou o controle do desempenho, por
meio de medies que se suportem em indicadores relacionados aos resultados e
aos fatores determinantes destes resultados em escala mais abrangente.
Para Davenport (1998), o gerenciamento da informao consistiria em um
conjunto estruturado de atividades que incluem o modo como se obtm, distri-
buem e usam a informao e o conhecimento. Neste sentido, seria concebido
como um processo que indicaria o caminho para as modicaes efetivas na forma
de se trabalhar com a informao em sentido estrito. Situao possvel com a iden-
ticao de todos os passos de um processo informacional todas as fontes en-
volvidas, todas as pessoas que afetam cada passo, todos os problemas que surgem
(DAVENPORT, 1998, p. 173), propiciando, como se espera, uma atuao mais
eciente, ecaz e democrtica das organizaes, sejam estas pblicas ou privadas.
As etapas desse processo seriam: determinao das exigncias, obteno, distribui-
o e utilizao da informao etapas tidas como fundamentais para se pensar
nos avanos requeridos em qualquer contexto informacional, especialmente dian-
te da necessidade de maior qualidade da oferta de servios de interesse pblico e de
busca de maior efetividade e transparncia das aes governamentais.
Entretanto, sem se ater s diferentes dimenses da informao, quanto s
ideias implcitas de sua ordenao como processo capaz de organizar aes, de
sua pr-condio para alavancar conhecimentos, de sua relao com o poder
e a produo de saberes ou mesmo de sua formatao para se tornar pblica,
alcanando, neste sentido, signicado etc., aqui se retm a sua condio de
questo a ser desvendada e a demandar uma ao de gesto. Gesto esta que
enfrente a fragmentao crescente em torno das mais diferentes dimenses da
vida nas sociedades contemporneas, como aponta Moraes (1998, p. 51).
349
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
Por conseguinte, h o imperativo de se ir alm do aparato das TIs, para a
busca dos chamados contedos explicativos. Contedos que, no contexto atual,
sejam capazes de facultar diretivas rumo construo de um sistema que articule
diferentes instncias de interesse direto para a rea de SST, gerando informaes
de natureza estratgica e operacional para o pas, de forma a contribuir para o seu
desenvolvimento sustentvel ou seja, elevando o status da SST como uma rea
importante de pertena e insero em mundo globalizado, onde os mercados se
articulam e as exigncias relativas aos produtos e ao processo produtivo aumentam
e tendem a se equiparar.
20
Em outras palavras, a busca das chamadas boas prticas
de governana orientadas para mudanas na rea, quando, ao cabo, espera-se mais
ecincia e transparncia por meio da acessibilidade democrtica s informaes
para o processo de tomada de deciso.
Nessa direo, ir alm dos princpios weberianos de governana burocrtica,
expressos principalmente na rigidez hierrquica, em normas para procedimentos
e rotinas, na assimetria da informao, na desconexo dos sistemas de informao,
no isolamento do governo etc. (SARKER, 2005) rumo governana com
base nas TIs situao denominada como estado de governana eletrnica
(RUEDIGER, 2002), agora sob novos parmetros na concepo da gesto
pblica no que respeita ao controle dos resultados, das rotinas e dos processos
eletrnicos instantneos e ecientes, das informaes acessveis e compartilhadas,
da rede integrada de informao e gesto e, nalmente, dos servios de governo
integrados comunidade.
Em qualquer dessas perspectivas, atrela-se noo de governana eletrnica
uma inequvoca concepo republicana, no sentido de no se ater, segundo
Ruediger (2002, p. 1-3), unicamente gesto de servios ad hoc, reicada pelo
mercado, mas de arena cvica, em contraponto privatizao da esfera pblica,
de publicizao do estado, com a clara incluso de padres de accountability.
Mais especicamente, da accountability horizontal da qual nos fala ODonnell
(1998) e que, segundo o autor, por sua vez se fundamentaria em oito condies
prvias, uma delas que se reportaria diretamente essencialidade da informao
convel, para a qual, juntamente com uma mdia independente, as instituies
de pesquisa e disseminao devem ter um papel importante. Contudo, tal
situao, que no implica a ausncia de apoio governamental s agncias pblicas,
pressupe a independncia das ltimas transitoriedade de governos, ou seja,
uma questo de Estado. Destarte, estas agncias responderiam mais efetivamente
pela coleta sistemtica de dados e pela estruturao das informaes, passveis
de serem disponibilizados em um vasto leque de indicadores inclusive, mas
20. Por exemplo, do mesmo modo que hoje os mercados consumidores tendem a rejeitar os produtos com contedo
de trabalho infantil, h uma tendncia inequvoca e crescente de busca por produtos e servios que incorporam
boas prticas de sade e segurana no ambiente de trabalho.
350
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
no exclusivamente econmicos. E mais, que indicadores devem ser esses,
a metodologia de sua coleta, a sua periodicidade e os meios pelos quais so
difundidos devem ser decididos por uma autoridade pluralista, e no puramente
governamental (ODONNELL, 1998, p. 50).
3.2 O que um sistema interorganizacional de informao?
Como ponto de partida, Silveira (2003, p. 107) aponta a importncia no apenas
de identicar, mas tambm de classicar e analisar as motivaes e os fatores
crticos de sucesso a serem considerados no processo de planejamento de sistemas
interorganizacionais no setor pblico, por intermdio do ambiente virtual da
internet. Particularmente, tais sistemas seriam denidos no balizamento das
relaes entre duas ou mais organizaes, sendo que a opo pela sua implementao
j carrearia a ideia implcita de quebra de paradigma, por afastar-se da forma
tradicional de gerenciamento de sistemas, e se dispor a entender os benefcios
(e riscos) do modelo colaborativo implica aceitar um novo paradigma, um novo
modelo, com outros limites e novas regras (SILVEIRA, 2003, p. 115-16).
Alm disso, a deciso por um sistema interorganizacional traria em seu bojo
um conjunto de estudos e tcnicas referidas ao ciclo informacional per si. Nesta
direo, os sistemas distribudos ou DDP (Distributed Data Processing) seriam
os antecessores dos sistemas interorganizacionais, inclusive pela incorporao de
alguns elementos tecnolgicos desenvolvidos para os sistemas distribudos. Vale
destacar que um sistema de informao seria denido como sendo o conjunto
de dados, procedimentos e canais de comunicao que permite a estruturao
da informao para o atendimento das necessidades dos processos decisrios
em vrios nveis. Por sua vez, um sistema interorganizacional representaria os
sistemas de informao que integram, total ou parcialmente, os processos de
negcio de duas ou mais organizaes (SILVEIRA, 2003, p. 111-12).
No entanto, so vrios os critrios para a classicao dos sistemas
interorganizacionais. Por exemplo, segundo o tipo de padro utilizado, a base
no relacionamento entre organizaes, o tipo de informao compartilhada ou a
compulsoriedade na integrao. Alm disso, o autor, com base em Li e Williams
(1999, apud SILVEIRA, 2003), acrescenta que tais sistemas ainda podem ser
divididos nas seguintes categorias: a) utilizao de tecnologia proprietria por
grupos fechados; b) utilizao de tecnologia aberta por grupos fechados; e
c) utilizao de sistemas abertos baseados em mdias abertas como a internet.
De qualquer forma,
Esses sistemas de informao compartilhados, nos quais a informao coletada,
processada e distribuda, no apenas para uma, mas para vrias organizaes, so
apoiados em intensa utilizao de tecnologia da informao e devem assegurar
351
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
equidade da cooperao e nos resultados, em um relacionamento do tipo winner-
to-winner (algo como ganha-ganha) (SILVEIRA, 2003, p. 113).
No Brasil, sobretudo no setor pblico, cresce a importncia desses sistemas,
supondo-se que o aparato tecnolgico disponvel potencialmente facultaria uma
maior interao do governo com os diversos atores da sociedade civil. No entanto,
implicando uma mudana de paradigma, a migrao para ambientes colaborativos
no poderia desconsiderar polticas e estratgias concernentes ao ambiente
em mudana, em termos de identicao de pr-requisitos como motivaes,
condies institucionais, apreenso dos fatores crticos de sucesso, como custos,
exequibilidade da cooperao com outras organizaes no compartilhamento de
informaes e envolvimento da alta direo.
3.3 Alternativas sua construo
Embora importantes, tais elementos no seriam sucientes se fossem dissociados
de aspectos tcnicos mais especcos a serem considerados em um cenrio de
mudana, implicando a quebra de paradigma, tal como exposto nas sees
anteriores, quando se discutiram os principais problemas e desaos inerentes
situao das informaes em SST no Brasil. Exatamente por isso, enfatiza-se, a
seguir, guisa de contribuio pontual, alguns desses aspectos, aqui considerados
iniciais ulterior incorporao de outros elementos discusso sobre o tema.
Por exemplo, h questes de carter cultural, administrativo, tcnico,
estratgico e poltico a serem consideradas. Exatamente por isso, a possvel
vinculao de qualquer fato ou evento no campo da SST deveria ser identicada
na fonte geradora da informao, envolvendo, nessa direo, atores sociais
como sindicatos, associaes patronais, prossionais do setor da sade, setores
pblicos da previdncia social e scalizao do trabalho, pesquisadores da rea e
outros setores como polcia, corpo de bombeiros etc. E mais, a pertinncia em
se considerarem critrios objetivos nessa direo, a exemplo dos que se seguem
(SALIM, 2003, p. 32-32).
1. A captura da informao deve ser feita de maneira convel, implicando
um registro consistente, no duplicado e com dados de qualidade.
2. Os dados devem ser armazenados e processados de maneira ordenada,
segura e eciente, exigindo-se a constituio de uma base especca para
esse m, que integre os registros de origens diversas relacionados rea.
3. H que se garantir o equilbrio adequado entre os objetivos conitantes
como privacidade e transparncia, acesso e sigilo, abertura e integridade etc.
352
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Ainda assim, seria necessrio somar esforos na direo de um trabalho
de planejamento estratgico participativo, associado a esforos tripartites, no
qual representantes do governo, de empresas e de trabalhadores teriam que
considerar questes tcnicas nem sempre de fcil resoluo, alm de decises
concernentes ao assunto.
21
Duas das propostas possveis que, por serem carentes de maiores discusses
tcnicas, teriam ainda que ser discutidas no sentido de se buscar uma deciso
consensual, a saber: a criao de um data warehouse ou a implementao
de um ambiente mais colaborativo, onde os mantenedores dos sistemas se
responsabilizariam por atuar, por exemplo, em pool. Essa deciso seria crucial para
se congurar o tipo de sistema interorganizacional que se pretende construir.
22
Sem dvida, comparativamente, as duas alternativas implicariam processos
de desenvolvimento bem distintos. Entretanto, uma estrutura de data warehouse,
alm de ser uma soluo pesada, trabalhosa e com diculdades decorrentes
da posio intrusiva, demandaria investimentos iniciais relativamente
altos, alm de operacionais xos de manuteno. Por sua vez, um ambiente
colaborativo distribuiria custos e responsabilidades e dividiria de maneira
efetiva a complexidade da tarefa (SALIM, 2003, p. 31-32), por estabelecer aos
participantes responsabilidades especcas nas atividades voltadas integrao.
Em ambos os casos, os requisitos da cooperao intragovernamental seriam
postos, diferenciando-se, no entanto, os nveis de profundidade de envolvimento
na qualicao do processo em si.
De qualquer modo, fundamental seria o acesso amplo ao conjunto
de informaes via internet, por exemplo , porm, observando-se nveis
diferenciados, afeitos amplitude dos setores envolvidos e de interesse comum
rea de SST, incluindo aspectos como: exposies aos riscos associados s
condies de trabalho; pers e gastos com acidentes e doenas do trabalho;
informaes com contedo educativo; indicadores sistemticos e especcos
sobre temas como a observao legislao, mapeamento de riscos, medidas
de proteo etc. Questes como design, segurana, compatibilidade (hardware
e software), diversidade de metodologias e de regras, embora importantes, no
21. Subtende-se ser fundamental que um sistema de informao, alm de esforos tripartites, tenha uma dimenso
nacional capaz, sobretudo, de reetir a pluridimensionalidade da estrutura produtiva brasileira em nvel intersetorial,
incluindo, nesse sentido, a mirade de ocupaes que a caracteriza. Embora discutindo questes mais amplas, como o
desenvolvimento sustentvel e a busca de solues estratgicas e polticas para os problemas de sade do trabalho,
para que o pas possa crescer (...) com ambientes de trabalho saudveis e sem adoecer e matar os trabalhadores,
segundo Yano et al. (2007, p. 14), tcnicos do SESI, lotados em diferentes regionais, propem, por exemplo, a criao
de um Sistema Integrado de Informao em Sade do Trabalho (SI-ST) no caso, enquanto ferramenta de tomada de
deciso sob o raio de suas aes para o setor industrial (Yano et al., 2007).
22. Cabe lembrar que nenhuma dessas opes seria incompatvel, por exemplo, com os propsitos do Projeto
CENAEST, anteriormente apresentados.
353
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
seriam decisivas como tais, mas convergentes na consolidao de um sistema
interorganizacional de informao nos moldes que se requer.
Em resumo, considerando-se que a governana eletrnica tambm envolve
o planejamento de sistemas interorganizacionais, os pontos crticos que podem
comprometer o livre uxo das informaes, mormente de suporte s atividades de
SST e de prestao de servios em sentido amplo no plano tripartite, tm que ser
retidos a priori vale dizer, os possveis bices que independem da capacidade das
TIs em ampliar o grau de cobertura ou abrangncia das informaes necessrias
consolidao da governana eletrnica. Enm, evitar o risco de se constituir um
enorme arquiplago, segundo Silveira (2003, p.108), formado por ilhas (stios),
que, ou no se comunicam entre si, ou o fazem por meio de pontes virtuais (links)
entre as ilhas, em contraposio a uma perspectiva mais ampla de continente,
onde os stios (seriam) integrados de forma transparente para o usurio. Da a
pertinncia de reunir, padronizar e integrar as informaes.
3.4 Discusso
A partir das consideraes de Davenport (1998) de que o gerenciamento da
informao englobaria quatro etapas fundamentais, pressupe-se, particularmente
no campo da SST, que conquistas parciais importantes j foram obtidas na primeira
etapa determinao das exigncias de informao. Todavia, esforos maiores
seriam necessrios para se avanar na terceira e quarta etapas, respectivamente
denominadas de distribuio da informao e utilizao da informao algo
ainda por se projetar e convergir esforos maiores proximamente. Equivale a dizer
que seria vital consolidar a primeira etapa, de forma a se conhecer melhor o que
se tem diante do que se almeja, ou seja, a denio do rol de informaes hoje
necessrias.
Sendo assim, aqui se busca antecipar questes pontuais relativas segunda
etapa, voltada, portanto, para a obteno da informao no caso, sob a
premissa de se debater a emergncia de um sistema interorganizacional. Neste
particular, seriam priorizados processos como a explorao de informaes, com
a sua classicao em uma plataforma pertinente e, por m, a formatao e a
estruturao das informaes, o que pressuporia inclusive a denio prvia de
uma possvel instituio hospedeira de tal sistema, de modo a operacionalizar
as etapas nais relativas s metas de distribuio e utilizao das informaes
especializadas para a rea de SST.
Essas observaes so importantes como argumentao para se repensar,
sob uma nova diretiva, a questo das informaes em SST no pas a partir da
incorporao de novos atores, quando a articulao de instncias diferenciadas
nas perspectivas da intersetorialidade e da transversalidade seria cabvel na medida
354
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
em que se contrapusesse aos interesses corporativistas, onde nem sempre os limites
tcnicos intrnsecos aos seus prprios sistemas de informao so devidamente
avaliados. Aqui h que se considerar os aspectos particulares e circunscritos a cada
sistema de informao, incluindo sua nalidade ou raio de abrangncia.
Facchini et al. (2005, p. 863), por exemplo, sustentam a importncia do
Sistema nico de Sade (SUS) como principal alternativa para se construir um
sistema especialista. Nesta direo, pressupem que outros setores e instituies,
tais como a Previdncia Social, Ministrio do Trabalho e Emprego, Fundacentro
e Sindicatos (...) sero altamente relevantes para efetivao do SIST (Sistema de
Informao em Sade do Trabalhador). Contudo, esta no parece ser uma soluo
adequada, visto que continuaria a se buscar ou fortalecer uma alternativa setorial.
Melhor seria pensar em um sistema que no casse sob a gide e a coordenao de
um nico ministrio, mas que, na perspectiva de sua maior visibilidade, tivesse um
carter supraministerial, porm fundamentado na cooperao interorganizacional.
Em contraposio unilateralidade, a pluridimensionalidade. Isso possibilitaria
uma maior cobertura em relao amplitude dos problemas do mundo do
trabalho, na medida em que particularidades afeitas Sade, Segurana e
Seguridade pudessem ser contempladas como um todo, ou seja, como uma
resultante de uma estratgia convergente. E, com isso, a obteno de informaes
mais efetivas e abrangentes sobre as condies dos ambientes de trabalho e os
agravos sade dos trabalhadores no pas.
23
Alternativa, no entanto, que ainda
carece de deliberaes e de marco regulatrio.
Na realidade, um processo democrtico de construo e de avanos no campo da
sade do trabalhador no pode restringir-se s instncias burocrticas, prescindindo-se
da incluso de setores mais amplos da sociedade, e tampouco imputar um papel
salvacionista s solues tecnolgicas que, embora importantes, no podem ser
destitudas de abordagens inter e transdisciplinares, assim como de aes e interaes
no plano intersetorial. Isso a pretexto da necessidade emergente de se desenvolver
o que Silveira (2001, p. 80), em outro Artigo, destaca como um modelo mais
cooperativo e menos corporativo que facilite a recuperao das informaes.
Nesse cenrio, mais uma vez, valeria constatar a pertinncia de se pressupor
o necessrio avano no processo de governana dos sistemas de informao como
um todo mais especicamente, dos sistemas de natureza interorganizacional
ante as alternativas eletrnicas hoje j postas e que, proximamente, poderiam
ser ampliadas. Da a importncia de se incorporarem, cada vez mais, questes
remetidas efetividade da accountability horizontal colocada por ODonnell
23. De forma emblemtica, os casos fatais de acidentes no ambiente de trabalho no raramente mantm interfaces
importantes com as funes normalizadora-scalizadora da segurana no trabalho e securitria, respectivamente
sob as responsabilidades dos Ministrios do Trabalho e Emprego e da Previdncia Social.
355
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
(1998), quando se discute um assunto de tamanho alcance e cujo equacionamento
no pode car deriva de interesses setoriais. Caso contrrio, perdem todos:
trabalhadores, empresrios e governo.
4 CONSIDERAES FINAIS
Neste trabalho, aportes da cincia da informao ao processo de gerenciamento
das informaes em SST, quando da anlise das bases de dados e da discusso
de proposies alternativas de sua harmonizao isto , compatibilizao
e integrao , foram adicionados na perspectiva de se buscarem subsdios
alternativa de construo de um sistema interorganizacional de informao.
A partir de um balano em que se reteve o estado da arte das informaes
associadas aos recursos de TIs que lhes so peculiares, discutiram-se tanto
metodologias para facultar o uso e a consulta integrada das principais bases de
dados, quanto para avaliar alternativas para maximizar a utilizao das informaes
em diversos nveis hierrquicos de desagregao. Com isso, alm de se pautar
a emergncia em se otimizarem tais informaes, tambm foram discutidas
questes acerca da alternativa de se consolidar uma estrutura especca para o
seu acesso, no sentido de fortalecer a base institucional do Estado, facultando-lhe
potencialmente, alm de um planejamento com possibilidades de execuo mais
efetiva, aes corretivas e preventivas mais ecazes quanto ao maior alcance e
menor desperdcio de recursos.
Viu-se, ainda, que em funo da heterogeneidade dos sistemas em termos
de conceitos e dados cadastrados, assim como de suas estruturas fsicas, de suma
importncia reter as formas de captao dos dados e suas nalidades; obviamente,
no se esquecendo de que os dados somente sero de fato harmonizados se, e
to-somente se, esforos convergentes, frutos de prioridades de poltica para a
rea, forem efetivamente focalizados em razo de uma meta maior. No caso,
a busca de um novo paradigma para a melhoria das informaes disponveis,
integrando-as preferencialmente a eventos correlatos quanto caracterizao de
cenrios especcos que lhes so ans um desao, sem dvida, de grande monta,
que, por ser ainda inexplorado, se mostra sem base adequada de conhecimento.
Na verdade, ainda continuam pendentes questes de comunicabilidade
interbases, onde sistemas conceitualmente incompatveis ou losocamente
distintos, mesmo com boas interfaces, permanecem restritos s suas nalidades
administrativas, em contrapartida desejvel ecincia e maior eccia das
polticas de proteo ao trabalhador em diferentes ambientes de trabalho. Como
muito ainda h que ser desbravado, urge o desenho de novas pesquisas conjugadas
com esforos interinstitucionais para esquadrinhar e tentar modelar os dados de
uma maneira que se possa explicitar suas qualidades intrnsecas em contraposio
s prioridades, como, em alguns casos, vem se dando s TIs.
356
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Apesar da escassez e da diculdade de acesso a material de referncia para
o presente trabalho, priorizou-se aqui o suporte de um conjunto de atividades
e resultados de pesquisa, ambos pioneiros, desenvolvidos particularmente pela
Fundacentro. Todavia, como referncias condio de suporte possibilidade de
se construir um sistema interorganizacional em SST. Tambm se aventaram as
perspectivas quanto ampliao do acervo de conhecimentos que se abrem com
os projetos em execuo no mbito do Acordo de Cooperao Tcnica rmado
entre o Ipea e a Fundacentro.
Enm, dimenses que se remetem a enormes desaos, cuja soluo
consentnea de seus principais obstculos e problemas, implicando tanto vontade
poltica quanto envolvimento de equipes multidisciplinares operando de forma
interdisciplinar e com o suporte adequado das modernas TIs, soa vivel desde
que se promovam maiores debates, incluindo, nesta direo, alm dos atores
diretamente envolvidos com questes sobre sade e segurana do trabalhador,
a prpria sociedade civil, na perspectiva de que, por meio do embate de ideias e
proposies, se possa ter um avano mais efetivo, sem o risco de se estar limitando
uma discusso de alcance maior a particularidades setoriais ou corporativas.
REFERNCIAS
BEAL, Adriana. Gesto estratgica da informao: como transformar a informao
e a tecnologia da informao em fatores de crescimento e de alto desempenho das
organizaes. So Paulo: Atlas, 2007.
BRASIL. Ministrio da Previdncia Social. Ministrio da Sade. Ministrio do
Trabalho e Emprego. Portaria Interministerial MPS/MS/MTE n
o
800, de 3 de
maio de 2005. Poltica Nacional de Segurana e Sade no Trabalho. Submetida
consulta pblica. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 5 maio 2005.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. So Paulo: Paz e Terra, 1999.
COMISSO TRIPARTITE DE SEGURANA E SADE NO TRABALHO
(CT/SST). Poltica Nacional de Segurana e Sade no Trabalho (proposta).
Disponvel em: <http://www.mte.gov.br/seg_sau/comissoes_ctssp_proposta.
pdf>. Acesso em: 26 out. 2010.
CONFERNCIA NACIONAL DE SADE DO TRABALHADOR, 3.,
TRABALHAR, SIM! ADOECER, NO!, 2005, Braslia. Coletnea de textos.
Braslia: Ministrio da Sade; Ministrio do Trabalho e Emprego; Ministrio da
Previdncia e Assistncia Social, 2005.
COSTA, L. B. et al. Morbidade declarada e condies de trabalho: o caso dos
motoristas de So Paulo e Belo Horizonte. So Paulo em Perspectiva, So Paulo,
Fundao Seade, v. 17, n. 2, p. 54-67, abr./jun. 2003.
357
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
DAVENPORT, Thomas H. Processos de gerenciamento da informao. In:
______. Ecologia da informao: por que s a tecnologia no basta para o sucesso
na rea da informao. So Paulo: Futura, 1998. p. 173-199.
ECHTERNACHT, E. H. O. Alguns elementos para a reexo sobre as relaes
entre sade e trabalho no Brasil. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, v. 2,
n. 2, p. 85-89, 2004.
FACCHINI, L. A. et al. Sistema de informao em sade do trabalhador: desaos
e perspectivas para o SUS. Cincia & Sade Coletiva, v. 10, n. 4, p. 857-867, 2005.
FUNDAO SEADE. Acidentes do trabalho e doenas prossionais: a viso dos
trabalhadores do estado de So Paulo. So Paulo, 1995a. Relatrio nal do
contrato com a Fundacentro sobre a coleta de dados sobre acidentes de trabalho
no mbito da Pesquisa Condies de Vida.
______. Mortalidade por acidentes do trabalho no estado de So Paulo 1991/1992.
So Paulo, 2001. Relatrio nal do Convnio Fundao Seade/Fundacentro.
______. Mortalidade por acidentes do trabalho. So Paulo, 1994. Relatrio nal
do Convnio Fundao Seade/Fundacentro.
______. Acidentes do trabalho na Grande So Paulo: ocorrncia e caracterizao.
So Paulo, 1995b. Relatrio nal do contrato com a Fundacentro sobre a coleta
de dados sobre acidentes de trabalho no mbito da Pesquisa de Emprego e De-
semprego PED, realizada em convnio com o Dieese.
FUNDACENTRO. Diagnstico das bases de dados dos registros administrativos
federais relacionados sade, trabalho e previdncia: anlise e sntese dos aplicativos
e variveis dos sistemas SIM, AIH, CAT/SUB e Rais/Caged. Belo Horizonte,
2002. PRODIAG: Relatrio Tcnico Parcial.
FUNDAO SEADE; FUNDACENTRO. Estudos e pesquisas sobre sade e
segurana no trabalho no transporte coletivo no estado de So Paulo. Subprojeto
II: Pesquisa de acidentes do trabalho de motoristas e cobradores, atravs das
informaes detalhadas das CAT. So Paulo, 2001. Relatrio nal do Convnio
Denatran-MJ/MTE.
______. Estudos e pesquisas sobre sade e segurana no trabalho no transporte
coletivo e no transporte de trabalhadores rurais na Regio Metropolitana de Belo
Horizonte. Subprojeto II: Acidentes do trabalho nos setores de transporte coletivo
urbano e no transporte de trabalhadores rurais. So Paulo, 2002. Relatrio nal
do Convnio Denatran-MJ/MTE.
FUNDACENTRO; SESI. Acidentes do trabalho em micro e pequenas empresas
industriais nos ramos caladista, moveleiro e de confeces: resultados consolidados. Belo
358
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Horizonte, 2007. PRODAT: Relatrio Tcnico 4. Disponvel em: <http://www.
fundacentro.gov.br/dominios/ctn/indexAcervoDigital >. Acesso em: 2 dez. 2010.
LI, Feng; WILLIAMS, Howard. New collaboration between rms: the role of
interorganizational systems. In: HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SYSTEM SCIENCES, 32., Big Island, Hawaii, 1999. Proceedings. Hawaii:
1999.
MINISTRIO DA SADE. Poltica Nacional de Informao e Informtica em
Sade. Braslia, 2004.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Poltica Nacional de Segurana
e Sade no Trabalhador (PNSST). Braslia, 2005. Verso pronta aps sugestes
29/12/2004. Includas as sugestes do Seminrio Preparatrio dos AFTs e das
DRTs.
MORAES, I. H. S. Informaes em sade: para andarilhos e argonautas de uma
tecnodemocracia emancipadora. 1998. Tese (Doutorado) Escola Nacional de
Sade Pblica ENSP, Fiocruz, Rio de Janeiro, 1998.
ODONNELL, G. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova, v.
44, p. 27-53, 1998.
REDE INTERGENCIAL DE INFORMAES PARA A SADE RIPSA.
Relatrio do Comit Seguro, Trabalho e Sade. Braslia: MS/OPS, 1998.
RUEDIGER, M. C. Governo eletrnico ou governana eletrnica: conceitos
alternativos no uso das tecnologias de informao para o provimento de acesso
cvico aos mecanismos de governo e da reforma do Estado. Caracas: CLAD, 2002.
Disponvel em: <portal.cnti.ve/cnti_docmgr/sharedles/gobiernoelectronico7.
pdf>. Acesso em: 10 abr. 2007.
SALIM, C. A. Contribuies melhoria dos dados e estatsticas sobre doenas
e acidentes do trabalho no Brasil: agenda e projetos da Fundacentro. In: CON-
GRESSO BRASILEIRO DE SADE COLETIVA, 7., Sade Justia, Cidadania.
Braslia: Abrasco, 2003.
SALIM, C. A. Estatsticas sobre acidentes de trabalho segundo os registros
administrativos no Brasil: desaos e possibilidades. In: SALIM, C. A. et. al. Sade
e segurana no trabalho: novos olhares e saberes. Belo Horizonte: Fundacentro;
UFSJ; Segrac, 2003. p. 23-36.
SALIM, C. A; JURZA, P. Contribuio anlise dos recursos da informtica na con-
vergncia das estatsticas sobre sade do trabalhador. In: SEMANA DE PESQUISA
DA FUNDACENTRO, 5., Estudos e Pesquisas em Parceria na rea de Sade e
Segurana no Trabalho, 2002, So Paulo. Anais. So Paulo: Fundacentro, 2002.
359
Sistemas de Informao e Estatsticas sobre Sade e Segurana no Trabalho: questes, perspectivas ...
SANTANA, V. S. et al. Acidentes do trabalho: custos previdencirios e dias de
trabalho perdidos. Rev. Sade Pblica, v. 40, n. 6, p. 1.004-12, 2006.
SANTANA, V. S.; NOBRE, L. C. C.; WALDVOGEL, B. C. Acidentes de tra-
balho no Brasil entre 1994 e 2004: uma reviso. Cincia e Sade Coletiva, v. 10,
n. 4, p. 841-855, 2005.
SARKER, P. P. Governana eletrnica e em rede. In: AMBROSI, A.; PEUGEOT,
V.; PIMIENTA, D. Desaos de palavras: enfoques multiculturais sobre as socieda-
des da informao. C & F ditions, 2005. (Edio Eletrnica). Disponvel em:
<http://.vecam.org/article527.html/acesso>. Acesso em: 8 abr. 2007.
SEMINRIO NACIONAL ESTATSTICAS SOBRE DOENAS E ACI-
DENTES DO TRABALHO NO BRASIL: SITUAO E PERSPECTIVAS,
2000, So Paulo. Anais. So Paulo: Fundacentro, 2000.
SILVEIRA, H. Internet, governo e cidadania. Cincia da Informao. Braslia, v. 30,
n. 2, p. 80-90, mai/ago. 2001. Disponvel em: <http://revista.ibict.br/index.php/
ciinf/article/view/200/177>. Acesso em: 18 set. 2010.
SILVEIRA, H. Motivaes e fatores crticos de sucesso para o planejamento de
sistemas interorganizacionais na sociedade da informao. Cincia da Informao.
Braslia, v. 32, n. 2, p. 107-124, maio/ago. 2003. Disponvel em: <http://www.
scielo.br/pdf/ci/v32n2/17039.pdf>. Acesso em: 18 set. 2010.
WALDVOGEL, B. C. A populao trabalhadora paulista e os acidentes do tra-
balho fatais. So Paulo em Perspectiva, So Paulo, Fundao Seade, v. 17, n. 2,
p. 42-53, abr./jun. 2003.
______. Acidentes do trabalho: os casos fatais: a questo da identicao e men-
surao. 1999. Tese (Doutorado) Faculdade de Sade Pblica, Universidade de
So Paulo, So Paulo, 1999. In: SALIM, C. A; MOTTI, M. I. F; YUKI, M. I.
G. (Org.). Coleo PRODAT estudos e anlises. Belo Horizonte: Segrac, 2002.
v. 1, n. 1. 192 p.
______. Acidentes de trabalho: vida ativa interrompida. In: CARVALHO
NETO, A., SALIM, C. A. (Org.) Novos desaos em sade e segurana no traba-
lho. Belo Horizonte: IRT; Fundacentro, 2001. p. 37-57.
CAPTULO 11
A FUNDAO SEADE E OS ESTUDOS SOBRE MORTALIDADE POR
ACIDENTES DE TRABALHO NO ESTADO DE SO PAULO
Bernadette Cunha Waldvogel
Rosa Maria Vieira de Freitas
Monica La Porte Teixeira
1 APRESENTAO: A INSTITUIO
Instituda pelo Decreto n
o
1.866, de 4 de dezembro de 1978, a Fundao Sis-
tema Estadual de Anlise de Dados (Seade) um rgo ligado Secretaria de
Economia e Planejamento do Estado de So Paulo, com atribuies de coletar,
organizar, analisar e disseminar estatsticas socioeconmicas e demogrcas para
a sociedade, rgos governamentais, sindicatos, empresas privadas, universidades
e usurios em geral.
Com extensa atuao no cenrio de produo de dados, o Seade teve origem
no nal do sculo XIX, com a criao da Repartio da Estatstica e Arquivo do
Estado. Seu importante patrimnio, composto de numerosas informaes esta-
tsticas, incorporou ao longo do tempo novos procedimentos e inovadoras meto-
dologias de anlise de dados, que permitiram desenvolver diversos estudos para o
entendimento e o monitoramento das mudanas ocorridas na populao paulista.
Seus detalhados bancos de dados sobre as regies e os municpios paulistas ali-
mentam um conjunto relevante de publicaes com periodicidade variada. So gera-
dos dados sobre estatsticas vitais do estado de So Paulo, por meio do acompanha-
mento contnuo dos nascimentos, bitos e casamentos ocorridos em seu territrio, do
emprego e desemprego na Regio Metropolitana de So Paulo (Pesquisa de Emprego
e Desemprego PED), das condies de vida no estado (Pesquisa de Condies de
Vida PCV) e das atividades econmicas aqui desenvolvidas (Pesquisa de Atividade
Econmica Paulista PAEP).
362
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
O Seade responsvel, tambm, pela elaborao e desenvolvimento de me-
todologias de projeo e estimativas populacionais, alm de ter larga experincia
na construo de diversos indicadores, em especial na rea da sade.
Esse acervo de conhecimentos permite Fundao Seade fornecer informa-
es destinadas ao planejamento estratgico e formulao de polticas pblicas,
bem como elaborar anlises sobre a dinmica econmica e demogrca das lti-
mas dcadas e construir cenrios de crescimento futuro. Possibilita ainda investi-
gaes regionalizadas acerca das transformaes econmicas e sociais ocorridas no
estado de So Paulo ao longo dos anos.
2 A EXPERINCIA DO SEADE COM A VINCULAO DE BASE DE DADOS
Importante atribuio da Fundao Seade, realizada desde o nal do sculo XIX,
a pesquisa mensal nos Cartrios de Registro Civil de todos os municpios do
estado de So Paulo, onde so coletadas informaes sobre os eventos vitais re-
gistrados - nascimentos, bitos e casamentos , bem como cpias das respectivas
declaraes de bito (DO) e de nascido vivo (DN).
Por essa razo, o Seade consegue relacionar, de forma contnua, as informa-
es do registro civil com aquelas epidemiolgicas originrias da DO e da DN,
produzindo, desta forma, bases de dados mais abrangentes e consistentes. Isso
torna o estado de So Paulo singular neste campo, por ser a nica Unidade da
Federao que desenvolveu, ao longo de dcadas, um sistema prprio de produ-
o de estatsticas vitais que independente e, ao mesmo tempo, integrado aos
sistemas nacionais do Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica (IBGE) e do
Ministrio da Sade.
Assim, tradicionalmente, no estado de So Paulo sempre foram processadas,
de forma integrada, as informaes provenientes do registro civil dos eventos
vitais com aquelas contidas nas declaraes de bito e de nascido vivo. Tal mo-
delo de produo foi aperfeioado pelo Seade com a automatizao e agilizao
do processamento de suas bases de dados e a vinculao destas duas fontes de
informao. Deste modo, as bases geradas contm todas as informaes existen-
tes tanto no registro civil quanto nas declaraes, em um processo que compara
as variveis comuns para a anlise das divergncias e a melhoria da qualidade.
A experincia acumulada na adoo deste modelo resultou no conhecimento de-
talhado das limitaes e potencialidades das fontes originais, o que foi decisivo
para o aperfeioamento das estatsticas vitais do estado de So Paulo.
Ao longo de sua existncia, o Seade consolidou duas grandes parcerias:
com o IBGE e com a Secretaria de Estado da Sade (WALDVOGEL, 2003).
A primeira voltada para a produo e o aperfeioamento das estatsticas do
registro civil. Em seu mbito, a coleta dos dados nos Cartrios de Registro Civil
363
A Fundao Seade e os Estudos sobre Mortalidade por Acidentes de Trabalho no Estado de So Paulo
dos municpios paulistas, que era realizada duplamente pelo IBGE e pelo Seade,
passou a ser feita apenas por esta ltima instituio. Tal racionalizao nas ativi-
dades de coleta nos cartrios proporcionou o aprimoramento da qualidade das
informaes e maior agilidade.
A parceria com a Secretaria de Estado da Sade possibilitou o desenvolvi-
mento de diversos projetos de elaborao, monitoramento e anlise de indica-
dores epidemiolgicos e demogrcos para o planejamento de aes do governo
do estado de So Paulo. Desde o incio da implantao do Sistema de Informa-
o sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informao sobre Nascidos Vivos
(SINASC), o Seade esteve presente apoiando o desenvolvimento dos sistemas
municipais de sade do estado e colaborando com a melhoria da cobertura e da
qualidade dos dados produzidos.
Em 2005, um novo projeto entre as duas instituies permitiu a elaborao
da base unicada de nascimentos e de bitos, pela integrao dos bancos de da-
dos dos sistemas municipais de sade (SIM e SINASC) com os tradicionalmente
produzidos pelo Seade. Este novo processo deu origem a bases de dados mais
completas e precisas, incorporando os eventos no captados por um dos sistemas
e introduzindo controles mais acurados de consistncia para os atributos de cada
registro contido nesses bancos (WALDVOGEL et al, 2008).
A integrao das bases do SIM e do SINASC com as do registro civil re-
velou que, embora haja grande convergncia entre os totais de eventos captados
pelas duas fontes de forma independente, ainda persiste relevante volume de casos
presentes em apenas uma delas. Para se ter uma ideia desta questo, em 2005,
ano do incio da referida parceria, o SINASC registrou 611.923 nascimentos no
estado de So Paulo, enquanto nas estatsticas do registro civil do Seade este valor
correspondeu a 614.169. Por trs desta aparente convergncia de totais, algumas
decincias vm tona ao se examinarem os resultados da aplicao do modelo
de vinculao a essas duas bases de dados. Tal integrao acarretou maior dimen-
sionamento de eventos: 620.805 nascimentos. No caso dos bitos, os totais foram
de 228.741 pelo SIM; 237.295 pelas estatsticas do registro civil; e 237.861 pela
integrao das duas fontes. Tais resultados permitem avaliar a ocorrncia de su-
benumerao nas referidas fontes, sendo que a anlise da distribuio dos eventos
vitais no mbito municipal indica diferenas de captao ainda maiores, com
efeitos signicativos nos totais municipais.
A experincia vivenciada pelo Seade nesse tipo de atividade credenciou-o no
desenvolvimento e aprimoramento de uma nova linha de pesquisa, com a apli-
cao de tcnicas de vinculao (linkage) determinstica a diferentes bases de da-
dos. Foram rmadas inmeras parcerias com rgos federais, secretarias estaduais e
municipais, universidades, hospitais, institutos de pesquisa, associaes e conselhos
prossionais, entre outros, para executar vinculaes entre suas respectivas bases
364
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
de dados com as bases de nascimentos e bitos produzidas no Seade. Os modelos
de vinculao foram especialmente tratados e aprimorados, visando adequar-se s
diferentes especicidades de cada fonte utilizada.
Em especial na rea de sade do trabalhador, encontram-se diversos estudos
desenvolvidos em parceria com a Fundao Jorge Duprat Figueiredo de Seguran-
a e Medicina do Trabalho (Fundacentro). Tal experincia teve incio em 1994,
com um projeto que pesquisou e analisou os acidentes de trabalho ocorridos no
estado de So Paulo, entre 1991 e 1992 (WALDVOGEL, 1999). Um levanta-
mento mais abrangente foi realizado posteriormente, em 2000, considerando-se
os acidentes ocorridos entre 1997 e 1999 (WALDVOGEL, 2002). Um novo
projeto foi desenvolvido entre 2001 e 2002, compreendendo estudos e pesquisas
sobre acidentes de trabalho e doenas prossionais na Regio Metropolitana e
no Colar Metropolitano de Belo Horizonte (FUNDAO SEADE e FUNDA-
CENTRO, 1994; 2001; 2002).
3 A QUESTO DO DIMENSIONAMENTO DOS ACIDENTES DE
TRABALHO FATAIS
A grande diculdade nos estudos sobre mortalidade por acidentes de trabalho a
existncia de relevante subnoticao destes eventos. So necessrias informaes
completas, atualizadas e dedignas sobre a ocorrncia de acidentes e doenas a
que os trabalhadores esto sujeitos no exerccio de sua prosso, para a orien-
tao de medidas que minimizem tais eventos e para a elaborao de polticas
direcionadas classe trabalhadora, tantas vezes vtima de acidentes e doenas do
trabalho. As fontes de dados existentes fornecem cifras distintas, que revelam pa-
noramas parciais e muitas vezes desencontrados, demandando estudos especcos
para o melhor entendimento desta questo.
Existem, no Brasil, pelo menos cinco grandes sistemas de informao, im-
plantados e em funcionamento, com dados sobre acidentes e doenas do tra-
balho, que so padronizados em todo o territrio nacional: as Comunicaes
de Acidentes de Trabalho (CAT), que so informadas ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), do Ministrio da Previdncia Social (MPS) por meio
desse sistema operado pela DATAPREV; Sistema de Informaes sobre Mortali-
dade (SIM), gerenciado pelo Ministrio da Sade, com registros das Declaraes
de bito (DO); Sistema de Informaes Hospitalares (SIH), tambm gerenciado
pelo Ministrio da Sade, com registros de Autorizao de Internao Hospita-
lar (AIH); Sistema de Informao de Agravos de Noticao (Sinan), relativo a
acidentes de trabalho, recm-implantado e gerenciado pelo Ministrio da Sade;
e Relao Anual das Informaes Sociais (Rais), gerenciada pelo Ministrio do
Trabalho e Emprego, com dados sobre movimentao dos empregados com con-
trato formal de trabalho.
365
A Fundao Seade e os Estudos sobre Mortalidade por Acidentes de Trabalho no Estado de So Paulo
Tais sistemas so alimentados por registros administrativos, cada um con-
cebido para cumprir uma funo distinta; de modo que nem todos podem ser
diretamente transformados em bases estatsticas. Entretanto, como eles contam
com preciosas informaes sobre a sade do trabalhador, sua utilizao oferece
importante subsdio para a compreenso da questo acidentria.
Os sistemas de informao sobre os casos fatais de acidentes de trabalho
mais utilizados no Brasil CAT (DATAPREV/INSS) e SIM (MS) apresentam
estatsticas parciais e incompletas sobre tais eventos, no possibilitando estudos
abrangentes e precisos sobre mortalidade e sade do trabalhador.
Nesse sentido, a metodologia de vinculao (linkage) de bases de dados se apre-
senta como alternativa vivel para a anlise e a identicao das ocorrncias fatais
de acidentes de trabalho, permitindo caracteriz-los e quantic-los mais adequa-
damente. A aplicao desta metodologia apresenta vantagens como baixo custo e
contnua periodicidade, uma vez que utiliza registros administrativos j existentes.
A seguir so apresentadas, de forma resumida, algumas caractersticas, van-
tagens e limitaes dos dois sistemas de informao sobre acidentes de trabalho
fatais: CAT e SIM.
3.1 DATAPREV: Comunicao de Acidente do Trabalho
A Comunicao de Acidente do Trabalho (CAT), expedida pelo INSS/MPS,
constitui registro administrativo a ser preenchido pela empresa, sempre que o tra-
balhador sofrer acidente e estiver a servio desta, ou no trajeto entre sua residncia
e o local de trabalho.
No caso de morte do trabalhador vtima de acidente laboral, ou para aqueles
casos em que se constate necessidade de indenizao judicial, abre-se processo
de acidente de trabalho no INSS, mediante encaminhamento, feito geralmente
pelos dependentes do segurado, da documentao de tal ocorrncia.
Essa fonte contm informaes tanto pessoais do acidentado quanto sobre
as circunstncias do acidente, tais como local da ocorrncia, condio de o aci-
dentado estar ou no a servio da empresa, data e horrio do acidente. Existem
tambm dados sobre a empresa onde o trabalhador exercia sua atividade, permi-
tindo caracterizar o risco de acidente associado ao tipo de empresa.
A principal limitao dessa fonte consiste na restrio de suas informaes
parcela da fora de trabalho contribuinte do INSS, principalmente a classe tra-
balhadora inserida no mercado de trabalho formal, excluindo os funcionrios do
setor pblico e, principalmente, os trabalhadores do setor informal, que, como
ressalta Wnsch Filho (1995), ainda constituem populao margem das es-
tatsticas ociais, embora representem hoje praticamente a metade da fora de
trabalho ocupada no pas.
366
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
O sistema de informao do INSS, cujos dados se encontram disponveis no
DATAPREV, tem como nalidade o processamento de benefcios aos acidenta-
dos, aos dependentes e queles acometidos por doenas do trabalho. Vale ressaltar
que, atualmente, as empresas enviam informaes sobre acidentes de trabalho
via internet, o que tem facilitado o processamento das bases de dados e, em tese,
poder agilizar sua disponibilizao.
3.2 Sistema de Informaes sobre Mortalidade: declarao de bito
A declarao de bito (DO), instrumento utilizado para registrar todas as mor-
tes ocorridas no Brasil, registro administrativo expedido pelo Ministrio da
Sade e segue o mesmo padro em todo o territrio nacional. A partir da decla-
rao de bito assinada por mdico, que atesta a causa do falecimento, o bito
registrado em cartrio.
As Secretarias de Sade dos municpios brasileiros alimentam o Sistema de
Informao sobre Mortalidade (SIM) com os dados constantes da DO, enviando
regularmente seus arquivos municipais s Secretarias Estaduais de Sade e ao
Ministrio da Sade, que coordena e processa tais informaes para o total do
pas. Estes dados, uma vez que so produzidos em cada secretaria municipal, esto
sujeitos a problemas estruturais ou conjunturais que podem afetar a qualidade e
a cobertura das informaes relativas a cada Unidade da Federao, interferindo
no processamento do sistema em geral.
preciso considerar tambm a existncia de diferenciados nveis de sub-
registro de bito nos estados brasileiros, acrescida da ocorrncia de mortes sem
assistncia mdica e sem causa de morte denida, que ainda persistem no pas
e enfraquecem os estudos epidemiolgicos em determinadas regies brasileiras.
As informaes do SIM esto disponveis na pgina do Datasus na internet,
e o usurio pode realizar suas prprias tabulaes.
Uma das principais vantagens da declarao de bito para estudos da mortali-
dade por acidentes de trabalho consiste na diversidade de informaes sobre o tra-
balhador falecido. Este documento contm tambm importantes dados epidemio-
lgicos, como as causas de morte e o tipo de causa externa de morte, alm de campo
especco para noticar se o bito ocorreu ou no devido a acidente de trabalho,
ou se este fato ignorado. Outra vantagem abranger todos os trabalhadores, inde-
pendentemente de o vnculo empregatcio ser formal ou informal, ou da condio
de contribuinte ou no do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
Por sua vez, a principal desvantagem na utilizao da declarao de bito
como fonte de dados para tais estudos refere-se ao inadequado preenchimento do
campo indicativo de associao da morte como resultante de acidente de trabalho,
367
A Fundao Seade e os Estudos sobre Mortalidade por Acidentes de Trabalho no Estado de So Paulo
o que interfere na identicao e quanticao dos casos fatais deste tipo de aciden-
te. Isso ocorre principalmente pelo desconhecimento do prossional mdico sobre
as circunstncias exatas da morte, ou por ele no querer se comprometer com tal
declarao.
Alm disso, no h registro mais especco sobre o local onde ocorreu o aci-
dente de trabalho, nem se o trabalhador estava a servio da empresa no momento
do acidente. Tambm no possvel identicar as doenas ocupacionais, pois o
campo de acidente de trabalho na DO preenchido to somente no caso de causa
externa de morte.
Outro fator limitante diz respeito s regras de codicao para alimentar o
SIM, que at recentemente no consideravam o homicdio como tipo de violn-
cia compatvel com acidente de trabalho, embora na legislao acidentria esta
causa de morte seja identicada como tal um fato que interferia, ainda mais,
na subenumerao dos casos fatais de acidentes de trabalho. Com as evidncias
apresentadas em diversos trabalhos que atestam a importncia deste tipo de causa
de morte como risco sade do trabalhador, o Ministrio da Sade se props a
alterar tais regras.
4 METODOLOGIA DE VINCULAO DE BASES DE DADOS
A tcnica de relacionamento, vinculao, pareamento ou encadeamento de bases
de dados, tambm conhecida como linkage na literatura internacional, consiste
na integrao de informaes de duas ou mais fontes distintas de dados, visando
identicar registros comuns presentes nestas bases e conrmar a veracidade destes
pares. Para tal, pressupe-se a existncia de informaes padronizadas e individu-
alizadas, que permitam a identicao do mesmo indivduo nas diferentes bases
(ALMEIDA e MELLO JORGE, 1996).
O termo linkage foi introduzido pela primeira vez por Dunn, em 1946
(DUNN, 1946). Um dos pioneiros a desenvolver a metodologia de relaciona-
mento automtico de registros foi o geneticista canadense Howard Newcombe
(NEWCOMBE et al., 1959). Em 1969, Fellegi e Sunter agregaram a esta me-
todologia um tratamento matemtico formal, hoje conhecido como mtodo do
relacionamento probabilstico de registro. Desde ento, com a progressiva de-
manda de estudos utilizando mais de um sistema de informao, tal metodologia
tem sido aperfeioada e adotada por diversas instituies e pesquisadores de sade
pblica de todo o mundo (MACHADO et al., 2008).
O processo de relacionamento entre as bases de dados pode ser determins-
tico ou probabilstico. O modelo determinstico presume que os registros a serem
relacionados possuam variveis comuns, para as quais possvel obter concordn-
cia exata, e que exista um cdigo ou identicador unvoco comum entre as bases.
368
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
J na aplicao do modelo probabilstico no h um identicador unvoco nas
bases relacionadas, sendo que a opo adotada consiste em utilizar vrios campos
e/ou variveis comuns a essas bases e trabalhar com probabilidades de concordn-
cia entre as variveis selecionadas para o pareamento (MACHADO et al., 2008).
Segundo Silveira et al. (2008), grande o volume de produo cientca no
mundo que utiliza o mtodo de linkage probabilstico e, no Brasil, este modelo
usualmente viabilizado pelo uso do RecLink.
Na literatura internacional, vrios estudos empregam o relacionamento de
bases de dados, tais como: para a mortalidade infantil, Fedrick (1974) e Blakely et
al. (2003); para os estudos de cncer, Grundy et al. (2004); para pesquisas sobre
Aids, Bernillon et al. (2000); entre outras tantas aplicaes desta metodologia em
sade pblica. Em 1962, Acheson criou o Oxford Record Linkage Study and Unit
of Clinical Epidemiology, que consiste em um sistema de registros mdicos com
dados de nascimento, morbidade e mortalidade, que fornece informaes para di-
versos estudos epidemiolgicos (BALDWIN, ACHESON e GRAHAM, 1987).
No Brasil tambm foram desenvolvidos diversos estudos considerando a
tcnica de vinculao de bases dados, como, por exemplo, na rea de mortalida-
de infantil, relacionando-se as bases de bito infantil com as de nascidos vivos
(ORTIZ, 1999; ORTIZ e OUSHIRO, 2008; SILVA, 2009); nos estudos sobre
Aids (WALDVOGEL, 2006; TEIXEIRA e WALDVOGEL, 2006; MORAIS
et al., 2006); naqueles considerando os acidentes de trabalho (WALDVOGEL,
1999; 2002; 2003), os acidentes de trnsito (MAIA, 2009), os bitos (MACHA-
DO et al., 2008) e o diabetes mellitus (CASCO e KALE, 2006); bem como
naqueles sobre a mortalidade neonatal (ALMEIDA e MELLO JORGE, 1996),
entre tantos outros.
A existncia de bases de dados com informaes individualizadas possibilita
a busca de casos comuns e presentes em cada fonte, visando a formao de pares
com os casos coincidentes. Tal procedimento procura maximizar a utilizao de
registros administrativos j existentes e compatibilizar as informaes disponveis
em cada fonte, enriquecendo o detalhamento dos dados e ampliando o universo
de casos. Torna possvel tambm identicar os casos que esto presentes em ape-
nas uma das fontes e estimar os respectivos ndices de subenumerao.
4.1 Modelo de vinculao adotado no Seade
A experincia acumulada no Seade com a integrao de diferentes bases de da-
dos fundamentou o modelo a ser adotado a partir da comparao de mltiplos
identicadores, considerando uma etapa prvia neste processo, que consiste em
padronizar e avaliar as bases a serem utilizadas, visando garantir a qualidade de
suas informaes.
369
A Fundao Seade e os Estudos sobre Mortalidade por Acidentes de Trabalho no Estado de So Paulo
Para executar o processo de vinculao, necessrio que as bases originais
apresentem adequada regularidade e boa qualidade de seus dados, com porcentu-
al insignicante de duplicidade de eventos, alm de estarem na mesma linguagem
computacional. Cumpridas estas exigncias, tal processo realizado de forma
automatizada, comparando-se cada registro e identicando-se os casos comuns
presentes nas bases consideradas, a partir de varivel-chave previamente denida.
A varivel nome, que no costuma ser utilizada em pesquisas estatsticas,
considerada importante para a aplicao do modelo de vinculao, principal-
mente nos casos em que as bases de dados utilizadas possuem poucas variveis em
comum. Tambm a validao dos pares formados com os casos comuns pode ser
realizada com a comparao de mltiplas variveis como, por exemplo, data de
nascimento, data do bito, idade da me, sexo do indivduo, entre outras vari-
veis que estejam disponveis.
No processo de vinculao adotado no Seade elaboram-se critrios para a
formao de pares, que so incorporados s rotinas informatizadas. A seleo
pode ser realizada de duas formas: por igualdade ou por semelhana. Na compa-
rao por igualdade observa-se que a varivel selecionada aparece preenchida de
maneira idntica nas duas bases, enquanto naquela por semelhana verica-se se
tal semelhana igual ou superior a determinado nvel preestabelecido, que, em
geral, de 80%.
A conrmao dos pares selecionados feita em duas etapas: automtica e
visual. A primeira ocorre quando todas as variveis denidas para a vinculao
coincidem totalmente. Quando o par selecionado por um dos critrios apresenta
algum tipo de discordncia, torna-se necessria a anlise visual, que ento reali-
zada caso a caso, comparando-se as demais informaes contidas nas bases, para
posterior conrmao ou rejeio do par.
A seleo visual feita com dupla vericao, ou seja, por duas pessoas
que tm seus trabalhos comparados; na ocorrncia de seleo discordante, nova
anlise conjunta realizada para a deciso nal um procedimento que reduz
a possibilidade de erro na seleo e o erro aleatrio do tcnico no processo de
seleo visual.
4.1.1 Exemplo de integrao de bases de dados para os casos fatais de
acidente de trabalho
Com o propsito de exemplicar o potencial de aprimoramento resultante do
tratamento conjunto de diferentes bases de dados, apresenta-se uma sntese do
projeto desenvolvido em parceira entre a Fundao Seade e a Fundacentro, em 2000
(WALDVOGEL, 2003; FUNDAO SEADE e FUNDACENTRO, 2000).
370
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
O projeto teve como objetivo a identicao e a quanticao dos casos
fatais de acidentes de trabalho ocorridos no estado de So Paulo, entre 1997 e
1999. A m de resgatar a riqueza das informaes sobre os casos fatais de aciden-
tes de trabalho existentes na declarao de bito e na comunicao de acidente
de trabalho e superar suas limitaes especcas, considerou-se a aplicao da
metodologia de vinculao a estas duas fontes de dados.
Nesse perodo, as bases de mortalidade processadas pela Fundao Seade, a
partir das informaes contidas no registro civil e nas declaraes de bito, no
dispunham dos nomes do falecido e de sua me para serem utilizados como vari-
veis de identicao na aplicao do modelo proposto. Em contrapartida, as co-
municaes de acidentes de trabalho ainda no estavam informatizadas no INSS
e nelas inexistiam maiores detalhes sobre os casos fatais de acidentes de trabalho,
alm de no disporem dessas mesmas variveis de identicao.
Fez-se necessrio, ento, resgatar todas as declaraes de bito arquivadas
no Seade, cujo campo de acidente de trabalho estivesse preenchido com sim, para
coletar as variveis de identicao requeridas no modelo. Tambm foi realizada
uma pesquisa em todas as agncias e postos do INSS no estado de So Paulo,
quando foram levantados dados sobre os casos fatais de acidentes de trabalho nos
processos arquivados em cada unidade.
A metodologia de vinculao de bases de dados adotada nessa experincia
procurou maximizar a utilizao de tais registros administrativos, compatibili-
zando suas informaes, enriquecendo o detalhamento dos dados e ampliando o
universo de casos fatais.
Importante ganho com esse procedimento foi a possibilidade de detectar
casos de acidentes que estavam presentes em apenas uma das fontes. Um fato
que permitiu identicar os casos fatais que, apesar de noticados pelo mdico
como acidentes de trabalho na declarao de bito, no resultaram em abertura
de processo no INSS.
Os casos noticados na declarao de bito como acidente de trabalho e que
no constam da base do INSS referem-se, de modo geral, populao trabalhado-
ra no coberta pelo INSS, aos trabalhadores contribuintes sem dependentes aptos
a requerer benefcio a este rgo, ou queles cujos dependentes residam fora do
estado de So Paulo. A parcela da populao assim estimada representa uma apro-
ximao dos acidentes fatais ocorridos com trabalhadores do mercado informal.
A pesquisa identicou, para o estado de So Paulo, 1.999 casos fatais nos
processos de acidentes de trabalho do INSS e 2.177 nas declaraes de bito do
acervo do Seade, entre 1997 e 1999, indicando mdia anual de, respectivamente,
666 e 726 casos fatais.
371
A Fundao Seade e os Estudos sobre Mortalidade por Acidentes de Trabalho no Estado de So Paulo
Alm dos totais distintos, existe sensvel diferena no perl da populao
trabalhadora revelada a partir de cada fonte, sendo apenas a distribuio por sexo
idntica, com uma participao majoritariamente masculina (95,5%). Quanto
distribuio etria, os dados do INSS mostram maior frequncia de casos fatais en-
tre 30 e 39 anos, enquanto a populao revelada pela declarao de bito mais jo-
vem, com pico entre 20 e 34 anos. Nesta segunda fonte tambm se verica maior
participao de acidentados com mais de 55 anos, quando comparada primeira.
Em relao composio por estado civil, encontra-se maior diferena nos dados
do INSS: 61,5% de casados e 28,4% de solteiros, ao passo que, nas declaraes
de bito, tais propores correspondem a 51,9% de casados e 36,7% de solteiros.
Esses resultados indicam diferenas importantes nos pers da populao aci-
dentada no estado de So Paulo, reveladas a partir da anlise isolada de cada fonte
de registro administrativo. Tal constatao reala a necessidade de uma anlise con-
junta das fontes, considerando-se a integrao de seus dados, para se contar com
um panorama mais abrangente da populao trabalhadora vtima desses acidentes.
Aplicando-se a metodologia de vinculao de bases de dados, foi possvel
identicar 530 casos comuns s duas fontes. Aps incorporar os casos presentes
em apenas uma delas, a base integrada totalizou 3.646 casos fatais de acidentes de
trabalho no estado de So Paulo, entre 1997 e 1999, indicando que, a cada ano,
1.215 trabalhadores foram vtimas fatais de acidentes relacionados ao trabalho,
ou seja, a cada dia ocorreram cerca de 3,3 mortes por acidentes laborais.
A gura a seguir descreve o resultado desse procedimento.
FIGURA 1
Base integrada CAT/DO de acidentes do trabalho
Fonte: Fundao Seade e Fundacentro (2000).
Como primeiro resultado desse procedimento, tem-se a estimativa do grau
de cobertura dos casos fatais de acidentes de trabalho para cada fonte. As declara-
es de bito cobriram 59,7% do universo de casos da base integrada, enquanto
as comunicaes de acidentes de trabalho responderam por 54,8% deste total.
372
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
Conclui-se, ento, que as duas fontes de dados se mostraram insucientes para
identicar e dimensionar adequadamente os casos fatais de acidentes de trabalho
quando utilizadas de forma isolada. O tratamento conjunto ampliou este univer-
so e permitiu anlises mais abrangentes da questo acidentria.
Vale dizer que o total de casos fatais identicados no levantamento nas agn-
cias e postos do INSS resultou em um contingente distinto daquele apresentado
nos Anurios Estatsticos da Previdncia Social. Nestas estatsticas, o volume di-
vulgado refere-se a casos comunicados e liquidados pelo INSS em determinado
ano. O processo considerado liquidado quando sua avaliao se encerra admi-
nistrativa e tecnicamente no INSS, ao se denir o nexo causal entre acidente e
trabalho, o que pode interferir no intervalo de variao entre a entrada e a deciso
nal do processo. Outro fator de diferenciao decorre do fato de o volume apre-
sentado nos Anurios referir-se ao total de benefcios gerados por tais acidentes,
sendo que um nico caso pode gerar mais de um benefcio. Alm disso, o mu-
nicpio ou estado adotado o de entrada do processo e no o da ocorrncia do
acidente ou da residncia do segurado.
Segundo o Anurio de 1999, no estado de So Paulo, foram liquidados
2.935 casos fatais de acidentes de trabalho, entre 1997 e 1999. A comparao
com os dados da pesquisa realizada em 2000 mostra que eles correspondem a
68,1% do nmero publicado no referido Anurio.
Esse porcentual semelhante ao estimado por Gawryszewski et al. (1998)
para o estado de So Paulo, em 1995. Analisando a distribuio dos bitos segun-
do o ano de ocorrncia do acidente, os autores detectaram apenas 66,8% destes
casos como ocorridos e liquidados em 1995.
Em compensao, na base do Sistema de Informaes sobre Mortalidade
(SIM), foram encontrados 1.724 bitos por acidentes de trabalho ocorridos entre
1997 e 1999. O valor inferior em relao pesquisa direta nas declaraes de
bito decorre, principalmente, da ocorrncia de homicdios como causa de morte
de acidentes de trabalho, que no esto presentes no SIM.
5 CONSIDERAES FINAIS
Um sistema de monitoramento de acidentes e doenas decorrentes do trabalho,
organizado com base no relacionamento de fontes de dados j existentes, repre-
senta importante esforo para otimizar informaes atualmente disponveis de
forma fragmentada, auxiliando na resposta pergunta sobre quantos trabalhado-
res se acidentam e morrem no exerccio de sua prosso no pas, nos dias de hoje.
Se os sistemas disponveis no Brasil estivessem integrados, as bases de dados
cobririam um universo mais amplo de trabalhadores vtimas fatais de acidentes
373
A Fundao Seade e os Estudos sobre Mortalidade por Acidentes de Trabalho no Estado de So Paulo
do trabalho, e representariam relevante contribuio para todos os programas
relacionados a esta problemtica.
Cada sistema tem suas limitaes, mesmo dentro de seus objetivos especcos;
mas o tratamento conjunto procura reduzi-las. O formato como tais sistemas es-
to congurados, contendo variveis de identicao, tem grande potencial para a
aplicao de mecanismos de integrao de microdados e o cruzamento de variveis.
A integrao das bases de dados j existentes resultar em base estatistica-
mente precisa para ns de monitoramento, permitindo que anlises realizadas
nos rgos centrais utilizem bases de dados mais completas e detalhadas sobre a
questo acidentria no pas. Diferentemente, no nvel local ou em estudos espec-
cos, sempre ser necessrio o acompanhamento de cada indivduo isoladamente,
sendo importante a manuteno de sistemas de vigilncia e de informao em
diversas localidades, que devem manter seu andamento e objetivo particular.
importante que haja contnua e persistente concentrao de esforos para
melhorar a cobertura e a qualidade dos dados sobre acidentes de trabalho pro-
duzidos de forma isolada pelos diversos gestores. Assim, a adoo do modelo
de integrao aqui apresentado poder ser replicado em todo o pas, de modo a
enriquecer e ampliar o poder das informaes resultantes, gerando subsdios con-
veis para o acompanhamento e o estudo dos acidentes e doenas decorrentes
do trabalho no Brasil.
REFERNCIAS
ALMEIDA, M. F. de; MELLO JORGE, M. H. P. de. O uso da tcnica de link-
age de sistemas de informao em estudos de coorte sobre mortalidade neonatal.
Rev. Sade Pblica, So Paulo, v. 30, n. 2, abr. 1996.
BALDWIN, J. A.; ACHESON, E. D.; GRAHAM, W. J. (Ed.). Textbook of medi-
cal record linkage. Oxford, UK: Oxford University Press, 1987.
BERNILLON, P. et al. Record linkage between two anonymous databases for a
capture-recapture estimation of underreporting of Aids cases: France 1990-1993.
Int. J. Epidemiol, v. 29, p. 168-74, 2000.
BLAKELY, T. et al. Child mortality, socioeconomic position, and one-parent fam-
ilies: independent associations and variation by age and cause of death. J. Epide-
miol, v. 32, p. 410-18, 2003.
CASCO, A. M.; KALE, P. L. Relacionamento das bases de dados de amputao
por diabetes mellitus informados pelo SIH-SUS e o SIM. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE SADE COLETIVA, 8., CONGRESSO MUNDIAL DE
SADE PBLICA: SADE, JUSTIA, CIDADANIA, 11., 2006, Rio de Ja-
neiro. Anais. Rio de Janeiro: Abrasco, 2006. v. 1.
374
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
DUNN, H. L. Record linkage. American Journal of Public Health, v. 36, p.
1.4121.416, 1946.
FEDRICK, J. Sudden unexpected death in infants in the Oxford Record Linkage
Area: details of pregnancy, delivery, and abnormality in the infant. Br. J. Prev. Soc.
Med, v. 28, n. 3, p.164-171, August, 1974.
FUNDAO SEADE; FUNDACENTRO. Mortalidade por acidentes do trab-
alho. So Paulo, 1994 (Relatrio nal do convnio).
______. Mortalidade por acidentes do trabalho no estado de So Paulo. So Paulo,
2001 (Relatrio nal do convnio).
______. Mortalidade por acidentes do trabalho na Regio Metropolitana e Colar
Metropolitano de Belo Horizonte. So Paulo, 2002 (Relatrio nal do convnio).
GAWRYSZEWSKI, L. G. et al. Movements of attention in the three spatial dimen-
sions and the meaning of neutral cues. Neuropsychologia, v. 25, p. 19-29, 1987.
GRUNDY, E. et al. Living arrangements and place of death of older people with
cancer in England and Wales: a record linkage study. Br. J. Cancer, v. 91, n. 5,
p. 907-12, 2004.
MACHADO, J. P. et al. Aplicao da metodologia de relacionamento proba-
bilstico de base de dados para a identicao de bitos em estudos epidemiolgi-
cos. Rev. Bras. Epidemiol., So Paulo, v. 11, n. 1, mar. 2008
MAIA P. B. Mortalidade por acidentes de trnsito no municpio de So Paulo: uma
anlise intraurbana. 2009. Tese (Doutorado) Universidade Estadual de Campi-
nas Instituto de Filosoa e Cincias Humanas, Departamento de Demograa,
Campinas, 2009.
MORAIS, L. C. C. et al. Vinculando bancos para recuperao histrica dos casos
de Aids no estado de So Paulo. In: ENCONTRO NACIONAL DE PRODU-
TORES E USURIOS DE INFORMAES SOCIAIS, ECONMICAS E
TERRITORIAIS, 2. Anais. Rio de Janeiro: IBGE, 2006.
NEWCOMBE, H. B. et al. Automatic linkage of vital records. Science, v. 130, p.
954-959, 1959.
ORTIZ, L. P; OUSHIRO, D. A. Perl da mortalidade neonatal no estado de So
Paulo. So Paulo em Perspectiva, So Paulo, v. 22, n. 1, p. 19-29, jan./jun. 2008.
ORTIZ, L. P. Caractersticas da mortalidade neonatal no estado de So Paulo. 1999.
Tese (Doutorado) Faculdade de Sade Pblica da Universidade de So Paulo,
So Paulo, 1999.
375
A Fundao Seade e os Estudos sobre Mortalidade por Acidentes de Trabalho no Estado de So Paulo
SILVA, C. F.; LEITE, A. J. M.; ALMEIDA, N. M. G. S. Linkage entre bancos
de dados de nascidos vivos e bitos infantis em municpio do nordeste do Brasil:
qualidade dos sistemas de informao. Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, v. 25,
n. 7, jul. 2009.
SILVEIRA, D. P.; PIOVESAN, M. F.; ALBUQUERQUE, C. A acurcia de mtodos
de relacionamento probabilstico de bases de dados em sade. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE INFORMTICA EM SADE, 11. Anais. Campos do Jordo,
2008. Disponvel em: <http://www.sbis.org.br/cbis11/arquivos/1048.doc>.
TEIXEIRA, M. L. P.; WALDVOGEL, B. C. Vinculao de base: fonte para
anlise de casos fatais de acidentes de trabalho. In: ENCONTRO NACIO-
NAL DE PRODUTORES E USURIOS DE INFORMAES SOCIAIS,
ECONMICAS E TERRITORIAIS, 2. Anais. Rio de Janeiro: IBGE, 2006.
WALDVOGEL, B. C. et al. Base unicada de nascimentos e bitos no estado
de So Paulo: instrumento para aprimorar os indicadores de sade. So Paulo em
Perspectiva, So Paulo, v. 22, p. 5-18, 2008.
WALDVOGEL, B. C. Pesquisa pioneira recupera casos de Aids no estado de So
Paulo: integrao das bases do Sinan-Aids e da Fundao Seade. R. Bras. Est. Pop.,
So Paulo, v. 23, n. 1, p. 187-190, jan./jun. 2006.
WALDVOGEL, B. C.; FERREIRA, C. E. C. Estatsticas da vida. So Paulo em
Perspectiva, So Paulo, v. 17, n. 3-4, p. 55-66, 2003.
WALDVOGEL, B. C. A populao trabalhadora paulista e os acidentes do
trabalho fatais. So Paulo em Perspectiva, v. 17, n. 2, p. 42-53, 2003.
______. Acidentes do trabalho: vida ativa interrompida. In: CARVALHO
NETO, A.; SALIM, C. A. (Org.). Novos desaos em sade e segurana no trabalho.
Belo Horizonte: PUC-Minas/IRT; Fundacentro, 2002. p. 37-58.
______. Acidentes do trabalho, os casos fatais: a questo da identicao e da men-
surao. 1999. Tese (Doutorado) Universidade de So Paulo, So Paulo,1999.
______. Vidas roubadas no exerccio do trabalho. So Paulo em Perspectiva, v. 13,
n. 3, p. 126-136, 1999.
WNSCH FILHO, V. A variaes e tendncias na mortalidade dos trabalha-
dores. In: MONTEIRO, C. A. Velhos e novos males da sade no Brasil. So Paulo:
Hucitec/Nupens/USP, 1995. p. 289-330.
LISTA DE SIGLAS
ABEP Associao Brasileira de Estudos Populacionais
ABET Associao Brasileira de Estudo do Trabalho
ABRASCO Associao Brasileira de Sade Coletiva
ADMAI Administra Auto de Infrao
AEAT Anurio Estatstico de Acidentes do Trabalho
AEPS Anurio Estatstico da Previdncia Social
AFT Auditor Fiscal do Trabalho
AGITRA - Associao Gacha dos Auditores Fiscais do Trabalho
AGU Advocacia-Geral da Unio
AHST Agentes de higiene e segurana no trabalho
AI Auto de Infrao
AIH Autorizao de Internao Hospitalar
ARPLA Centro Regional sia e Pacfco para Administrao do Trabalho
ARTEs Agncias Regionais do Trabalho
AT Acidente de Trabalho/ Acidente do Trabalho
BEAT Boletim Estatstico de Acidentes do Trabalho
BEPS Boletim Estatstico da Previdncia Social
CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CELADE Centro Latinoamericano y Caribeo de Demografa
CENEPI - Centro Nacional de Epidemiologia
CEPAL Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe
CAT Comunicao de Acidente do Trabalho
CBO Classifcao Brasileira de Ocupaes
CCIT Comisso de Colaborao com a Inspeo do Trabalho
CD Comunicao de Dispensa
CEI Cadastro Especfco do INSS
378
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
CEMPRE Cadastro de Empresas
CEREST Centro de Referncia em Sade do Trabalhador
CGC Cadastro Geral de Contribuintes
CGET Coordenao Geral de Estatsticas do Trabalho
CGSAT Coordenao-Geral de Sade do Trabalhador (DESAST/SVS/MS)
CI Cadastro de Contribuintes Individuais
CID Classifcao Internacional de Doenas
CIET Conferncia Internacional dos Estatsticos do Trabalho
CIPA Comisso Interna de Preveno de Acidentes
CIS Centro Internacional de Informao sobre Segurana e Sade no Trabalho
CIST Comisso Intersetorial de Sade do Trabalhador
CLT Consolidao das Leis do Trabalho
CNAE Classifcao Nacional de Atividades Econmicas
CNIS Cadastro Nacional de Informaes Sociais
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas
CNS Conselho Nacional de Sade
CNST Conferncia Nacional de Sade do Trabalhador
CNT Cadastro Nacional do Trabalhador
CONASSEMS Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Sade
CONASS Conselho Nacional de Secretrios de Sade
CONCLA Comisso Nacional de Classifcao
COSAT Coordenao da rea Tcnica de Sade do Trabalhador (SAS/MS)
CRFB Constituio da Repblica Federativa do Brasil
CTPP Comisso Tripartite Permanente Paritria
CTPS Carteira de Trabalho e Previdncia Social
CTSST / CT-SST Comisso Tripartite de Sade e Segurana no Trabalho
CUT Central nica dos Trabalhadores
DATAPREV Empresa de Tecnologia e Informaes da Previdncia Social
Datasus Departamento de Informtica do SUS
DCT Documento de Cadastramento do Trabalhador
Lista de Siglas
379
DEFIT Departamento de Inspeo do Trabalho
Dieese Departamento Intersindical de Estatsticas e Estudos Socioeconmicos
DIS Documento de Informaes Sociais
DN Declarao de Nascido Vivo
DO Declarao de bito
DORT Distrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
DPSO Departamento de Polticas de Sade e Segurana Ocupacional
DRT Delegacias Regionais do Trabalho
DSAST Departamento de Vigilncia em Sade Ambiental e Sade do Trabalhador
DSST Departamento de Segurana e Sade no Trabalho
EPI Equipamento de Proteo Individual
FAP Fator Acidentrio de Preveno
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servio
Fiocruz Fundao Oswaldo Cruz
FNUAP Fundo de Populao das Naes Unidas
FUNDACENTRO Fundao Jorge Duprat Figueiredo de Segurana e
Medicina do Trabalho
GDAT Gratifcao de Desempenho de Atividade Tributria
GEFA Gratifcao de Estmulo Fiscalizao e Arrecadao dos Tributos
Federais
GEISAT Grupo Executivo Interinstitucional de Sade do Trabalhador
GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social
GHO Observatrio Global em Sade
GIFA Gratifcao de Incremento Fiscalizao e Arrecadao
GIILDRAT / GIIL-RAT Grau de Incidncia de Incapacidade Laborativa
Decorrente de Riscos Ambientais do Trabalho
GPS Guia de Recolhimento da Previdncia Social
GRE Guia de Recolhimento do FGTS
GRTE Gerncias Regionais do Trabalho e Emprego
GTI Grupo de Trabalho Interministerial
GTT Grupos de Trabalho Tripartite
380
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
IAPAS Instituto de Administrao Financeira da Previdncia e Assistncia Social
IAPs Institutos de Aposentadorias e Penses
IBGE Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica
IBM International Business Machines Corporation
IDB Indicadores e Dados Bsicos para a Sade no Brasil
IDH ndice de Desenvolvimento Humano
INPS Instituto Nacional de Previdncia Social
INSS Instituto Nacional do Seguro Social
IPEA Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada
ISPER - Sistema Pblico de Emprego e Renda
ITCILO International Training Centre of Te International Labour Ofce
LER Leses por Esforos Repetitivos
LOAS Lei Orgnica de Assistncia Social
LOS Lei Orgnica da Sade
LTA Leishmaniose Tegumentar Americana
MPOG Ministrio do Planejamento Oramento e Gesto
MPS Ministrio da Previdncia Social
MPT Ministrio Pblico do Trabalho
MS Ministrio da Sade
MTb Ministrio do Trabalho
MTE Ministrio do Trabalho e Emprego
MTPS Ministrio do Trabalho e Previdncia Social
NAD Notifcao para Apresentao de Documentos
NIT Nmero de Identifcao do Trabalhador
NRs Normas Regulamentadoras
NTEP Nexo Tcnico Epidemiolgico Previdencirio
OCDE Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmicos
OISS - Organizao Iberoamericana de Segurana e Sade no Trabalho
OIT Organizao Internacional do Trabalho
OMS Organizao Mundial da Sade
Lista de Siglas
381
ONU Organizao das Naes Unidas
OS Ordem de Servio
OSADM Ordem de Servio Administrativa
PAEP Pesquisa de Atividade Econmica Paulista
PAG - Plano de Ao Global de Sade dos Trabalhadores
PAIR Perda Auditiva Induzida por Rudo
PASEP Programa de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico
PCMSO Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional
PCV Pesquisa de Condies de Vida
PDET Programa de Disseminao das Estatsticas do Trabalho
PDR Plano Diretor de Regionalizao (da RENAST)
PEA Populao Economicamente Ativa
PED Pesquisa de Emprego e Desemprego
PGF Procuradoria-Geral Federal
PIM Pesquisa Industrial Mensal
PIS Programa de Integrao Social
PISAST Painel de Informaes em Sade Ambiental e Sade do Trabalhador
PISAT Programa Integrado de Sade Ambiental e do Trabalhador
PME Pesquisa Mensal de Emprego
PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios
PNQ - Plano Nacional de Qualifcao
PNSST Poltica Nacional de Segurana e Sade do Trabalhador
PNST Poltica Nacional de Sade do Trabalhador
PPA Plano Plurianual
PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais
PRODAT Programa de Melhoria das Informaes Estatsticas sobre Doenas e
Acidentes do Trabalho
PRODIAG Prospeco e Diagnstico Tcnico dos Bancos de Dados e Remodelagem
das Estatsticas sobre Sade do Trabalhador
382
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
PROFAE Programa de Formao de Pessoal na rea de Enfermagem
ProUni Programa Universidade para Todos
PSF Programa de Sade da Famlia
PST Programas de Sade do Trabalhador
Rais - Relao Anual de Informaes Sociais
RAT Riscos Ambientais do Trabalho
RE Relao de Empregados do FGTS
RENAST Rede Nacional de Ateno Integral Sade do Trabalhador
RFB Secretaria da Receita Federal do Brasil
RGPS - Regime Geral de Previdncia Social
RI Relatrios de Inspeo
Ripsa Rede Interagencial de Informaes para a Sade
RIT Regulamento da Inspeo do Trabalho
RP Reabilitao Profssional
RPPS Regimes Prprios de Previdncia Social
RSC Relao de Salrios de Contribuies (da Previdncia Social)
RTPs - Recomendaes Tcnicas de Procedimentos
SAAT Sistema de Anlise de Acidentes de Trabalho
SAMHPS Sistema de Assistncia Mdico-Hospitalar da Previdncia Social
SAS Secretaria de Ateno Sade
SAT Seguro de Acidente do Trabalho
Seade Fundao Sistema Estadual de Anlise de Dados
SEFIP Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informaes
Previdncia Social
SEFIT Secretaria de Fiscalizao do Trabalho (rea trabalhista geral)
SERPRO Servio Federal de Processamento de Dados
SESMT - Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina
do Trabalho
SFIT Sistema Federal de Inspeo do Trabalho
Lista de Siglas
383
SIA Sistema de Informaes Ambulatoriais
SIAB Sistema de Informao da Ateno Bsica
SIDRA Sistema IBGE de Recuperao Automtica
SIH-SUS Sistema de Informaes Hospitalares do Sistema nico de Sade
SIM Sistema de Informao sobre Mortalidade
Sinan - Sistema de Informao de Agravos de Notifcao
SIRENA - Sistema de Referncia em Anlise e Preveno de Acidentes de Trabalho
SIST Sistema de Informao em Sade do Trabalhador
SI-ST Sistema Integrado de Informao em Sade do Trabalho
SIT Secretaria de Inspeo do Trabalho
SITI Sistema de Informaes sobre o Trabalho Infantil
SNAS/MS Secretaria Nacional de Assistncia Sade/ Ministrio da Sade
SPS Secretaria de Polticas de Sade
SPS Secretaria de Previdncia Social
SRTE Superintendncia Regional do Trabalho e Emprego
SSST Secretaria de Segurana e Sade no Trabalho (rea de segurana e sade
no trabalho)
SST Sade e segurana no trabalho / Sade e segurana do trabalho
SUB Sistema nico de Benefcios
SUS Sistema nico de Sade
SVS Secretaria de Vigilncia em Sade
TICs Tecnologias de Informao e Comunicao
TOM Tabela de Organizao de Municpios
TREF Taxa de Regularizao em Estabelecimentos Fiscalizados
WHO - World Health Organization
WHOSIS WHO Statistical Information System
WHR World Health Report
SOBRE OS AUTORES
ADOLFO ROBERTO MOREIRA SANTOS
Mdico, graduado pela Faculdade de Medicina da UFMG em 1979, com mestrado
em Sade Pblica (rea de concentrao em Polticas de Sade e Planejamento) na
mesma faculdade, concludo em 2001. Auditor-fscal do Ministrio do Trabalho
e Emprego desde setembro de 1983, lotado na Gerncia Regional do Trabalho e
Emprego em Varginha (GRTE/Varginha), unidade descentralizada da Superinten-
dncia Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais (SRTE/MG)/MTE.
Endereo eletrnico: adolfo@tricor.com.br
ANA MARIA DE RESENDE CHAGAS
Economista pela Universidade de Braslia, com ps-graduao em Economia pelo
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar/UFMG); ps-
graduao em Populao e Desenvolvimento pelo Centro Latinoamericano de
Desenvolvimento (CELADE/CEPAL), Santiago, Chile. Master em Integrao da
Pessoa com Defcincia pela Universidade de Salamanca, Espanha, e mestre em
Poltica Social pelo Departamento de Servio Social da Universidade de Braslia.
Tcnica de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada
(Ipea), tendo atuado na rea de assistncia social e, atualmente, na rea de trabalho.
Endereo eletrnico: ana.resende@ipea.gov.br
ANDRESSA CHRISTINA GORLA
Enfermeira, formada pela Universidade Estadual de Londrina do Paran UEL/PR,
especialista em Sade Pblica pela UEL/PR, especialista em Didtica de Ensino
em Sade pela Fiocruz/RJ. Secretria Municipal de Sade em Ortigueira/PR.
Integrante da equipe da Coordenao Geral de Sistemas de Informao do
Departamento de Regulao, Avaliao e Controle da Secretaria de Ateno
Sade do Ministrio da Sade (DRAC/SAS/MS), desde 2004, trabalhando como
responsvel tcnica pelo Sistema de Informao Hospitalar (SIH) e com a Tabela
de Procedimentos do SUS. Toda a sua trajetria profssional foi desenvolvida no
servio pblico atuando diretamente na gesto municipal e na gesto federal com
planejamento e sistemas de informao em sade.
Endereo eletrnico: andressa.gorla@saude.gov.br
386
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
BERNADETTE CUNHA WALDVOGEL
Estatstica, formada pela Universidade Estadual de Campinas; mestre em
Demografa pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Sade
Pblica pela Universidade de So Paulo, Gerente de Indicadores e Estudos
Populacionais da Fundao Sistema Estadual de Anlise de Dados do Estado de
So Paulo (Seade).
Endereo eletrnico: bvogel@seade.gov.br
CARLOS AUGUSTO VAZ DE SOUZA
Engenheiro qumico (Escola de Qumica da Universidade Federal do Rio de
Janeiro UFRJ), engenheiro de segurana do trabalho (CEFET-RJ), especialista
em Toxicologia (Universidade Estadual de Londrina) e mestre em Sade Pblica
(Escola Nacional de Sade Pblica/Fundao Oswaldo Cruz ENSP/Fiocruz).
especialista em Regulao e Vigilncia Sanitria da Anvisa e, desde setembro
de 2008, encontra-se cedido ao Ministrio da Sade, onde exerce a coordenao
da rea Tcnica de Sade do Trabalhador, hoje Coordenao Geral de Sade do
Trabalhador, do Departamento de Vigilncia em Sade Ambiental e Sade do
Trabalhador da Secretaria de Vigilncia em Sade. Toda a sua trajetria profssional
foi desenvolvida no servio pblico, nos setores de sade e/ou meio ambiente.
Endereo eletrnico: carlos.vaz@saude.gov.br
CELSO AMORIM SALIM
Graduado em Cincias Sociais, com mestrado em Sociologia pela Universidade
de Braslia; ps-graduaoem Gesto da Cooperao Tcnica Internacional pela
Universidade de So Paulo; doutorado em Demografa pela Universidade Federal
de Minas Gerais e ps-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas.
Trabalhou noCNPq e hoje Analista de C & T na Fundacentro/Centro Regional
de Minas Gerais, onde coordenao Grupo de Pesquisa Estudos sobre Acidentes,
Doenas e Mortes no Ambiente de Trabalho.Foi docentenoMestrado Gesto
Integrada em Sade do Trabalho e Meio Ambiente do Centro Universitrio
Senac-SP e professor visitante no Programa de Ps-Graduao em Demografa
doCedeplar/UFMG. Vem trabalhando com mtodos e tcnicas de pesquisa social,
estatsticas e indicadores em SST e estudos interdisciplinares sobre os ambientes
de trabalho. Faz parte do corpo docente do Programa de Ps-Graduao da
Fundacentro em Trabalho, Sade e Ambiente.
Endereo eletrnico: celso.salim@fundacentro.gov.br
Sobre os Autores
387
DCIO DE LYRA RABELLO NETO
Mdico pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), com Residncia em Medicina Preventiva e Social, no Hospital do Servidor
Estadual do Instituto de Assistncia Mdica do Servidor Pblico do Estado de So
Paulo (IAMSP-SP) R1 e R2 , e Faculdade de Medicina da USP R3. Mestre
em Sade Pblica (Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Sade
Pblica da Universidade de So Paulo). Funcionrio das Prefeituras Municipais
de Diadema-SP (desde 1991) e So Paulo (desde 2004), cedido ao Ministrio
da Sade desde 2005. Desde 2005, coordena a rea de sistemas de informao
sobre mortalidade (SIM) e sobre nascidos vivos (Sinasc), da Coordenao Geral
de Informaes e Anlises Epidemiolgicas da Secretaria de Vigilncia em
Sade, Ministrio da Sade. reas de atuao no servio pblico: programao,
planejamento, epidemiologia e informao em sade.
Endereo eletrnico: dacio.rabello@saude.gov.br
DOMINGOS LINO
Master en Prevencin y Proteccin de Riesgos Laborales pela Universidade de
Alcal de Henares Madrid, Espanha. Especialista em Sade, Trabalho e Meio
Ambiente. Tcnico Superior de Preveno de Riscos Laborais para os pases
europeus. Especialista em Ergonomia e Psicossociologia Aplicada pelo Instituto
de Formacin e Investigacin de Condiciones de Trabajo (INFICOT) Madri/
Espanha. Coordenador-Geral de Monitoramento de Benefcios por Incapacidades
e Diretor-Adjunto do Departamento de Sade e Segurana Ocupacional da
Secretaria de Polticas de Previdncia Social do Ministrio da Previdncia Social.
Endereo eletrnico: domingos.lino@previdencia.gov.br
EDUARDO DA SILVA PEREIRA
Mestre em Gesto de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcal
Madrid/Espanha, possui formao em Cincias Econmicas pela UFMG, com
especializao em Cincia Poltica nesta mesma universidade. Membro da carreira
de Especialista em Polticas Pblicas e Gesto Governamental, atualmente
Coordenador-Geral de Estatstica, Demografa e Aturia da Secretaria de Polticas
de Previdncia Social. Atuou como assessor do Secretrio-Executivo do ento
Ministrio da Previdncia e Assistncia Social (MPAS) de 1997 a 2003, tendo sido
coordenador do Cadastro Nacional de Informaes Sociais (CNIS). Foi Chefe
de Gabinete da Secretaria-Executiva do Ministrio do Trabalho e Emprego entre
2003 e 2004 e atuou no Conselho de Desenvolvimento Econmico e Social da
Presidncia da Repblica.
Endereo eletrnico: eduardo.spereira@previdencia.gov.br
388
Sade e Segurana no Trabalho no Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informao e indicadores
JORGE MESQUITA HUET MACHADO
Mdico pela Escola de Cincias Mdicas da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ), sanitarista e mdico do trabalho, especialista em Epidemiologia e
doutor em Sade Pblica (Escola Nacional de Sade Pblica/Fundao Oswaldo
Cruz ENSP/Fiocruz). Tecnologista em Sade Pblica da Fiocruz, desenvolve
projetos no campo da sade trabalho e ambiente no Centro de Programas e
Projetos Estratgicos, Fiocruz-Braslia. assessor tcnico do Departamento
de Vigilncia em Sade Ambiental e Sade do Trabalhador da Secretaria de
Vigilncia em Sade-MS e professor da ps-graduao em Sade Pblica da
Escola Nacional de Sade Pblica-Fiocruz. coordenador do Grupo de Trabalho
de Sade do Trabalhador da Abrasco. Sua trajetria profssional voltada para o
desenvolvimento de aes de Vigilncia em Sade do Trabalhador no SUS.
Endereo eletrnico: jorge.huet@saude.gov.br
LUCIANA MENDES SANTOS SERVO
Graduada em Economia pela UnB, com mestrado em Economia pelo IPE/
USP e especializao em Economia da Sade e Farmacoeconomia pelo IDEC/
Universidade Pompeu Fabra. Tcnica de Pesquisa e Planejamento do Instituto de
Pesquisa Econmica Aplicada (Ipea), onde atua na rea de sade, com atividades
e pesquisas sobre fnanciamento da sade (pblico e privado), gastos (pblico
e privado), contas de sade, situao de sade, indicadores de sade, sade do
trabalhador, ateno bsica em sade e acompanhamento e anlise das polticas
pblicas de sade.
Endereo eletrnico: luciana.servo@Ipea.gov.br
LUIZ EDUARDO ALCNTARA DE MELO
Engenheiro civil. Master em Prevencin y Proteccin de Riesgos Laborales pela
Universidad de Alcal de Henares Madri/Espanha. Especialista em Polticas
Pblicas pela Universidade de Braslia. Mestrando em Desenvolvimento e Polticas
Pblicas pela Fundao Oswaldo Cruz Fiocruz. Analista do Seguro Social/INSS,
Coordenador de Preveno de Acidentes do Trabalho na Diretoria de Polticas
de Sade e Segurana Ocupacional/Secretaria de Polticas de Previdncia Social/
Ministrio da Previdncia Social.
Endereo eletrnico: edu.melo@previdencia.gov.br
Sobre os Autores
389
MARIA EMILIA PICCININI VERAS
Pedagoga pela Universidade de So Paulo (USP) e Relaes Pblicas pelo CEUB.
Professora aposentada pela Secretaria de Educao do DF onde exerceu o cargo
de Coordenadora do Ensino Supletivo. No Ministrio do Trabalho e Emprego,
ingressou em 1996, onde atuou como Chefe de Diviso de Informaes Sociais;
nesse perodo, participou ativamente da implantao do Programa de Disseminao
das Estatsticas do Trabalho (PDET), referente s bases de dados Rais e CAGED.
Desde 2005 est frente da Coordenao Geral de Estatsticas do Trabalho, como
Coordenadora Geral, responsvel pelo gerenciamento, superviso e controle da
captao, produo e disseminao das estatsticas oriundas da Rais e do CAGED.
Endereo eletrnico: emilia.veras@mte.gov.br
MARIA DAS GRAAS PARENTE PINTO
Economista pela Universidade de Braslia (UnB). Atuou como assessora da Ministra
do Trabalho, Dorothea Werneck, e foi responsvel pela implantao, organizao
e atualizao sistemtica do Banco de Dados Estatsticos para subsidiar estudos
sobre o mercado de trabalho no mbito da Assessoria Econmica, bem como
pela elaborao de Anlises Mensais sintticas sobre mercado de trabalho formal
com base nos dados do CAGED. Foi chefe de Diviso de Estudos e Pesquisas
sobre o Mercado de Trabalho, quando desempenhou, entre outras, atividades de
elaborao/superviso de anlises sobre mercado de trabalho e de validao das
informaes estatsticas da Rais e do CAGED, assim como participou de grupos
de estudos para subsidiar a defnio do valor do salrio mnimo. Atualmente
exerce o cargo de Coordenadora Geral substituta da Coordenao Geral de
Estatsticas do Trabalho do Ministrio do Trabalho e Emprego. Sua trajetria
profssional no MTE, desde 1984, est voltada para a elaborao de estudos sobre
o mercado de trabalho e tambm associada defnio de critrios, procedimentos
e homologao dos dados estatsticos da Rais e do CAGED, desde 2003.
Endereo eletrnico: graa.parente@mte.gov.br
MONICA LA PORTE TEIXEIRA
Matemtica, formada pela Universidade SantAna So Paulo e mestre em Sade
Pblica, na rea de Sade do Trabalhador pela Universidade de So Paulo.
analista de projetos da Fundao Sistema Estadual de Anlise de Dados do Estado
de So Paulo (Seade).
Endereo eletrnico: mlaporte@seade.gov.br
REMGIO TODESCHINI
Advogado (USP). Mestre em Direitos Sociais pela PUC-SP. Doutorando em
Psicologia Social do Trabalho e das Organizaes (UnB). Diretor de Polticas Pblicas
de Segurana e Sade Ocupacional do Ministrio da Previdncia. Ex-Presidente da
Fundacentro. Ex-Secretrio de Polticas Pblicas de Emprego.
Endereo eletrnico: remigio.todeschini@previdencia.gov.br
ROGRIO GALVO DA SILVA
Doutor e Mestre em sade pblica pela Faculdade de Sade Pblica da USP.
Possui especializao em higiene do trabalho pela Faculdade de Cincias Mdicas
da Santa Casa de So Paulo; especializao em segurana integral na empresa pela
Fundacin Mapfre; especializao em gesto da segurana e sade no trabalho
pelo Centro de Treinamento Internacional da OIT em Turim; especializao
em engenharia de segurana do trabalho e graduao em engenharia qumica.
Atualmente tecnologista snior do Centro Tcnico Nacional da Fundacentro,
editor associado da Revista Brasileira de Sade Ocupacional e membro da diretoria
da Fundacentro para o Centro Colaborador da OMS em Sade Ocupacional.
Faz parte do corpo docente do Programa de Ps-Graduao da Fundacentro em
Trabalho, Sade e Ambiente. Nos ltimos anos, tem se dedicado aos campos de
polticas pblicas, planos e programas nacionais, estratgias e aes governamentais
e sociais relacionadas com a SST.
Endereo eletrnico: rogerio@fundacentro.gov.br
ROSA MARIA VIEIRA DE FREITAS
Cientista Social, formada pela Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo
(PUC). Mestre em Sade Pblica, na rea de Sade do Trabalhador pela
Universidade de So Paulo, analista de projetos da Fundao Sistema Estadual
de Anlise de Dados do Estado de So Paulo (Seade).
Endereo eletrnico: rfreitas@seade.gov.br
RUTH GLATT
Mdica pela Faculdade de Cincias Mdicas da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ). Especialista em Sade Pblica pelo Instituto de Medicina
Social/UERJ e mestre em Sade Pblica pela Escola Nacional de Sade Pblica/
Fundao Oswaldo Cruz ENSP/Fiocruz/MS. Integrante da equipe da Gerncia
Nacional do Sistema de Informao de Agravos de Notifcao (Sinan) no
Ministrio da Sade, desde 1998. , desde 2008, Gerente do Sinan, na Secretaria
de Vigilncia em Sade, Ministrio da Sade. reas de atuao no servio pblico:
planejamento, epidemiologia e sistemas de informao.
Endereo eletrnico: ruth.glatt@saude.gov.br
Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada - Ipea 2011
EDITORIAL
Coordenao
Cludio Passos de Oliveira
Superviso
Marco Aurlio Dias Pires
Everson da Silva Moura
Reviso
Luciana Dias Jabbour
Maria Clia Matos Versiani (Fundacentro)
Reginaldo da Silva Domingos
Andressa Vieira Bueno (Estagiria)
Leonardo Moreira de Souza (Estagirio)
Editorao
Bernar Jos Vieira
Claudia Mattosinhos Cordeiro
Lus Cludio Cardoso da Silva
Capa
Lus Cludio Cardoso da Silva
Livraria do Ipea
SBS - Quadra 1 - Bloco J - Ed. BNDES - Trreo
70076-900 - Braslia - DF
Tel.: (61) 3315-5336
Correio eletrnico: livraria@ipea.gov.br
Composto em Adobe Garamond 11/13,2 (texto)
Frutiger 47 (ttulos, grcos e tabelas)
Impresso em Offset 90 g/m
2
Carto Supremo 250g/m
2
(capa)
Braslia-DF
Você também pode gostar
- APR - Trabalho em AlturaDocumento2 páginasAPR - Trabalho em AlturaHermes Alves de Lima83% (12)
- Modelo de Ficha para Entrega de EPI'sDocumento1 páginaModelo de Ficha para Entrega de EPI'sGilson Conejo74% (27)
- ART - PERMISSAO TRABALHO - ModeloDocumento2 páginasART - PERMISSAO TRABALHO - ModeloLuís Felipe67% (3)
- MotomanDocumento161 páginasMotomanEliamSilva100% (1)
- AulaTrabalho em Altura Sesi - Rev Prof SergioDocumento113 páginasAulaTrabalho em Altura Sesi - Rev Prof SergioSerjão Augusto MoreiraAinda não há avaliações
- NR 35 - Trabalhos em AlturaDocumento87 páginasNR 35 - Trabalhos em AlturaLiege Tais Schultz OsterAinda não há avaliações
- Toxicologia Ocupacional: Uma Abordagem de Substâncias Presentes em Laboratórios de Graduação e PesquisaNo EverandToxicologia Ocupacional: Uma Abordagem de Substâncias Presentes em Laboratórios de Graduação e PesquisaAinda não há avaliações
- Exercicios Capitulo 6Documento8 páginasExercicios Capitulo 6marcello.cruz100% (1)
- RQ 028 - Modelo Relatório de Ensaio Visual de Solda - Rev.0Documento2 páginasRQ 028 - Modelo Relatório de Ensaio Visual de Solda - Rev.0alexsandro_dias_1100% (2)
- DDS - Segurança Do TrabalhoDocumento122 páginasDDS - Segurança Do Trabalholucilio borgesAinda não há avaliações
- Vanderlei Certificado - N2 - OARC - APROVAÇAO - SPDocumento2 páginasVanderlei Certificado - N2 - OARC - APROVAÇAO - SPAdriano LopesAinda não há avaliações
- Laudo Ergonômico do Trabalho, Mapeamento dos RiscosNo EverandLaudo Ergonômico do Trabalho, Mapeamento dos RiscosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Cartilha NR 18 PDFDocumento24 páginasCartilha NR 18 PDFTiagoOS100% (1)
- Gpon Ou EponDocumento28 páginasGpon Ou EponMichell Vasconcelos Siqueira100% (1)
- SGI PRO 003 Trabalho em Altura - Omega ServiceDocumento29 páginasSGI PRO 003 Trabalho em Altura - Omega ServiceMichele MihAinda não há avaliações
- Ergonomia em EscritoriosDocumento18 páginasErgonomia em EscritoriosGilson ConejoAinda não há avaliações
- Lista de Exercícis Sobre Grárficos e TabelasDocumento4 páginasLista de Exercícis Sobre Grárficos e TabelasEdna MonteiroAinda não há avaliações
- Check-List de Inspecao AndaimesDocumento1 páginaCheck-List de Inspecao AndaimesManuel Moises MonteiroAinda não há avaliações
- Cartilha Ergonomia comprasFORMATOA5Documento40 páginasCartilha Ergonomia comprasFORMATOA5Arnaldo Rodrigues MarcopitoAinda não há avaliações
- Treinamento Cipa IIDocumento18 páginasTreinamento Cipa IIDepartamento Pessoal - Construtora EtapaAinda não há avaliações
- 60 Questões de Conhecimentos Gerais de SSTDocumento12 páginas60 Questões de Conhecimentos Gerais de SSTGilson ConejoAinda não há avaliações
- Cartilha SMSDocumento25 páginasCartilha SMSMônica Monteiro100% (1)
- 2 Grupos Geradores PDFDocumento47 páginas2 Grupos Geradores PDFRodrigoChaves100% (2)
- Cartilha de Prevenção Da LER/DORTDocumento16 páginasCartilha de Prevenção Da LER/DORTGilson ConejoAinda não há avaliações
- Check List de BetoneiraDocumento9 páginasCheck List de BetoneiraHenrique LimaAinda não há avaliações
- Metas Segurança Do TrabalhoDocumento3 páginasMetas Segurança Do TrabalhoJaqueson SouzaAinda não há avaliações
- NBR 14024 - 06.Documento9 páginasNBR 14024 - 06.Ronaldo VanniAinda não há avaliações
- Análise de confiabilidade estrutural via método SORM DG: análise de confiabilidade por meio de curvaturas principais de superfícies de estado limiteNo EverandAnálise de confiabilidade estrutural via método SORM DG: análise de confiabilidade por meio de curvaturas principais de superfícies de estado limiteAinda não há avaliações
- PPRA Arte Vidros 19.638.970000145 15-02-2022 A 14-02-2023Documento12 páginasPPRA Arte Vidros 19.638.970000145 15-02-2022 A 14-02-2023Oli dos SantosAinda não há avaliações
- Perguntas Sobre A NR18Documento11 páginasPerguntas Sobre A NR18Antônio LopesAinda não há avaliações
- 03 Carta Ao Sindicato Constituição CIPADocumento1 página03 Carta Ao Sindicato Constituição CIPAThiago ReidarAinda não há avaliações
- 59 DDS - Diario de Palestras de 5 Minutos Sobre Saúde, Segurança, Qualidade e Meio Ambiente 3º ParteDocumento49 páginas59 DDS - Diario de Palestras de 5 Minutos Sobre Saúde, Segurança, Qualidade e Meio Ambiente 3º ParteGilson Conejo0% (2)
- Curso NR 10 INTRODUÇÃO Engbahia SesmtDocumento81 páginasCurso NR 10 INTRODUÇÃO Engbahia SesmtContabil XAinda não há avaliações
- Palestra Sobre Máquinas Construção CivilDocumento6 páginasPalestra Sobre Máquinas Construção CivilRenato FreitasAinda não há avaliações
- NBR 13853 (Maio 1997) - Coletores para Resíduos de Serviços de Saúde Perfurantes Ou Cortantes - Requisitos e Métodos de EnsaioDocumento4 páginasNBR 13853 (Maio 1997) - Coletores para Resíduos de Serviços de Saúde Perfurantes Ou Cortantes - Requisitos e Métodos de EnsaioYuri Bahia de Vasconcelos100% (3)
- Curso NR35 8 HorasDocumento117 páginasCurso NR35 8 HorasthiagoAinda não há avaliações
- Laudo Peri Proc 1.000586-53.2013.5.02.0464 André Luis Marcandali Boscolo X FORDDocumento28 páginasLaudo Peri Proc 1.000586-53.2013.5.02.0464 André Luis Marcandali Boscolo X FORDViemar Cruz100% (1)
- Ponte Rolante Power PointpdfDocumento68 páginasPonte Rolante Power PointpdfRenato JuniorAinda não há avaliações
- Escada Arlei-Model 02Documento1 páginaEscada Arlei-Model 02Raimundo Alves da Costa NetoAinda não há avaliações
- Manual de Procedimentos - GuiaDocumento8 páginasManual de Procedimentos - GuiaFilipa AlexandraAinda não há avaliações
- Analise de Acidente Queda em Altura PDFDocumento41 páginasAnalise de Acidente Queda em Altura PDFDam Teixeira100% (1)
- Tema 8 Seleção de Ferramentas em PDFDocumento43 páginasTema 8 Seleção de Ferramentas em PDFJoão Vittor TeixeiraAinda não há avaliações
- Sistemas de AncoragensDocumento17 páginasSistemas de AncoragensJaniel Celio Dos Santos100% (1)
- Sinalização de SegurançaDocumento104 páginasSinalização de SegurançaJosé Gomes100% (1)
- Artigo 2 - Riscos Ergonômicos em Canteiros de Obras de Edificações Verticais Levantamento e Transporte de CargasDocumento6 páginasArtigo 2 - Riscos Ergonômicos em Canteiros de Obras de Edificações Verticais Levantamento e Transporte de CargasMara UbedaAinda não há avaliações
- Spanset Linha de Vida Horizontal Componentes Da Linha de Vida Horizontal Fixa 623722Documento1 páginaSpanset Linha de Vida Horizontal Componentes Da Linha de Vida Horizontal Fixa 623722patriciosantanaAinda não há avaliações
- Andaime SuspensoDocumento10 páginasAndaime SuspensoGlauber Dantas da NóbregaAinda não há avaliações
- Alerta de Risco - AletadeiraDocumento1 páginaAlerta de Risco - Aletadeiraelizane goncalvesAinda não há avaliações
- Apostilatrabalturappt 140205165216 Phpapp01Documento83 páginasApostilatrabalturappt 140205165216 Phpapp01equipeprotecaoAinda não há avaliações
- Sequencia de Eventos Do EsocialDocumento3 páginasSequencia de Eventos Do EsocialErivalton OliveiraAinda não há avaliações
- Manual de SST para Escavacao Na Industria Da ConstrucaoDocumento68 páginasManual de SST para Escavacao Na Industria Da ConstrucaoEdson De O. RamosAinda não há avaliações
- Norma Higiene Ocupacional 06Documento50 páginasNorma Higiene Ocupacional 06Naedgeo10Ainda não há avaliações
- Dobra de VergalhãoDocumento3 páginasDobra de VergalhãoDjan NunesAinda não há avaliações
- Grupo Titronic - Apresentação RevestimentoDocumento38 páginasGrupo Titronic - Apresentação RevestimentoleorzAinda não há avaliações
- Parecer Tecnico Serra FitaDocumento7 páginasParecer Tecnico Serra FitaGeraldo RodriguesAinda não há avaliações
- PGR - F. B. Faria Assessoria e Servicos EireliDocumento37 páginasPGR - F. B. Faria Assessoria e Servicos EireliErick ValdevinoAinda não há avaliações
- E-Social e Aplicações Da Segurança Do TrabalhoDocumento41 páginasE-Social e Aplicações Da Segurança Do Trabalhofrancisco100% (1)
- Ficha de Ensaio de Vedação - Gle 2020Documento1 páginaFicha de Ensaio de Vedação - Gle 2020Gleison Leite0% (1)
- APR 00116 2019 REV 00 - MONTAGEM DO BALANCIM ELÉTRICO OkDocumento17 páginasAPR 00116 2019 REV 00 - MONTAGEM DO BALANCIM ELÉTRICO OkWilians FreireAinda não há avaliações
- Estropos - Eslingas - Laço de Cabo de Aço - CableMAXDocumento12 páginasEstropos - Eslingas - Laço de Cabo de Aço - CableMAXPedro Luis S. Moura100% (1)
- Investigação de Acidentes de TrabalhoDocumento14 páginasInvestigação de Acidentes de TrabalhodinhomirandajrmAinda não há avaliações
- Treinamento - Cor Do MesDocumento13 páginasTreinamento - Cor Do MesTeresa Castro100% (1)
- Inventário ModeloDocumento7 páginasInventário ModeloLucas SouzaAinda não há avaliações
- TQ 0274 20 R00 PDFDocumento13 páginasTQ 0274 20 R00 PDFMartin DanzeAinda não há avaliações
- UN4 - Equipamento de Trabalho em AlturaDocumento51 páginasUN4 - Equipamento de Trabalho em AlturaAlex AlmeidaAinda não há avaliações
- Manual de Trabalho em AlturaDocumento7 páginasManual de Trabalho em AlturaAndré Mello XavierAinda não há avaliações
- Modelo de APR Movimentação de Cargas - Blog Segurança Do TrabalhoDocumento5 páginasModelo de APR Movimentação de Cargas - Blog Segurança Do TrabalhoEduardo BarbosaAinda não há avaliações
- Apostila Do Curso de Agentes Químicos e BiológicosDocumento1.003 páginasApostila Do Curso de Agentes Químicos e BiológicoscorreaalmeidaAinda não há avaliações
- Autorização de Trabalho em AlturaDocumento1 páginaAutorização de Trabalho em AlturaIuri GilAinda não há avaliações
- FUNDACENTRO, Escadas, Rampas e PassarelasDocumento55 páginasFUNDACENTRO, Escadas, Rampas e PassarelasRodrigo FalcãoAinda não há avaliações
- Saúde e Segurança No Trabalho No Brasil PDFDocumento398 páginasSaúde e Segurança No Trabalho No Brasil PDFJordans AntonioAinda não há avaliações
- Comunidades TerapêuticasDocumento254 páginasComunidades TerapêuticasLino Silva100% (1)
- Cartilha Trabalhador Da Construção CivilDocumento22 páginasCartilha Trabalhador Da Construção CivilGilson ConejoAinda não há avaliações
- Férias - Direção Defensiva Nas EstradasDocumento1 páginaFérias - Direção Defensiva Nas EstradasGilson ConejoAinda não há avaliações
- Cartilha DETRAN Direcao Defensiva PDFDocumento24 páginasCartilha DETRAN Direcao Defensiva PDFLeonard NorthfleetAinda não há avaliações
- Cartilha Incêndio FlorestalDocumento39 páginasCartilha Incêndio FlorestalHenrique RodriguesAinda não há avaliações
- LPT001 014Documento10 páginasLPT001 014kakalkarolAinda não há avaliações
- Check List TSTDocumento7 páginasCheck List TSTLeandro CoráAinda não há avaliações
- Segurança em TuneisDocumento65 páginasSegurança em TuneisfranciscoAinda não há avaliações
- Portaria 412 - 2011Documento7 páginasPortaria 412 - 2011Allan HortaAinda não há avaliações
- NR35 ComentadaDocumento19 páginasNR35 ComentadarodrigosantiagoAinda não há avaliações
- Manual - Dengue - Aspectos Epidemiológicos, Diagnóstico e TratamentoDocumento24 páginasManual - Dengue - Aspectos Epidemiológicos, Diagnóstico e TratamentoNestor W NetoAinda não há avaliações
- Cartilha de Ergonomia - Orientações PosturaisDocumento29 páginasCartilha de Ergonomia - Orientações PosturaisGilson Conejo100% (1)
- Manual Seg. Trab. OlariaDocumento86 páginasManual Seg. Trab. OlariaJoão Marcos MariussiAinda não há avaliações
- Alteração Da NR 16Documento1 páginaAlteração Da NR 16Andréia GomesAinda não há avaliações
- Manual de Auxilio Na Interpretação e Aplicação Da NR 35 - Trabalhos em Altura ComentadaDocumento18 páginasManual de Auxilio Na Interpretação e Aplicação Da NR 35 - Trabalhos em Altura ComentadaGilson ConejoAinda não há avaliações
- Alteração Da NR 34Documento1 páginaAlteração Da NR 34Andréia GomesAinda não há avaliações
- Transporte Legal Produtos PerigososDocumento24 páginasTransporte Legal Produtos PerigososShizue HoshinoAinda não há avaliações
- Portaria - 3275 / FUNÇÕES DO TÉCNICO DE SEGURANÇA COMENTADADocumento10 páginasPortaria - 3275 / FUNÇÕES DO TÉCNICO DE SEGURANÇA COMENTADAGilson Conejo100% (1)
- Cartilha Sobre Agrotoxicos - Trilhas Do CampoDocumento26 páginasCartilha Sobre Agrotoxicos - Trilhas Do CampocasalanAinda não há avaliações
- Cartilha - Cuidados Com Monóxido de Carbono - CODocumento8 páginasCartilha - Cuidados Com Monóxido de Carbono - COGilson ConejoAinda não há avaliações
- VigilanciadocancerocupacionalDocumento68 páginasVigilanciadocancerocupacionalTiago FernandesAinda não há avaliações
- MTB 01Documento153 páginasMTB 01rick_augusto100% (1)
- Manual - UbiquitiDocumento11 páginasManual - UbiquitiRobson RodríguezAinda não há avaliações
- Prova SA3 Avaliacao Online Pedido de Compra 15mai17Documento2 páginasProva SA3 Avaliacao Online Pedido de Compra 15mai17Janderson SantosAinda não há avaliações
- 3791 PDFDocumento156 páginas3791 PDFDiego CamargoAinda não há avaliações
- Algoritmo Levenberg-Marquardt (Implementação)Documento23 páginasAlgoritmo Levenberg-Marquardt (Implementação)robertomenezessAinda não há avaliações
- Tabelas Eletrica IndustrialDocumento8 páginasTabelas Eletrica IndustrialcarlosmarciosfreitasAinda não há avaliações
- A Sociedade, Os Recursos Naturais e A Questão Ambiental.Documento10 páginasA Sociedade, Os Recursos Naturais e A Questão Ambiental.Jonas AvillaAinda não há avaliações
- Ete MatadouroDocumento21 páginasEte MatadouroBerdasfreitadaAinda não há avaliações
- Análise Gases TransformadoresDocumento14 páginasAnálise Gases TransformadoreslcatelaniAinda não há avaliações
- Anexo II A - Projeto Básico EstaleiroDocumento18 páginasAnexo II A - Projeto Básico EstaleiroLeandro FerreiraAinda não há avaliações
- PBM PGM PPMDocumento15 páginasPBM PGM PPMLuiz BaquetaAinda não há avaliações
- Intelbras - Certificado 081901 SD2021 Sistemas de Deteccao - Central (3) - 2Documento2 páginasIntelbras - Certificado 081901 SD2021 Sistemas de Deteccao - Central (3) - 2Btomec FerramentariaAinda não há avaliações
- Listade Produtosem Ordem Alfabtica NCL11Documento176 páginasListade Produtosem Ordem Alfabtica NCL11AquilesAinda não há avaliações
- Manual HAAS 2020Documento16 páginasManual HAAS 2020Paulo Jorge OliveiraAinda não há avaliações
- Catalogo FaróisDocumento48 páginasCatalogo FaróisIsrael SilvaAinda não há avaliações
- Retrato Social de Viçosa IVDocumento100 páginasRetrato Social de Viçosa IVaguinaldopachec1049100% (1)
- Relatorio PiezometroDocumento16 páginasRelatorio PiezometroPedro GalvãoAinda não há avaliações
- Trem Bala - Ana Vilela - LETRAS - MusDocumento3 páginasTrem Bala - Ana Vilela - LETRAS - Musmesaxmel100% (1)
- Desenhista de Artes GraficasDocumento14 páginasDesenhista de Artes GraficasmarcioleandroAinda não há avaliações
- Balcão Do EmpreendedorDocumento2 páginasBalcão Do Empreendedormaur0cio0henriquesAinda não há avaliações
- Carneiro - Fontes - 1997 - Turismo-E-Eventos - Instrumento - 28854 2 PDFDocumento6 páginasCarneiro - Fontes - 1997 - Turismo-E-Eventos - Instrumento - 28854 2 PDFNuno CalharizAinda não há avaliações