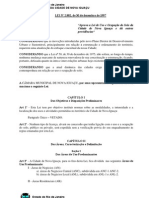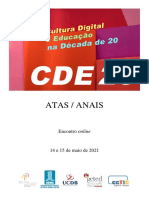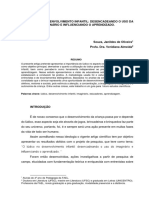Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Educação Como Cultura
A Educação Como Cultura
Enviado por
Aline Amaro CorreiaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Educação Como Cultura
A Educação Como Cultura
Enviado por
Aline Amaro CorreiaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
REP - Revista Espao Pedaggico, v. 16, n. 2, Passo Fundo, p. 171-175, jul./dez.
2009
171
A educao como cultura
1
Rodrigo Ferronato Beatrici
*
Recebido: 03/09/2009 Aprovado: 07/10/2009
*
Educador Popular e acadmico do mestrado
em Educao da Universidade de Passo Fundo.
E-mail: roferronato@gmail.com
1
Resenha baseada em BRANDO, Carlos Ro-
drigues. A educao como cultura. Ed. rev. e
amp. Campinas, So Paulo: Mercado das Le-
tras, 2002.
A obra A educao como cultura de
Carlos Rodrigues Brando um referen-
cial de comprometimento poltico, peda-
ggico e, sobretudo, tico com o povo,
2
na construo de uma sociedade onde
no mais exista a contradio social da
explorao do homem pelo homem.
Em breves palavras, para elucidar
o atributo j valorado a este livro e te-
cer outros, so apresentadas algumas
reflexes feitas por Brando. A obra
organizada em sete captulos,
3
alm da
apresentao e da bibliografia. A aber-
tura de cada captulo e a apresentao
so feitas com uma foto que ilustra a
realidade camponesa e remete o leitor
ao contedo dos artigos. A linguagem
clara, agradvel e coesa. Os textos, em-
bora guardem uma inter-relao entre
si, foram escritos em momentos distin-
tos e com finalidades diferentes; por
isso, podem ser lidos separadamente.
A categoria cultura escolhida por
Brando para vincular e problematizar
as temticas para as quais os textos
foram elaborados. Nesta edio, publi-
cada dezessete anos aps o primeiro
lanamento, dois textos foram includos
e um foi retirado da obra original. Os
artigos, bem como a reviso e a incluso
de referncias bibliogrficas posteriores
primeira edio, instigam o leitor a
compreender os debates sobre cultura e
a atualizao dessa temtica e das refle-
xes feitas pelo autor. Pela amplitude e
profundidade do livro foram destacados
dos textos quatro temas prioritrios para
esta resenha:
4
cultura, cultura popular,
pesquisa participante e olhar o mundo e
ver a criana. Objetivamente, procurar-
se- apresentar cada um deles.
Cultura
Para Brando, o ser humano, di-
ferentemente das demais espcies ani-
mais, um ser obrigado a aprender
(p. 16), que precisa criar e recriar o mun-
do, transformando o ambiente natural
e a ele prprio (p. 20). Acaba, assim,
se tornando uma forma da natureza
172
REP - Revista Espao Pedaggico, v. 16, n. 2, Passo Fundo, p. 171-175, jul./dez. 2009
172
que se transforma ao aprender a viver
(p. 21), que passa da conscincia re-
flexa conscincia reflexiva (p. 19). A
diferena entre o mundo da natureza
e o mundo da cultura que o primei-
ro antecede o ser humano e o segundo
necessita dele para ser criado. Na sin-
gularidade humana e na relao dial-
tica entre ser criador da cultura e ser
(re)criado por ela destacam-se quatro
elementos: a cultura (criao humana),
a educao (especificidade humana que
se realiza na cultura), o aprender e a
pluralidade da cultura, resultante da
prxis humana, que faz com que existam
culturas ao invs de uma nica cultura.
Desses quatro elementos no pode
faltar uma meno a um aspecto da
abordagem conceitual da cultura. Bran-
do no trata a cultura do ponto de vista
de determinismo econmico no conjunto
das relaes sociais. A respeito, assim
se pronuncia: Ela no a economia e
nem o poder em si mesmos, mas o ce-
nrio multifacetado e polissmico em
que uma coisa e a outra so possveis.
(p. 24).
Cultura popular
Um primeiro aspecto a ser conside-
rado quando se fala de cultura popular
que existem culturas. Assim, quando
falamos de cultura erudita e de cultura
popular, de culturas indgenas, de cul-
tura metropolitana [...] estamos dando
nomes diferentes a evidentes diferenas
de e entre pessoas atravs de suas cultu-
ras. (p. 25). A cultura popular, conforme
Brando, tem a sua origem nas prticas
pedaggicas desenvolvidas por movimen-
tos de cultura popular no incio da dca-
da 1960, mais precisamente entre 1960
e 1964. Os grupos pertencentes ao movi-
mento de cultura popular tinham como
objetivo transformar a cultura do povo,
por meio da prtica da cultura popular,
em uma cultura popular (p. 32), ou seja,
uma cultura de classe: consciente, crti-
ca, politicamente mobilizadora, capaz de
transformar tanto os smbolos com que
se representa e ao seu mundo, quanto a
sua prpria dura realidade material. (p.
32 - grifos do autor).
As experincias de trabalho po-
pular empreendidas nesse perodo no
seu fazer e pensar a cultura popular
trouxeram vrias contribuies, entre
as quais se pode destacar a transforma-
o da neutralidade da palavra cultura
em uma categoria ideolgica e poltica
(p. 33). Isso rompeu com uma viso ro-
mntica que concebe a cultura popular
como sinnimo de folclore. Por sua vez,
passou a identificar o trabalho poltico
de conscientizao e organizao dos
trabalhadores. Nessa mesma perspecti-
va, a interpretao dialtica da cultura
realizada por estes grupos deu vida
cultura, isto , colocou-a em movimen-
to. No bojo desse movimento a categoria
contradies ganha um importante es-
pao enquanto revelador das relaes e
conflitos de classes. Os documentos dos
anos 1960 pesquisados pelo autor reve-
laram que a cultura histrica, no sen-
tido que a atividade humana que cria
a histria aquela que faz a cultura.
(p. 39 - grifos do autor).
Neste campo popular a ao e a
teoria buscavam ser libertadoras e era
necessria uma educao que ajudasse
a construir o projeto alternativo que no
REP - Revista Espao Pedaggico, v. 16, n. 2, Passo Fundo, p. 171-175, jul./dez. 2009
173
fosse opressor e, mesmo sendo com e dos
oprimidos, deveria lev-los a romper
com essa contradio. Como mediar o
trabalho de base feito pelos integrantes
de grupos e pelos movimentos de cultu-
ra popular com o povo? Como trabalhar
com o povo? Brando (p. 35), ao propor
uma reflexo antropolgica sobre os pro-
cessos e estruturas populares de repro-
duo do saber, diz que no cruzamento
entre uma cultura do povo, e uma cul-
tura popular, possvel ocorrer a pas-
sagem de uma correspondente educao
do povo para uma educao de classe.
(grifos do autor).
Embora j merecesse ser dito,
mesmo que subjacente, os opostos iden-
tificados nos pargrafos anteriores so
resultantes de uma leitura de realidade
que compreende a sociedade dividida em
classes sociais. Assim, existem no Brasil
uma cultura dominante e uma cultura
dominada. Entretanto, ambas so refle-
xas, porque ocultam as contradies so-
ciais, mesmo considerando o seu tempo
e seu modo (p. 48). No entanto, a cultura
na perspectiva aqui assumida tambm
pode ser pensada e realizada para criar
e fortalecer a libertao das estruturas.
(p. 49). Sobre esta abordagem, por vezes
reduzida, preciso ter cuidado. Nas pa-
lavras de Brando: a cultura era ideo-
logizada, ou seja, correspondia no a
maneira como antropologicamente ela
existe e se reproduz na vida real, mas
tipologia de opostos que uma anlise
preestabelecida a servio de um tipo de
projeto constitua segundo a direo de
seus interesses (p. 111).
Essa crtica no invalida trabalhar
com tais tipologias de cultura. Contu-
do, o autor chama a ateno para no
desvincular as classificaes dos tipos
de cultura da anlise dos processos de
produo de cada uma delas e das ra-
zes de sua posio no sistema que a
teoria constri (p. 114). Por si s e em
seus opostos elas no explicam como a
desigualdade no trabalho entre os ho-
mens se reproduz de modo direto e
nem mecnico desigualdades e dife-
renas de saber e pensar. Tambm, aju-
da a rever o simplismo que consiste em
imaginar que aes culturais diretas ou
agenciadas como as de uma educao
popular conscientizadora eliminam
da cultura do povo as idias, valores,
smbolos e memrias impostos por uma
cultura dominante, de elite, e realizam
a alquimia atravs da qual, livre do que
no seu e lhe foi imposto, da cultura
do povo emerge a pura cultura popular.
(p. 113-114).
Para concluir a discusso do papel
da cultura popular na transformao
da estrutura e a incidncia da transfor-
mao da estrutura na cultura popular
pode-se destacar uma citao feita por
Brando que tem por referncia o Cen-
tro de Cultura Popular de Belo Hori-
zonte: Dialeticamente esto ligadas as
duas reflexes: o papel da cultura popu-
lar como instrumento de transformao
de estrutura, e a transformao de es-
trutura como instrumento que propicia
condies elaborao de uma cultura
autntica e livre. (p. 61).
Pesquisa participante
Brando no aborda a pesquisa
participante atravs de uma discusso
epistemolgica, mas sobre o lugar e o
174
REP - Revista Espao Pedaggico, v. 16, n. 2, Passo Fundo, p. 171-175, jul./dez. 2009
174
sentido da cultura e do saber no trabalho
dos educadores e cientistas sociais. Esta
leitura, de algum modo, aproxima os
fundamentos da pesquisa participante
das pessoas que a realizam e do prprio
campo de sua realizao. Algumas refle-
xes feitas pelo autor do conta dessas
questes: O educador popular defronta-
se com diferentes modalidades de poder
que existem tanto sobre quanto nas
suas prticas de ao [...]. Recriar junto
com e com os grupos populares um novo
saber, onde o lugar da pesquisa ajude a
criar a possibilidade de uma nova cin-
cia. (p. 103). Isso desafia a repensar a
produo, do controle e da circulao e
do destino dos usos do seu prprio saber,
isto , o do cientista militante a quem
toca subverter, entre outros, o sentido
da cincia. (p. 104).
O autor faz uma crtica preten-
sa neutralidade da cincia. A respeito,
diz que a cincia no absolutamente
neutra, assim como a pesquisa no um
ato honrado dirigido pura inveno
da verdade, ma um fino instrumento de
descoberta e acumulao de saber com-
petente e correspondente. (p. 105).
Compreendendo a pesquisa par-
ticipante como um tipo de trabalho
cientfico e pedaggico com e sobre o sa-
ber, que deseja participar da dinmica
de transformao da cultura (p. 106),
Brando defende que se torna legtima
a alternativa de transformao das ci-
ncias que, no curso desta, fazem parte
daquela. Tornam legtima a denncia
de seus servios causa da dominao
e, por conseqncia, anunciam a legiti-
midade necessria de seu compromisso
com uma causa popular. (p. 129 - grifo
do autor). na perspectiva da constru-
o de um instrumento de poder popu-
lar que a pesquisa participante deve ser
vinculada cultura popular e ao movi-
mento de cultura popular.
Olhar o mundo e ver a
criana
Inicia-se este quarto item da rese-
nha com a observao/crtica feita por
Brando sobre a antropologia como uma
cincia que historicamente privilegiou o
mundo dos adultos. Uma condio para
que isso no acontea que a antropolo-
gia se volte aos processos culturais da
socializao. Que deveria estudar a fun-
do tudo o que acontece nas diferentes
situaes sociais de endo e de exotrans-
misso, durante a circulao de sentidos
e de significados de teor propriamente
pedaggico. (p. 143). Ressalva-se que
isso acontea na multiplicidade de olha-
res e na inter-relao entre as reas do
conhecimento.
A escola, como um dos espaos de
realizao da educao, passa tambm
a ser um dos objetos de pesquisa da
antropologia. Sobre isso, parece que a
crtica acima ganha mais sentido: Du-
rante largos anos a antropologia deixou
na penumbra quase tudo o que tem
a ver com as estruturas e relaes de
reproduo do saber atravs da sociali-
zao escolar das crianas e de jovens.
Isto , a educao. (p. 146). Por sua vez,
noutra direo, o educador descobriu
as abordagens de estilo antropolgico.
Descobriu as abordagens fundadoras ou
derivadas do interacionalismo simblico
na sociologia do cotidiano. (p. 147). Esta
descoberta resulta, entre outras coisas,
REP - Revista Espao Pedaggico, v. 16, n. 2, Passo Fundo, p. 171-175, jul./dez. 2009
175
num nmero grande e crescente de pes-
quisas. Ainda de acordo com Brando,
aos poucos o mundo da educao se
revela na sua inteireza humana, isto ,
cultural. (p. 149 - grifos do autor). Ex-
plicita ainda que est propondo uma
espcie de passagem do cotidiano da
escola para a educao do cotidiano.
(p. 156 - grifos do autor). Isso implica no
apenas conhecer o mundo da criana,
mas a vida da criana e do adolescente
em seu mundo de cultura. (p. 185).
A seguir so apresentadas algumas
frases extradas da obra de Brando que
dizem respeito s relaes entre adultos
e crianas: A criana um ser de rela-
o, um sujeito interativo (p. 195-196);
Temos um conhecimento ainda to pe-
queno do que so as crianas e de como
vivem propriamente nas suas culturas
que inventam e criam dentro daquela
que nossa e oferecemos e impomos a
elas (p. 196); As crianas esto sempre
em busca de estreitar os laos com suas
consrcias mais prximas: as outras
crianas (p. 198); As relaes produ-
tivas de aprendizagem no ocorrem so-
mente na escola (p. 199); difcil aos
adultos compreenderem que na ordem
das coisas, das palavras e dos gestos, ba-
guna e algazarra so apenas maneiras
infantis e adolescentes criativas de dar
ao mundo uma outra ordem (p. 201).
preciso no descontextualizar essas
frases, mas buscar o sentido atribudo
pelo autor maneira de ver a criana.
Brando lembra que olhar a criana no
um ato espontanesta, mesmo sendo
necessria a espontaneidade. O que est
propondo diz respeito inter-relao en-
tre reas do conhecimento.
ltimas palavras
Brando, ao abordar as experin-
cias de trabalho popular na dcada de
1960, o faz sob um vis bastante crtico.
Ele problematiza vrios temas vincula-
dos cultura e formula importantes
questionamentos. nesse sentido que
este livro, como foi expresso nas suas
pginas iniciais, busca mais refletir do
que apresentar respostas. Esta opo
metodolgica, embora no s de mtodo,
pode contribuir fundamentalmente para
uma leitura crtica das experincias de
trabalho popular realizadas pelos mo-
vimentos sociais populares (MSP), bem
como introduzir essas experincias no
mbito da educao formal. Nessa pers-
pectiva, relevante a contribuio dos
movimentos sociais populares em rela-
o metodologia de educao popular.
Esta obra uma preciosa contribui-
o aos educadores, antroplogos e ou-
tros profissionais. No entanto, estudo
obrigatrio para as pessoas que direta
ou indiretamente contribuem e realizam
experincias de educao popular. Aps
24 anos do lanamento, a obra ainda
mantm uma grande atualidade.
Notas
2
Aqui compreendido genericamente como clas-
se trabalhadora.
3
Os captulos 7 captulos so assim denomi-
nados: 1) Cultura: o mundo que criamos para
aprender a viver; 2) A descoberta da cultura na
educao: cultura popular no Brasil dos anos
1960; 3) O sentido do saber; 4) Sobre teias e
tramas de aprender e ensinar; 5) A criana que
cria: conhecer o seu mundo; 6) Olhar o mundo,
ver a criana; 7) Dilogos com o outro.
4
Foram priorizadas algumas reflexes em de-
trimento de outras.
Você também pode gostar
- Lei2882 - Lei de Uso e Ocupação Do Solo PDFDocumento11 páginasLei2882 - Lei de Uso e Ocupação Do Solo PDFcarlosrodrigo_Ainda não há avaliações
- 2012 RonaldBeloFerreiraDocumento306 páginas2012 RonaldBeloFerreiracarlosrodrigo_Ainda não há avaliações
- Políticas Urbanas e Regionais No BrasilDocumento238 páginasPolíticas Urbanas e Regionais No BrasilHernandodeNoronhaAinda não há avaliações
- Livro Midiapsicologia Final WebDocumento396 páginasLivro Midiapsicologia Final Webcarlangelicamendes100% (4)
- Políticas de Integração Curricular PDFDocumento187 páginasPolíticas de Integração Curricular PDFAnselmo Silva Socorro75% (4)
- Ementa Metodologia Da Pesquisa Cientifica PDFDocumento2 páginasEmenta Metodologia Da Pesquisa Cientifica PDFcarlosrodrigo_Ainda não há avaliações
- ZAOUAL, Hassan - Nova Economia Das Iniciativas Locais :: Resumo INTRODUÇÂODocumento1 páginaZAOUAL, Hassan - Nova Economia Das Iniciativas Locais :: Resumo INTRODUÇÂOcarlosrodrigo_Ainda não há avaliações
- NUTRIRE-v35 n3Documento216 páginasNUTRIRE-v35 n3Flôr MoreiraAinda não há avaliações
- Leitura e Escrita em Lingua EstrangeiraDocumento7 páginasLeitura e Escrita em Lingua EstrangeiraCarla PereiraAinda não há avaliações
- Parecer 1158 98 PDFDocumento7 páginasParecer 1158 98 PDFRenilson AndradeAinda não há avaliações
- Educação Ambiental Uma Proposta PedagógicaDocumento6 páginasEducação Ambiental Uma Proposta PedagógicaflavilioAinda não há avaliações
- Memorial ProntoDocumento14 páginasMemorial ProntoVanessa Terres100% (1)
- Descritores de BiologiaDocumento19 páginasDescritores de BiologiamarcegomesAinda não há avaliações
- Currículos e ProgramasDocumento3 páginasCurrículos e ProgramasDieilor SmitheyAinda não há avaliações
- Teorias Pedagógicas - Moacir GadottiDocumento113 páginasTeorias Pedagógicas - Moacir GadottiLorena Barcelos86% (7)
- Porque e Que A Didactica e o Eixo Da Formaçao Profissional - 083453Documento2 páginasPorque e Que A Didactica e o Eixo Da Formaçao Profissional - 083453chale AbdulAinda não há avaliações
- GD 01 - Educação Matemática Nos Anos Iniciais Do Ensino FundamentalDocumento7 páginasGD 01 - Educação Matemática Nos Anos Iniciais Do Ensino FundamentalElton VianaAinda não há avaliações
- Ephtah! Das Ideias Pedagógicas de Murray Schafer - Thiago Xavier de AbreuDocumento199 páginasEphtah! Das Ideias Pedagógicas de Murray Schafer - Thiago Xavier de AbreuWendell Muller0% (1)
- Catalogo BR FPDocumento32 páginasCatalogo BR FPPAMELA MORENO SANTIAGOAinda não há avaliações
- Software de Apoio À Alfabetização de Crianças Com Deficiência Intelectual - Sacdi MobileDocumento15 páginasSoftware de Apoio À Alfabetização de Crianças Com Deficiência Intelectual - Sacdi Mobileandrew machadoAinda não há avaliações
- O Corpo Presente Jussara MillerDocumento16 páginasO Corpo Presente Jussara MillerGabriela Martins de AzevedoAinda não há avaliações
- Caderno Do Professor Projeto de Vida 6ºao9º 2º Bimestre Volume 2 Versão FinalDocumento126 páginasCaderno Do Professor Projeto de Vida 6ºao9º 2º Bimestre Volume 2 Versão FinalElaine Cristina Machado da SilvaAinda não há avaliações
- A Representao Sobre Os Indios Nos Livros DidáticosDocumento111 páginasA Representao Sobre Os Indios Nos Livros DidáticosWelington Ernane PorfírioAinda não há avaliações
- Traceje Os Números: Nome Data: Professor: TurmaDocumento14 páginasTraceje Os Números: Nome Data: Professor: TurmaIrani PortugalAinda não há avaliações
- Pega Teatro - JoanalopesDocumento1 páginaPega Teatro - JoanalopesAndressa Habyak Candido VieiraAinda não há avaliações
- PPC Letras-RE 2019Documento253 páginasPPC Letras-RE 2019Leandro De bona diasAinda não há avaliações
- Aparecida Joly Gouveia PDFDocumento146 páginasAparecida Joly Gouveia PDFCARLOS AUGUSTO VASCONCELOS PIRESAinda não há avaliações
- Geografia - 1º Ano 2024Documento5 páginasGeografia - 1º Ano 2024amorimsilva863Ainda não há avaliações
- Manual Das (Os) Assistentes Sociais e Psicólogas (Os) Da Rede Municipal de Ensino de JoinvilleDocumento66 páginasManual Das (Os) Assistentes Sociais e Psicólogas (Os) Da Rede Municipal de Ensino de JoinvilleGabriel HornAinda não há avaliações
- 67-Manuscrito de Livro-245-1-10-20200924Documento230 páginas67-Manuscrito de Livro-245-1-10-20200924Gabriela Castro100% (1)
- 8 - Eletiva - Consumidor Consciente, Empreendedor EficienteDocumento12 páginas8 - Eletiva - Consumidor Consciente, Empreendedor EficienteDaniele CerqueiraAinda não há avaliações
- Estagio 2Documento43 páginasEstagio 2Erivelto AiresAinda não há avaliações
- ATAS Do CDE20 2021Documento278 páginasATAS Do CDE20 2021Robert PhilipAinda não há avaliações
- Monografia FilipeDocumento74 páginasMonografia FilipePlatini MassadilaAinda não há avaliações
- ARTIGO Acadêmico PedagogiaDocumento19 páginasARTIGO Acadêmico PedagogiaJane OliverAinda não há avaliações
- Plano de Acao Do CmeiDocumento6 páginasPlano de Acao Do CmeiFabiana SantosAinda não há avaliações
- AGENDA E Horário 2022 PEI Programa Ensino IntegralDocumento20 páginasAGENDA E Horário 2022 PEI Programa Ensino IntegralALESSANDRO SALERNOAinda não há avaliações