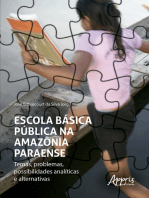Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Arroyo FOrmação Educadores Do Campo PDF
Arroyo FOrmação Educadores Do Campo PDF
Enviado por
susana_SchererTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Arroyo FOrmação Educadores Do Campo PDF
Arroyo FOrmação Educadores Do Campo PDF
Enviado por
susana_SchererDireitos autorais:
Formatos disponíveis
157 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago.
2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Miguel Gonzalez Arroyo
POLTICAS DE FORMAO DE EDUCADORES(AS)
DO CAMPO
MIGUEL GONZALEZ ARROYO
*
RESUMO: Os movimentos sociais do campo esto colocando na
agenda poltica dos governos, da sociedade e dos cursos de formao
dois pontos bsicos: o reconhecimento do direito dos diversos povos
do campo educao e a urgncia do Estado assumir polticas pbli-
cas que garantam esse direito. Como reao a esta realidade, os movi-
mentos sociais vm acumulando experincias de cursos de formao,
em convnio com escolas normais e cursos de pedagogia, para formar
educadoras e educadores capacitados a atuar na especificidade social
e culturas dos povos que vivem no campo. Pretende-se reconstruir
essas ricas experincias, interpretar seus significados de modo a levan-
tar elementos para a formulao de polticas de formao de profissi-
onais para as escolas do campo. Pretende-se ainda fornecer elemen-
tos para a pesquisa e, sobretudo, para propostas de currculos dos
cursos de formao, de modo a cumprirem com sua responsabilida-
de de formar educadoras e educadores para garantir o direito edu-
cao dos povos do campo.
Palavras-chave: Polticas pblicas. Movimentos sociais. Formao de
professores.
POLICIES FOR TRAINING RURAL EDUCATORS
ABSTRACT: The rural social movements have included two basic
points in the political agenda of governments, society and training
courses: the right to education of rural groups and the urgent need
to implement public policies that guarantee such a basic right. So-
cial movements are accumulating experiences from training courses
in partnership with regular schools and pedagogy courses, to obtain
* Ps-doutor pela Universidad Complutense de Madrid e professor titular emrito da Fa-
culdade de Educao da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail:
g.arroyo@uol.com.br
158 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Polticas de formao de educadores(as) do campo
educators able to work within the social and cultural specificities of
people living in rural areas. We intend to go over the construction of
such remarkable experiences to interpret the meaning within the ac-
tual context in order to postulate elements that allow the formula-
tion of policies for training educators for rural schools. We also in-
tend to bring forth issues for research and particularly for curricular
proposals regarding training courses that actually train educators and
guarantee the right to education of people living in rural areas.
Key words: Public policies. Social movements. Teachers training.
em sentido pensar em polticas de formao de educadoras e
educadores do campo? Seria esta questo uma preocupao leg-
tima para os responsveis pela formulao de polticas pblicas?
Seria uma dimenso a merecer a ateno do pensamento sobre forma-
o de educadores? Mais em concreto, seria uma preocupao necessria
para o repensar dos currculos dos cursos de pedagogia e licenciatura?
A histria nos mostra que no temos uma tradio nem na for-
mulao de polticas pblicas, nem no pensamento e na prtica de forma-
o de profissionais da educao que focalize a educao do campo e a
formao de educadores do campo como preocupao legtima. Por qu?
A educao pensada no paradigma urbano
Uma hiptese levantada com freqncia que nosso sistema es-
colar urbano, apenas pensado no paradigma urbano. A formulao
de polticas educativas e pblicas, em geral, pensa na cidade e nos cida-
dos urbanos como o prottipo de sujeitos de direitos. H uma idea-
lizao da cidade como o espao civilizatrio por excelncia, de conv-
vio, sociabilidade e socializao, da expresso da dinmica poltica,
cultural e educativa. A essa idealizao da cidade corresponde uma vi-
so negativa do campo como lugar do atraso, do tradicionalismo cul-
tural. Essas imagens que se complementam inspiram as polticas p-
blicas, educativas e escolares e inspiram a maior parte dos textos legais.
O paradigma urbano a inspirao do direito educao.
Apesar de tudo, o campo e a diversidade de seus povos no so
esquecidos. A palavra adaptao, utilizada repetidas vezes nas polticas e
nos ordenamentos legais, reflete que o campo lembrado como o outro
159 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Miguel Gonzalez Arroyo
lugar, que so lembrados os povos do campo como os outros cidados,
e que lembrada a escola e os seus educadores(as) como a outra e os
outros. A recomendao mais destacada : no esquecer os outros, adap-
tando s condies do campo a educao escolar, os currculos e a for-
mao dos profissionais pensados no paradigma urbano.
As conseqncias dessa inspirao no paradigma urbano so
marcantes na secundarizao do campo e na falta de polticas para o
campo em todas as reas pblicas, sade e educao de maneira parti-
cular. O campo visto como uma extenso, como um quintal da cida-
de. Conseqentemente, os profissionais urbanos, mdicos, enfermeiras,
professores estendero seus servios ao campo. Servios adaptados,
precarizados, no posto mdico ou na escolinha pobres, com recursos
pobres; profissionais urbanos levando seus servios ao campo, sobretu-
do nos anos iniciais, sem vnculos culturais com o campo, sem perma-
nncia e residncia junto aos povos do campo.
Nesta prtica de servios pblicos e profissionais no teve senti-
do qualquer poltica de formao especfica de educadoras e educado-
res do campo. As normalistas, pedagogas ou professoras formadas para
as escolas das cidades poderiam ir e voltar cada dia da cidade para a
escolinha rural e pr em prtica seus saberes da docncia com algumas
adaptaes. As polticas de nucleao de escolas e de transporte das cri-
anas e adolescentes do campo para as escolas das cidades radicalizaram
essa prtica e esse paradigma urbano. Os profissionais no teriam que se
deslocar ao campo por umas horas e trabalhar nas precrias e dispersas
escolas rurais, nem seria mais necessria qualquer adaptao realida-
de rural, os alunos so deslocados para as escolas urbanas, com profes-
sores urbanos e colegas urbanos. As crianas, adolescentes ou jovens do
campo esqueceriam sua identidade e cultura para serem socializados
junto infncia, adolescncia e juventude urbanas, com identidade e
cultura urbanas. Polticas que expressam o total desrespeito s razes
culturais, identitrias dos povos do campo. Nem sequer a velha tradio
de adaptar as polticas e normas realidade rural teria mais sentido. Nes-
te quadro, resulta sem-sentido o tema aqui proposto: pensar em polti-
cas especficas de formao de educadoras e educadores do campo.
O que resulta instigante para a pesquisa e para a anlise de pol-
ticas que a desconstruo da escola rural por meio da nucleao e
transporte dos alunos para as escolas da cidade tenha acontecido em
160 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Polticas de formao de educadores(as) do campo
tempos de reafirmao do campo, de presena poltica dos povos do cam-
po atravs de seus movimentos sociais. Nunca o campo esteve to din-
mico, mostrando sua identidade, cultura, valores e organizao poltica.
Exatamente nesse momento se pem em prtica polticas para sua nega-
o e para a insero da infncia, adolescncia e juventude nos centros e
escolas urbanas, para sua socializao nos valores e na cultura urbanos. Vol-
tamos questo desafiante: A nfase no paradigma urbano no teve e tem
como inteno ignorar e desconstruir as identidades e as culturas, os valo-
res e as resistncias dos povos do campo? A falta de polticas especficas de
formao de educadoras e educadores e a desestruturao das escolas ru-
rais fazem parte da desconstruo da cultura do campo.
A tradio de polticas e normas generalistas
Outra hiptese poderia ser levantada: no temos uma tradio que
pense em polticas focadas, nem afirmativas para coletivos especficos.
Nosso pensamento e nossa prtica supem que as polticas devam ser
universalistas ou generalistas, vlidas para todos, sem distino. Nossa
tradio inspira-se em uma viso generalista de direitos, de cidadania,
de educao, de igualdade que ignora diferenas de territrio (campo,
por exemplo), etnia, raa, gnero, classe. Ao longo de nossa histria, essa
foi a suposta inspirao das LDBs da Educao, do arcabouo normativo
dos diversos conselhos, dos formuladores e implementadores de polticas
de gesto, currculo, formao, do livro e material didticos, da organi-
zao dos tempos escolares e da configurao do sistema escolar.
Assumir a educao como direito de todo cidado e como dever
do Estado significou um avano. As polticas pblicas e os ordenamentos
legais passaram a ser inspirados nessa concepo de direitos. Entretanto,
isso no tem significado avanos no reconhecimento das especificidades
de polticas para a diversidade de coletivos que fazem parte de nossa for-
mao social e cultural. A nfase na educao como direito de todo cida-
do deixa explcitas tenses na concepo de direito, de educao, de ci-
dadania, de polticas pblicas: ver e defender esses direitos como
generalistas sem o reconhecimento das diferenas.
A comeam as tenses. Como vemos os sujeitos desses direitos? Em
abstrato ou na concretude de suas existncias? Como sujeitos individuais
ou como coletivos? Como vemos os povos do campo, na sua diversidade?
161 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Miguel Gonzalez Arroyo
Como vemos os educandos do campo? Como parte de uma abstrao
universal? Como cidado e em abstrato? Como vemos a educao?
Como um direito abstrato? (Arroyo, 2004).
As nfases dadas educao como direito universal de todo ci-
dado significam uma grande conquista, desde que avancemos no re-
conhecimento das especificidades e das diferenas. tambm nesse re-
conhecimento que a cidadania, considerada como condio de sujeitos
sociais e culturais, concretiza os direitos e os torna reais. Neste quadro,
tem relevncia a pergunta que orienta nossa reflexo: Que sentido tem
pensar em polticas focadas de formao de educadoras e de educado-
res do campo? Tem sentido pensar a garantia do direito universal
educao bsica para sujeitos coletivos, concretos, histricos, os povos
do campo? Se nos orientamos por uma viso abstrata de direitos, de ci-
dadania, de educao e de polticas, a resposta simples: no tem senti-
do. Formularemos polticas generalistas, normas generalistas, formaremos
profissionais com saberes e competncias universais sem especificidades,
esperando que o direito de todo cidado seja garantido.
Se, entretanto, pensarmos em direitos universais de sujeitos con-
cretos, de coletivos com suas especificidades culturais, identitrias,
territoriais, tnicas ou raciais, seremos obrigados a pensar em polticas
focadas, afirmativas dessas especificidades de sujeitos de direitos uni-
versais. Nesta perspectiva, as escolas do campo so uma exigncia e a
formao especfica dos profissionais do campo passa a ter sentido para
a garantia dos direitos na especificidade de seus povos. A histria tem
mostrado que a simples proclamao de princpios, normas, polticas
generalistas no tem garantido os direitos nas especficas formas de vi-
ver as diferenas de gnero, classe, raa, etnia, territrio. O prottipo
de humano, cidado, universal menos universal do que os princpios
supem. um prottipo local, especfico, que ignora as alteridades, as
diferenas (Santos, 2003). A histria mostra que so esses outros em
gnero, classe, raa, etnia e territrio aqueles coletivos no includos nos
direitos, normas e polticas generalistas.
Em nome de formar um profissional nico de educao, um sis-
tema nico, com currculos e materiais nicos, orientados por polticas
nicas, os direitos dos coletivos nas suas diferenas continuam no ga-
rantidos. Os piores ndices de escolarizao se do nos outros, nos co-
letivos do campo, indgenas, pobres trabalhadores, negros. Essa perversa
162 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Polticas de formao de educadores(as) do campo
realidade, to constante quanto excludente, interroga a tradio de po-
lticas e normas generalistas, pretensamente universalistas. Conseqen-
temente, a defesa da igualdade de direitos exige polticas focadas, afir-
mativas para coletivos especficos, neste caso, os povos do campo.
Tempo propcio afirmao-reconstruo de direitos
Os direitos no so construes acabadas, esto em permanente
reconfigurao, na medida em que so construes histricas. Foram
construdos em tenses sociais, polticas e culturais, refletem interesses
locais, de grupos. Os movimentos sociais como coletivos de interesses
organizados colocam suas lutas no campo dos direitos, no apenas de
sua universalizao, mas tambm de sua redefinio. Concretizam,
historicizam e universalizam direitos que, sob uma capa de universali-
dade, no reconhecem a diversidade, excluem ou representam interes-
ses locais, particulares, de um prottipo de ser humano, de cidado ou
de sujeitos de direitos. Os movimentos sociais no apenas reivindicam
ser beneficirios de direitos, mas ser sujeitos, agentes histricos da
construo dos direitos. Estamos em um tempo propcio reconstru-
o dos direitos.
Pensados nesta perspectiva, os movimentos sociais do campo, to
presentes e atuantes na nossa cena social, econmica, poltica e cultu-
ral, marcam a concepo de direitos e especificamente do direito edu-
cao e do dever do Estado. Podemos perguntar como vm marcando
a formulao de polticas, de normas e diretrizes da educao e da for-
mao de educadoras e educadores. A partir dessas marcas dos movi-
mentos sociais e da dinmica que imprimem ao campo, torna-se ur-
gente rever o paradigma urbano, as estratgias de adaptao, a
configurao de um perfil nico de profissional. Torna-se urgente rever
e ultrapassar polticas generalistas que se revelaram excludentes, negan-
do a educao bsica s crianas e aos adolescentes, jovens e adultos do
campo, que destruram a incipiente estrutura de educao rural e que
deslocaram a infncia, adolescncia e juventude do campo, de suas
razes culturais e de suas formas de socializao e sociabilidade.
Tentemos configurar nosso tema: polticas de formao de edu-
cadoras e educadores do campo a partir da dinmica social, poltica e
cultural existente no campo e atravs das lutas dos movimentos sociais
163 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Miguel Gonzalez Arroyo
por seus direitos terra, territrio, modo de produo campons,
educao e escola. Vejamos de maneira particular sua defesa de pol-
ticas especficas de formao de educadoras e educadores do campo.
Territrio, terra, cultura, educao
Acompanhando os movimentos sociais e sua defesa do direito de
todos os povos do campo educao, um primeiro ponto se destaca: a
defesa da escola pblica do campo e no campo se contrape a toda po-
ltica de erradicao da infncia e adolescncia de suas razes culturais,
de seu territrio, de suas comunidades, dos processos de produo da
terra e de sua produo como humanos. Escola do campo, no campo.
A escola, a capela, o lugar, a terra so componentes de sua identidade.
Terra, escola, lugar so mais do que terra, escola ou lugar. So espaos
e smbolos de identidade e de cultura. Os movimentos sociais revelam
e afirmam os vnculos inseparveis entre educao, socializao, socia-
bilidade, identidade, cultura, terra, territrio, espao, comunidade.
Uma concepo muito mais rica do que a reduo do direito educa-
o, ao ensino, informao que pode ser adquirida em qualquer lugar.
H bases tericas profundas, inspiradas nas concepes da teoria peda-
ggica mais slida, nesses vnculos que os movimentos sociais do cam-
po defendem entre direito educao, cultura, identidade e ao ter-
ritrio. Dimenses esquecidas e que os movimentos sociais recuperam,
enriquecendo, assim, a teoria pedaggica; abrindo novos horizontes s
polticas de formao de educadores. Formao colada ao territrio, a
terra, cultura e tradio do campo.
Esta seria uma das marcas de especificidade da formao: en-
tender a fora que o territrio, a terra, o lugar tem na formao soci-
al, poltica, cultural, identitria dos povos do campo. Sem as matri-
zes que se formam sem entender a terra, o territrio e o lugar como
matrizes formadoras, no seremos capazes de tornar a escola um lu-
gar de formao. A articulao entre o espao da escola e os outros
espaos, lugares, territrios onde se produzem, ser difcil sermos
mestres de um projeto educativo. A compreenso da especificidade
desses vnculos entre territrio, terra, lugar, escola um dos compo-
nentes da especificidade da formao de educadoras e educadores do
campo.
164 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Polticas de formao de educadores(as) do campo
Reinventando trajetrias de formao
Conseqentes com essa concepo de educao, os movimentos
sociais reivindicam polticas de formao de educadoras e educadores.
Diante da ausncia de polticas e de instituies voltadas para a espe-
cificidade dessa formao, os movimentos sociais, em sua pluralidade,
vm construindo uma longa histria de formao que comea por criar
cursos de magistrio, cursos normais de nvel mdio, continua por cur-
sos de pedagogia da terra em nvel de graduao e de ps-graduao.
Nos ltimos anos, j foram formados sete turmas com uma mdia de
60 educandos(as) nos cursos de Pedagogia da Terra e mais dez turmas
esto em formao em convnios com universidades, em sua maioria
pblicas.
Qual tem sido a estratgia? Comear criando seus programas e ao
mesmo tempo pressionar por ocupao dos espaos e instituies respon-
sveis pela formao. Criar convnios com escolas, faculdades e universi-
dades. Uma primeira lio desta estratgia: ocupar os espaos e progra-
mas j institudos. Ao longo das ltimas dcadas, os movimentos sociais
do campo aprenderam a ocupar a terra, assim como a ocupar espaos
polticos. Com essa aprendizagem passaram a ocupar os espaos e insti-
tuies de formao de educadores. A estratgia tem sido defender sua
legtima presena nas instituies privadas e, sobretudo, pblicas desti-
nadas formao de normalistas, pedagogos e professores. Fazer-se pre-
sente no para receber a mesma formao, mas uma formao especfica
para trabalhar no campo.
Essa ocupao vem criando a conscincia de que a especificidade
na formao de educadoras e educadores do campo no mais para ser
questionada, mas garantida. Vai se consolidando a conscincia de que
os direitos carregam as especificidades de seus sujeitos concretos, dos
coletivos sociais histricos que so titulares desses direitos. A presena
forte, questionadora, de coletivos de educadoras e educadores do cam-
po nos cursos de Pedagogia da Terra desafia alunos e professores das
faculdades e seus currculos nas concepes de formao e de educa-
o, da mesma maneira como a tensa histria de ocupao da terra vem
questionando concepes de terra, de propriedade, de vida e de direi-
tos, de polticas e projetos do campo.
165 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Miguel Gonzalez Arroyo
A formao como responsabilidade pblica
Na II Conferncia 2004, os movimentos do campo avanaram
na defesa do direito a polticas pblicas: Educao, direito nosso, de-
ver do Estado passou a ser o grito dos militantes educadores. Por mais
de uma dcada, os movimentos sociais vinham assumindo a responsa-
bilidade de afirmar e tentar garantir o direito educao dos diversos
povos do campo. A ocupao das instituies formadoras uma pgi-
na rica dessa histria. A estratgia de convnios das instituies com o
Programa Nacional de Educao na Reforma Agrria (PRONERA) fez
avanar essa conscincia. Os movimentos passam a defender que essa
estratgia deve continuar, porm no mais atravs de convnios ou
compromissos isolados de algumas instituies, mas como responsabi-
lidade pblica dos centros, instituies e universidades. Os movimen-
tos sociais passam a exigir a definio de critrios que responsabilizem
o Estado, as polticas e as instituies pblicas com a formao espec-
fica de profissionais para a garantia do direito pblico educao dos
povos isolados, para configurar polticas de Estado que assumam a
especificidade da formao de educadoras e educadores do campo.
Situada a formao neste patamar, so interrogadas as polticas
generalistas, questionado o prottipo de profissional nico para qual-
quer coletivo e so questionadas as normas e diretrizes generalistas que
apenas aconselham adaptem-se especificidade da escola rural. Co-
locadas as questes nesse patamar de polticas pblicas focadas para a
especificidade de ser profissional da educao do campo, os currculos
so questionados e os cursos de formao e as instituies so levadas a
assumir a responsabilidade permanente de oferecerem cursos especfi-
cos de formao de educadores do campo. Idnticas presses vm de
outros movimentos, como o movimento indgena e o movimento ne-
gro, que reivindicam a formao de professores indgenas e a incluso
da formao dos educadores para darem conta da histria da frica e
da cultura e memria dos afrodescendentes. Todos afirmam a especifi-
cidade dos direitos coletivos a exigir polticas afirmativas.
Poderamos constatar que os movimentos representantes dos di-
reitos dos coletivos diversos nos obrigam a repensar os direitos, a
concretiz-los, sem perder, mas garantindo sua real universalidade. Os
programas de formao, seus currculos e sua dinmica formadora se
166 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Polticas de formao de educadores(as) do campo
vem enriquecidos quando vivenciam a presena de educadores do
campo, indgenas ou negros nos espaos das instituies pblicas. A
dinmica social penetra nesses espaos, recolocando questes para o re-
pensar terico pedaggico. Trazem novas dimenses do ser profissional
da educao, de seus vnculos com as lutas sociais, com a construo
de identidades coletivas. No foi nesse dilogo com a tensa dinmica
social, poltica e cultural que se conformaram o pensar e fazer educativos?
E se conformaram os saberes e as artes do ofcio de educar? Assumir as
especificidades dos sujeitos dos direitos educao no desvirtua, antes
alarga a teoria pedaggica e as concepes de formao de educadores.
Ocupar espaos nas polticas de formao
Outra estratgia que os movimentos sociais vm adotando para
a formao de educadoras e educadores do campo reivindicar e ocu-
par espaos nas polticas e programas de formao do MEC, das secreta-
rias estaduais e municipais de educao. Uma estratgia a curto prazo,
exigindo que nesses programas de formao se equacione a especifi-
cidade da educao dos povos do campo. Os movimentos reivindicam
se fazer presentes na elaborao e implementao dessas polticas e pro-
gramas de formao, para que superem os traos destacados: os
paradigmas urbano e generalista. Por exemplo, nos programas destina-
dos formao de educadores(as) da infncia, reivindicam dar desta-
que ao conhecimento das formas especficas de ser criana e de viver a
infncia no campo, na agricultura familiar, no extrativismo, na pesca, nos
quilombos e territrios indgenas; dar destaque ao preparo dos educado-
res(as) para a formao plena dessas infncias.
Outro exemplo: se fazer presentes nos programas de formao
de professores na educao de jovens e adultos, na educao fundamen-
tal e mdia, reivindicam dar destaque ao conhecimento das formas de
ser adolescente, jovem e adulto no campo, seus valores, saberes, suas
vivncias do espao e do tempo, seus conhecimentos da natureza, da
produo e das formas de sociabilidade e trabalho, suas culturas e iden-
tidades de adolescentes, jovens e adultos do campo. Saberes e culturas
que variam com as formas de produo, de cultivo da terra ou do tra-
balho no extrativismo e na pesca.
Ocupar os espaos j programados tem sido uma estratgia dos
movimentos. No pedem um trato diferenciado para a formao de
167 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Miguel Gonzalez Arroyo
educadores(as) do campo. Reivindicam que no se esquea de que a
educao do campo existe, e a formao de profissionais especficos que
garantam o direito educao bsica de milhes de crianas e adoles-
centes, de jovens e adultos que vivem no campo tem de ser equacio-
nada. Sabemos que se multiplicam programas, projetos de formao
dos professores nas secretarias estaduais e municipais. Recursos existem
para a formao do magistrio. Encontros, oficinas, dias de estudo so
programados, mas a questo que se coloca de como equacionar e pro-
gramar a incluso nesses programas de formao especfica dos profis-
sionais que atuam ou atuaram na educao especfica dos povos do
campo, reconhecendo-os como sujeitos de polticas especficas de valo-
rizao e de formao.
Qual a formao especfica para ser educador(a) do campo?
Os movimentos sociais reivindicam que nos programas de for-
mao de educadoras e educadores do campo sejam includos o conhe-
cimento do campo, as questes relativas ao equacionamento da terra
ao longo de nossa histria, as tenses no campo entre o latifndio, a
monocultura, o agronegcio e a agricultura familiar; conhecer os pro-
blemas da reforma agrria, a expulso da terra, os movimentos de luta
pela terra e pela agricultura camponesa, pelos territrios dos quilombos
e dos povos indgenas. Conhecer a centralidade da terra e do territrio
na produo da vida, da cultura, das identidades, da tradio, dos co-
nhecimentos... Um projeto educativo, curricular, descolado desses pro-
cessos de produo da vida, da cultura e do conhecimento estar fora
do lugar. Da a centralidade desses saberes para a formao especfica
de educadoras e educadores do campo.
Ainda nesses programas de formao ter de ser dada centrali-
dade ao conhecimento da construo histrica das escolas do campo,
do sistema escolar, a especificidade de sua gesto no campo. Na maio-
ria dos cursos de formao se confundem a histria e a estrutura e fun-
cionamento do sistema escolar com a escola urbana. Sabemos que nas
ltimas dcadas houve avanos na configurao do sistema escolar ur-
bano, que hoje conta com estruturas fsicas, pedaggicas, gerenciais, de
recursos e profissionais. Um sistema mais slido, mais estvel e qualifica-
do. Um sistema escolar urbano que tende a universalizar o direito edu-
cao fundamental. Entretanto, ainda no avanamos na conformao de
168 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Polticas de formao de educadores(as) do campo
um sistema escolar no campo, nem quanto rede de escolas, ao corpo
profissional e s formas de gerenciamento. Ainda a rede precria de es-
colas rurais no garante sequer o antigo ensino primrio. A poltica de
nucleao e de transporte de alunos do campo para as escolas urbanas
desestruturou ainda mais os poucos avanos que vinham acontecendo
na configurao de uma rede escolar no campo.
Como ser educadora e educador, administrador, pedagogo ou pro-
fessor do campo sem um estudo srio dessa tensa histria? O conhecimen-
to dessa histria ter de fazer parte da formao de educadores do campo.
Outro ponto que os movimentos sociais reivindicam: o conheci-
mento das formas especficas de exercer o ofcio de ensinar, educar no
campo. Identificar as formas de exercer o magistrio e a educao nas
escolas de educao da infncia, na educao fundamental e mdia e na
EJA no campo. H caractersticas especficas no exerccio do magistrio,
na administrao e no fundamento das escolas multi-idades, agrupamen-
tos por idades, por experincia de vida e trabalho, unidocncia, docncia
por coletivos de idades... Na 5
a
a 8
a
sries da educao fundamental e na
educao mdia e de EJA, o exerccio do magistrio ultrapassa os recortes
das licenciaturas por disciplina e avana para competncias por reas de
conhecimento, o que exige outros modelos de formao de professores
que extrapolem a estreita formao por disciplinas e avana para a for-
mao por reas e, se possvel, em mais de uma rea do conhecimento.
Um modelo que j normal em muitos sistemas de ensino e que parte
de uma concepo e de um trato mais totalizante e transdisciplinar da
produo e transmisso do conhecimento.
Uma das causas da negao da educao fundamental (5
a
a 8
a
) e m-
dia para a adolescncia e juventude do campo a dificuldade de garantir
nas pequenas e dispersas escolas um corpo de professores licenciados por
disciplina. Os movimentos sociais propem outros modelos de formao
de docentes qualificados por reas do conhecimento, propiciando a forma-
o em duas reas, o que viabilizaria a ampliao de sries na educao fun-
damental e mdia. A Unio Nacional de Dirigentes Municipais de Educa-
o (UNDIME) tem defendido essas propostas de formao, uma vez que a
educao do campo de responsabilidade dos municpios.
Esse conjunto de conhecimentos, de saberes, valores e posturas
j trabalhado nos cursos de magistrio e de pedagogia da terra. So
dimenses includas nos currculos de formao e que deveriam fazer
169 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Miguel Gonzalez Arroyo
parte das propostas formadoras de todo profissional que trabalha ou
pretende trabalhar na educao do campo. Dimenses e conhecimen-
tos que deveriam compor o perfil de escolha nos concursos para traba-
lhar nas escolas do campo.
Escolas e educadores do campo no campo
Os movimentos sociais tm clareza de que a conformao do sis-
tema de educao com uma rede de escolas do campo no campo e com
um corpo profissional com formao especfica exige educadoras e edu-
cadores do campo no campo. Sabemos que um dos determinantes da
precariedade da educao do campo a ausncia de um corpo de pro-
fissionais que vivam junto s comunidades rurais, que sejam oriundos
dessas comunidades, que tenham como herana a cultura e os saberes
da diversidade de formas de vida no campo. A maioria das educadoras
e educadores vai, cada dia, da cidade escola rural e de l volta a seu
lugar, a cidade, a sua cultura urbana. Conseqentemente, nem tem
suas razes na cultura do campo, nem cria razes.
Os movimentos sociais vm defendendo que os programas de
formao dem prioridade aos jovens e adultos que vivem nas comuni-
dades do campo. Os cursos de magistrio e de pedagogia da terra vm
formando, nos ltimos 15 anos, jovens inseridos no campo, que j tra-
balham como educadoras e educadores nas escolas rurais, nas escolas
dos acampamentos, assentamentos ou nas escolas-famlia, das comuni-
dades indgenas e quilombolas. Os movimentos defendem que os cur-
sos de formao sejam oferecidos nas regies de concentrao de co-
munidades do campo, em regime semipresencial, articulando a
formao pedaggica e docente com a vivncia da comunidade e dos
movimentos. Defendem que os formadores dos cursos tenham preparo
especfico sobre a realidade do campo, que os currculos e o material
de formao incorporem essa realidade e a especificidade do ser
educador(a) do campo. Para a formao desse corpo profissional ser
urgente a interiorizao da educao superior.
Constituir um corpo estvel de educadores(as)
Entretanto, todo esforo por constituir um corpo profissional es-
pecfico para a educao do campo, por meio de polticas especficas
170 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Polticas de formao de educadores(as) do campo
de formao, ser parcial se no for acompanhado de polticas de tra-
balho docente. O movimento docente urbano conquistou nas ltimas
dcadas condies de trabalho mais justas: concursos, estabilidade, sa-
lrios, carreira, aposentadoria, tempos de estudo e qualificao. sabi-
do que essas conquistas no chegaram a todos os trabalhadores em edu-
cao no campo, o que compromete toda poltica da qualificao e de
conformao de um corpo especfico, permanente e estvel.
Toda poltica de formao deveria estar precedida de um diagns-
tico das condies de trabalho e, sobretudo, da estabilidade ou instabili-
dade dos educadores-docentes e administradores das escolas do campo.
Diagnosticar a condio funcional: concursados ou contratados, estveis
ou rotativos, carreira, salrios, residncia ou no no campo, tempo de
docncia no campo etc. Diagnosticar o grau de autonomia das escolas,
dos profissionais, docentes, gestores e tcnicos, secretrios(as), em rela-
o lgica clientelstica e em relao ao jogo de barganhas polticas. Sa-
bemos que as escolas, os educadores e gestores das escolas e redes urba-
nas avanaram bastante nessa autonomia, o que nem sempre acontece
nos sistemas e escolas do campo. A autonomia e qualificao especfica
do corpo profissional ser uma pr-condio para a autonomia e qualifi-
cao da rede de escolas do campo. Sem a conformao de um corpo
profissional estvel todo esforo de formao especfica se perde.
Formao para um projeto de campo
Os movimentos sociais tm conscincia de que no campo tudo
est emaranhado: as polticas de autonomia, de estabilidade, de quali-
ficao, de financiamento, de permanncia... Tudo atrelado s polticas
fundirias, de reforma agrria, a um projeto de campo no projeto de
nao... Na rea especfica da educao destaca-se a urgncia do Esta-
do em assumir como dever, como poltica pblica, a educao dos po-
vos do campo. A falta de polticas de formao de educadoras e educa-
dores tem por base a ausncia de uma poltica pblica especfica de
educao ou o no-reconhecimento do direito educao bsica da in-
fncia, adolescncia e juventude do campo. O campo e seus povos, a
agricultura e tradio camponesas, as formas de vida, saberes, cultura
desses povos so vistos como uma espcie em extino frente ao
agronegcio. Conseqentemente, para que pensar e implementar pol-
ticas educativas para uma infncia, adolescncia e juventude do campo
171 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Miguel Gonzalez Arroyo
em extino? No ser politicamente mais racional transport-los para
as cidades, para aprenderem a se integrar no mercado informal e na
sobrevivncia suburbanas? Esse perverso equacionamento est na base
da ausncia de polticas explicitas de educao dos povos do campo.
Frente a esse quadro, a ausncia de polticas de educao se explica pela
falta de polticas de formao, de conformao de um corpo profissio-
nal e de uma rede educao.
Os movimentos sociais tm sido decisivos, nas ltimas dcadas,
na reivindicao de polticas pblicas de educao e de formao. Sua
contribuio mais decisiva vem sendo defender polticas, projeto de
campo, permanncia da agricultura camponesa frente a sua extino
pelo agronegcio, defesa da tradio camponesa, da cultura, dos valo-
res, dos territrios, dos modos de produo de bens para a vida de se-
res humanos. Essa a defesa mais radical do sentido social e cultural
da educao do campo e da formao de seus profissionais. Como tra-
balhar toda essa problemtica nos cursos de formao de educadores,
nas polticas curriculares, de material didtico? O campo um dos p-
los mais tensos e dinmicos de nossa sociedade. Sem entender essa ten-
so e essa dinmica ser difcil acertar com polticas de educao e com
programas de formao.
Um corpo de docentes e gestores que chega cada dia da cidade
escola rural, sem conhecer os significados dessa tensa realidade na con-
formao das crianas, dos adolescentes, jovens ou adultos do campo
no ter condies de ser educador, educadora, docente, gestor. Nessa
tensa dinmica do campo, radica a urgncia de polticas pblicas espe-
cficas de educao e de formao de um corpo profissional. Em snte-
se: as polticas de formao tero de estar inseridas em uma nova res-
ponsabilidade pblica do Estado para um projeto de campo e,
especificamente, para a garantia do direito universal dos povos do cam-
po educao. No tero sentido, ou cairo no vazio, programas isola-
dos de formao, mantendo a ausncia crnica de um projeto de cam-
po e de polticas de educao.
A formao assumida como poltica de Estado
Os movimentos sociais exigem polticas pblicas, de Estado,
na educao e na formao de educadores(as) do campo. Reivindicar
172 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Polticas de formao de educadores(as) do campo
polticas de Estado significa superar estilos de formulao de polticas
por programas temporrios, experimentais, supletivos, de carncias.
Este tem sido o estilo predominante durante as ltimas dcadas. Pro-
jetos, programas temporrios, experimentais e supletivos no constitu-
em polticas de Estado permanentes, universais. Esses projetos e pro-
gramas de titulao e qualificao do magistrio rural no passam de
paliativos ou corretivos de carncias. Permite-se que cada administra-
dor de planto coloque seus parentes e cabos eleitorais no corpo admi-
nistrativo e docente, sem concurso e sem exigncias de formao e
titulao, ou no se criam mecanismos de conformao de um corpo
estvel, para, posteriormente, buscar projetos e programas para titul-
los. Em poucos anos, os formados e titulados abandonam o trabalho
nas escolas rurais e novos programas titularo novos profissionais. En-
quanto a conformao do corpo profissional estiver submetida a essa
lgica, os projetos de formao no passaro de suplncias, de arreme-
dos temporrios de formao, de quadros instveis.
A conformao e formao de um corpo profissional estvel e
qualificado no acontecero nessa lgica. S acontecero com polticas
pblicas de Estado, permanentes, de entrada, estabilidade, concursos,
carreira e de formao precedente como exigncia de entrada no corpo
profissional estvel. Nas redes estaduais e municipais das escolas urba-
nas j avanamos bastante nessa direo. Hoje, temos polticas pbli-
cas de Estado que conformaram um corpo docente concursado, est-
vel, titulado, porm, para o campo, os governos ainda mantm os
velhos mecanismos de favorecimento e de barganhas, acompanhados de
projetos e programas de titulao mais do que de formao. Ainda em
casos freqentes, a educao do campo, seus profissionais e sua forma-
o so tratados nos estilos polticos mais primitivos, longe dos avan-
os que conquistamos no trato dos profissionais das redes e escolas ur-
banas. A gesto por projetos de suplncia de carncias um estilo a ser
superado com urgncia, como condio prvia conformao de pol-
ticas pblicas, de Estado, para a educao do campo.
Superar o estilo delegado de formao
Ainda uma considerao: a formulao, implementao e fi-
nanciamento desses projetos e programas experimentais, supletivos
de carncias, so entregues responsabilidade de bancos e agncias
173 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Miguel Gonzalez Arroyo
de financiamento. Estas agncias no so neutras, incorporam nos progra-
mas que financiam suas concepes de campo, de educao e do papel dos
educadores e gestores. urgente questionar por que os programas de for-
mao-titulao de professores do campo ficaram freqentemente sob a
responsabilidade de agncias externas ao sistema educativo e aos rgos
do Estado; pensar nas conseqncias desse estilo delegado, no que re-
vela de omisso do Estado e de ausncia de polticas pblicas. Com
que facilidade governos e at universidades e faculdades de educao se
prestam a implementar e dar legitimidade a estilos delegados de for-
mao, em vez de pressionar junto com os movimentos sociais por es-
tilos mais pblicos de educao do campo e de formao de seus pro-
fissionais. Por que no colocar a legitimidade acadmica a servio de
polticas pblicas, permanentes, de Estado?
Em carter de programa emergencial, tem sido um dos aspectos
mais negativos na poltica de formao de educadoras e educadores do
campo. O que est por traz uma viso do campo como um corpo
social estranho, margem e na dependncia de recursos emergenciais,
externos ao sistema, e os povos do campo no so reconhecidos como
sujeitos de direitos de seus recursos. Conseqentemente, o Estado no
assume seu dever de garantir, ele mesmo e sem delegaes, o direito
desses povos educao.
Que polticas de formao de educadores(as) do campo?
Contrapondo-se a esses estilos de projetos e programas de for-
mao, os movimentos sociais enfatizam estilos mais pblicos. Defen-
dem polticas de formao, assumidas pelo Estado, permanentes. Des-
taquemos alguns dos traos dessas polticas de formao:
Polticas que afirmem uma viso positiva do campo frente vi-
so ainda dominante do campo como forma de vida em
extino. Pensar a formao de educadoras e educadores como
uma estratgia para reverter essa viso negativa que se tem do
campo, da escola rural e dos professores rurais. Constituir um
corpo de profissionais estvel e qualificado pode contribuir
para formar uma imagem positiva.
Polticas de formao articuladas a polticas pblicas de garantia
de direitos. Colocar a educao no na lgica do mercado, nem
174 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Polticas de formao de educadores(as) do campo
das carncias, mas dos direitos dos povos do campo: direito
terra, vida, cultura, identidade, memria, educao. Nessa l-
gica dos direitos, situa-se a dimenso poltica e pblica da
formao de profissionais.
Polticas de formao afirmativas da especificidade do campo. A
especificidade das formas de produo da vida, da cultura, do
trabalho, da socializao e sociabilidade traz inerente, como
exigncia, a especificidade dos processos de formao e de
educao; conseqentemente, a especificidade dos domnios,
artes e saberes exigidos dos profissionais dessa educao. Sem
uma compreenso bem fundamentada desses processos forma-
tivos especficos, no tero condies de ser educadores(as)
dos povos do campo.
Polticas de formao a servio de um projeto de campo. Frente
ao estilo de programas para suprir carncias de formao-
titulao, as polticas encontraro sentido se concebidas como
parte de um projeto de campo no projeto de Nao. A per-
gunta que projeto de formao? tem que estar articulada a
outras: que projeto de campo, de desenvolvimento econmi-
co, social, cultural do campo no grande projeto de nao. A
fraqueza da educao rural, a falta de uma rede de escolas, de
um corpo de profissionais uma manifestao a mais do pro-
jeto de campo que o modelo de desenvolvimento teve e est
construindo. A escola do campo e seus profissionais no se
afirmaro se o projeto poltico for expulsar os povos do cam-
po, expandir o agronegcio, acabar com a agricultura famili-
ar. Sem gente no sero necessrios educao, escolas, profis-
sionais qualificados.
Polticas de formao sintonizadas com a dinmica social do
campo. Diante da viso do campo como o acmulo de carn-
cias a serem supridas, ou ecoa uma vida em extino, ou
como o agronegcio o compreende, sem gente, os movimen-
tos sociais mostram um campo tenso, dinmico, tanto no ter-
reno da poltica, das resistncias, da cultura e dos valores,
como na presena de novos atores sociais. Nessa dinmica es-
to sendo afirmados direitos aos territrios, terra, cultura
e identidade, educao. Nunca os direitos, com destaque
175 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Miguel Gonzalez Arroyo
educao, foram to firmados no campo. Nessa dinmica, ad-
quire novos significados a construo do sistema escolar e de
um corpo de educadoras e educadores capazes de intervir
com profissionalismo nessa dinmica.
Os movimentos sociais vm se mostrando educadores do cam-
po, sendo sujeitos privilegiados, explorando, influindo e dando um ca-
rter pedaggico a essa tensa dinmica. Estes movimentos tm sido os
grandes pedagogos do campo. As polticas de formao tero de apren-
der com essa pedagogia dos movimentos, captando os traos do perfil
de educador e educadora do campo.
As ricas experincias de formao de educadoras e educadores do
campo, que acontecem nos cursos de Magistrio, de Pedagogia da Ter-
ra, na graduao e ps-graduao, no conjunto de encontros, oficinas,
estudos e reflexo sobre a prtica educativa dos movimentos, oferecem
horizontes para pesquisar, refletir e configurar polticas de formao de
educadores(as) do campo. Fornecem indagaes instigantes para supe-
rar estilos ultrapassados e para interrogar os currculos, as polticas e as
concepes de formao de profissionais da educao bsica. Uma con-
tribuio para o pensamento educacional que merece ser olhada com
ateno e incorporada na formulao de polticas pblicas.
Recebido em outubro de 2006 e aprovado em maro de 2007.
Referncias bibliogrficas
ARROYO, M.G. Ofcio de mestre: imagens e auto-imagens. 7. ed.
Petrpolis: Vozes, 2000.
ARROYO, M.G. Imagens quebradas: trajetrias e tempos de alunos e
mestres. 3. ed. Petrpolis: Vozes, 2004.
ARROYO, M.G. Educao bsica e movimento social do Campo. In:
ARROYO, M.G.; CALDART, R.; MOLINA, M. Por uma educao do campo.
Petrpolis: Vozes, 2004.
CALDART, R. Pedagogia do Movimento Sem-Terra. Petrpolis: Vozes,
2000.
CALDART, R. A escola do campo em movimento. In: ARROYO, M.G.;
176 Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 157-176, maio/ago. 2007
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Polticas de formao de educadores(as) do campo
CALDART, R.; MOLINA, M. Por uma educao do campo. Petrpolis: Vo-
zes, 2004.
CALDART, R. Por uma educao do campo: traos de uma identida-
de em construo. In: ARROYO, M.G.; CALDART, R.; MOLINA, M. Por
uma educao do campo. Petrpolis: Vozes, 2004.
MANANO, F.B. Os campos de pesquisa em educao do campo:
espao e territrio como categorias essenciais. In: MOLINA, M. Educa-
o do campo e pesquisa. Braslia, DF: Ministrio do Desenvolvimento
Agrrio, 2006.
MUNARIM, A. Elementos para uma poltica de educao do cam-
po. In: MOLINA, M. Educao do campo e pesquisa. Braslia, DF: Minis-
trio do Desenvolvimento Agrrio, 2006.
SANTOS, B.S. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopo-
litismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2003.
Você também pode gostar
- A Geografia escolar e a cidade: Ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidianaNo EverandA Geografia escolar e a cidade: Ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidianaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Modelo Capa UnoparDocumento7 páginasModelo Capa UnoparEduardaAinda não há avaliações
- Aguiar Marcia Angela Da Silva Conselho DDocumento14 páginasAguiar Marcia Angela Da Silva Conselho DdasddqwdqwdAinda não há avaliações
- Edu Cacao CampoDocumento81 páginasEdu Cacao CampoPós-graduando SilvaAinda não há avaliações
- Aeducaonocampo2 160925000314Documento40 páginasAeducaonocampo2 160925000314BENILDE DE NAZARE LAMEIRA ROSAAinda não há avaliações
- Identidade, Cultura, Educação Do Campo e Políticas EducacionaisDocumento37 páginasIdentidade, Cultura, Educação Do Campo e Políticas EducacionaisJOAO ANTONIO DOS SANTOS DE LIMAAinda não há avaliações
- História Da Educação Do Campo No BrasilDocumento15 páginasHistória Da Educação Do Campo No BrasilJailson JúniorAinda não há avaliações
- 10 - A Educação Do Campo, Marcos Histórico e NormativoDocumento4 páginas10 - A Educação Do Campo, Marcos Histórico e NormativoJoãoColtoAinda não há avaliações
- Didática e Metodologia Do Ensino Na Educação Do CampoDocumento37 páginasDidática e Metodologia Do Ensino Na Educação Do CampoJOAO ANTONIO DOS SANTOS DE LIMAAinda não há avaliações
- Cidade Educadora: A Dimensão Cultural No Processo Identitário de SoledadeDocumento13 páginasCidade Educadora: A Dimensão Cultural No Processo Identitário de SoledadepauloAinda não há avaliações
- Os Movimentos Sociais Arroyo PDFDocumento22 páginasOs Movimentos Sociais Arroyo PDFELIDA MARIA RODRIGUES BONIFÁCIOAinda não há avaliações
- Atividade 2 Ana Forma CampoDocumento6 páginasAtividade 2 Ana Forma CampoAna Elisia Alves de SouzaAinda não há avaliações
- Políticas públicas em educação na cidade e no campo: DebatesNo EverandPolíticas públicas em educação na cidade e no campo: DebatesAinda não há avaliações
- Educação e Cultura As Escolas Do Campo em MovimentoDocumento17 páginasEducação e Cultura As Escolas Do Campo em MovimentoTúlio BorgesAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre As Experiências Entre MST, Via Campesina e UniversidadesDocumento10 páginasReflexões Sobre As Experiências Entre MST, Via Campesina e UniversidadesizadoralanerAinda não há avaliações
- Centros Familiares de Formação Por AlternânciaDocumento16 páginasCentros Familiares de Formação Por AlternânciaDayanaAinda não há avaliações
- Leis EducacionaisDocumento9 páginasLeis EducacionaisClédina FonsecaAinda não há avaliações
- Crianças Do CampoDocumento13 páginasCrianças Do CampoDienne PontesAinda não há avaliações
- Pereira, Silva, Sá - 2018 - Educação Do Campo e Agroecologia Por Uma Pedagogia Do TrabalhoDocumento9 páginasPereira, Silva, Sá - 2018 - Educação Do Campo e Agroecologia Por Uma Pedagogia Do TrabalhoGuilherme MamedeAinda não há avaliações
- Educação Do Campo Concepçoes e ConceitosDocumento13 páginasEducação Do Campo Concepçoes e ConceitosEnayde DiasAinda não há avaliações
- Educação - Comunicdades QuilombolasDocumento3 páginasEducação - Comunicdades QuilombolasElianaAinda não há avaliações
- Projeto Educação Cotidiano e Memória Prolicen 2023Documento17 páginasProjeto Educação Cotidiano e Memória Prolicen 2023Jon SousaAinda não há avaliações
- 11 Projeto Politico Cp8Documento29 páginas11 Projeto Politico Cp8Cosmiana AlmeidaAinda não há avaliações
- AMORINDocumento44 páginasAMORINPaolaAinda não há avaliações
- Ribeiro, Marlene. Educação para A Cidadania - Questão Colocada Pelos MovimentosDocumento16 páginasRibeiro, Marlene. Educação para A Cidadania - Questão Colocada Pelos MovimentosAderaldo Leite da SilvaAinda não há avaliações
- Da Luta Às Políticas de Educação Do CampoDocumento16 páginasDa Luta Às Políticas de Educação Do CampoRachel AzoubelAinda não há avaliações
- Educação e TrabalhoDocumento15 páginasEducação e TrabalhoCirlene SilvaAinda não há avaliações
- eDUAÇÃO NO CAMPO E POLITICAS pUBLIACASDocumento10 páginaseDUAÇÃO NO CAMPO E POLITICAS pUBLIACASClio ProençaAinda não há avaliações
- 5257-Texto Do Artigo-23136-1-10-20141219Documento25 páginas5257-Texto Do Artigo-23136-1-10-20141219Mariana NobregaAinda não há avaliações
- Educação - Comunicdades QuilombolasDocumento3 páginasEducação - Comunicdades QuilombolasElianaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento6 páginas1 PBbrito.lAinda não há avaliações
- Texto Base Educação Do CampoDocumento11 páginasTexto Base Educação Do Camposergio_jp7Ainda não há avaliações
- 3 - Agroecologia e Educação No CampoDocumento6 páginas3 - Agroecologia e Educação No CampoTHAYNAN DE LIMAAinda não há avaliações
- Educação Do Campo - Diferenças Mudando ParadigmasDocumento81 páginasEducação Do Campo - Diferenças Mudando ParadigmasMário FernandesAinda não há avaliações
- Carta Educação Do CampoDocumento2 páginasCarta Educação Do CampoLazaro CunhaAinda não há avaliações
- Estudos Culturais em EducaçãoDocumento16 páginasEstudos Culturais em EducaçãoMJS SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVILAinda não há avaliações
- Texto 10 Grupo 1 - 5 Encontro Diretrizes Curriculares Da Educacao Do Campo 14 34Documento22 páginasTexto 10 Grupo 1 - 5 Encontro Diretrizes Curriculares Da Educacao Do Campo 14 34Ana GobettiAinda não há avaliações
- Gestão de Recursos Na Educação Do CampoDocumento52 páginasGestão de Recursos Na Educação Do CampoJOAO ANTONIO DOS SANTOS DE LIMAAinda não há avaliações
- SilviaDocumento2 páginasSilviadouglasAinda não há avaliações
- Livro 54Documento129 páginasLivro 54Eudes SousaAinda não há avaliações
- Artigo RedesDocumento17 páginasArtigo RedesMIRIAN MONTEIROAinda não há avaliações
- 1128-Texto Do Artigo-2212-3253-10-20171113Documento13 páginas1128-Texto Do Artigo-2212-3253-10-20171113Fairuz Cunha DaoudAinda não há avaliações
- Arroyo - Do Trabalho e Das Lutas No Campo para A EJA - Que Radicalidades AfirmamDocumento11 páginasArroyo - Do Trabalho e Das Lutas No Campo para A EJA - Que Radicalidades AfirmamMara Pereira100% (1)
- DCRB Resumo ParcialDocumento15 páginasDCRB Resumo ParcialGmaraes CastroAinda não há avaliações
- Roteiro para Uma História Da Educação Escolar IndígenaDocumento17 páginasRoteiro para Uma História Da Educação Escolar IndígenaLuiz Antonio OliveiraAinda não há avaliações
- Educação Do/no Campo:No EverandEducação Do/no Campo:Ainda não há avaliações
- Fontenele Zilfran AhistoriaeculturaafrobrasileiraeindigenanaescolaDocumento15 páginasFontenele Zilfran AhistoriaeculturaafrobrasileiraeindigenanaescolarodrigojcostaAinda não há avaliações
- Polinomios e SurdezDocumento11 páginasPolinomios e SurdezNey VieiraAinda não há avaliações
- Trabalho Ev056 MD1 Sa2 Id10183 19082016203248Documento12 páginasTrabalho Ev056 MD1 Sa2 Id10183 19082016203248Joá da Silva OliveiraAinda não há avaliações
- Educação Do/no Campo: Demandas Da Contemporaneidade E Reflexões Sobre A Práxis DocenteNo EverandEducação Do/no Campo: Demandas Da Contemporaneidade E Reflexões Sobre A Práxis DocenteAinda não há avaliações
- Salomao HageDocumento18 páginasSalomao HageDouglas Oliveira100% (1)
- Roteiro para Uma História Da EEI Luiz Oliveira e Rita PotyguaraDocumento17 páginasRoteiro para Uma História Da EEI Luiz Oliveira e Rita Potyguarasofia agamezAinda não há avaliações
- Resumo CampesinoDocumento1 páginaResumo CampesinoIngrid Chieppe Dos SantosAinda não há avaliações
- Um Estudo Das Relações Entre A Eja e A Educação Do CampoDocumento20 páginasUm Estudo Das Relações Entre A Eja e A Educação Do CampoShana SieberAinda não há avaliações
- Educação Do Campo - Novo Paradigma Teorico Metodologico e PolíticoDocumento9 páginasEducação Do Campo - Novo Paradigma Teorico Metodologico e PolíticoAline ValenteAinda não há avaliações
- Candau Questao Didatica MulticulturalDocumento17 páginasCandau Questao Didatica MulticulturalAlessandra CondeAinda não há avaliações
- Artigo ArteeEducaoDocumento16 páginasArtigo ArteeEducaoMariana NobregaAinda não há avaliações
- Escola Básica Pública na Amazônia Paraense - Temas, Problemas, Possibilidades Analíticas e AlternativasNo EverandEscola Básica Pública na Amazônia Paraense - Temas, Problemas, Possibilidades Analíticas e AlternativasAinda não há avaliações
- Formação de educadores na perspectiva do Intelectual Coletivo: um diálogo da Pedagogia Socialista e a Educação do CampoNo EverandFormação de educadores na perspectiva do Intelectual Coletivo: um diálogo da Pedagogia Socialista e a Educação do CampoAinda não há avaliações
- Espacialidades e Currículo em Escolas do Campo no Município de São Mateus/ES nas Séries Iniciais do Ensino FundamentalNo EverandEspacialidades e Currículo em Escolas do Campo no Município de São Mateus/ES nas Séries Iniciais do Ensino FundamentalAinda não há avaliações