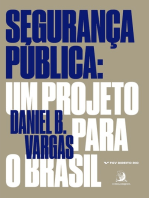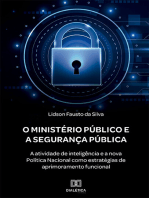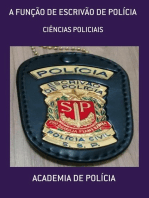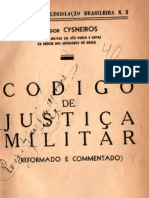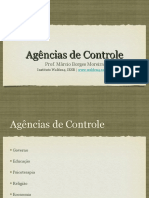Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Segurança Pública PDF
Segurança Pública PDF
Enviado por
Robson Augusto Domingos0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
19 visualizações61 páginasTítulo original
Segurança Pública.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
19 visualizações61 páginasSegurança Pública PDF
Segurança Pública PDF
Enviado por
Robson Augusto DomingosDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 61
1
A SEGURANA PBLICA NA CONSTITUIO FEDERAL DE 1988:
CONCEITUAO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA,
COMPETNCIAS FEDERATIVAS E RGOS DE EXECUO DAS
POLTICAS
1-2
Cludio Pereira de Souza Neto
3
SUMRIO: I. Introduo. II. Parmetros para a conceituao constitucionalmente
adequada da segurana pblica; II.1. O conceito de segurana pblica entre o combate e
a prestao de servio pblico; II.2. A segurana como direito fundamental, o princpio
republicano e a exigncia de universalizao; II.3. Lei e ordem pblica; II.4. Limites e
possibilidades do controle jurisdicional das polticas pblicas de segurana. III.
Classificao das atividades policiais e rgos de execuo das polticas de segurana
pblica; III.1. Classificao constitucional da atividade policial: polcia ostensiva,
polcia de investigao, polcia judiciria, polcia de fronteiras, polcia martima e
polcia aeroporturia; III.2. rgos policiais estaduais: Polcia Civil e Polcia Militar;
III.3. rgos policiais federais: Polcia Federal, Polcia Rodoviria Federal e Polcia
Ferroviria Federal; III.4. Taxatividade do rol de rgos policiais; III.5. A participao
de outros rgos na execuo de polticas de segurana; III.5.1. A participao das
Foras Armadas na segurana pblica. III.5.2. A participao do Ministrio Pblico na
investigao criminal; III.5.3. A participao de magistrados na investigao criminal;
III.5.4. A Fora Nacional de Segurana; III.5.5. As guardas municipais e a participao
dos municpios nas polticas de segurana pblica; III.5.6. A participao popular nas
polticas de segurana pblica. IV. Concluso.
I. Introduo
Em maio de 2007, o Governo do Rio de Janeiro encaminhou ao
Presidente da Repblica pedido para que o Governo Federal empregasse as Foras
1
Este estudo dedicado aos colegas da OAB-RJ pelos esforos que vm empreendendo pela
democratizao da poltica de segurana no Estado do Rio de Janeiro.
2
Agradeo a Ana Paula de Barcellos e a Daniel Sarmento a atenta leitura e as precisas sugestes que
formularam.
3
Professor da UFF e da ps-graduao da UGF. Doutor em Direito pela UERJ. Advogado e Conselheiro
Federal da OAB.
2
Armadas na execuo de polticas de segurana. O pedido foi negado. Em junho, o
Governo Estadual determinou a ocupao do Complexo do Alemo. Para realiz- la,
utilizou mais de 1200 homens, policiais civis e militares, alm de 150 membros da
Fora Nacional de Segurana. Outras operaes vm sendo realizadas em diversos
locais da cidade, tambm habitados pelas parcelas mais pobres da populao. No
primeiro semestre de 2007, as mortes em confronto com a polcia aumentaram em
33,5%, ao passo que as prises diminuram em 23,6%; a apreenso de armas, em
14,3%; e a apreenso de drogas, em 7,3%. O Governo Estadual claramente adota uma
estratgia de guerra, e isso reconhecido pelo prprio Governador: Qualquer ao da
criminalidade ter uma reao da polcia. Ao mesmo tempo no s uma ao passiva
(...), mas um trabalho de combate permanente e estratgico para ganhar essa guerra. (...)
Ns vamos ganhar essa guerra com muita seriedade
4
. O contexto presente simboliza a
orientao geral que vem prevalecendo nas ltimas dcadas. Apesar de passados mais
de 20 anos do fim do regime militar, as polticas de segurana pblica ainda so
concebidas como estratgia de guerra e no se submetem ao programa democrtico da
Constituio Federal de 1988.
O objetivo do presente estudo verificar o que a Constituio
Federal tem a dizer sobre a segurana pblica. A Constituio de 1988 lhe reservou
captulo especfico (art. 144), em que a caracteriza como dever do Estado e como
direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a preservao da
ordem pblica e da incolumidade das pessoas e do patrimnio. A Constituio
estabelece ainda os rgos responsveis pela segurana pblica: a Polcia Federal, a
Polcia Rodoviria Federal, a Polcia Ferroviria Federal, as polcias civis estaduais, as
polcias militares e os corpos de bombeiros. A histria constitucional brasileira est
repleta de referncias difusas segurana pblica. Mas at a Constituio de 1988, no
havia captulo prprio, nem previso constitucional mais detalhada, como agora se
verifica. Por ter constitucionalizado
5
, em detalhe, a segurana pblica, a Constituio
4
Cabral reitera poltica de combate criminalidade (notcia de 16.06.2007). Disponvel em:
http://www.imprensa.rj.gov.br.
5
Em outro estudo, elaborado em co-autoria com Santos de Mendona, procuramos esclarecer os diversos
sentidos em que o termo constitucionalizao do direito empregado: A primeira acepo
constitucionalizao-incluso imediata. Determinado assunto, antes tratado pela legislao ordinria,
ou simplesmente ignorado, passa a fazer parte do texto constitucional. a constitucionalizao-elevao
de Favoreu, transferncia, para a Constituio, da sede normativa da regulao da matria. (...). A
segunda acepo constitucionalizao-releitura s veio a receber maior ateno nos dias de hoje.
3
de 1988 se individualiza ainda no direito comparado, em que tambm predominam
referncias pontuais.
A constitucionalizao traz importantes conseqncias para a
legitimao da atuao estatal na formulao e na execuo de polticas de segurana.
As leis sobre segurana, nos trs planos federativos de governo, devem estar em
conformidade com a Constituio Federal, assim como as respectivas estruturas
administrativas e as prprias aes concretas das autoridades policiais. O fundamento
ltimo de uma diligncia investigatria ou de uma ao de policiamento ostensivo o
que dispe a Constituio. E o no apenas no tocante ao art. 144, que concerne
especificamente segurana pblica, mas tambm no que se refere ao todo do sistema
constitucional. Devem ser especialmente observados os princpios constitucionais
fundamentais a repblica, a democracia, o estado de direito, a cidadania, a dignidade
da pessoa humana , bem como os direitos fundamentais a vida, a liberdade, a
igualdade, a segurana. O art. 144 deve ser interpretado de acordo com o ncleo
axiolgico do sistema constitucional, em que se situam esses princpios fundamentais
o que tem grande importncia, como se observar, para a formulao de um conceito
constitucionalmente adequado de segurana pblica.
A partir da afirmao da prevalncia normativa dos princpios
fundamentais, o presente estudo busca cumprir fundamentalmente quatro tarefas: (a)
apresentar um conceito constitucionalmente adequado de segurana pblica; (b)
examinar os limites e as possibilidades do controle jurisdicional das polticas de
segurana; (c) detalhar a repartio de competncias entre os rgos policiais; (d)
verificar a pertinncia de eventuais alteraes na jurisprudncia ou na forma como a
Desde que a Constituio passou a ser compreendida como norma jurdica dotada de superioridade
formal e material em relao s demais, era questo de tempo at que se passasse a denominar como
constitucionalizao do Direito a percepo, mais ou menos difusa, de que todas as normas
infraconstitucionais deviam pagar algum tributo de sentido norma mxima. O fenmeno, no Brasil, vem
sendo descrito e justificado em diversos estudos, com nfase nas pesquisas recentes sobre a filtragem
constitucional, a eficcia privada dos direitos fundamentais e a formao de um Direito Civil-
Constitucional. (SOUZA NETO, Cludio Pereira de; MENDONA, Jos Vicente Santos de.
Fundamentalizao e fundamentalismo na interpretao do princpio constitucional da livre iniciativa. In:
SOUZA NETO, Cludio Pereira de; SARMENTO, Daniel [orgs.]. A constitucionalizao do direito:
fundamentos tericos e aplicaes especficas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006). Cf. ainda:
FAVOREU, Louis. La constitutionnalisation du droit. In: L'unit du droit: Mlanges en homage Roland
Drago. Paris: Economica, 1996; BARROSO, Lus Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalizao
do direito (o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). RDA, vol. 240, abr./jun. 2005, p. 20.
4
Constituio regulou a matria. Preliminarmente, enfatiza-se apenas que as prticas
policiais ainda no se submeteram ao programa democrtico institudo pela
Constituio de 1988. No so, nesse sentido concreto, prticas constitucionalizadas,
comprometidas com a construo de uma repblica de cidados livres e iguais e com a
promoo da dignidade da pessoa humana. No campo da segurana pblica, a
constitucionalizao efetiva da ao governamental ainda figura como objetivo a ser
alcanado pelo inconcluso processo brasileiro de democratizao.
II. Parmetros para a conceituao constitucionalmente adequada da segurana
pblica
II.1. O conceito de segurana pblica entre o combate e a prestao de servio
pblico
H duas grandes concepes de segurana pblica que rivalizam
desde a reabertura democrtica e at o presente, passando pela Assemblia Nacional
Constituinte: uma centrada na idia de combate; outra, na de prestao de servio
pblico
6
.
A primeira concebe a misso institucional das polcias em termos
blicos: seu papel combater os criminosos, que so convertidos em inimigos
internos. As favelas so territrios hostis, que precisam ser ocupados atravs da
utilizao do poder militar. A poltica de segurana formulada como estratgia de
guerra. E, na guerra, medidas excepcionais se justificam. Instaura-se, ento, uma
poltica de segurana de emergncia e um direito penal do inimigo
7
. O inimigo
interno anterior o comunista substitudo pelo traficante, como elemento de
6
Cf. CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. O futuro de uma iluso: o sonho de uma nova polcia.
Freitas Bastos, 2001; DORNELLES, Joo Ricardo Wanderley. Violncia urbana, direitos da cidadania e
polticas de segurana..., cit.; SULOCKI, Vitria Amlia de B. C. G. Segurana pblica e democracia...,
cit.; MUNIZ, Jacqueline; PROENCA JUNIOR, Domnio. Os rumos da construo da polcia democrtica.
Boletim IBCCrim, v. 14 , n. 164, jul. 2006; SOUZA, Luis Antonio Francisco de. Polcia, Direito e poder
de policia. A polcia brasileira entre a ordem publica e a lei. Revista Brasileira de Cincias Criminais, v.
11, n. 43, abr./jun. 2003; SILVA, Jorge da. Segurana pblica e polcia: criminologia crtica aplicada.
Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 189 ss.
7
Cf.: ZAFFARONI, Eugenio Ral. O inimigo no direito penal . Rio de Janeiro: Revan, 2007; JACKOBS,
Gnther; CANCIO MELI, Manuel. Derecho penal del enemigo. Madri: Civitas, 2003.
5
justificao do recrudescimento das estratgias blicas de controle social
8
. O modelo
reminiscente do regime militar, e, h dcadas, tem sido naturalizado como o nico que
se encontra disposio dos governos, no obstante sua incompatibilidade com a ordem
constitucional brasileira. O modelo tem resistido pela via da impermeabilidade das
corporaes policiais, do populismo autoritrio de sucessivos governos e do discurso
hegemnico dos meios de comunicao social
9
. Com os atentados de 11 de setembro,
voltou a ser praticado no plano internacional. Elevado condio de nica alternativa
eficaz no combate ao terrorismo, tem justificado violaes sucessivas aos direitos
humanos
10
e s normas mais bsicas que regem o convvio entre as naes
11
.
A segunda concepo est centrada na idia de que a segurana
um servio pblico a ser prestado pelo Estado
12
. O cidado o destinatrio desse
8
A concepo autoritria se apia em um modelo de sociedade centrado no conflito. Nessa tradio da
teoria poltica, se inserem autores como Maquiavel, Hobbes e Schmitt, que compartilham um ponto de
vista pessimista sobre os seres humanos, ao caracteriz -los como vocacionados para a prtica de
hostilidades recprocas. Para Schmitt, por exemplo, a poltica se define como relao amigo-inimigo
(SCHMITT, Carl. O conceito do poltico. Petrpolis: Vozes, 1992). Se o meio social se caracteriza pelo
conflito, o poder poltico deve interferir incisivamente na limitao da liberdade, deve decidir os conflitos
sociais e estabelecer a ordem. No por outra razo que desse tipo de construo resultam estados
autoritrios. A ditadura no vista como algo negativo, mas como alternativa aceitvel desordem e
guerra, que ameaariam em maior grau a vida e a propriedade das pessoas. Assume preocupante
pertinncia a conhecida sentena de Clausewitz, para o qual a guerra no somente um ato poltico, mas
um verdadeiro instrumento poltico, uma continuao das relaes polticas, uma realizao destas por
outros meios (CLAUSEWITZ, Carl von. Da Guerra. So Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 27).
9
Cf. CERQUEIRA, Carlos M. Nazareth. Remilitarizao da segurana pblica: a operao Rio.
Discursos Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade, n. 1, 1996; SILVA, Jorge da. Segurana pblica e
polcia..., cit., p. 532 ss.; MORETZSOHN, Sylvia. Imprensa e criminologia: o papel do jornalismo nas
polticas de excluso social. Covilh: Universidade da Beira Interior, 2003.
10
Nos Estados Unidos, aps os atentados de 11 de setembro, foi editada legislao de emergncia,
chamada USA Patriot Act, que prev, dentre outras medidas, a ampliao da possibilidade de priso para
investigaes, de buscas em domiclio e de escutas telefnicas, alm de restringir os contatos dos
investigados com seus advogados. Cf. ACKERMAN, Bruce. The Emergency Constitution. Yale Law
Journal, vol. 113, n. 5, 2004; VIANO, Emilio. Medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios:
poltica criminal tras el 11.09.2001. Revista Brasileira de Cincias Criminais, n. 52, 2005.
11
Aps os atentados de 11 de setembro, os EUA tm iniciado uma guerra global contra o terrorismo,
em que se incluem aes preventivas, sem declarao formal de guerra, em qualquer lugar no globo, e o
uso corrente operaes clandestinas. Cf. FOLLIS, Luca. Laboratory of war: Abu Ghraib, the human
intelligence network and the Global War on Terror. Constellations, vol. 14, n. 4, dez., 2007, p. 636: A
resposta da administrao foi a elaborao da Doutrina Bush e a implementao da guerra global contra
o terrorismo. Desde setembro de 2002, o Presidente Bush procura distingui-la de qualquer outra guerra
em que os EUA tenham se engajado no passado, enfatizando que ela (1) no se apia em nenhuma
declarao formal de guerra ou de fim das hostilidades; (2) no tem nenhum inimigo claramente definido;
e (3) no est confinada a nenhuma regio geogrfica particular. Talvez mais importante, o Presidente
tem frequentemente enfatizado que, ao lado das operaes convencionais, a guerra contra o terror
demanda operaes secretas e clandestinas.
12
Pode-se argumentar que a segurana pblica no pode ser definida como servio pblico, mas como
atividade de polcia administrativa, j que serviria restrio da liberdade individual. O exerccio do
poder de polcia seria funo exclusiva de estado. Contudo, a garantia da segurana pblica exibe
6
servio. No h mais inimigo a combater, mas cidado para servir. A polcia
democrtica, prestadora que de um servio pblico, em regra, uma polcia civil,
embora possa atuar uniformizada, sobretudo no policiamento ostensivo. A polcia
democrtica no discrimina, no faz distines arbitrrias: trata os barracos nas favelas
como domiclios inviolveis
13
; respeita os direitos individuais, independentemente de
classe, etnia e orientao sexual; no s se atm aos limites inerentes ao Estado
democrtico de direito, como entende que seu principal papel promov- lo. A
concepo democrtica estimula a participao popular na gesto da segurana pblica;
valoriza arranjos participativos e incrementa a transparncia das instituies policiais.
Para ela, a funo da atividade policial gerar coeso social
14
, no pronunciar
antagonismos; propiciar um contexto adequado cooperao entre cidados livres e
iguais
15
. O combate militar substitudo pela preveno, pela integrao com polticas
carter tipicamente prestacional. O elemento dominante da noo a atuao positiva do Estado, no
sentido de proteger a segurana, no a limitao da liberdade dos que atentam contra a segurana. Essa
nfase atuao positiva do Estado atribuda noo de segurana pblica pelo j referido caput do
artigo 144 da Constituio Federal. Para a reconstruo do debate sobre o conceito de servio pblico, cf.
ARAGO, Alexandre Santos de. A dimenso e o papel dos servios pblicos no Estado contemporneo.
(Tese de Doutorado em Direito). So Paulo: USP, 2005. Para a caracterizao da segurana como servio
pblico, cf.: SANTIN, Valter Foleto. Controle judicial da segurana pblica: eficincia do servio na
preveno e represso ao crime. So Paulo: RT, 2004.
13
A condio de domiclio inviolvel j foi reconhecida aos casebres das favelas pelo Supremo
Tribunal Federal, em deciso monocrtica. Cf. STF, DJU 15 set. 1997, SS n 1.203, Min. Celso de Mello.
Na verdade, aplica-se tambm aqui o parmetro geral constitudo pelo STF para interpretar o conceito de
casa para efeito de inviolabilidade domiciliar: Para os fins da proteo jurdica a que se refere o art. 5,
XI, da Constituio da Repblica, o conceito normativo de casa revela-se abrangente, por estender-se a
qualquer aposento de habitao coletiva, desde que ocupado (CP, art. 150, 4, II) (STF, DJU 18 mai.
2007, RHC n 90.376, Rel. Min. Celso de Mello).
14
Como se sabe, a idia de coeso social qualificada, por importantes publicistas, como a principal
tarefa a ser exercida pelo Estado quando este presta servios pblicos. A noo tem origem na Escola do
Servio Pblico, desenvolvida no incio do Sculo XX, na Frana. De acordo com Lon Duguit, seu
principal precursor, servio pblico pode ser definido como toda atividade cuja realizao deve ser
assegurada, regulada e controlada pelos governantes, porque a consecuo dessa atividade indispensvel
concretizao e ao desenvolvimento da interdependncia social, e de tal natureza que s pode ser
realizada completamente pela interveno da fora governante (DUGUIT, Lon. Trait de Droit
Constitutionnel . Pars: Ancienne Librairie Fontemoing, 1928, T. II, p. 59). Como se v, o conceito de
Duguit est fortemente assentado nas idias de solidariedade e de cooperao. Cf. FARIAS, Jos
Fernando Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998; Id. A teoria do
estado no fim do Sculo XIX e no incio do Sculo XX: os enunciados de Lon Duguit e de Maurice
Hauriou. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. Na literatura jurdica brasileira atual, sobre a noo de
coeso social, como a que explica e legitima a instituio de servios pblicos, cf. GRAU, Eros
Roberto. A Ordem econmica na constituio de 1988. 11.ed. So Paulo: Malheiros, 2006, p. 130;
ARAGO, Alexandre Santos de. A dimenso e o papel dos servios pblicos no estado contemporneo,
cit. De acordo com este ltimo: O fundamento ltimo da qualificao jurdica de determinada atividade
como servio pblico foi e ser pressuposto da coeso social e geogrfica de determinado pas e da
dignidade de seus cidados (p. 357).
15
A concepo democrtica entende que o cidado tambm talhado para a cooperao social. Nessa
vertente do pensamento poltico, inserem-se autores como Rousseau, Heller e Habermas. A polmica
entre Heller e Schmitt, sobre o conceito do poltico, ajuda a esclarecer o papel fundamental que a idia
7
sociais, por medidas administrativas de reduo dos riscos e pela nfase na investigao
criminal. A deciso de usar a fora passa a considerar no apenas os objetivos
especficos a serem alcanados pelas aes policiais, mas tambm, e fundamentalmente,
a segurana e o bem-estar da populao envolvida.
A diferena entre as duas concepes revela-se, por exemplo, na
forma como lidam com o envolvimento de policiais em episdios de confronto armado.
No mesmo perodo (de 1995 a 1998), os Governos do Estado do Rio de Janeiro e do
Estado de So Paulo davam respostas divergentes para esse tipo de evento. No Rio de
Janeiro, a poltica de segurana era comandada por um general, que instituiu a
gratificao por bravura (apelidada de gratificao faroeste)
16
. Se o policial se
envolvia em confronto armado, era gratificado pecuniariamente. O resultado foi o
aumento da truculncia policial e a simulao reiterada de situaes de confronto, com a
elaborao de autos de resistncia fraudulentos. Em So Paulo, a Secretaria de
Segurana instituiu o PROAR (Programa de Acompanhamento de Policiais Envolvidos
em Ocorrncia de Alto Risco). Quando o policial se envolvia em confrontos, era
afastado das ruas e submetido a tratamento psicolgico; no recebia qualquer tipo de
gratificao por bravura. O objetivo da poltica era reduzir o arbtrio de autoridades
policiais e circunscrever o uso da fora aos casos de necessidade efetiva. Essas formas
de lidar com episdios de confronto armado revelam a divergncia fundamental entre as
duas concepes de segurana pblica. Enquanto a primeira entende o policial como
combatente, que deve ser premiado por seu herosmo, a segunda lhe confere a condio
de servidor, que, para dar conta de suas importantes responsabilidades, deve estar
psicologicamente apto
17
.
de cooperao exerce no regime democrtico. Heller se contrape perspectiva de Carl Schmitt, ao
sustentar que o que caracteriza a democracia exatamente a existncia de um fundamento comum para a
discusso, de um fair play diante do adversrio pblico, de uma unidade na multiplicidade de
opinies. Essa unidade obtida quando est garantido certo grau de homogeneidade social (esta
concebida por Heller em termos econmicos), que capaz de gerar uma conscincia do sentimento do
ns, uma vontade comunitria que se atualiza. (HELLER, Hermann. Dmocratie politique et
homognit sociale. Revue Cits, n. 6, maio, 2001. p. 205). Ao invs de justificar a ditadura, como
ocorre na vertente autoritria, a perspectiva democrtica enfatiza a necessidade de se garantirem as
condies econmicas e sociais para que todos os cidados se vejam motivados a cooperar, por receberem
da coletividade o tratamento que lhes devido por razes de justia. Sobre o lugar da cooperao social
na teoria constitucional contempornea, cf. SOUZA NETO, Cludio Pereira de. Teoria constitucional e
democracia deliberativa. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
16
Decreto n 21.753/95.
17
Os exemplos so lembrados por CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. Polticas de segurana
pblica..., cit., p. 69 ss.
8
Quando, no art. 144, tratou especificamente da segurana pblica,
a Constituio no optou, com a preciso desejvel, nem por um nem por outro modelo.
Por um lado, concebeu como finalidade das polticas de segurana a preservao da
incolumidade das pessoas e do patrimnio. Por outro lado, manteve parte importante
da polcia militarizada. Embora subordinadas aos governadores dos estados, as polcias
militares continuam previstas como foras auxiliares e reservas do Exrcito (art. 144,
5). A Constituio Federal, no captulo especfico sobre a segurana pblica, est
repleta de conceitos imprecisos. o caso do de ordem pblica, que pode ser
mobilizado, de acordo com as circunstncias, para justificar um ou outro tipo de
interveno policial
18
. passvel de incorporaes autoritrias, como a realizada pelas
polticas de lei e ordem, de tolerncia zero
19
. Mas tambm pode habitar o discurso
democrtico, ao ser concebida como ordem republicana do estado democrtico de
direito.
Contudo, apenas uma interpretao apressada poderia concluir
que, por conta da ambigidade que exibe no captulo especfico sobre segurana pblica
(art. 144), a Constituio pode justificar tanto polticas autoritrias quanto polticas
democrticas. Um conceito de segurana pblica adequado Constituio de 1988 um
conceito que se harmonize com o princpio democrtico, com os direitos fundamentais e
com a dignidade da pessoa humana. Por conta de sua importncia para a configurao
de um estado democrtico de direito
20
, os princpios fundamentais produzem eficcia
18
Cf. SULOCKI, Vitria Amlia de B. C. G. Segurana pblica e democracia..., cit., p. 151.
19
Cf. BATISTA, Vera Malaguti. Intolerncia dez, ou a propaganda a alma do negcio. Discursos
Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade, n. 4, 1997; BELLI, Benoni. Tolerncia zero e democracia no
Brasil: vises da segurana pblica na dcada de 90. So Paulo: Perspectiva, 2004; WACQUANT, Loc.
A globalizao da tolerncia zero. Discursos Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade, ano 5, n. 9 e 10,
2000.
20
No h hierarquia formal entre as normas constitucionais, mas h hierarquia material. Como esclarece
Ana Paula de Barcellos, embora os princpios no disponham de superioridade hierrquica sobre as
demais normas constitucionais, at mesmo por fora da unidade da Constituio, fcil reconhecer-lhes
uma ascendncia axiolgica sobre o texto constitucional em geral (BARCELLOS, Ana Paula de. A
eficcia jurdica dos princpi os constitucionais: o princpio da dignidade da pessoa humana. Rio de
Janeiro: Renovar, 2002, p. 74). Cf., ainda: GRAU, Eros Roberto. A ordem econmica na Constituio
Federal de 1988, cit., p. 80-82; SILVA, Virglio Afonso da. Interpretao constitucional e sincretismo
metodolgico. In: SILVA, Virglio Afonso da (org.). Interpretao constitucional. So Paulo: Malheiros,
2005, p. 123.
9
irradiante sobre os demais preceitos que compe a Constituio
21
, inclusive sobre
aqueles especificamente relacionados segurana pblica. Por essa razo, apenas as
polticas de segurana pblica aliceradas em concepes democrticas, comprometidas
com a observncia efetiva desses princpios, so compatveis com a Constituio
Federal.
II. 2. A segurana como direito fundamental, o princpio republicano e a exigncia
de universalizao
A segurana pblica um servio pblico que deve ser
universalizado de maneira igual. Ademais de resultar dos princpios fundamentais acima
mencionados, a compreenso extrada do fato de o caput do art. 144 afirmar que a
segurana pblica dever do estado e direito de todos. Desde o contratualismo dos
sculos XVII e XVIII, preservar a ordem pblica e a incolumidade das pessoas e do
patrimnio a funo primordial que justifica a prpria instituio do poder estatal. Na
Era Moderna, a segurana era o elemento mais bsico de legitimao do Estado, o
mnimo que se esperava da poltica. Na retrica novecentista do laissez faire, a
segurana chegava a ser concebida como a nica funo do estado guarda-noturno. O
estado social no s mantm a preocupao central com a segurana, como amplia o seu
escopo, concebendo-a como segurana social contra os infortnios da economia de
mercado
22
.
O art. 5 da Constituio Federal, em seu caput, eleva a segurana
condio de direito fundamental. Como os demais, tal direito deve ser universalizado
21
Cf. BARROSO, Lus Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O comeo da histria. A nova
interpretao constitucional e o papel dos princpios no Direito brasileiro. In: BARROSO, Lus Roberto
(org.). A nova interpretao constitucional: ponderao, direitos fundamentais e relaes privadas. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 368. No interior do sistema de direitos fundamentais, h a necessidade de se
proceder a uma interpretao conforme a dignidade humana. Cf.: SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas
notas em torno da relao entre o princpio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais na
ordem jurdica constitucional brasileira. In: LEITE, George Salomo (org.). Dos princpios
constitucionais: consideraes em torno das normas principiolgicas da Constituio. So Paulo:
Malheiros, 2003, p. 199. Cf. tambm: SARLET, Ingo. Dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais na Constituio Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 85 ss.
22
O neoliberalismo, relativamente segurana, empreende um duplo movimento. De um lado, dissolve as
conquistas do estado social quanto segurana social. De outro lado, hipertrofia o controle penal, como
mecanismo de conteno dos excludos. Da a percepo de que o estado social transita para o estado
penal. Cf. WACQUANT, Loc. A ascenso do Estado penal nos EUA. Discursos Sediciosos: Crime,
Direito e Sociedade, n. 11, 2002.
10
de maneira igual: no pode deixar de ser prestado parcela mais pobre da populao, ou
prestado de modo seletivo. Alm de ser decorrncia da titularidade veiculada no caput
do art. 144 (a segurana [...] direito de todos) e de sua jusfundamentalidade, a
exigncia da universalizao igual da segurana pblica, da no seletividade, decorre
ainda do princpio republicano. Em uma repblica, o Estado res pblica, coisa
pblica. Por isso, a Administrao, em que se incluem os rgos policiais, deve tratar a
todos os administrados com impessoalidade, i.e., de maneira objetiva e imparcial
23
. O
administrador no pode conceder benefcios ou onerar os administrados tendo em vista
seus preconceitos e preferncias; no pode estabelecer distines que adotem como
critrio a classe social, a cor da pele ou o local de moradia (CF, art. 3, IV).
24
O
programa constitucional nos impe a superao da tendncia atual de se conceber parte
da populao como a que merece proteo as classes mdias e altas e parte como a
que deve ser reprimida os excludos, os negros, os habitantes das favelas
25
.
O tema da universalizao igual da segurana pblica foi
enfrentado pelo STF ao examinar uma questo especfica de direito tributrio. O STF
tem entendido no ser vlida a cobrana de taxa de segurana pblica. A taxa um
tipo de tributo que s pode ser exigido em razo do exerccio do poder de polcia
26
e
23
No mbito infraconstitucional, a noo de imparcialidade est expressamente prevista na Lei 8.429/92,
cujo art. 11 determina: Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princpios da
administrao pblica qualquer ao ou omisso que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade s instituies (...). No constitucionalismo estrangeiro, a imparcialidade, ao
invs da impessoalidade, utilizada, dentre outras, pela Constituio Portuguesa, cujo art. 266, 2,
determina: Os rgos e agentes administrativos esto subordinados Constituio e lei e devem actuar,
no exerccio das suas funes, com respeito pelos princpios da igualdade, da proporcionalidade, da
justia, da imparcialidade e da boa-f. A imparcialidade aparece ainda na Constituio Italiana (art. 97):
As administraes pblicas so organizadas segundo as disposies legais, de modo que sejam
assegurados o bom andamento e a imparcialidade da administrao. Na literatura jurdica brasileira, cf.:
VILA, Ana Paula Oliveira. O princpio da impessoalidade da Administrao pblica: para uma
Administrao imparcial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 107 ss.
24
Os atos administrativos que violam a imparcialidade so atos nulos. A dogmtica especializada h
muito trata do tema, e tradicionalmente caracteriza a violao da imparcialidade como hiptese de desvio
de finalidade. Cf. Lei n 4.717/65, art. 2, alnea e. A vinculao dos atos administrativos ao interesse
pblico no significa, obviamente, que a Administrao pblica no possa atender aos interesses privados
dos administrados. Pode faz-lo. Deve apenas, quando acolhe demandas individuais, agir de acordo com
padres objetivos e imparciais, aplicveis a todos que se encontrem nas mesmas condies. Nessas
hipteses, o interesse pblico estar justamente no atendimento s pretenses particulares.
25
Cf. SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto. A Constituio aberta e os direitos fundamentais. Rio de
Janeiro: Forense, 2003. p. 266.
26
A referncia a poder de polcia contida no preceito constitucional tributrio tem um sentido diferente
do que recebe no contexto das polticas de segurana pblica. Poder de polcia conceito bsico do
direito administrativo: traduz a noo de que a administrao pblica tem a faculdade de restringir a
liberdade dos particulares com a finalidade de realizar o interesse pblico. Quando a liberdade do
11
da prestao de servio pblico especfico e divisvel (CF, art. 145, I)
27
. A instituio
de taxa faz com que a tributao incida mais intensamente sobre os particulares que
efetivamente demandam a atuao governamental. Mas a segurana pblica no um
servio pblico que possua beneficirios juridicamente individualizveis e que possa ser
compartimentada de tal modo que se identifique em que medida cada cidado se
beneficia. O STF tem entendido que, tanto por sua natureza quanto por imposio
constitucional (a segurana pblica, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos [...]), se trata de servio pblico inespecfico e indivisvel, devendo, por essa
razo, ser mantido atravs de impostos, no de taxas
28
. A compreenso inversa
legitimaria a prestao do servio em diferente quantidade ou qualidade conforme a
capacidade econmica do contribuinte o que seria inadmissvel, j que uma
distribuio formalmente igual da segurana talvez o elemento primordial de
legitimao do estado moderno.
Isso no impede, contudo, que sejam constitudas empresas
especializadas na prestao de servio de segurana privada
29
. De acordo com o art. 10
particular limitada pela administrao pblica quando, por exemplo, o particular se submete s normas
estabelecidas pela vigilncia sanitria , tem lugar a ocorrncia do fato gerador de uma taxa. De acordo
com o art. 78 do Cdigo Tributrio Nacional, considera-se poder de polcia atividade da administrao
pblica que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prtica de ato ou
absteno de fato, em razo de interesse pblico concernente segurana, higiene, ordem, aos
costumes, disciplina da produo e do mercado, ao exerccio de atividades econmicas dependentes de
concesso ou autorizao do Poder Pblico, tranqilidade pblica ou ao respeito propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos. No s isso que ocorre quando o Estado cria estruturas
administrativas para preservar a ordem pblica e a incolumidade das pessoas e do patrim nio, isto , para
prover segurana pblica. O que h, no contexto particular ora examinado, a prestao de um servio
pblico. Mas no de um servio pblico especfico e divisvel, como o fornecimento de gua ou luz, cuja
prestao tambm fato gerador de taxa.
27
De acordo com o art. 77 do Cdigo Tributrio Nacional, as taxas (...) tm como fato gerador o
exerccio regular do poder de polcia, ou a utilizao, efetiva ou potencial, de servio pblico especfico e
divisvel, prestado ao contribuinte ou posto sua disposio. Segundo o art. 79, os servios pblicos a
que se refere o art. 77 consideram-se: I utilizados pelo contribuinte: a) efetivamente, quando por ele
usufrudos a qualquer ttulo; b) potencialmente, quando, sendo de utilizao compulsria, sejam postos
sua disposio mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; II especficos, quando
possam ser destacados em unidades autnomas de interveno, de unidade, ou de necessidades pblicas;
III divisveis, quando suscetveis de utilizao, separadamente, por parte de cada um dos seus usurios.
28
STF, DJU 20 mai. 2005, Rcl-AgR n 2.617, Rel. Min. Cezar Peluso; DJU 18 jun. 2004, ADI n 2.424,
Rel. Min. Gilmar Mendes; e DJU 22 out. 1999, ADI-MC n 1.942, Rel. Min. Moreira Alves.
29
Em alguns casos, o STF vem entendendo, at mesmo, ser responsabilidade do particular prover a
segurana. o que ocorre com os estabelecimentos bancrios, cuja funo fundamental justamente
garantir a segurana do patrimnio dos correntistas. De acordo com o STF, pelo fato de a segurana
pblica ser dever do Estado, isso no quer dizer que a ocorrncia de qualquer crime acarrete a
responsabilidade objetiva dele, mxime quando a realizao deste propiciada, como no caso entendeu o
acrdo recorrido, pela ocorrncia de culpa do estabelecimento bancrio, o que, conseqentemente,
ensejou a responsabilidade deste com base no artigo 159 do Cdigo Civil (STF, j. 19 out. 1999, AI-AgR
12
da Lei n 7.102/83, com a redao dada pela Lei n 8.863/94, consideram-se servios de
segurana privada proceder vigilncia patrimonial das instituies financeiras e de
outros estabelecimentos, pblicos ou privados, bem como a segurana de pessoas
fsicas e realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo
de carga
30
. Tais atividades devem, contudo, se circunscrever prestao do servio de
segurana privada, que no se confunde com o estabelecimento de associao de carter
paramilitar. A hiptese expressamente vedada pela Constituio Federal, que, ao
garantir a plena liberdade de associao, proscreve a de carter paramilitar (art. 5,
XVII), e determina constituir crime inafianvel e imprescritvel a ao de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrtico (art.
5, XLIV). A Constituio brasileira , portanto, incompatvel com a criao de milcias
urbanas ou rurais, como vem ocorrendo em diversas localidades brasileiras, em que
grupos armados se constituem, seja para dar suporte grilagem, seja para extorquir
moradores de favelas, sob o pretexto de proteg- los.
II.3. Lei e ordem pblica
No caput do art. 144, a Constituio determina que as polticas de
segurana se destinem preservao da ordem pblica e incolumidade das pessoas
e do patrimnio. natural que essa seja a tarefa fundamental do servio pblico de
segurana prestado ao cidado. No entanto, o uso da noo de ordem pblica que
um conceito jurdico indeterminado
31
abre-se a diferentes apropriaes, democrticas
e autoritrias, comprometidas ou no com o respeito ao estado democrtico de direito e
com a preservao da legalidade.
n 239.107, Rel. Min. Moreira Alves). No por outra razo que a lei veda o funcionamento de qualquer
estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentao de numerrio, que no possua
sistema de segurana (art. 1 da Lei n 7.102/83).
30
No mbito federal, cf. ainda Lei n 9.017/95; Decreto n 89.056/83; Decreto n 1.592/95; Portaria do
Departamento de Polcia Federal n 292/1995; Portaria do Departamento de Polcia Federal n 1.129/95;
Portaria do Departamento de Polcia Federal n 387/2006.
31
Cf. BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.
212: Com efeito, as normas jurdicas podem trazer, em seu enunciado, conceitos objetivos (idade, sexo,
hora, lugar), que no geram dvidas quanto extenso de seu alcance; conceitos cujo contedo
decifrvel objetivamente, com recurso experincia comum ou a conhecimentos cientficos (chuva de
granizo, morte natural, trfego lento); e finalmente, conceitos que requerem do intrprete da norma uma
valorao (interesse pblico, urgncia, bons antecedentes, notrio saber, reputao ilibada, notria
especializao). Estes ltimos integram o que se entende por conceitos jurdicos indeterminados, cujo
processo de aplicao causa dvidas e controvrsias, propugnando-se ora por um controle jurisdicional
amplo, ora um controle limitado, dependendo de sua associao ou dissociao da discricionariedade.
13
A noo de ordem pblica j esteve no cerne dos discursos de
legitimao das ditaduras. Para o pensamento autoritrio, o fundamental que tenha
lugar uma deciso poltica capaz de estabelecer a ordem, de substituir o dissenso
poltico pela adeso, ainda que imposta pela fora, a um determinado conjunto de
valores, subtrados esfera das divergncias
32
. Se a ordem est em confronto com a lei,
a opo dos autoritrios sempre pela ordem
33
. Legitimidade e legalidade so
concebidas como eventualmente antagnicas, no como dimenses vinculadas de um
mesmo arcabouo jurdico- institucional: mais importante que preservar a lei manter a
ordem, ditada pela vontade de quem teve fora para tomar a deciso soberana
34
.
Essa orientao no estranha cultura das instituies policiais
brasileiras. A lei muitas vezes entendida como um entrave garantia da ordem
pblica; e os direitos humanos, como obstculos atuao eficiente das autoridades
policiais. Em pesquisa realizada pela Fundao Joo Pinheiro, da UFMG, foram
entrevistados oficiais e praas que atuam em Belo Horizonte: 41,9% dos oficiais e
67,9% dos praas concordaram totalmente com a afirmao de que o policial militar,
hoje, encontra-se impossibilitado de realizar bem o seu trabalho, j que existem muitas
leis que garantem direitos aos criminosos
35
. A partir dessa cultura institucional, a
funo das polcias freqentemente entendida como a de manter a ordem, no a de
preservar a lei. Legitimam-se, ento, aes policiais truculentas, torturas e prises
arbitrrias. Em regra, essas prticas se articulam com um olhar seletivo, que constitui
32
No ambiente de radicalizao que caracterizou a dcada de 30, alguns juristas, afinados com a
conteno do pluralismo, lanaram mo dessa construo. No Brasil, foi o caso de Francisco Campos. Em
texto de 1935, de ntido corte fascista, o autor observa que as decises polticas fundamentais so
declaradas tabu e integralmente subtradas ao princpio da livre discusso. (CAMPOS, Francisco. A
poltica e o nosso tempo. In: Id. O estado nacional. Braslia: Senado Federal, 2001. p. 28).
33
Essa concepo foi especialmente desenvolvida por Carl Schmitt, para o qual a Constituio (aquilo
que o autor denomina Constituio em sentido positivo) deve ser definida como a deciso poltica
fundamental do poder constituinte. Em face dela, todas as regulaes normativas seriam
secundrias; no se confundiria, conseqentemente, com um conjunto de leis constitucionais. (Teora
de la constitucin. Madrid: Alianza, 1996. p. 45 ss.). especialmente nos contextos de exceo que a
deciso poltica fundamental aflora sobre as leis constitucionais (Ibid., p. 50).
34
Cf. SCHMITT, Carl. Political theology: four chapters on the concept of sovereignty. Cambridge,
Mass.; London: The MIT Press, 1988.
35
Os dados foram colhidos em pesquisa da Fundao Joo Pinheiro, concluda em 2001, e so
reproduzidos em: SAPORI, Lus Flvio. Os desafios da polcia brasileira na implementao da ordem
sob a lei. In: RATTON, Jos Luiz; BARROS, Marcelo (coords.). Polcia, democracia e sociedade. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 126.
14
inimigos da ordem. O papel geralmente recai sobre os excludos, em especial sobre os
negros e os moradores de favelas, que figuram como alvo principal da persecuo
criminal. Trata-se da conhecida reao em cadeia da excluso social
36
, que atinge
parte considervel da populao brasileira, reduzida condio de subcidadania.
37
Uma ordem pblica democrtica, em contraste, aquela
estruturada pela Constituio e pelas leis. Preservar a ordem pblica significa,
sobretudo, preservar o direito, a ordem juridicamente estruturada, garantir a legalidade.
Polticas pblicas e aes policiais que desconsiderem os direitos fundamentais
transgridem, at no mais poder, a prpria ordem pblica que pretendem preservar. A
democracia poltica depende do exerccio do poder em conformidade com o direito. No
difcil constatar que apenas essa orientao compatvel com a Constituio Federal
de 1988, e que, por essa razo, grande parte das polticas de segurana praticadas nas
ltimas duas dcadas est em confronto, aberto ou velado, com a presente ordem
constitucional.
O tema da vinculao dos rgos policiais legalidade pode ser
apresentado ainda como problema de desenho institucional.
Hoje, observa-se, em
diversos ramos do direito, progressiva flexibilizao da legalidade. Tradicionalmente,
entendia-se que a Administrao Pblica estaria vinculada positivamente lei: s
poderia agir quando o legislador assim determinasse
38
. Atualmente, prope-se que o
administrador no mais se vincule estritamente lei, mas ao direito, que tambm
composto por princpios
39
. Se houver um princpio constitucional que d fundamento ao
36
MLLER, Friedrich. Que grau de excluso social ainda pode ser tolerado por um sistema democrtico?
Revista da Procuradoria-Geral do Municpio de Porto Alegre, ed. especial, outubro de 2000.
37
SOUZA, Jess. A construo social da subcidadania: para uma sociologia poltica da modernidade
perifrica. Belo Horizonte: UFMG, 2003; SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto. A Constituio aberta e
os direitos fundamentais, cit., p. 273.
38
O tema enfrentado no seguinte aresto: O ato administrativo, no Estado Democrtico de Direito, est
subordinado ao princpio da legalidade (CF/88, arts. 5, II, 37, caput, 84, IV), o que equivale assentar que
a Administrao s pode atuar de acordo com o que a lei determina. Desta sorte, ao expedir um ato que
tem por finalidade regulamentar a lei (decreto, regulamento, instruo, portaria, etc.), no pode a
Administrao inovar na ordem jurdica, impondo obrigaes ou limitaes a direitos de terceiros (STJ,
DJU 6 dez. 2004, REsp n 584.798, Rel. Min. Luiz Fux).
39
A Lei n 9784/99, que regula o processo administrativo no mbito da Unio, j incorpora, no art. 2,
pargrafo nico, inciso I, essa referncia vinculao lei e ao direito: Nos processos administrativos
sero observados, entre outros, os critrios de: I - atuao conforme a lei e o Direito. Essa nova
tendncia, ainda no consolidada, caracterizou, por exemplo, um dos primeiros atos de grande
repercusso editados pelo Conselho Nacional de Justia. Refiro-me Resoluo n 7, de 18 de outubro de
15
ato administrativo, este ser considerado vlido, mesmo que no se baseie em uma
norma legal. Semelhante tem ocorrido com os juzes. O juiz do passado deveria aplicar
a lei. O juiz de hoje tambm est autorizado a aplicar princpios e a ponderar as
conseqncias concretas de suas decises
40
. No que toca s autoridades policiais, esse
um problema de desenho institucional porque lhes imputar um ou outro papel depende
de uma deciso poltica, assentada em uma avaliao do contexto em que as instituies
se inserem
41
. No contexto presente, de violao continuada dos direitos humanos e da
moralidade administrativa, no h dvida de que a melhor alternativa restringir a
atuao policial aos procedimentos expressamente autorizados pelos textos legais
42
.
2005, a qual, com vistas concretizao dos princpios da moralidade e da impessoalidade, consagrados
no art. 37, caput, da Constituio, proscreveu, no mbito do Poder Judicirio, a prtica do nepotismo, e
definiu quais condutas podem ser assim classificadas. A questo j foi submetida ao Supremo Tribunal
Federal, que confirmou a possibilidade (STF, Informativo STF 416, ADC-MC n 12, Rel. Min. Carlos
Britto). Na doutrina, cf. BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo, cit.; ARAGAO,
Alexandre Santos de. Legalidade e regulamentos administrativos no Direito Contemporneo (uma analise
doutrinaria e jurisprudencial). Revista Forense, v. 99, n. 368, jul.-ago. 2003.
40
Cf., p. ex.: SOUZA NETO, Cludio Pereira de. A interpretao constitucional contempornea entre o
construtivismo e o pragmatismo. In: MAIA, Antnio Cavalcanti; MELO, Carolina de Campos;
CITTADINO, Gisele; POGREBINSCHI, Thamy (orgs.). Perspectivas atuais da filosofia do direito. Rio
de Janeiro: Renovar, 2005.
41
Cf. STRUCHINER, Noel. Para falar de regras: o positivismo conceitual como cenrio para uma
investigao filosfica acerca dos casos difceis do direito (Tese de Doutorado). Rio de Janeiro : PUC-
Rio, Departamento de Filosofia, 2005. p. 165: No existe nenhum motivo para acreditar que o modelo
formalista o modelo mais adequado para todas as esferas ou ambientes de tomada de decises jurdicas.
possvel, por exemplo, que uma sociedade no queira que os policiais tenham a capacidade de deliberar
acerca das justificativas subjacentes s regras em cada momento de aplicao das mesmas, porque no
teriam condies de entender as razes que explicam a sua existncia, ou porque, em funo do cargo que
ocupam, no teriam a iseno necessria para avaliar essas razes. Por outro lado, possvel que a mesma
sociedade confie amplamente nos juzes das cortes superiores. Nesse caso, a existncia de um modelo
particularista seria mais adequada. O ponto que a escolha por um ou outro modelo contextual. A
escolha por um modelo de regras, isto , um modelo acontextual (que no avalia todos os aspectos do
contexto, mas apenas os fatores previamente estabelecidos e destacados como relevantes pelas regras)
em si mesma uma escolha feita contextualmente e depende principalmente do grau de confiana que
existe em relao aos responsveis pela tomada de decises.
42
No foi outra a percepo que inspirou o ato constituinte, ao positivar, com status jusfundamental, uma
srie de direitos e garantias especialmente dirigidos limitao da persecuo criminal. No art. 5, a
Constituio caracterizou a casa como asilo inviolvel do indivduo; instituiu a inviolabilidade do
sigilo da correspondncia e das comunicaes telegrficas, de dados e das comunicaes telefnicas;
caracterizou a prtica da tortura como crime inafianvel e insuscetvel de graa ou anistia; assegurou aos
presos o respeito integridade fsica e moral; estabeleceu que ningum deve ser processado nem
sentenciado seno pela autoridade competente; proscreveu a utilizao das provas ilcitas; instituiu a
impossibilidade de algum ser preso seno em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciria competente; determinou a comunicao imediata da priso de qualquer pessoa, bem
como o local onde se encontre, ao juiz competente e famlia do preso ou pessoa por ele indicada;
assegurou ao preso a prerrogativa de permanecer calado, bem como de contar com a assistncia da famlia
e de advogado; atribuiu-lhe o direito identificao dos responsveis por sua priso ou por seu
interrogatrio policial; conferiu s autoridades judicirias o dever de relaxar imediatamente as prises
ilegais; determinou a impossibilidade da priso quando a lei admitir a liberdade provisria, com ou sem
fiana. Cf. CF, art. 5, incisos XI, XII, XLIII, XLIX, LIII, LVI, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI.
16
Quando a Constituio Federal confere s autoridades policiais o
dever de preservar a ordem pblica no est seno lhes incumbindo da funo de manter
e promover a ordem republicana, assentada no respeito legalidade e aos direitos
fundamentais. Mas, no Brasil, a exceo se converteu em norma, instaurando-se, de
fato, um estado de exceo permanente
43
. Parte do territrio no est submetida ao
estado de direito, e parte da populao tem suas liberdades correntemente
desrespeitadas. A efetivao da Constituio demanda que se institua aqui a exceo
da exceo
44
, que se supere a ilegalidade normal das polticas de segurana e se
universalizem as garantias do estado democrtico de direito.
II.4. Limites e possibilidades do controle jurisdicional das polticas pblicas de
segurana
Tradicionalmente, a interferncia jurisdicional na execuo de
aes de segurana tem se concentrado na reparao de danos provocados a
particulares
45
. Se o policial se excede na execuo de suas tarefas, se viola direitos
fundamentais, ao fazer um uso desproporcional dos meios coercitivos de que dispe
46
,
43
Sobre o conceito de estado de exceo permanente, cf. ACKERMAN, Bruce. The emergency
constitution, cit.; BERCOVICI, Gilberto. Constituio e estado de exceo permanente: atualidade de
Weimar. So Paulo: Azougue, 2004; SANFORD, Levinson. Preserving constitutional norms in times of
permanent emergencies. Constellations, vol. 13, n. 1, 2006.
44
Cf. BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de histria (Tese 8). In Obras escolhidas. vol. 1. So Paulo:
Brasiliense, 1994: A tradio dos oprimidos nos ensina que o estado de exceo em que vivemos a
regra. Precisamos construir um conceito de histria que corresponda a essa verdade. Nesse momento,
perceberemos que nossa tarefa instaurar o real estado de exceo; com isso, nossa posio ficar mais
forte na luta contra o fascismo. Cf. BERCOVICI, Gilberto. Soberania e constituio: poder constituinte,
estado de exceo e os limites da teoria constitucional (Tese de titularidade). So Paulo: USP (Faculdade
de Direito), 2005. p. 317.
45
H diversos tipos de controle das aes de segurana. Paulo Mesquita Neto identifica quatro estratgias
bsicas. O primeiro tipo o controle externo e formal/legal, que se d atravs dos poderes Executivo,
Legislativo e Judicirio, especialmente do Ministrio Pblico. Esta estratgia visa a controlar
principalmente usos ilegais da fora fsica por policiais. O segundo tipo o controle interno e
formal/legal, que feito por meio da ao disciplinar dos superiores e das corregedorias de polcia. O
terceiro tipo o controle externo e informal/convencional das polcias, que se verifica atravs da
imprensa, da opinio pblica, da universidade, de grupos de presso, particularmente das organizaes de
direitos humanos nacionais e estrangeiras. Aqui tm especial importncia os conselhos comunitrios,
que possuem, como uma de suas funes principais, justamente controlar as aes de segurana. O quarto
tipo o controle interno e informal/convencional, que se d por meio da profissionalizao das
polcias e dos policiais. (MESQUITA NETO, Paulo. Violncia policial no Brasil: abordagens tericas e
prticas de controle. In PANDOLFI, Dulce et al. [orgs.]. Cidadani a, justia e violncia. Rio de Janeiro:
Fundao Getulio Vargas, 1999).
46
De acordo com o STJ, o uso de algemas pela fora policial deve ficar adstrito a garantir a efetividade
da operao e a segurana de todos os envolvidos. No caso, contudo, o STJ entendeu que demonstra-se
razovel o uso de algemas, mesmo inexistindo resistncia priso, quando existir tumulto que o
17
alm de ser pessoalmente responsabilizado, dar lugar ainda responsabilizao da
prpria Administrao Pblica
47
. A ordem jurdica brasileira atribui ao Estado
responsabilidade objetiva
48
. Os atos praticados pelo policial so considerados atos do
rgo a que est vinculado
49
, e podem, por isso, ser imputados Administrao, nada
obstante esta ostente, em relao quele, direito de regresso.
A responsabilidade pode decorrer ainda da omisso estatal. Se o
Estado tem o dever de prestar o servio, e no o faz, omitindo-se na prtica de aes
concretas, deve ser responsabilizado. Contudo, o Judicirio tem sido bastante exigente
quanto verificao de nexo causalidade entre a omisso estatal e o dano causado. O
STF entendeu, por exemplo, inexistir nexo de causalidade entre o assalto e a omisso
da Autoridade pblica que teria possibilitado a fuga de presidirio, o qual veio a integrar
a quadrilha que praticou o delito, cerca de vinte e um meses aps a evaso
50
. No se
pode, de fato, responsabilizar o Estado por todos os crimes que so praticados, sob o
argumento de que seu dever evitar que isso ocorra
51
. Do contrrio, ao invs de
justifique. Por isso, resolveu afastar a condenao da Unio por danos morais. (STJ, DJU 10 nov.
2006, REsp n 571.924, Rel. Min. Castro Meira).
47
STJ, DJU 3 jun. 2002, REsp n 331.279, Rel. Min. Luiz Fux: A perda precoce de um filho de valor
inestimvel, e portanto a indenizao pelo dano moral deve ser estabelecida de forma equnime, apta a
ensejar indenizao exemplar. Ilcito praticado pelos agentes do Estado incumbidos da Segurana
Pblica; STJ, DJU 17 nov. 2003, REsp n 505.080, Rel. Min. Luiz Fux: O ilcito foi praticado
justamente pelos agentes pblicos policiais militares incumbidos de zelar pela segurana da
populao, por isso, a fixao da indenizao deve manter-se inalterada como meio apto a induzir o
Estado a exacerbar os seus meios de controle no acesso de pessoal, evitando que ingresse nos seus
quadros pessoal com personalidade deveras desvirtuada para a funo indicada. A prtica de ilcito por
agentes do Estado incumbidos da Segurana Pblica impe a exacerbao da condenao.
48
Como se sabe, de acordo com o art. 37, 6, da Constituio Federal, a Administrao responder
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsvel nos casos de dolo ou culpa. Desse modo, a Administrao pblica ser
responsabilizada pelo erro mdico ocorrido no curso de procedimento executado por servidor em hospit al
pblico (STF, DJU 21 dez. 2004, AI n 455.846, Rel. Min. Celso de Mello); ser responsabilizada
tambm pelos danos decorrentes de acidente de trnsito envolvendo veculo oficial. (STF, DJU 2 ago.
2002, RE-AgR n 294.440, Rel. Min. Ilmar Galvo).
49
Cf.: SILVA, Jos Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. So Paulo: Malheiros, 2001. p.
651. por essa razo, por exemplo, que, em muitos casos, so reconhecidos como vlidos os atos
praticados por agente irregularmente investido em funo pblica.
50
STF, DJU 12 nov. 1999, AR n 1.376, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. Min. Cezar Peluso.
51
Para uns, na responsabilidade por omisso, exige-se culpa do Estado. No haveria responsabilidade
objetiva. Cf. p. ex.: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antnio. Curso de direito administrativo. So
Paulo: Malheiros, 2002. p. 871. Para outros, tambm nas hipteses de omisso, h responsabilidade
objetiva do Estado. Exige-se, contudo, que seja uma omisso especfica. No pode se tratar de omisso
genrica, hiptese em que a culpa deve necessariamente ser aferida. A tese sustentada por: CASTRO,
Guilherme Couto e. A responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro: o papel da culpa em seu
contexto. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 37: H duas possibilidades: ou existe ato ilcito do ente
pblico e a indenizao se justifica em razo da prpria contrariedade lei ou no existe e ento seu
18
financiar polticas universalistas, os recursos pblicos acabariam por se destinar apenas
recomposio de danos individuais
52
.
Questo mais complicada diz respeito ao controle de polticas de
segurana pblica, no apenas de uma ao concreta ou da norma que lhe d
fundamento
53
. Hoje, a atuao judiciria no controle das polticas pblicas se
intensifica
54
, o que deve ocorrer tambm no campo das polticas de segurana. O
Judicirio pode controlar, p. ex., a juridicidade do treinamento adotado pelos rgos
policiais ou dos procedimentos definidos nos manuais das corporaes. Pode, ainda,
proscrever a utilizao de certo tipo de veculo em incurses em reas de grande
concentrao populacional ou o uso de determinado tipo de arma ou munio. O
Judicirio deve faz- lo em conformidade com uma concepo constitucionalmente
adequada da segurana pblica, que se harmonize com os princpios constitucionais
fundamentais, de modo a impedir a execuo de polticas inspiradas em concepes
blicas e autoritrias.
fundamento est na razovel repartio do gravame pela coletividade, dentro de padres civilizatrios que
devem ser buscados. Da no ser correto dizer, sempre, que toda hiptese proveniente de omisso estatal
ser encarada inevitavelmente pelo ngulo subjetivo. Assim o ser quando se tratar de omisso genrica,
no quando houver omisso especfica, pois a h dever individualizado de agir. Nesse sentido, cf., p.
ex., TJ-RS, j. 24 mar. 2006, EI n 70.013.118.484, Rel. Des. Cludio Baldino Maciel: A
responsabilidade imputvel s concessionrias de servio pblico objetiva, fundada na teoria do risco
administrativo, cuja previso legal consta no art. 37, 6 da Constituio Federal, sendo reproduzida no
art. 927, pargrafo nico, do Cdigo Civil de 2002. A aferio do dever indenizatrio, neste caso,
prescinde da prova do comportamento culposo da r, somente podendo aquele ser afastado ou minorado
ante a demonstrao de que a vtima agiu com culpa exclusiva ou concorrente no evento danoso ou,
ainda, de que o dano decorreu de caso fortuito, fora maior ou fato de terceiro. Incomprovadas tais
hipteses, persiste o dever atribuvel concessionria diante da omisso especfica quanto ao dever de
sinalizao e de manuteno de equipamentos de segurana ao longo da via.
52
Como acima ressaltado, a responsabilidade estatal deve ser especialmente afastada quando puder ser
atribuda a empresa especializada em segurana privada, como ocorre com os estabelecimentos bancrios.
Cf. STF, j. 19 out. 1999, AI-AgR n 239.107, Rel. Min. Moreira Alves.
53
Como esclarece Comparato, poltica pblica no uma norma nem um ato, (...) ela se distingue
nitidamente dos elementos da realidade jurdica, sobre os quais os juristas desenvolveram a maior parte
de suas reflexes, desde os primrdios da jurisprudentia romana. (...) A poltica aparece, antes de tudo,
como uma atividade, isto , um conjunto organizado de normas e atos tendentes realizao de um
objetivo determinado. (COMPARATO, Fbio Konder. Ensaio sobre o juzo de constitucionalidade de
polticas pblicas. In: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antnio [org.]. Estudos em homenagem a
Geraldo Ataliba: direito administrativo e constitucional. So Paulo: Malheiros Editores, 1997. p. 352-
353).
54
Cf. PPIO, E. Controle judicial das polticas pblicas no Brasil. Curitiba: Juru, 2005; BUCCI, M. P.
D. Direito administrativo e polticas pblicas. So Paulo: Saraiva, 2002; COMPARATO, F. K. Ensaio
sobre o juzo de constitucionalidade de polticas pblicas, cit.
19
Tambm no tocante s polticas pblicas o controle jurisdicional
pode recair sobre a omisso estatal
55
. O Judicirio j teve ocasio para decidir que o
Estado no pode deixar de executar determinadas polticas no setor da segurana. Foi o
que concluiu o TJ-RS, por exemplo, ao determinar que o Estado mantivesse programas
de internao para adolescentes infratores, incluindo no oramento a verba necessria
56
.
Contudo, no controle das omisses estatais, cabe ao Judicirio adotar especial cautela.
Para ponderar os diversos fatores envolvidos na formulao e na execuo de polticas,
o Executivo mais talhado que o Judicirio. Este se organiza para examinar casos
concretos e normas abstratas; aquele considera a ampla complexidade de fatores sociais
e econmicos que lhes so subjacentes
57
. Cabe ao Judicirio, sobretudo, observar o que
tradicionalmente se denomina princpio da realidade
58
e reserva do possvel
59
. De
55
Em aresto sobre o direito pr-escola, o STJ estabelece em que termos essa possibilidade pode se dar:
Embora inquestionvel que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa
de formular e executar polticas pblicas, revela-se possvel, no entanto, ao Poder Judicirio, ainda que
em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipteses de polticas pblicas definidas pela
prpria Constituio, sejam estas implementadas, sempre que os rgos estatais competentes, por
descumprirem os encargos poltico-jurdicos que sobre eles incidem em carter mandatrio, vierem a
comprometer, com a sua omisso, a eficcia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de
estatura constitucional. (STJ, DJU 13 fev. 2006, REsp n 718.203, Rel. Min. Luiz Fux).
56
Cf. TJ-RS, j. 17 out. 2007, AI n 70.020.195.616, Rel. Des. Srgio F. V. Chaves: 1. Cabe ao ente
municipal a responsabilidade pela implementao das polticas pblicas de proteo a crianas e
adolescentes, entre as quais est o programa permanente de atendimento a adolescentes autores de atos
infracionais que devem cumprir medida socioeducativa em meio aberto. 2. A reiterada omisso do ente
municipal, que vem sendo chamado a cumprir com seu encargo, legitima a ao do Ministrio Pblico de
postular ao Poder Judicirio a imposio dessas medidas. 3. cabvel a determinao de que a
administrao pblica municipal estabelea, na sua previso oramentria, as verbas destinadas
implementao e manuteno do referido programa de atendimento.
57
Vrias crticas tm sido formuladas possibilidade de o Poder Judicirio atuar no controle de polticas
pblicas. Afirma-se que o controle judicial de polticas pblicas viola o princpio da separao de
poderes; viola o princpio democrtico; desorganiza as polticas estabelecidas pela Administrao; no
capaz de mobilizar as informaes tcnicas necessrias; desconsidera os limites financeiros do Estado. O
tema complexo e no poder ser examinado neste momento. Cf. BARCELLOS, Ana Paula de.
Constitucionalizao das polticas pblicas em matria de direitos fundamentais: o controle poltico-social
e o controle jurdico no espao democrtico. Revista de Direito do Estado, n. 3, 2006; GOUVA, Marcos
Maselli. O controle judicial das omisses administrativas. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003.
58
Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 10 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1992. p. 63: as normas jurdicas, da mesma maneira que no devem enveredar pela fantasia,
tampouco podem exigir o impossvel; como ensina o brocardo, ad impossibilia nemo tenetur. (...) Sob o
padro da realidade, os comandos da Administrao, sejam abstratos ou concretos, devem ter sempre
condies objetivas de serem efetivamente cumpridos em favor da sociedade a que se destinam. O
sistema legal-administrativo no pode ser um repositrio de determinaes utpicas, irrealizveis e
inatingveis , mas um instrumento srio de modelagem da realidade dentro do possvel. Cf ainda STJ,
DJU 21 set. 1998, REsp n 169.876, Rel. Min. Jos Delgado: As atividades de realizao de fatos
concretos pela Administrao dependem de dotaes oramentrias prvias e do programa de prioridades
estabelecido pelo governante. No cabe ao Poder Judicirio, portanto, determinar as obras que deve
edificar, mesmo que seja para proteger o meio ambiente. Cf. TJ-RS, DJU 9 jun. 2004, AI n
70.008.095.077, Rel. Des. Araken de Assis: A realizao de fatos concretos pela Administrao, com a
finalidade de desviar o curso de guas pluviais, subordina-se prvia previso oramentria, ou seja, ao
princpio da realidade, no cabendo ao rgo judicirio estabelecer prioridades e ordenar obras.
20
fato, muitas vezes, no h recursos materiais disponveis para a execuo de
determinada poltica. A atuao judiciria, nesse campo, pode ter lugar, mas deve se dar
de maneira moderada e subsidiria s decises do Executivo e do Legislativo
60
.
Observe-se um exemplo. Em determinada cidade, h um
contingente de policiais. O Governo Estadual resolve desloc- lo para outra rea. O
Ministrio Pblico no concorda com a medida e ajuza ao civil pblica, suscitando o
princpio da vedao do retrocesso
61
. Uma vez que o direito fundamental segurana j
havia sido concretizado, o Estado no mais poderia retroceder. O Judicirio defere o
pedido e determina a realocao dos policiais na cidade de origem. Esse tipo de
provimento jurisdicional pode, evidentemente, pr em risco a racionalidade da ao
estatal. Trata-se de deciso que, se no estiver fundamentada em outros elementos que
no apenas o princpio da vedao do retrocesso, tende a impedir a distribuio racional
e equilibrada dos escassos recursos pblicos. A circunstncia de o direito segurana j
59
De acordo com Canotilho, a reserva do possvel faz com que a concretizao da dimenso
prestacional dos direitos fundamentais se caracterize 1. pela gradualidade de sua realizao; 2. pela
dependncia financeira de recursos do Estado; 3. pela tendencial liberdade de conformao do legislador
quanto s polticas de realizao destes direitos; 4. pela insuscetibilidade de controle jurisdicional dos
programas poltico-legislativos, a no ser quando estes se manifestem em clara contradio com as
normas constitucionais ou quando, manifestamente, suportem dimenses pouco razoveis.
(CANOTILHO, J. J. Gomes. Metodologa fuzzy y camaleones normativos en la problemtica actual
de los derechos econmicos, sociales y culturales. Derechos y libertades Revista del Instituto Bartolom
de las Casas, n. 6, fev., 1998. p. 44). Cf. ainda: TORRES, Ricardo Lobo. O mnimo existencial, os
direitos sociais e a reserva do possvel. In: NUNES, Antnio Jos Avels; COUTINHO, Jacinto Nelson
de Miranda (orgs.). Dilogos constitucionais: Brasil-Portugal. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
60
H exemplo no Estado do Paran de controle da omisso estatal na execuo de polticas de segurana.
Constam, de ao civil pblica ajuizada pelo Ministrio Pblico Estadual (Promotor Denis Pestana), os
seguintes pedidos: destinar o necessrio para a reforma da Cadeia Pblica local, segundo normas de
segurana e compatveis com os artigos 88 e 120, da Lei de Execuo Penal; destinar e manter no
exerccio de suas funes, nos Municpios de Sabudia e Arapongas, Delegados, agentes, investigadores,
escrives, devidamente concursados junto a Administrao Pblica do Estado; destinar e manter, no
exerccio de suas funes nos Municpios de Sabudia e Arapongas, nmero suficiente de policiais
militares, alm dos j existentes; destinar e manter, aos Policiais Militares, no exerccio de suas funes
nos Municpios referidos, armas em perfeitas condies de utilizao e munio em quantidade
suficiente; tomar as providncias legais, em matria administrativa e em matria oramentria, para
cumprimento desta pretendida deciso judicial, imediatamente aps seu trnsito em julgado; nos
Municpios de Sabudia e Arapongas, nesta Comarca, destinem exclusivamente ao exerccio das funes
policiais, pessoas devidamente concursadas, impedindo nomeaes de suplentes e ad hoc para qualquer
atividade policial. (A petio inicial pode ser encontrada em: http://jus2.uol.com.br).
61
Cf. MENDONA, Jos Vicente S. de. A vedao do retrocesso: o que e como perder o medo. Revista
de Direito da Associao dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, v. XII, 2003; SARLET,
Ingo W. Direitos fundamentais sociais e proibio do retrocesso: algumas notas sobre o desafio da
sobrevivncia dos direitos sociais num contexto de crise. Revista do Instituto de Hermenutica Jurdica,
n. 2, 2004; SCHULTE, Bernd. Direitos fundamentais, segurana social e proibio do retrocesso. In:
SARLET, Ingo W. (org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e
comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
21
ter sido concretizado em determinado local no significa que deva continuar a s- lo se
h outros lugares em que a prestao do servio seja mais urgente ou necessria. No
controle das omisses legislativas e do retrocesso na execuo de polticas de
segurana, apenas em hipteses extremas justifica-se a interferncia jurisdicional.
H ainda uma ltima distino indispensvel. Ao julgar casos
concretos, no mbito criminal, o compromisso do Poder Judicirio com um
julgamento tico e justo ao jurisdicionado e no com polticas pblicas de segurana
62
.
Quando se defende a possibilidade do controle jurisdicional das polticas de segurana,
no se est sustentando que o juiz criminal deva julgar casos concretos considerando as
polticas estatais para o setor. Restringir a liberdade individual, na sua dimenso mais
nuclear, com o objetivo de garantir a execuo de polticas de segurana significaria
relativizar o valor do ser humano, convert- lo em meio para a promoo de metas
coletivas. Isso corresponderia a adotar pressupostos utilitaristas incompatveis com a
dignidade da pessoa humana, que no podem predominar em um estado democrtico de
direito
63
.
III. Classificao das atividades policiais e rgos de execuo das polticas de
segurana pblica
III.1. Classificao constitucional da atividade policial: polcia ostensiva, polcia de
investigao, polcia judiciria, polcia de fronteiras, polcia martima e polcia
aeroporturia
O texto constitucional de 1988 faz referncia a seis modalidades
de atividade policial: (a) polcia ostensiva, (b) polcia de investigao, (c) polcia
judiciria, (d) polcia de fronteiras, (e) polcia martima e (f) polcia aeroporturia.
62
TJ-RS, DJ 18 out. 2005, Agr. n 70.012.527.008, Rel. Des. Amilton Bueno de Carvalho.
63
Esta demanda que a pessoa humana seja tratada como um fim em si mesmo, e nunca como meio para a
promoo de finalidades de outrem. Sobre a verso kantiana da dignidade da pessoa humana, cf.
SARMENTO, Daniel. Interesses pblicos vs. interesses privados na perspectiva da teoria e da filosofia
constitucional. In: SARMENTO, Daniel (org.). Interesses pblicos versus interesses privados:
desconstruindo o princpio da supremacia do interesse pblico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005;
SARLET, Ingo W. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2002.
22
(a) A polcia ostensiva exerce as funes de prevenir e de reprimir
de forma imediata a prtica de delitos. O policiamento ostensivo feito por policiais
uniformizados, ou que possam ser imediatamente identificados por equipamento ou
viatura
64
. O objetivo explicitar a presena policial nas ruas, criando a percepo de
que a prtica de delitos ser prontamente reprimida o que exerceria efeito preventivo.
A atividade de polcia ostensiva desempenhada, em geral, pelas polcias militares
estaduais (CF, art. 144, 5)
65
. Mas o patrulhamento ostensivo das rodovias e ferrovias
federais deve ser realizado, respectivamente, pela Polcia Rodoviria Federal (art. 144,
2) e pela Polcia Ferroviria Federal (art. 144, 3). Observe-se, portanto, que o
policiamento ostensivo no exercido apenas por rgos policiais militares. A Polcia
Rodoviria Federal civil, nada obstante tambm atue uniformizada. Assim tambm
ocorrer, quando da sua instituio efetiva, com a Polcia Ferroviria Federal.
(b) A polcia de investigao realiza o trabalho de investigao
criminal
66
. Para investigar a prtica de delitos, pode ouvir testemunhas, requisitar
documentos, realizar percias, interceptar comunicaes telefnicas, entre outras
medidas. Em sua maioria, tais medidas dependem de autorizao judicial. No Brasil, a
funo confiada s polcias civis estaduais e Polcia Federal, no que toca aos crimes
comuns (art. 144, 1, I, e 4). As investigaes de crimes militares so conduzidas
pelas prprias corporaes. Em qualquer hiptese, devem ser respeitados os direitos
64
De acordo com o art. 2, n 27, do Decreto n 88.777/83, que aprova o regulamento para as polcias
militares e corpos de bombeiros militares (R-200), Policiamento Ostensivo pode ser definido como a
ao policial, exclusiva das Polcias Militares em cujo emprego o homem ou a frao de tropa engajados
sejam identificados de relance, quer pela farda quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a
manuteno da ordem pblica. So tipos desse policiamento, a cargo das Polcias Militares ressalvadas as
misses peculiares das Foras Armadas, os seguintes: ostensivo geral, urbano e rural; de trnsito; florestal
e de mananciais; rodoviria e ferrovirio, nas estradas estaduais; porturio; fluvial e lacustre; de
radiopatrulha terrestre e area; de segurana externa dos estabelecimentos penais do Estado; outros,
fixados em legislao da Unidade Federativa, ouvido o Estado-Maior do Exrcito atravs da Inspetoria-
Geral das Polcias Militares. Cf. tambm: v. HAGEN, Accia Maduro. As classificaes do trabalho
policial. Revista de Estudos Criminais, vol. 6, n. 22, abr./jun. 2006.
65
comum atribuir-se tambm s polcias militares estaduais a funo de polcia de choque, que
empregada no controle de distrbios e rebelies. Em regra, as polcias militares possuem batalhes
especficos encarregados dessa tarefa, que atuam em grandes eventos, em apoio aos batalhes locais. Tal
atividade se subsume hiptese prevista pelo 5 do art. 144. Segundo o preceito, cabe s polcias
militares, alm do policiamento ostensivo, tambm a preservao da ordem pblica.
66
Cf. COSTA, Paula Bajer Fernandes Martins da. Sobre a posio da polcia judiciria na estrutura do
direito processual penal brasileiro da atualidade. Revista Brasileira de Cincias Criminais, v. 7, n. 26,
abr./jun. 1999; HAGEN, Accia Maduro. As classificaes do trabalho policial, cit.
23
fundamentais do investigado
67
, facultando-se, inclusive, o acesso aos autos do inqurito
a seu representante legal
68
.
(c) O texto constitucional distingue as funes de polcia
judiciria e de investigao criminal. O j mencionado 1 do art. 144 atribui s polcias
civis estaduais no s a funo de polcia judiciria, mas tambm a de apurao de
infraes penais. Em relao Polcia Federal, a Constituio chega a prev- las em
preceitos distintos. No inciso I do 4, encarrega a PF de apurar infraes penais. J
no inciso IV, confere- lhe, com exclusividade, as funes de polcia judiciria da
Unio. Cabe- lhes, portanto, alm de investigar delitos, executar as diligncias
solicitadas pelos rgos judiciais
69
.
(d) A polcia de fronteiras controla a entrada e a sada de pessoas
e mercadorias do territrio nacional. A tarefa atribuda Polcia Federal. Compete- lhe,
genericamente, exercer as funes de polcia (...) de fronteiras (art. 144, 1, III), e,
em especial, prevenir e reprimir o trfico ilcito de entorpecentes e drogas afins, o
contrabando e o descaminho (art. 144, 1, II). No que se refere ao trfico de
entorpecentes, a Polcia Federal concentra-se na represso ao que opera atravs das
67
O artigo 1 da Lei n 9.455/97 define como crime de tortura I - constranger algum com emprego de
violncia ou grave ameaa, causando-lhe sofrimento fsico ou mental: a) com o fim de obter informao,
declarao ou confisso da vtima ou de terceira pessoa; b) para provocar ao ou omisso de natureza
criminosa; c) em razo de discriminao racial ou religiosa; II - submeter algum, sob sua guarda, poder
ou autoridade, com emprego de violncia ou grave ameaa, a intenso sofrimento fsico ou mental, como
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de carter preventivo.
68
Cf. STF, DJU 2 mar. 2007, HC n 90.232, Rel. Min. Seplveda Pertence: Do plexo de direitos dos
quais titular o indiciado interessado primrio no procedimento administrativo do inqurito policial ,
corolrio e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente
outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8.906/94, art. 7, XIV), da qual ao contrrio do que previu em
hipteses assemelhadas no se excluram os inquritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do
preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do
sigilo das investigaes, de modo a fazer impertinente o apelo ao princpio da proporcionalidade. 3. A
oponibilidade ao defensor constitudo esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 5,
LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a assistncia tcnica do
advogado, que este no lhe poder prestar se lhe sonegado o acesso aos autos do inqurito sobre o
objeto do qual haja o investigado de prestar declaraes. (...). Na doutrina, cf. QUITO, Carina; MALAN,
Diogo Rudge. Resoluo CJF n. 507/06 e direitos fundamentais do investigado. Boletim IBCCrim, v. 14,
n. 165, ago. 2006; TORON, Alberto Zacharias; RIBEIRO, Maurides de Melo. Quem tem medo da
publicidade no inqurito? Boletim IBCCrim, v. 7, n. 84, nov. 1999.
69
Cf. COSTA, Paula Bajer Fernandes Martins da. Sobre a posio da polcia judiciria..., cit.
24
fronteiras do Pas: o trfico internacional
70
. O contrabando e o descaminho, como se
sabe, caracterizam-se pelas aes de importar ou exportar mercadoria proibida ou
iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela
sada ou pelo consumo de mercadoria (Cdigo Penal, art. 334). Em ambos os casos,
portanto, controla-se o fluxo de mercadorias pelas fronteiras nacionais.
(e) A polcia martima, que tambm exercida pela Polcia
Federal, em grande parte se identifica com a polcia de fronteiras. Por atuar em portos,
igualmente se presta ao controle da entrada e da sada de pessoas e bens do Pas,
concentrando-se, por exemplo, na represso ao trfico de drogas e de armas. Alm
disso, contudo, a polcia martima responsvel tambm pela represso aos crimes
praticados em detrimento da normalidade das navegaes, em especial aos atos de
pirataria. Na estrutura interna da Polcia Federal, foram criados os Ncleos Especiais
de Polcia Martima, responsveis por essa atividade.
(f) Por fim, a Constituio menciona ainda a atividade de polcia
aeroporturia atividade tambm exercida pela Polcia Federal, que se identifica,
igualmente, com a de polcia de fronteiras. No se trata de policiamento ostensivo do
espao areo, mas de controle do fluxo de pessoas e de bens que se d atravs de
aeroportos
71
. A atividade distingue-se da polcia de fronteiras apenas quando o trnsito
de pessoas e de bens por via area ocorre no interior do Pas. Como, em ambos os casos,
a competncia da Polcia Federal, a distino no possui maior relevncia.
Como se observa, tais atividades se distribuem entre diferentes
rgos policiais, que atuam ora no plano estadual, ora no plano federal. o que se
examina, com mais detalhe, nas prximas sees.
70
Cf., p. ex., STF, DJU 22 jun. 2007, HC n 89.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski: Evidenciado o
carter internacional do trfico de drogas e identificada a conexo dos crimes, compete Justia Federal o
processamento e julgamento dos feitos.
71
Cf. STF, DJU 30 mai. 2003, ADI n 132, Rel. Min. Seplveda Pertence: Polcia Militar: atribuio de
radiopatrulha area: constitucionalidade. O mbito material da polcia aeroporturia, privativa da Unio,
no se confunde com o do policiamento ostensivo do espao areo, que respeitados os limites das
reas constitucionais das Polcias Federal e Aeronutica Militar se inclui no poder residual da Polcia
dos Estados.
25
III.2. rgos policiais estaduais: Polcia Civil e Polcia Militar
No plano estadual, h dois rgos que exercem funes policiais:
a Polcia Civil e a Polcia Militar.
(a) A Polcia Civil tem suas atribuies previstas no art. 144, 4,
da Constituio Federal. So- lhe conferidas as funes de polcia judiciria e de
apurao de infraes penais, ressalvando-se a competncia da Unio e a investigao
de crimes militares. As polcias civis devem ser dirigidas por delegados de carreira
72
e
se subordinam aos governadores de estado
73
. Sua atuao predominantemente
repressiva: tem lugar quando o crime j foi praticado e deve ser investigado. a Polcia
Civil que realiza ainda as diligncias determinadas pelas autoridades judicirias. As
carreiras so institudas por leis estaduais, as quais devem observar o que dispem as
Constituies dos estados e a Constituio Federal
74
. Veda-se, por exemplo, que
delegados e agentes componham a mesma carreira, do que resulta a impossibilidade de
progresso vertical
75
.
72
A direo das investigaes criminais s pode ser exercida por delegados de carreira. No h a
possibilidade de se atribuir tal funo a servidores estranhos carreira de delegado de polcia, tais como
policiais civis ou militares (STF, DJU 9 mar. 2007, ADI n 3.441, Rel. Min. Carlos Britto) ou
Assistentes de Segurana Pblica (STF, DJU 10 nov. 2006, ADI n 2.427, Rel. Min. Eros Grau). No
tocante a esta ltima hiptese, o Tribunal entendeu que a Lei n 10.704/94, que cria cargos
comissionados de Suplentes de Delegados, e a Lei n 10.818/94, que apenas altera a denominao desses
cargos, designando-os Assistentes de Segurana Pblica, atribuem as funes de delegado a pessoas
estranhas carreira de Delegado de Polcia. Este Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade da
designao de estranhos carreira para o exerccio da funo de Delegado de Polcia, em razo de afronta
ao disposto no artigo 144, 4, da Constituio do Brasil. Cf. ainda STF, DJU 23 nov. 2007, ADI n
3.614, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acrdo Min. Crmen Lcia .
73
Dessa subordinao administrativa das polcias estaduais ao Governador do estado, o Supremo
Tribunal Federal vem extraindo importantes conseqncias. A Corte considerou inconstitucional a Lei
Complementar n 20/1992, do Estado do Mato Grosso, no que atribua autonomia administrativa,
funcional e financeira Polcia Judiciria Civil. (STF, DJU 23 abr. 2004, ADI n 882, Rel. Min. Maurcio
Corra). Tambm julgou inconstitucional o 1 do art. 128 da Constituio do Estado do Esprito Santo,
segundo o qual o delegado-chefe da polcia civil ser nomeado pelo Governador do estado dentre os
integrantes da ltima classe da carreira de delegado de polcia da ativa, em lista trplice formada pelo
rgo de representao da respectiva carreira , para mandato de 02 (dois) anos, permitida reconduo. O
preceito foi julgado inconstitucional por restringir a escolha, pelo Governador, do Delegado-Chefe da
Polcia Civil (STF, DJU 13 jun. 2003, ADI n 2.710, Rel. Min. Sydney Sanches).
74
Na verdade, a Constituio Federal, no art. 24, estabelece ser competncia concorrente da Unio e dos
estados legislar sobre organizao, garantias, direitos e deveres das polcias civis. Contudo, a lei federal
pertinente nunca foi editada, razo pela qual os estados tm exercido competncia legislativa plena.
75
Cf. STF, DJU 4 mai. 2001, ADI n 1.854, Rel. Min. Seplveda Pertence.
26
(b) A Polcia Militar est disciplinada no 5 do art. 144
76
. A
Constituio lhe incumbiu do policiamento ostensivo e da preservao da ordem
pblica. As polcias militares estaduais organizam-se em conformidade com os
princpios da hierarquia e da disciplina, e possuem sistema de patentes anlogo ao que
vigora nas Foras Armadas. O regime jurdico a que se submetem semelhante ao das
Foras Armadas
77
, assim como a forma de organizao e a estrutura hierrquica
78
.
Tambm no que toca s polcias estaduais, os crimes militares so investigados por
membros das prprias corporaes e julgados pela justia militar estadual
79
, em
conformidade com o Cdigo Penal Militar e o Cdigo de Processo Penal Militar. Os
servios de inteligncia das polcias militares devem transmitir informaes ao
Exrcito
80
.
O direito brasileiro caracteriza-se por certa ambigidade
relativamente definio do ente federativo (federal ou estadual) que, em ltima
instncia, comanda as polcias militares. Por um lado, as polcias militares, em conjunto
com os corpos de bombeiros militares, so caracterizadas como foras auxiliares e
reserva do Exrcito. Por isso, o Exrcito promove inspees nas polcias militares;
controla a organizao, a instruo dos efetivos, o armamento e o material blico
utilizados; aprecia os quadros de mobilizao de cada unidade da Federao, com vistas
ao emprego em misses especficas e na defesa territorial
81
. Por outro lado, as polcias
76
O nome dessas corporaes em regra Polcia Militar do Estado de .... Tal denominao predomina
desde a Constituio de 1946. No entanto, no Rio Grande do Sul, a corporao manteve o nome de
Brigada Militar.
77
De acordo com o art. 42, 1, da Constituio Federal, aplicam-se aos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territrios, alm do que vier a ser fixado em lei, as disposies do art. 14, 8; do
art. 40, 9; e do art. 142, 2 e 3, cabendo a lei estadual especfica dispor sobre as matrias do art.
142, 3, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. J aos
pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territrios aplica-se o que for fixado em
lei especfica do respectivo ente estatal (CF, art. 142, 2, com redao dada pela Emenda
Constitucional n 41/2003).
78
Cf. MUNIS, Jaqueline. A crise de identidade das polcias militares brasileiras: dilemas e paradoxos da
formao educacional. Security and Defense Studies Review, v. 1, inverno de 2001.
79
Contudo, a Lei Federal n 9.299/96 transfere para a justia comum a competncia para julgar crimes
dolosos contra a vida praticados por militares contra civis. Para isso, insere pargrafo nico no art. 9 do
CPM: Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, sero da
competncia da justia comum. Alm disso, altera tambm o artigo 82 do CPPM, cujo caput passa a
vigorar com a seguinte redao: O foro militar especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida
praticados contra civil, a ele esto sujeitos, em tempo de paz.
80
Decreto 88.777/83.
81
Cf. art. 21 do Decreto-Lei n 667/69. Outras atribuies so ainda conferidas pelo Decreto n
88.777/83. Para exercer essas funes, as Foras Armadas mantm rgo prprio. Chama-se Inspetoria-
27
militares subordinam-se aos Governadores dos estados (art. 144, 6), e, nos contextos
de normalidade, a autoridade estadual que tem predominado. Os policiais militares so
servidores estaduais; o Governador que confere patentes e nomeia comandantes; a
fazenda estadual que os remunera. Entretanto, na hiptese de conflito entre os governos
federal e estadual, no h clareza quanto a qual autoridade as corporaes militares
estaduais devem obedincia, o que pode, eventualmente, gerar instabilidade
institucional
82
.
A previso de uma polcia militar e outra civil no mbito estadual
resultou de forte atuao dos grupos de interesse durante os trabalhos da Constituinte
83
.
Delegados, de um lado, e oficiais das polcias militares e das Foras Armadas, de outro,
atuaram intensamente defendendo posies divergentes
84
. Os delegados propunham ou
a unificao das polcias ou a restrio da atuao da Polcia Militar atividade de
choque, deferindo-se o policiamento ostensivo a um segmento fardado da Polcia Civil.
Os oficiais da Polcia Militar e das Foras Armadas defendiam a manuteno de duas
polcias, com funes, organizao e mtodos distintos. Esta ltima tese foi vitoriosa,
resultando na dualidade do sistema policial ora em vigor
85
. Neste ponto especfico, a
Constituio Federal foi alm do que deveria ter ido. Atribuir funes distintas
(repressiva e preventiva) a rgos policiais diferentes apenas uma, dentre as muitas
formas possveis e efetivamente praticadas no mundo , de organizar a atividade
policial
86
. Em pases como Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, ambas as
atividades so realizadas pelos mesmos rgos policiais, que so civis. No tocante a
Geral das Polcias Militares, que atualmente se subordina ao Comando de Operaes Terrestres
(COTER). A Constituio Federal de 1988, em seu art. 22, XXI, determina ser competncia privativa da
Unio legislar sobre normas gerais de organizao, efetivos, material blico, garantias, convocao e
mobilizao das polcias militares e corpos de bombeiros militares. A lei, contudo, nunca foi editada.
82
Cf. ZAVERUCHA, Jorge. FHC, Foras Armadas e polcia: entre o autoritarismo e a democracia
(1999-2002). Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 71.
83
Na verdade, a Constituio Federal confirmou o mo delo institudo pelo Decreto n 1.072, de 30 de
dezembro de 1969.
84
As Foras Armadas nomearam 13 oficiais superiores para fazer lobby na Assemblia Constituinte. Cf.
ZAVERUCHA, Jorge. FHC, Foras Armadas e polcia..., cit., p. 59.
85
Essa notcia histrica dada por: SULOCKI, Vitria Amlia de B. C. G. Segurana pblica e
democracia, cit., p. 113-117; BICUDO, Helio. A unificao das polcias no Brasil. Estudos Avanados,
vol. 14, n. 40, 2000. freqente o relato de que o Presidente da Assemblia Constituinte, Dep. Ulisses
Guimares, teria acordado com o ento Min. do Exrcito, Gen. Lenidas Pires Gonalves, o modelo de
duas polcias atualmente em vigor. Cf. CONTREIRAS, Hlio. Militares: confisses. Histrias secretas do
Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1998. p. 54-55.
86
Cf. SILVA, Jorge da. Segurana pblica e polcia..., cit., p. 413 ss.
28
esse ponto, melhor teria sido deixar a organizao da atividade policial a cargo do
legislador, para que a adaptasse s exigncias de cada momento e de cada lugar.
Muitos sustentam a convenincia de se extinguir a Polcia Militar
sob o argumento de que se trata de instituio incompatvel com a concepo
democrtica de segurana pblica. A militarizao da polcia levaria conformao de
um modelo blico de poltica de segurana. O argumento, formulado em abstrato,
procedente. Em um estado democrtico de direito, o melhor ter organizaes policiais
de carter civil. No entanto, tambm aqui necessrio, sob pena de se recair em
idealizaes, examinar o funcionamento concreto das instituies. No so poucos os
que sustentam que, na verdade, muitas polcias militares tm sido mais abertas a
reformas tendentes adequao ao estado de direito que as suas congneres civis
87
. O
fundamental a alterao do treinamento, dos objetivos e do modo de operar da
organizao policial, no necessariamente de sua estrutura administrativa e de seus
procedimentos disciplinares. Se, em um estado da federao, a polcia militar funciona
adequadamente, no razovel desestrutur- la com apoio apenas em cogitaes
abstratas.
No por outra razo que outros sustentam a convenincia de se
desconstitucionalizar a separao entre polcia civil e militar. A deciso no deveria
se situar no plano constitucional, mas ser deferida ao plano legislativo, para que as
circunstncias particulares de cada estado pudessem ser consideradas. Assim como
inadequada a imposio constitucional da separao, seria tambm despropositado
impor-se constitucionalmente a unificao
88
. o que prope Projeto de Emenda
atualmente em curso no Congresso Nacional. Trata-se da PEC 21/2005, que prev a
alterao do art. 144, cujo 2 passaria a vigorar com a seguinte redao: Os Estados
87
Cf. SAPORI, Lus Flvio. Os desafios da polcia brasileira na implementao da ordem sob a lei, cit.,
p. 101 ss.
88
Cf.: SOARES, Lus Eduardo. Legalidade libertria. Rio de Janeiro: Lmen Juris, 2006, p. 515 s.:
Desconstitucionalizao das polcias (...) significa a transferncia aos Estados da autoridade para definir
os modelos de polcia que melhor lhes convenham. Afinal, o Acre diferente de So Paulo, Alagoas no
Minas Gerais, o Rio de Janeiro no Santa Catarina, e assim sucessivamente. Alguns Estados preferiro
manter o status quo policial; outros optaro pela unificao das polcias; outros criaro novas polcias, de
ciclo completo; outros desejaro transformar suas polcias em polcias regionais, dividindo-as. As
possibilidades so inmeras. (...) Com a desconstitucionalizao (prevista no Plano Nacional de
Segurana Pblica do Governo Lula), o Brasil ingressaria numa era de experimentao e diversificao de
suas solues, adaptando as instituies multiplicidade de suas realidades regionais .
29
organizaro e mantero a polcia estadual, de forma permanente e estruturada em
carreira, unificada ou no, garantido o ciclo completo da atividade policial, com as
atribuies de exercer as funes de polcia judiciria e de apurao das infraes
penais, de polcia ostensiva e de preservao da ordem pblica (...). De fato, esta
parece ser a soluo mais adequada.
III.3. rgos policiais federais: Polcia Federal, Polcia Rodoviria Federal e
Polcia Ferroviria Federal
No plano do governo da Unio, h trs rgos que desempenham
atividades policiais: (a) a Polcia Federal, (b) a Polcia Rodoviria Federal e (c) a Polcia
Ferroviria Federal
89
.
(a) A Polcia Federal exerce, em nvel federal, as atividades de
polcia de investigao, de polcia judiciria e de polcia martima, aeroporturia e de
fronteiras
90
. De acordo com o 1 do art. 144, a Polcia Federal destina-se a apurar
infraes penais contra a ordem poltica e social ou em detrimento de bens, servios e
interesses da Unio ou de suas entidades autrquicas e empresas pblicas, assim como
outras infraes cuja prtica tenha repercusso interestadual ou internacional e exija
represso uniforme, segundo se dispuser em lei; prevenir e reprimir o trfico ilcito de
entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuzo da ao
fazendria e de outros rgos pblicos nas respectivas reas de competncia; exercer
as funes de polcia martima, aeroporturia e de fronteiras; exercer, com
exclusividade, as funes de polcia judiciria da Unio
91
. A Polcia Federal se vincula
89
As polcias civis e militares so organizadas e mantidas pelos governos estaduais, como se observar.
Contudo, a Polcia Civil e a Polcia Militar do Distrito Federal so organizadas e mantidas pelo Governo
da Unio. o que determina o art. 21, XIV, da Constituio Federal.
90
O embrio da Polcia Federal era o Departamento Federal de Segurana Pblica (DFSP), criado em
1944, cujo papel era prover segurana ao Distrito Federal, quando este se situava na cidade do Rio de
Janeiro. Ao longo de sua histria, muitas mudanas foram sucessivamente introduzidas na organizao da
Polcia Federal.
91
Tais competncias esto detalhadas em diversas leis. o caso, por exemplo, da Lei n 9.017/95, que
estabelece normas de controle sobre produtos e insumos qumicos que possam ser destinados produo
de cocana e de outras substncias entorpecentes. o caso tambm da Lei n 10.446/2002, que dispe
sobre infraes penais de repercusso interestadual ou internacional que exigem represso uniforme, para
os fins do disposto no inciso I do 1
o
do art. 144 da Constituio. De acordo com o seu art. 1, quando
houver repercusso interestadual ou internacional que exija represso uniforme, poder o Departamento
de Polcia Federal proceder investigao, dentre outras, das seguintes infraes penais: seqestro,
crcere privado e extorso mediante seqestro, se o agente foi impelido por motivao poltica ou quando
30
ao Ministrio da Justia. De acordo com a Lei n 9.266/96, atualmente em vigor, a
carreira policial federal composta pelos cargos de Delegado de Polcia Federal, Perito
Criminal Federal, Escrivo de Polcia Federal, Agente de Polcia Federal e
Papiloscopista Policial Federal
92
. A carreira policial federal definida como tpica de
Estado
93
.
(b) A Polcia Rodoviria Federal o outro rgo policial que
atua no plano do Governo da Unio. De acordo com o 2 do art. 144, a Polcia
Rodoviria Federal, rgo permanente, organizado e mantido pela Unio e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias
federais
94
. A Polcia Rodoviria Federal tem, assim, como misso institucional,
ostentar a presena policial nas estradas federais e reprimir, de modo imediato, os
praticado em razo da funo pblica exercida pela vtima; formao de cartel; infraes relativas
violao a direitos humanos, que a Repblica Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em
decorrncia de tratados internacionais de que seja parte; e furto, roubo ou recept ao de cargas,
inclusive bens e valores, transportadas em operao interestadual ou internacional, quando houver
indcios da atuao de quadrilha ou bando em mais de um Estado da Federao.
92
Aps a aprovao da Constituio Federal de 1988, a carreira policial federal foi reorganizada pela Lei
n 9.266, de 15 de maro de 1996, posteriormente alterada pelas Leis n
os
11.095, de 13 de janeiro de 2005,
e 11.358, de 19 de outubro de 2006. At a entrada em vigor da Lei n 9.266, a carreira policial federal foi
regida pelo Decreto-lei n 2.251/85, recepcionado pela Constituio Federal no que com ela era
compatvel. Alm de se reger por essa legislao especfica, a carreira policial federal que no militar,
mas civil rege-se tambm pelas disposies da Lei n 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que versa
sobre o regime jurdico dos servidores pblicos civis da Unio, das autarquias e das fundaes pblicas
federais. Embora a Lei n 9.266/96 inclua na mesma carreira delegados, agentes, escrives, peritos e
papilocopistas, a administrao tem feito concursos separados para cada um desses cargos, e no tem
efetuado progresso funcional. Cf. STJ, DJU 12 abr. 1999, MS n 5.554, Rel. Min. Fernando Gonalves:
No h falar direito lquido e certo progresso funcional do cargo de Agente da Polcia Federal para o
de Delegado daquela corporao, porquanto o presente instituto no foi recepcionado pela nova ordem
constitucional, a qual prev em seu art. 37, inciso II, que a investidura em cargo pblico dar-se-
mediante concurso. Cf. ainda STJ, DJU 24 jun. 2002, AgRg no MI n 172, Rel. Min. Eliana Calmon.
93
A Lei n 9.266, de 1996, j contempla categorias prprias da Reforma Administrativa promovida no
curso no mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso. De acordo com o Plano Diretor de Reforma
do Estado, de 1995 documento de governo aprovado pela Cmara da Reforma do Estado no setor das
atividades exclusivas so prestados servios que s o Estado pode realizar. Atravs de tais servios, o
Estado exerce o poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar. Da resultam importantes conseqncias. De
acordo com o artigo 247 da Constituio Federal, na redao dada pela Emenda Constitucional n 19, a
legislao dever estabelecer critrios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor pblico
estvel que, em decorrncia das atribuies de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de
Estado.
94
A Polcia Rodoviria Federal tem previso legal desde o final da dcada de 20 (Decreto 18.323, de 24
de julho de 1928). Sua criao efetiva, com a contratao de pessoal e a mobilizao de recursos
materiais, ocorreu em meados da dcada de 30. Em 1945 (Decreto 8.463, de 27 de dezembro de 1945), a
Polcia Rodoviria Federal recebe este nome (antes se denominava Polcia de Estradas) e passa a se
vincular ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). A Constituio Federal de 1988
a primeira a constitucionaliz-la, integrando-a expressamente ao Sistema Nacional de Segurana Pblica.
Dando conseqncia ao comando constitucional, a Lei n 8.028, de 12 de abril de 1990 (art. 19, I, b),
vincula a Polcia Rodoviria Federal ao Ministrio da Justia.
31
delitos que ali sejam cometidos
95
. Trata-se de polcia civil, no militar, embora atue
uniformizada, como deve ocorrer no policiamento ostensivo. Suas competncias esto
detalhadas no Cdigo de Trnsito Brasileiro (art. 20 da Lei n 9503/97), no Decreto n
1.655/95, e no Regimento Interno, estabelecido pela Portaria Ministerial n 122/97
96
. A
implantao da carreira foi feita atravs da transformao dos antigos Patrulheiros
Rodovirios Federais em Policiais Rodovirios Federais (Lei n 9.654, art. 1, pargrafo
nico). A carreira composta do cargo de Policial Rodovirio Federal e estruturada nas
classes de Inspetor, Agente Especial e Agente (Lei n 9.654, art. 1, caput, com a
redao dada pela Lei n 11.358)
97
.
De todas as suas competncias, duas, dentre as fixadas no art. 1
do Decreto n 1.655, geraram maior polmica quanto constitucionalidade e foram
impugnadas perante o Supremo Tribunal Federal: a estabelecida no inciso V (realizar
percias, levantamentos de locais, boletins de ocorrncias, investigaes, testes de
dosagem alcolica e outros procedimentos estabelecidos em leis e regulamentos,
imprescindveis elucidao dos acidentes de trnsito) e a instituda no inciso X
(colaborar e atuar na preveno e represso aos crimes contra a vida, os costumes, o
patrimnio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veculos e bens, o trfico
de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho e os demais crimes
previstos em leis). Tais disposies foram impugnadas porque as competncias de
realizar percias, investigaes e de reprimir a prtica de crimes seriam da alada
de outros rgos policiais previstos no art. 144 da Constituio Federal
98
. A questo foi
95
Cf. DALLARI, Adilson de Abreu. Competncia constitucional da Polcia Rodoviria Federal. Revista
de Informao Legislativa, n. 135, jul./set. 1997.
96
De acordo com o art. 1 do Decreto n 1.655, compete Polcia Rodoviria Federal, no mbito das
rodovias federais: realizar o patrulhamento ostensivo; inspecionar e fiscalizar o trnsito; aplicar e
arrecadar as multas impostas por infraes de trnsito; executar servios de preveno, atendimento de
acidentes e salvamento de vtimas nas rodovias federais; realizar percias, boletins de ocorrncias,
investigaes, testes de dosagem alcolica e outros procedimentos imprescindveis elucidao dos
acidentes de trnsito; credenciar os servios de escolta e fiscaliz-los; assegurar a livre circulao nas
rodovias federais, promovendo a interdio de construes, obras e instalaes no autorizadas; executar
medidas de segurana nos deslocamentos do Presidente da Repblica, chefes de Estados estrangeiros e
outras autoridades; fiscalizar e controlar do trfico de menores nas rodovias federais; colaborar na
preveno e represso aos crimes previstos em leis.
97
A carreira de Policial Rodovirio Federal foi criada pela Lei n 9.654, de 2 de junho de 1998, e
modificada por outros estatutos, especialmente pela Lei n 11.358, de 2006.
98
Os preceitos foram impugnados tambm por violarem o princpio da legalidade. As competncias
fixadas nos incisos V e X no esto previstas em nenhum texto legal, mas to-somente no Decreto n
1.655, que ato administrativo, configurando-se como decreto autnomo, cuja admissibilidade
polmica no direito brasileiro.
32
examinada apenas em sede de cautelar. Esta no foi concedida, apesar de o relator ter se
manifestado no sentido da concesso
99
. Em mais de um voto, invocou-se a
inconvenincia prtica de interpretaes formalistas do texto constitucional.
(c) De acordo com o 3 do artigo 144, a Polcia Ferroviria
Federal rgo permanente, organizado e mantido pela Unio e estruturado em
carreira. Sua destinao o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Apesar da
previso constitucional, o rgo nunca foi objeto de criao efetiva, muito em razo da
decadncia do sistema ferrovirio nacional. O art. 19, 1, da Lei n 8.490/92 autoriza o
Poder Executivo a criar, no Ministrio da Justia, o Departamento de Polcia Ferroviria
Federal, o que foi feito atravs do Decreto n 2.802/98, segundo o qual lhe compete
propor a poltica de segurana ferroviria e supervisionar o policiamento e a fiscalizao
das ferrovias federais, de acordo com a legislao especfica (art. 19). Contudo, logo
em seguida, o Departamento deixou de estar previsto na estrutura do Ministrio da
Justia (Decreto n 3.382/2000), e no foi recriado at o momento. De fato, a Polcia
Ferroviria Federal nunca existiu. O que h, na prtica, apenas a segurana
patrimonial exercida pelas prprias empresas concessionrias de servio ferrovirio.
III.4. Taxatividade do rol de rgos policiais
A Constituio Federal, no caput do art. 144, determina ser a
segurana pblica dever do Estado. Este dever prov-la atravs dos rgos de
segurana que a Constituio enumera nos incisos que se seguem ao caput : Polcia
Federal, Polcia Rodoviria Federal, Polcia Ferroviria Federal, polcias civis, polcias
militares e corpos de bombeiros militares. Apenas esses rgos podero ser institudos
como corporaes policiais. o que decidiu o STF ao definir o rol do art. 144 como
taxativo. Com isso, veda-se aos estados- membros, por exemplo, atribuir funo policial
ao departamento de trnsito
100
ou instituir polcia penitenciria, encarregada da
vigilncia dos estabelecimentos penais
101
. Dessa taxatividade, contudo, no decorre a
impossibilidade de se criarem rgos com o propsito de coordenar as polticas de
99
STF, DJU 25 mai. 2001, ADI-MC n 1.413, Rel. Min. Marco Aurlio.
100
STF, DJU 10 mar. 2006, ADI n 1.182, Rel. Min. Eros Grau.
101
STF, DJU 01 jun. 2001, ADI n 236, Rel. Min. Octavio Gallotti.
33
segurana e de integr- las com outras aes de governo, como as que tm lugar nas
reas de sade e educao. Quando o Governo da Unio cria, por exemplo, a Secretaria
Nacional Antidrogas
102
, para integrar e coordenar diversos rgos governamentais, no
viola a Constituio pela simples circunstncia de cuidar de assuntos tambm atinentes
atuao policial
103
.
Questo diferente se relaciona atribuio de funes policiais a
rgos constitudos para outros fins. Aqui est em causa um importante problema de
separao de poderes. Como se sabe, a funo fundamental da separao de poderes
estabelecer um sistema de limitaes recprocas entre os diversos rgos que compem
o Estado, com o objetivo de moderar o exerccio do poder e proteger a liberdade
individual. Por isso, confiar funes policiais a outros rgos, que no os constitudos
para esse fim, sempre envolve riscos, que devem ser especificamente considerados. o
que se faz nas sees seguintes.
III.5. A participao de outros rgos na execuo de polticas de segurana
III.5.1. A participao das Foras Armadas na segurana pblica
No art. 144, a Constituio no previu a participao da Foras
Armadas na execuo de polticas de segurana. No entanto, a prpria Constituio a
permite, ao estabelecer, no art. 142, que as Foras Armadas tambm se destinam
garantia da lei e da ordem
104
. A interpretao conjunta dos art. 142 e 144, alm da de
outros preceitos a seguir examinados, leva a concluir que a execuo, pelas Foras
Armadas, de operaes de segurana est reservada a momentos excepcionais, quando
tenha lugar a decretao de (a) estado de defesa, (b) estado de stio ou (c) interveno
federal. Fora dos contextos de excepcionalidade constitucional, h ainda duas outras
possibilidades de as Foras Armadas serem empregadas na segurana pblica: (d) a
realizao de investigaes criminais no mbito de inqurito policial militar; e (e) a
execuo de operaes de policiamento ostensivo em contextos em que predomine o
102
Decreto 2.632/1998.
103
STF, DJU 7 nov. 2003, ADI-MC n 2.227, Rel. Min. Octavio Gallotti.
104
CF, artigo 142: As Foras Armadas (...) destinam-se defesa da Ptria, garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
34
interesse nacional, em especial em visitas de chefes de estados estrangeiros. So,
portanto, cinco as possibilidades de as Foras Armadas executarem aes de segurana
pblica. A Lei n 97/1999 ainda prev uma sexta possibilidade: (f) a realizao de aes
de policiamento ostensivo por solicitao do Governador de Estado, quando os meios
disponveis na esfera estadual se mostrarem insuficientes. A Lei n 97/1999, contudo,
inconstitucional quanto a esse aspecto, como se observar adiante
105
.
As trs primeiras possibilidades de emprego das Foras Armadas
em operaes de segurana pblica decorrem de previses especficas presentes no
texto constitucional. (a) De acordo com o artigo 136, o Presidente da Repblica pode
decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais
restritos e determinados, a ordem pblica ou a paz social. (b) Segundo o art. 137,
caber ao Presidente da Repblica solicitar ao Congresso Nacional autorizao para
decretar o estado de stio no caso de comoo grave de repercusso nacional ou
ocorrncia de fatos que comprovem a ineficcia de medida tomada durante o estado de
defesa. (c) Conforme o art. 34, III, a Unio poder decretar interveno nos estados
para pr termo a grave comprometimento da ordem pblica. Como se v, nessas trs
hipteses estado de defesa, estado de stio e interveno , a Constituio prev a
atuao do ente federal com o intuito de garantir a ordem pblica, para o que poder, se
necessrio, empregar as Foras Armadas, que o meio de que dispe, j que as polcias
federais no so organizadas com esse propsito
106
.
Como nessas trs hipteses h restrio a direitos fundamentais
107
e relativizao da autonomia estadual, a Constituio submete as medidas aplicveis a
105
Sobre o emprego das Foras Armadas na segurana pblica, cf. BARROSO, Lus Roberto. Foras
Armadas e aes de segurana pblica: possibilidades e limites luz da Constituio, Revista de Direito
do Estado, n. 7, 2007.
106
Cf. SILVA, Leila Maria Bittencourt da. A defesa do estado e a ordem pblica. Revista Forense, n. 379,
2005: Em face da impossibilidade da Secretaria de Segurana Pblica pr fim ao caos urbano, o
Presidente da Repblica para decretar interveno federal dever verificar: 1) se h perturbao de ordem
pblica; 2) se h ineficincia ou impossibilidade dos rgos da Secretaria de Segurana Pblica para
coibirem as atividades delituosas; 3) se constatada a violao de direitos constitucionais fundamentais.
Cf. ainda: MORAES, Humberto Pena de. Mecanismos de defesa do Estado e das instituies
democrticas no sistema constitucional de 1988. Estado de defesa e estado de stio. Revista EMERJ, n. 23,
2003.
107
No estado de defesa, so restringidos o direito de reunio, o sigilo de correspondncia, o sigilo de
comunicao telegrfica e telefnica (CF, art. 136, I). H ainda a possibilidade da ocupao e uso
temporrio de bens e servios pblicos, na hiptese de calamidade pblica, respondendo a Unio pelos
danos e custos decorrentes (CF, art. 136, II). No estado de stio, permite-se que o Governo determine a
35
forte controle legislativo e jurisdicional. O estado de defesa no poder durar mais de
trinta dias, admitindo-se apenas uma prorrogao, e sua decretao ser submetida,
dentro de vinte e quatro horas, ao Congresso Nacional, que decidir por maioria
absoluta (CF, art. 136, 4). Se o decreto for rejeitado, interrompe-se o estado de defesa
(CF, art. 136, 7). J a decretao do estado de stio, que mais grave que o estado de
defesa, depende de autorizao prvia do poder legislativo (CF, art. 137, caput). Em
ambos os casos, a Mesa do Congresso Nacional designar comisso para acompanhar e
fiscalizar a execuo das medidas (CF, art. 140). Logo que cesse o estado de defesa ou o
estado de stio, as medidas aplicadas durante sua vigncia sero relatadas pelo
Presidente da Repblica ao Congresso Nacional (CF, art. 141, pargrafo nico). Os
executores das medidas podero ser responsabilizados pelos ilcitos cometidos (CF, art.
141). O prprio Presidente da Repblica pode chegar a responder por crime de
responsabilidade (CF, art. 85)
108
. Quanto interveno, o decreto que a determinar
dever especificar a amplitude, o prazo e as condies de execuo e ser apreciado
pelo Congresso Nacional, em vinte e quatro horas (CF, art. 34, 1). Durante a vigncia
de qualquer dessas medidas estado de defesa, estado de stio ou interveno federal
a Constituio no poder ser emendada (CF, art. 60, 1).
Como se observa, nessas trs hipteses excepcionais, a atuao
militar se submete a intenso controle do Parlamento. Isto porque implicam a restrio de
direitos fundamentais e relativizao da autonomia dos estados- membros. H, contudo,
duas outras hipteses de atuao das Foras Armadas em operaes de segurana
pblica em que isso no ocorre: (d) a execuo de diligncias determinadas no mbito
de inqurito policial militar e (e) a realizao de policiamento ostensivo em ocasies em
que predomine o interesse nacional, como o caso de visitas de delegaes estrangeiras.
permanncia em localidade determinada; a deteno em edifcio no destinado a acusados ou condenados
por crimes comuns; restries relativas inviolabilidade da correspondncia, ao sigilo das comunicaes,
prestao de informaes e liberdade de imprensa, radiodifuso e televiso, na forma da lei; a
suspenso da liberdade de reunio; a busca e apreenso em domiclio; a interveno nas empresas de
servios pblicos; e a requisio de bens (CF, art. 139, I a VII).
108
Segundo o art. 85 da Constituio Federal, so crimes de responsabilidade os atos do Presidente da
Repblica que atentem contra a Constituio Federal e, especialmente, contra: I - a existncia da Unio; II
- o livre exerccio do Poder Legislativo, do Poder Judicirio, do Ministrio Pblico e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federao; III - o exerccio dos direitos polticos, individuais e sociais; IV
- a segurana interna do Pas; V - a probidade na administrao; VI - a lei oramentria; VII - o
cumprimento das leis e das decises judiciais.
36
(d) A possibilidade de as Foras Armadas realizarem diligncias
determinadas no mbito de inqurito policial militar est estabelecida nos artigos 7 e
8, b, do Cdigo de Processo Penal Militar (CPPM), e figura, na Constituio Federal,
como exceo competncia das polcias civis para a realizao de investigaes
criminais (art. 144, 4). De acordo com o art. 8, b, do CPPM, compete polcia
judiciria militar (...) prestar aos rgos e juzes da Justia Militar e aos membros do
Ministrio Pblico as informaes necessrias instruo e julgamento dos processos,
bem como realizar as diligncias que por eles lhe forem requisitadas. O art. 7 fixa as
autoridades militares que devem exercer a funo. Em regra, a incumbncia recai sobre
os comandantes em relao a seus comandados, sendo possvel a delegao para outros
oficiais
109
. A noo de polcia judiciria militar est ligada idia de funo, no de
rgo
110
.
No tocante a essa hiptese, h, contudo, duas importantes
ressalvas a fazer. A primeira a de que no h espao, em nossa ordem constitucional,
para mandados genricos, que indiquem, por exemplo, a possibilidade de promover
buscas em bairros inteiros
111
. Sob o pretexto de realizar a apreenso de armas de uso
exclusivo das Foras Armadas, autoridades militares no podem determinar a ocupao
de uma favela, como j se verificou em nossa histria recente. A segunda ressalva diz
109
CPPM, art. 7: A polcia judiciria militar exercida nos termos do art. 8, pelas seguintes
autoridades, conforme as respectivas jurisdies: a) pelos ministros da Marinha, do Exrcito e da
Aeronutica, em todo o territrio nacional e fora dele, em relao s foras e rgos que constituem seus
Ministrios, bem como a militares que, neste carter, desempenhem misso oficial, permanente ou
transitria, em pas estrangeiro; b) pelo chefe do Estado-Maior das Foras Armadas, em relao a
entidades que, por disposio legal, estejam sob sua jurisdio; c) pelos chefes de Estado-Maior e pelo
secretrio-geral da Marinha, nos rgos, foras e unidades que lhes so subordinados; d) pelos
comandantes de Exrcito e pelo comandante-chefe da Esquadra, nos rgos, foras e unidades
compreendidos no mbito da respectiva ao de comando; e) pelos comandantes de Regio Militar,
Distrito Naval ou Zona Area, nos rgos e unidades dos respectivos territrios; f) pelo secretrio do
Ministrio do Exrcito e pelo chefe de Gabinete do Ministrio da Aeronutica, nos rgos e servios que
lhes so subordinados; g) pelos diretores e chefes de rgos, reparties, estabelecimentos ou servios
previstos nas leis de organizao bsica da Marinha, do Exrcito e da Aeronutica; h) pelos comandantes
de foras, unidades ou navios. H, contudo, a possibilidade de tais agentes delegarem o exerccio da
funo de polcia judiciria militar oficiais da ativa: Obedecidas as normas regulamentares de
jurisdio, hierarquia e comando, as atribuies enumeradas neste artigo podero ser delegadas a oficiais
da ativa, para fins especificados e por tempo limitado (CPPM, art. 7, 1).
110
Cf. LIMA, Walberto Fernandes de. Consideraes sobre a criao do 2 do art. 82 do Cdigo de
Processo Penal Militar e seus reflexos na justia penal comum (Lei n. 9.299/96). Revista Brasileira de
Cincias Criminais, n. 20, 1997.
111
Segundo o art. 178 do CPPM, o mandado de busca dever indicar, o mais precisamente possvel, a
casa em que ser realizada a diligncia e o nome do seu morador ou proprietrio; ou, no caso de busca
pessoal, o nome da pessoa que a sofrer ou os sinais que a identifiquem.
37
respeito necessidade de que a diligncia seja autorizada por autoridade judicial. As
diligncias de busca e apreenso domiciliar so submetidas chamada reserva de
jurisdio
112
, no podendo ser determinadas pelas autoridades militares que presidem
inquritos policiais militares, como determinava o CPPM, em seu art. 177
113
, que foi
revogado quanto a este aspecto.
(e) O emprego das Foras Armadas em operaes de manuteno
da ordem pblica em eventos oficiais est disciplinado no art. 5 do Decreto n
3.897/2001. De acordo com o preceito, tal emprego ocorrer em ocasies em que se
presuma ser possvel a perturbao da ordem, tais como as relativas a eventos oficiais
ou pblicos, particularmente os que contem com a participao de Chefe de Estado, ou
de Governo, estrangeiro, e realizao de pleitos eleitorais, nesse caso quando
solicitado. Foi o que ocorreu, por exemplo, em 1992, na Conferncia das Naes
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92). Nessa hiptese, a
possibilidade da atuao federal decorre do princpio da predominncia do interesse
114
.
Como predomina o interesse nacional, no h razo para que apenas o estado membro
atue. As Foras Armadas podem atuar, em conjunto com autoridades locais (Decreto n
3.897/2001, art. 5, pargrafo nico).
(f) Por fim, a legislao brasileira comporta ainda outra
possibilidade de emprego das Foras Armadas em operaes de segurana. De acordo
com a LC n 97/1999, art. 15, 2
o
, a atuao das Foras Armadas, na garantia da lei e
112
De acordo com o STF, a clusula constitucional da reserva de jurisdio que incide sobre
determinadas matrias, como a busca domiciliar (CF, art. 5, XI), a interceptao telefnica (CF, art. 5,
XII) e a decretao da priso de qualquer pessoa, ressalvada a hiptese de flagrncia (CF, art. 5, LXI)
traduz a noo de que, nesses temas especficos, assiste ao Poder Judicirio, no apenas o direito de
proferir a ltima palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra,
excluindo-se, desse modo, por fora e autoridade do que dispe a prpria Constituio, a possibilidade do
exerccio de iguais atribuies, por parte de quaisquer outros rgos ou autoridades do Estado. (STF,
DJU 12 mai. 2000, MS n 23.452, Rel. Min. Celso de Mello).
113
CPPM, art. 177: Dever ser precedida de mandado a busca domiciliar que no for realizada pela
prpria autoridade judiciria ou pela autoridade que presidir o inqurito.
114
Cf.. SILVA, Jos Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, cit., p. 480: O princpio geral
que norteia a repartio de competncia entre as entidades componentes do Estado Federal o da
predominncia do interesse, segundo o qual Unio cabero aquelas matrias e questes de predominante
interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados tocaro as matrias e assuntos de predominante
interesse regional, e aos Municpios concernem os assuntos de interesse local , tendo a Constituio
vigente desprezado o velho conceito do peculiar interesse local que no lograra conceituao satisfatria
num sculo de vigncia. Cf. tambm: PIRES, Thiago Magalhes. Federalismo e democracia: parmetros
para a definio das competncias federativas. Revista Direito Pblico, n. 14, out./dez., 2006.
38
da ordem (...) ocorrer (...) aps esgotados os instrumentos (...) relacionados no art. 144
da Constituio Federal. Conforme o 3
o
do mesmo artigo, includo pela LC n
117/2004, consideram- se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da
Constituio Federal quando, em determinado momento, forem eles formalmente
reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como
indisponveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua misso
constitucional. Como se v, a LC n 117 estabelece a possibilidade de o Governador do
Estado reconhecer a insuficincia dos meios de que dispe para garantir a lei e a ordem
e, com isso, solicitar o emprego das Foras Armadas
115
. No haveria, nessa hiptese, a
necessidade de decretao de estado de defesa, de estado de stio ou de interveno
federal.
At o presente momento, a hiptese foi aplicada em casos
pontuais, durante curtssimos perodos de tempo. Isso ocorreu, por exemplo, quando
Governadores (Minas Gerais, Tocantins, Alagoas e Pernambuco) solicitaram a atuao
federal por conta de greve de policiais
116
. Em razo da brevidade dos perodos em que
esse emprego ocorreu, o STF ainda no apreciou impugnaes que pusessem em
questo sua constitucionalidade
117
. Nada obstante, trata-se de hiptese de
constitucionalidade duvidosa. A referncia feita no art. 142 possibilidade de as Foras
115
Uma vez que o Presidente determine o emprego das Foras Armadas, o Governador dever transferir
o controle operacional dos rgos de segurana pblica necessrios ao desenvolvimento das aes para a
autoridade encarregada das operaes, a qual dever constituir um centro de coordenao de operaes,
composto por representantes dos rgos pblicos sob seu controle operacional ou com interesses afins
(LC n 117, art. 15, 5).
116
H, contudo, um triste episdio da vida poltica brasileira ocorrido antes do incio da vigncia da Lei
que merece especial reprovao. Trata-se da denominada Operao Rio, em que as Foras Armadas, no
final de 1994, ocuparam diversas reas da cidade do Rio de Janeiro, sem que tenha sido decretada
nenhuma das medidas excepcionais antes examinadas. Naquela oportunidade, violou-se o estado
democrtico de direito, por razes polticas menores e contingenciais, com intensidade que no mais viria
a ser vista na histria nacional. Cf. CERQUEIRA, Carlos M. Nazareth. Remilitarizao da segurana
pblica..., cit.
117
H, em entrevista, manifestao do Ministro Lewandowski contra a essa possibilidade. De acordo com
o ento Desembargador do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, o emprego das Foras Armadas
deve se limitar s hipteses de decretao de estado de defesa, estado de stio e interveno federal: A
utilizao das Foras Armadas para combater a violncia urbana, em carter permanente, , portanto,
inconstitucional, embora seja lcito o seu emprego temporrio e limitado, em situaes de emergncia,
claramente caracterizadas. A deciso, entretanto, subordina-se ao prudente arbtrio do Presidente da
Repblica, que dever buscar o respaldo do Legislativo, assim que possvel, sob pena de incorrer em
crime de responsabilidade. (...) No se pode esquecer que a funo primordial da Marinha, do Exrcito e
da Aeronutica, segundo o texto constitucional, assegurar a defesa da Ptria. A rigor, s quando os
rgos constitucionalmente responsveis pela preservao da lei e da ordem entrarem em colapso que as
Foras Armadas podero incumbir-se da tarefa. (Foras Armadas no combate violncia, RT Informa, n.
31, maio-jun., 2004, p. 4).
39
Armadas serem empregadas para a manuteno da lei e da ordem deve ser interpretada
restritivamente. A interpretao restritiva se impe pela circunstncia de a atuao
federal implicar restrio grave autonomia do estado- membro, ao qual a Constituio
incumbe a elaborao e a execuo das polticas no setor. A anuncia do Governador
no pode significar a corroso do sistema de repartio de competncias federativas
concebido pela Constituio. Ou h gravidade suficiente para a decretao de estado de
defesa ou de interveno federal, e as Foras Armadas so empregadas, o no h, e seu
emprego no pode se verificar. A atuao corrente das Foras Armadas na execuo de
aes de segurana incompatvel com o conceito constitucionalmente adequado de
segurana pblica, examinado acima. A segurana pblica, para se harmonizar com o
Estado democrtico de direito, deve ser concebida como servio pblico, a ser prestado
ao cidado. No pode ser entendida como estratgia de guerra, destinada ao combate
a inimigos; e para isso que as Foras Armadas so preparadas.
A execuo pelas Foras Armadas de operaes de segurana
deve se limitar s hipteses previstas constitucionalmente, em especial s de decretao
de estado de defesa, estado de stio e interveno federal. Nessas trs hipteses, a
Constituio Federal prev instrumentos consistentes de controle do Executivo. Como
antes consignado, a decretao das medidas excepcionais depende de aprovao
parlamentar, exigindo-se o pronunciamento do Congresso Nacional; pode submeter o
Presidente a julgamento por crime de responsabilidade; impede a aprovao de Emenda
Constitucional durante a sua vigncia. Pretende-se, com a LC n 97/1999, art. 15, que o
Executivo Federal possa executar medidas de carter excepcional, com sria limitao
da autonomia estadual, sem se submeter aos controles que a Constituio prev para os
casos de estado de defesa, estado de stio e interveno federal. Na verdade, significa
permitir que medidas excepcionais sejam decretadas, sem que se observem as restries
constitucionalmente definidas e sem que se adotem os veculos formais adequados.
H quase duas dcadas est em curso na Amrica Latina debate
sobre o papel das Foras Armadas. Para uns, devem ser empregadas apenas na defesa do
territrio. Para outros, devem servir ao combate ao narcotrfico. Esta ltima opo foi
adotada, p. ex., na Colmbia, com forte apoio dos EUA, que, de fato, so os principais
interessados. Trata-se de importante questo de Estado, que deve ser seriamente
apreciada. O emprego das Foras Armadas na segurana pblica deve ser evitado
40
tambm para permitir que se concentrem na sua principal destinao constitucional, que
a defesa da soberania territorial do Brasil. Convert- las em polcia o caminho mais
curto para que isso deixe de ocorrer.
III.5.2. A participao do Ministrio Pblico na investigao criminal
A Constituio Federal de 1988 confere poderes, para apurar
infraes penais Polcia Federal (144, 1, I e IV) e s Polcias Civis dos Estados (144,
4). No atribui expressamente as mesmas competncias ao Ministrio Pblico. No
entanto, cabe ao Ministrio Pblico ajuizar a ao penal. Para isso, deve dispor das
provas necessrias para instru- la. Muitos sustentam que a possibilidade de colher
diretamente essas provas, sem auxlio das autoridades policiais, seria um poder
implcito
118
, cujo exerccio no demandaria sua explicitao no texto constitucional. Se
a atuao das polcias judicirias serve para fornecer subsdios ao ajuizamento da ao
penal pelo Ministrio Pblico, no haveria razes para se impedir que o prprio MP
realizasse diligncias com esse propsito. Argumenta-se, ainda, que a Constituio
Federal, ao distribuir, no art. 144, as competncias investigatrias s polcias judicirias
federal e estadual, pretendeu apenas delimitar a esfera cabvel a cada uma, bem como
diferenciar seus respectivos mbitos de atuao relativamente polcia militar. A
finalidade subjacente ao art. 144 no seria vedar ao Ministrio Pblico poderes
investigatrios.
Por outro lado, sustenta-se que h aqui um problema de separao
de poderes. O propsito de o constituinte ter atribudo polcia, com exclusividade, a
tarefa de realizar a investigao criminal, excluindo o Ministrio Pblico, seria evitar
excessiva concentrao de poderes em esfera que pode abrigar graves interferncias nos
domnios mais fundamentais da liberdade individual. A Polcia investigaria, e o
Ministrio Pblico, alm de requisitar diligncias (CF, art. 129, VIII), dirigindo, por
essa via, a atividade investigatria, ajuizaria a ao penal e realizaria o controle externo
da atividade policial (CF, art. 129, VII). O contra-argumento imediato: na realidade
118
O parmetro dos poderes implcitos foi adotado vrias vezes pelo Supremo Tribunal Federal. Em
matria anloga presente, o STF entendeu, durante a vigncia da Constituio de 1946, que as
Comisses Parlamentares de Inqurito poderiam colher depoimentos, fazer intimaes e determinar o
comparecimento compulsrio de depoentes, pois, do contrrio, seriam incuas suas funes
investigatrias. (STF, DJU 6 jun. 1957, RHC n 34.823, Rel. Min. Ari Franco).
41
brasileira das duas ltimas dcadas, os indivduos teriam sua liberdade garantida com
maior eficcia pelo protagonismo ministerial no momento investigatrio que pela
restrio da sua atuao nesse perodo pr-processual. Em resposta a essa objeo, h
quem argumente que, se o Ministrio Pblico se envolver diretamente nas investigaes
criminais, desempenhando o papel que a Constituio projetou para os delegados, no
h nenhuma garantia de que, diante de situaes de emergncia, no deixe de observar a
legalidade. A atividade investigatria ficaria, ento, sem o necessrio controle externo,
propiciado pelo atual modelo de diviso de trabalho entre Polcia Judiciria e Ministrio
Pblico
119
.
A jurisprudncia brasileira no tem aderido integralmente nem a
um nem a outro ponto de vista. O Superior Tribunal de Justia permite amplamente a
participao do Ministrio Pblico na investigao criminal
120
. O STF, por seu turno,
ainda no proferiu um juzo definitivo, tomando decises sucessivas em sentido
divergente. Por um lado, o STF tem admitido a utilizao, na esfera penal, de provas
obtidas atravs de inqurito civil
121
. Tem admitido ainda a validade de depoimento
colhido diretamente pelo Ministrio Pblico, quando no se trata de prova isolada, mas
inserida em um conjunto probatrio mais abrangente
122
. Uma de suas turmas j chegou
a afirmar que o Ministrio Pblico poder proceder de forma ampla, na averiguao de
fatos e na promoo imediata da ao penal pblica, sempre que assim entender
configurado o ilcito, podendo prescindir do inqurito policial, haja vista que o
119
Sobre a polmica, foi produzida no Brasil extensa bibliografia. Cf. dentre outros estudos: BARROSO,
Luis Roberto. Investigao pelo Ministrio Pblico. Argumentos contrrios e a favor. A sntese possvel e
necessria. Revista Forense, v. 100, n. 373, p. 195-203, maio/jun. 2004; SILVA, Jose Afonso da. Em face
da Constituio Federal de 1988, o Ministrio Pblico pode realizar e/ou presidir investigao criminal,
diretamente? Revista Brasileira de Cincias Criminais, v. 12, n. 49, jul./ago. 2004; TUCCI, Rogrio
Lauria. Consideraes e sugestes acerca de anteprojeto de lei referente instituio de Juizado de
Instruo. Revista dos Tribunais, v. 92, n. 817, nov. 2003; FRAGOSO, Jose Carlos. So ilegais os
procedimentos investigatrios realizados pelo Ministrio Pblico Federal. Revista Brasileira de Cincias
Criminais, v. 10, n. 37, jan./mar. 2002; GRINOVER, Ada Pellegrini. Investigaes pelo Ministrio
Pblico. Boletim IBCCrim, v. 12, n. 145, dez. 2004; PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas; CASARA,
Rubens R. R. Posio do MMFD sobre a impossibilidade de investigao direta pelo Ministrio Pblico
ante a normatividade constitucional. Boletim IBCCrim, v. 12, n. 141, ago. 2004; VIEIRA, Luis
Guilherme. O Ministrio Pblico e a investigao criminal. Revista de Estudos Criminais, v. 4, n. 15,
jul./set. 2004.
120
Cf., dentre as decises mais recentes, STJ, DJU 20 nov. 2006, HC n 55.500, Rel. Min. Felix Fischer;
STJ, DJU 9 out. 2006 REsp n 756.891, Rel. Min. Gilson Dipp; e STJ, DJU 2 out. 2006 HC n 43.030,
Rel. Min. Paulo Gallotti.
121
STF, DJU 18 fev. 2005, HC n 84.367, Rel. Min. Carlos Britto.
122
STF, DJU 23 out. 1998, HC n 77.371, Rel. Min. Nelson Jobim.
42
inqurito procedimento meramente informativo, no submetido ao crivo do
contraditrio e no qual no se garante o exerccio da ampla defesa
123
.
Por outro lado, em deciso recente, o Tribunal entendeu no caber
ao Ministrio Pblico inquirir diretamente testemunha, ainda que se cuide de
investigao de crime cuja autoria atribuda a Delegado de Polcia. Nessa
oportunidade, decidiu expressamente que a norma constitucional no havia
contemplado a possibilidade de o parquet realizar e presidir inqurito policial
124
.
Logo em seguida, no entanto, j admitiu que fosse oferecida denncia pelo Ministrio
Pblico a partir de sindicncia que instaurara para apurar crimes de abuso sexual
praticados contra menores em entidade de amparo, conforme dispe o art. 201, VII, do
Estatuto da Criana e do Adolescente: Compete ao Ministrio Pblico: (...) instaurar
sindicncias, requisitar diligncias investigatrias e determinar a instaurao de
inqurito policial, para apurao de ilcitos ou infraes s normas de proteo
infncia e juventude. A Corte teve o cuidado de esclarecer que esta ltima hiptese
no se confundia com a examinada no RHC n 81.326, que tratava de falta de
legitimidade do Parquet para presidir ou desenvolver diligncias pertinentes ao
inqurito policial. Tratava-se de questo relativa infncia e juventude e, por isso,
era regulada por lei especial que tem previso especfica
125
.
A questo, hoje, encontra-se pendente de deciso definitiva, a ser
proferida pelo Plenrio do STF
126
. Ajuizada ao penal a partir de investigaes levadas
a termo pelo Ministrio Pblico, os Ministros Marco Aurlio e Nelson Jobim votaram
pelo seu no recebimento. O Ministro Joaquim Barbosa votou em sentido contrrio,
argumentando que o Ministrio Pblico poderia, no caso, realizar as investigaes, por
se tratar de questo envolvendo direitos difusos (proteo do Patrimnio Pblico). Para
o Ministro, a discusso acerca da possibilidade de o Ministrio Pblico realizar
investigaes criminais envolvia a apreciao do mbito material em que se situava a
conduta delitiva. Os Ministros Eros Grau e Carlos Britto acompanharam a divergncia,
aps o que o Ministro Cezar Peluso pediu vista dos autos, adiando o julgamento
123
STF, DJU 3 mar. 2000, HC n 77.770, Rel. Min. Nri da Silveira .
124
STF, DJU 1 ago. 2003, RHC n 81.326, Rel. Min. Nelson Jobim.
125
STF, DJU 30 abr. 2004, HC n 82.865, Rel. Min. Nelson Jobim.
126
STF, Informativo STF ns 359 e 325, Inq. n 1.968/DF, Rel. Min. Marco Aurlio.
43
definitivo da lide. A expectativa hoje em vigor de que o STF resolva, ainda que
parcialmente, a polmica.
Aqui tambm tem lugar um problema de desenho institucional.
No sustentvel a tese segundo a qual a titularidade da ao penal leva
necessariamente faculdade de colher as provas para o seu ajuizamento. Essa uma
possibilidade, dentre outras a separao das funes entre Polcia e Ministrio Pblico
, inclusive, mais facilmente extrada do texto constitucional. O tema no de
interpretao do direito, mas de deciso poltica, e nessa esfera que se situam as mais
convincentes objees possibilidade da investigao ministerial. Nada obstante a
tendncia de aumento eventual da eficincia da atividade investigatria, considervel
o risco de que, com o tempo, o envolvimento direto em investigaes altere a cultura
institucional do MP e, com isso: (a) reduza a predisposio dos rgos ministeriais para
controlarem os excessos das autoridades policiais; (b) leve os prprios rgos
ministeriais a praticarem excessos; (c) enfraquea os laos que hoje unem a instituio
ao estado democrtico de direito, como ocorreu durante o perodo ditatorial. Se isso
ocorresse, a liberdade ficaria seriamente ameaada. O risco no igual em todos os
estados da Federao, mas, de todo o modo, deve ser seriamente ponderado, tendo em
vista a preservao das virtudes do presente arranjo institucional. A deciso mais
prudente no generalizar os poderes investigatrios do Ministrio Pblico, e optar pelo
modelo que mais diretamente decorre das previses constitucionais expressas: conferir a
tarefa de investigar a uma instituio, e a titularidade da ao penal a outra.
Contudo, a despeito da tese geral que se adote, h um caso em que
a investigao criminal por parte do Ministrio Pblico pode efetivamente se justificar
atravs da teoria dos poderes implcitos. Como cabe ao Ministrio Pblico o controle
externo da atividade policial
127
, razovel que investigue diretamente os crimes que
127
Conforme o art. 3 da Lei Complementar, O Ministrio Pblico da Unio exercer o controle externo
da atividade policial tendo em vista: a) o respeito aos fundamentos do Estado Democrtico de Direito, aos
objetivos fundamentais da Repblica Federativa do Brasil, aos princpios informadores das relaes
internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituio Federal e na lei; b) a preservao da
ordem pblica, da incolumidade das pessoas e do patrimnio pblico; c) a preveno e a correo de
ilegalidade ou de abuso de poder; d) a indisponibilidade da persecuo penal; e) a competncia dos
rgos incumbidos da segurana pblica.
44
tenham sido praticados por policiais
128
. Se a investigao desses delitos fica restrita aos
rgos internos s corporaes, especialmente Corregedoria de Polcia, no h, de
fato, controle externo. Se a atuao do Ministrio Pblico, tambm aqui, circunscreve-
se ao ajuizamento da ao penal e requisio de diligncias no inqurito, a norma que
lhe atribui a competncia para realizar o controle externo da atividade policial perde, em
grande parte, sua efetividade
129
. Ao contrrio do que ocorre quando se investiga um
particular, a investigao pelo Ministrio Pblico de crimes praticados por policiais no
pe em risco o mecanismo da limitao recproca que caracteriza o sistema de freios e
contrapesos. , antes, prerrogativa que se identifica com a finalidade fundamental do
sistema, ao permitir a fiscalizao efetiva dos rgos estatais que, por lidarem
diretamente com o uso da fora, maiores prejuzos podem causar liberdade individual.
O Conselho Superior do Ministrio Pblico Federal, assumindo o
propsito de ampliar a atuao ministerial em investigaes, editou a Resoluo n
77/2004. A Resoluo prev a instaurao de procedimento investigatrio criminal,
por membro do Ministrio Pblico Federal, no mbito de suas competncias criminais
(art. 2). O que um procedimento investigatrio criminal seno um inqurito
130
? A
Resoluo n 77 foi editada a pretexto de regulamentar o art. 8 da Lei Complementar n
75/1993, que dispe sobre a organizao, as atribuies e o estatuto do Ministrio
Pblico da Unio. De fato, de acordo com o citado art. 8, os rgos ministeriais
podero, nos procedimentos de sua competncia, realizar diligncias. O que a Lei no
estabelece, como veio a ocorrer na Resoluo, a competncia do Ministrio Pblico
para a instaurao de procedimento investigatrio criminal. Limita-se, em seu art. 7,
128
De acordo com a LC n 75/1993, art. 9, O Ministrio Pblico da Unio exercer o controle externo
da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais podendo: I ter livre ingresso em
estabelecimentos policiais ou prisionais; II ter acesso a quaisquer documentos relativos atividade-fim
policial; III representar autoridade competente pela adoo de providncias para sanar a omisso
indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; IV requisitar autoridade
competente para instaurao de inqurito policial sobre a omisso ou fato ilcito ocorrido no exerccio da
atividade policial; V promover a ao penal por abuso de poder.
129
Atualmente, h a tendncia de se intensificar tambm o controle de polticas de segurana pela via de
aes coletivas, para o que o Ministrio Pblico especialmente talhado. Cf. SANTIN, Valter Foleto.
Controle judicial da segurana pblica..., cit., p. 221 ss.
130
Na conduo das investigaes, o Procurador poder notificar testemunhas e requisitar sua conduo
coercitiva, nos casos de ausncia injustificada; requisitar informaes, exames, percias e documentos
de autoridade da administrao pblica, requisitar informaes e documentos a entidades privadas,
realizar inspees e diligncias investigatrias e expedir notificaes e intimaes (art. 8).
45
a permitir que o Ministrio Pblico Federal instaure inqurito civil e outros
procedimentos administrativos correlatos e requisite diligncias investigatrias e a
instaurao de inqurito policial e de inqurito policial militar, podendo acompanh- los
e apresentar provas. Por essas razes, a Resoluo n 77 incompatvel com a
Constituio Federal, a no ser no que concerne ao controle das autoridades policiais.
Do contrrio, tratar-se-ia de regulamento autnomo incapaz de retirar seu fundamento
de validade diretamente do texto constitucional
131
.
H um argumento recorrente de justificao da atuao
ministerial em investigaes: a Polcia, por se submeter administrativamente ao
Executivo, no tem independncia para investigar as autoridades pblicas a que se
subordinam.
132
A preocupao se justifica. A subordinao das autoridades policiais aos
governantes reduz a independncia das investigaes quando os investigados so os
prprios governantes. Nessa hiptese, a atribuio de poderes investigatrios a
promotores e procuradores no exibe os riscos acima apontados, j que a atividade
tambm pode se inserir no mbito do sistema de freios e contrapesos. Contudo, no se
trata de hiptese capaz de ser extrada diretamente do texto constitucional, como a
relativa ao controle da atividade policial. Por isso, embora a Constituio no a vede, a
investigao de autoridades pblicas pelo MP depende da edio de lei que a autorize e
discipline. No entanto, a mesma finalidade garantir a independncia da investigao
de autoridades pblicas pode ser alcanada atravs de outros modelos institucionais.
Em especial, atravs (a) da concesso de autonomia administrativa e financeira aos
rgos policiais responsveis por investigaes, e (b) do aprimoramento do controle
externo da atividade policial, com a criao de conselhos nacionais e estaduais de
131
Como antes consignado, a doutrina tradicional aponta, h muito, que Administrao pblica s
facultado agir quando a lei o determina ou permita. Essa vinculao positiva lei distinguiria a esfera da
Administrao da esfera privada. Nesta, os particulares podem agir desde que a lei no o proba. Naquela,
a ao da Administrao dependeria de autorizao legal. A lei exerceria, nesse sentido, uma funo
negativa relativamente conduta individual privada e uma funo positiva no que concerne
Administrao. Contudo, a vinculao positiva da Administrao lei tem sido, em termos gerais, objeto
de flexibilizao por via doutrinria e jurisprudencial. Hoje, j se sustenta que o administrador no precisa
estar autorizado a agir por texto expresso da lei quando seu ato se apoiar em norma constitucional, mesmo
que se trate de norma -princpio. A vinculao lei tem sido entendida como vinculao ao Direito, que
composto tambm por princpios. A Resoluo n 77, contudo, no capaz de extrair fundamento direto
do texto constitucional.
132
Cf. RANGEL, Paulo. Investigao criminal direta pelo Ministrio Pblico. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2005.
46
polcia judiciria. Esse um dos temas que tendem figurar na agenda de reformas
legislativas e constitucionais nos anos que se seguem.
133
III.5.3. A participao de magistrados na investigao criminal
As dvidas que cercam a participao do Ministrio Pblico nas
investigaes criminais no se aplicam magistratura
134
. No Brasil, no h a
possibilidade de o juiz realizar investigao criminal. Vigora, aqui, o sistema
acusatrio
135
. O rgo pblico que acusa no pode ser o mesmo que julga. O
magistrado concebido como um terceiro imparcial e equidistante em relao
acusao e defesa. O contrrio ocorre no sistema inquisitorial, em que as
investigaes so conduzidas pelos mesmos agentes pblicos que proferem a sentena.
A realizao dessas duas atividades pelos mesmos agentes faz com que se
comprometam com a acusao, tornando-se incapazes de um juzo imparcial. O sistema
inquisitorial considerado, por isso, incompatvel com as garantias constitucionais
processuais, especialmente com o contraditrio e a ampla defesa. No foi por outra
razo que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a realizao, por
magistrados, de diligncias de busca e apreenso de documentos. A faculdade estava
prevista no art. 3 da Lei n 9.034/1995. O STF julgou o preceito inconstitucional por
entender que haveria comprometimento do princpio da imparcialidade e conseqente
violao ao devido processo legal. As funes de investigador e inquisidor seriam
133
Esse o teor, por exemplo, de proposta do Conselho Federal da OAB, que acolheu sugesto formulada
pelo jurista Fbio Konder Comparato.
134
Sobre o papel do juiz na investigao criminal, cf. GENOFRE, Roberto Mauricio. O papel do juiz
criminal na investigao policial. Juzes para a Democracia, v. 5, n. 23, jan./mar., 2001; TONIAI, Cleber
Augusto. Investigaes judiciais no direito da infncia e da juventude. Da exceo ao desastre. AJURIS,
v. 29, n. 88, dez. 2002; ABADE, Denise Neves. A consagrao do sistema acusatrio com o afastamento
do juiz do inqurito policial. Boletim IBCCrim, v. 5 , n. 55, jun. 1997.
135
Cf. TORNAGHI, Hlio. Instituies de processo penal. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. I, p. 200-
201; PRADO, Geraldo. Sistema acusatrio: a conformidade constitucional das leis processuais penais .
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999; CARVALHO, Salo de. Execuo penal e sistema acusatrio: leitura
desde o paradigma do garantismo jurdico-penal. In: BONATO, Gilson (org.). Direito penal e processual
penal: uma viso garantista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001; CABETTE, Eduardo Luiz Santos. O
papel do inqurito policial no sistema acusatrio. O modelo brasileiro. Revista Brasileira de Cincias
Criminais, v. 9, n. 35, jul./set. 2001.
47
atribuies conferidas ao Ministrio Pblico e s Polcias Federal e Civil, no aos
juzes
136
.
III.5.4. A Fora Nacional de Segurana
A Fora Nacional de Segurana (FNS) foi criada pelo Decreto
5.289, de 29 de novembro de 2004. De acordo com o Decreto, trata-se de programa de
cooperao federativa, ao qual podero voluntariamente aderir os Estados
interessados (art. 1). Seu papel o de atuar em atividades de policiamento ostensivo
(art. 2), e seu emprego s pode ocorrer mediante solicitao expressa do respectivo
Governador de Estado ou do Distrito Federal (art. 4). O programa composto por
servidores que tenham recebido, do Ministrio da Justia, treinamento especial para
atuao conjunta, integrantes das polcias federais e dos rgos de segurana pblica
dos Estados (art. 4, 2). Cabe ao Ministrio da Justia coordenar o planejamento, o
preparo e a mobilizao da Fora Nacional de Segurana Pblica (art. 10, caput), o que
compreender, dentre outras atribuies, a de definir a estrutura de comando (art. 10, I).
O Decreto que criou a Fora Nacional de Segurana era de
constitucionalidade duvidosa. No prembulo do Decreto, sugere-se que sua funo seria
regulamentar a Lei n 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que institui o Fundo Nacional
de Segurana Pblica. Contudo, de fato, o Decreto, que ato administrativo, no
regulamenta a Lei n 10.201. Esta cria o Fundo Nacional de Segurana Pblica, com a
finalidade de apoiar projetos na rea de segurana pblica e de preveno violncia,
enquadrados nas diretrizes do plano de segurana pblica do Governo Federal (art. 1),
sem, todavia, autorizar o Governo Federal a criar a denominada Fora Nacional de
Segurana. Isso s veio a ocorrer com a edio da Medida Provisria n 345, de 14 de
janeiro de 2007, convertida na Lei n 11.473/2007, cujo artigo 2 determina que a
cooperao federativa em matria de segurana pblica compreende operaes
conjuntas, transferncias de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitao e
qualificao de profissionais, no mbito da Fora Nacional de Segurana Pblica.
136
STF, DJU 22 out. 2004, ADI n 1.570, Rel. Min. Maurcio Corra.
48
O federalismo brasileiro cooperativo
137
. Os entes da federao
devem cooperar entre si para a realizao das finalidades pblicas: compartilham a
obrigao ao entendimento
138
. A Unio tem o dever de cooperar com os estados para
auxili- los no alcance de suas metas tambm no campo da segurana pblica. Para isso,
adequada a criao da Fora Nacional de Segurana, a ser empregada no auxlio aos
governos estaduais, quando estes requisitarem, para a realizao de policiamento
ostensivo, em conjunto com a polcia estadual. A interpretao do art. 144 da
Constituio Federal como taxativo, que predomina no STF, no contribui para a
conformao desse tipo de arranjo cooperativo, e deve, pelo menos no tocante a este
ponto, ser superada. Corrigidos os vcios formais que caracterizaram seu ato de criao,
com a edio da Lei n 11.473/2007, a Fora Nacional de Segurana pode representar
uma importante inovao institucional cooperativa, que possui o mrito de reduzir a
presso autoritria pela mobilizao inconstitucional das Foras Armadas.
III.5.5. As guardas municipais e a participao dos municpios nas polticas de
segurana pblica
A Constituio, no art. 144, se refere aos municpios apenas para
lhes atribuir competncia para constiturem guardas municipais destinadas proteo
de seus bens, servios e instalaes. A Guarda Municipal tem a funo de guarda
patrimonial. No se trata de rgo policial. No atribuio das guardas municipais,
segundo a Constituio Federal, realizar nem investigao criminal nem policiamento
ostensivo. No foi por outra razo que o TJ-RJ julgou inconstitucional o Decreto n
20.883, de 17 de dezembro de 2001, do Municpio do Rio de Janeiro, que obrigava os
Bancos e centros comerciais de grande porte Shopping Centers, Supermercados e
Hipermercados a enviarem mensalmente ao Gabinete do Prefeito os dados das
ocorrncias de seqestros relmpagos, disponveis em funo das informaes ligadas
aos seus cartes de crdito e comerciais, sob motivao de cumprir a funo de defesa
do cidado atravs da presena ostensiva da Guarda Municipal nos locais de maior
incidncia. O Tribunal entendeu que o Decreto invade a parcela de segurana publica
137
Na literatura jurdica brasileira, cf.: BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e
Constituio. So Paulo: Max Limonad, 2003; BONAVIDES, Paulo. A Constituio aberta. 2 ed. So
Paulo: Malheiros, 1996. p. 433.
138
ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Lis boa: Fundao Caloustre Gulbenkian, 1997. p.
512.
49
deferida ao Estado (CF, art. 144, caput e 4, 5, 6, e 8 da Carta Magna) e incorre em
flagrante inconstitucionalidade frente Carta Magna Estadual
139
. Pelos mesmos
motivos, o TJ-RJ julgou inconstitucional ainda a delegao aos municpios do poder de
realizar o policiamento ostensivo das vias pblicas, multando os motoristas que
praticassem infraes de trnsito
140
.
Alm dessa prerrogativa de institurem guardas municipais, os
municpios podem atuar na segurana pblica atravs da imposio de restries
administrativas a direitos e liberdades. O municpio pode, por exemplo, delimitar o
horrio de funcionamento de bares e restaurantes, ou os locais da venda de bebidas
alcolicas. Tais restries, de carter administrativo, exercem importante funo na
segurana pblica, prevenindo a prtica de delitos. Na regio metropolitana de So
Paulo, mais de 20 municpios j editaram leis restringindo o horrio de funcionamento
de bares
141
. Em alguns casos, a reduo do nmero de homicdios chegou a 60%
(Diadema) e a de acidentes de trnsito a 70% (Barueri)
142
. Como se observa, esse tipo
de medida pode produzir efeitos bastante mais significativos que medidas de carter
penal ou policial, embora tambm produzam impactos econmicos e culturais que
devem ser considerados
143
.
139
TJ-RJ, j. 21 out. 2002, Representao n 2002.007.00022, Rel. Des. Laerson Mauro.
140
Cf. TJ-RJ, j. 5 ago. 2002, Representao n 2001.007.00070, Des. Gama Malcher: As atividades
prprias do Estado so indelegveis, pois s diretamente ele as pode exercer; dentre elas se inserem o
exerccio do poder de policia de segurana pblica e o controle do trnsito de veculos, sendo este
expressamente objeto de norma constitucional estadual que a atribui aos rgos da administrao direta
que compem o sistema de trnsito, dentre elas as Polcias Rodovirias (Federal e Estadual) e as Polcias
Militares Estaduais. No tendo os Municpios Poder de Polcia de Segurana Pblica, as Guardas
Municipais que criaram tem finalidade especfica guardar os prprios dos Municpios (prdios de seu
domnio, praas etc.) sendo inconstitucionais leis que lhes permitam exercer a atividade de segurana
pblica, mesmo sob a forma de Convnios.
141
Na regio metropolitana de So Paulo, at maro de 2006, leis restringindo o horrio de
funcionamento de bares foram editadas nos seguintes municpios: Barueri, Cotia, Diadema, Embu, Embu-
Guau, Francisco Morato, Ferraz de Vasconcelos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Mau,
Mogi das Cruzes, Osasco, Po, So Caetano do Sul, So Loureno da Serra, Suzano, Taboo da Serra,
Vargem Grande Paulista.
142
Para um inventrio dessas experincias, cf. KAHN, Tlio; ZANETIC, Andr. O papel dos municpios
na segurana pblica. In http://www.mj.gov.br.
143
Do mesmo modo, ao legislar sobre proteo do consumidor, suplementando a legislao federal e
estadual, o municpio competente, por exemplo, para estabelecer normas de garantia da segurana de
usurios de servios bancrios, o que tem direta repercusso no campo da segurana pblica. Cf. STF,
DJU 5 ago. 2005, AI-AgR n 347.717, Rel. Min. Celso de Mello: O Municpio pode editar legislao
prpria, com fundamento na autonomia constitucional que lhe inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo
de determinar, s instituies financeiras, que instalem, em suas agncias, em favor dos usurios dos
servios bancrios (clientes ou no), equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurana (tais como
portas eletrnicas e cmaras filmadoras).
50
A importncia dos municpios para a segurana pblica vem
crescendo progressivamente, sobretudo quando se entende que sua garantia demanda
no apenas aes policiais, mas tambm aes sociais e econmicas. Na verdade, a
anlise de dados empricos demonstra que a) no h como equacionar o grave
problema da segurana pblica, deixando de enfrentar a questo da excluso econmica
e social; e b) a mera alocao de recursos aos setores de segurana pblica sem que se
discuta a eficincia est fadada a replicar um modelo de polcia esgotado, com
desprezveis resultados para a paz social. A concluso extrada de pesquisa
econmica (IPEA) que avaliou dados dos estados do Rio de Janeiro e de So Paulo,
relativos s dcadas de 1980 e 1990
144
. De fato, os municpios brasileiros em que h
mais violncia so tambm os que se caracterizam por maior desigualdade e excluso
social
145
. Quando as prefeituras municipais atuam no campo econmico e social, no
sentido da reduo da desigualdade, esto contribuindo tambm para a reduo dos
ndices de violncia. Isso ocorre especialmente quando as polticas econmicas e sociais
de incluso consideram tambm o objetivo de prevenir a prtica de delitos e, para isso,
concentram-se nas reas de maior risco e beneficiam as parcelas mais sensveis da
populao, sobretudo sobre os jovens. Polticas de horrio integral nas escolas pblicas,
fomento ao primeiro emprego, preveno do uso de drogas, renda mnima, entre outras,
possuem um impacto muito significativo na segurana pblica, e tambm se inserem na
esfera de competncias da administrao municipal
146
.
III.5.6. A participao popular nas polticas de segurana pblica
144
CERQUEIRA Daniel; LOBO Waldir. Condicionantes sociais, poder de polcia e o setor de
produo criminal. Rio de Janeiro: IPEA, 2003.
145
No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, so os municpios da Baixada Fluminense: Duque de
Caxias, Nova Iguau, So Joo do Meriti, Belford Roxo. J as cidades com melhores indicadores sociais e
econmicos tambm costumam se caracterizar por baixos ndices de violncia. No Brasil, os melhores
ndices verificam-se, subseqentemente, em Maring (PA), Joinville (SC), Juiz de Fora (MG), Pelotas
(RS), Franca (SP), Petrpolis (RJ), Montes Claros (MG), So Jos do Rio Preto (SP), Bauru (SP) e
Uberlndia (MG).
146
Contemporaneamente, tem se consolidado o modelo de segurana pblica denominado nova
preveno, que se caracteriza justamente por polticas integradas, que envolvem medidas de
planejamento urbano, sade, educao, habitao e trabalho, deixando de privilegiar as instituies do
sistema de justia criminal. Alm disso, a nova preveno se caracteriza por priorizar tambm solues
locais. Cf. DIAS NETO, Theodomiro. Segurana urbana: o modelo da nova preveno. So Paulo:
FGV/RT, 2005.
51
A Constituio Federal, ao caracterizar a segurana pblica como
direito e responsabilidade de todos e ao positivar o princpio democrtico, estabelece
o fundamento jurdico dos arranjos institucionais que permitem a participao popular
na formulao e no controle da gesto das polticas de segurana. o que ocorre, por
exemplo, nas experincias de policiamento comunitrio ou, ainda, na dos conselhos de
segurana pblica. Tais experincias, particulares ao campo da segurana pblica, se
inserem no contexto atual de ampliao dos espaos de participao popular, no sentido
da superao dos limites da democracia meramente representativa.
O policiamento comunitrio pressupe um relacionamento
cooperativo entre a polcia e a comunidade, atravs da interao continuada entre
policiais e cidados, para compartilhar informaes e para apresentar demandas e
possibilidades de trabalho conjunto. Ao invs do uso indiscriminado da fora,
privilegia-se a mediao de conflitos e a preveno da ocorrncia de delitos
147
. O
policial se converte em referncia para a comunidade, participa das reunies de seus
rgos representativos, reivindicando providncias, mas tambm prestando contas.
Quatro inovaes costumam ser apresentadas como essenciais para o policiamento
comunitrio: (a) organizar o policiamento tendo como base a comunidade; (b) enfatizar
os servios no emergenciais e mobilizar a comunidade para participar da preveno ao
crime; (c) descentralizar o comando da polcia; (d) instituir a participao de cidados
no planejamento e no monitoramento das atividades policiais
148
. Como se observa,
trata-se de modelo de organizao da atividade policial comprometido com os
propsitos de democratizao de que a Constituio Federal de 1988 est amplamente
impregnada. Por essa razo, inexistem bices jurdicos sua implantao. As
dificuldades que se tm apresentado relacionam-se estrutura centralizada das polcias,
147
Cf.: CERQUEIRA, Carlos M. N. A polcia comunitria: uma nova viso de poltica de segurana
pblica. Discursos Sediciosos, n. 4, 1997; MACAULAY, Fiona. Parcerias entre estado e sociedade civil
para promover a segurana do cidado no Brasil. Sur: Revista Internacional de Direitos Humanos, ano 2,
n. 2, 2005. p. 159; TROJANOWICZ, Robert; BUCQUEROUX, Bonnie. Policiamento comunitrio: como
comear? Rio de Janeiro: PMERJ, 1994; SKOLNICK, J.H.; BAYLEY, D.H. Policiamento comunitrio.
So Paulo: EDUSP, 2002; KANH, Tulio. Velha e nova polcia: polcia e polticas de segurana pblica no
Brasil atual. So Paulo: Editoria Sicurezza, 2002.
148
BAYLEY, D. H.; SKOLNICK, J. H. Nova Polcia: inovaes nas polcias de seis cidades norte-
americanas. Trad. Geraldo Gerson de Souza. So Paulo: EDUSP, 2001. p. 233-236.
52
tpica das organizaes militares, e separao entre a atividade de preveno e de
investigao de delitos, provocada pela diviso entre policia civil e militar
149
.
Outra experincia que se orienta no sentido da democratizao
das polticas de segurana a instituio de conselhos de segurana pblica. Apenas a
Cidade de So Paulo possui mais de 80 conselhos. Dentre as suas tarefas, est a de
constituir-se no canal privilegiado pelo qual a Secretaria da Segurana Pblica
auscultar a sociedade, contribuindo para que a Polcia Estadual opere em funo do
cidado e da comunidade
150
. Os conselhos no podem interferir, de modo cogente, na
atuao dos rgos estatais: operam apenas como fruns de debate e controle
deliberativo da gesto governamental. Os conselhos buscam elaborar solues
comunitrias para os problemas da segurana, o que pode levar no apenas maior
democratizao do setor, mas tambm ao aumento da eficincia da gesto pblica, que
passa a se dar considerando as demandas e informaes que advm da comunidade.
Apesar da pouca participao popular efetiva que ainda caracteriza esse tipo de frum
deliberativo, em diversos locais, em que conselhos esto em funcionamento, j se
observa razovel aprimoramento da eficincia da atuao policial, com a queda do
nmero de delitos
151
.
Em algumas experincias, procurou-se conferir poder decisrio s
comunidades locais, e no apenas funes de deliberao e consulta. A Constituio do
Estado do Rio de Janeiro (art.183, 4, b e c)
152
previa que a nomeao dos delegados
de polcia dependeria de aprovao da populao municipal, e que sua destituio
149
Para a avaliao de algumas experincias j implementadas, cf. MUSUMECI, Leonarda. Segurana
pblica e cidadania: a experincia de policiamento comunitrio de Copacabana. Rio de Janeiro: ISER,
1996; MESQUITA NETO, Paulo. Policiamento comunitrio e preveno do crime: a viso dos coronis
da Polcia Militar. So Paulo em Perspectiva, vol. 18, n. 1, 2004.
150
Regula mento dos Conselhos Comunitrios de Segurana, art. 4, I e II. Cf. tambm o Decreto n
23.455, de 10 de maio de 1985.
151
Macaulay reporta a queda de 47,7% na cidade de Lages, em Santa Catarina, aps a instalao dos
Conselhos. Contudo, o mesmo estudo aponta ainda a pouca representatividade dos Conselhos no contexto
presente (MACAULAY, Fiona. Parcerias entre estado e sociedade civil..., cit., p. 156).
152
O texto da Constituio Estadual dispunha o seguinte: Nas jurisdies policiais com sede nos
Municpios, o delegado de polcia ser escolhido entre os delegados de carreira, por voto unitrio
residencial, por perodo de dois anos, podendo ser reconduzido, dentre os componentes de lista trplice
apresentada pelo Superintendente da Polcia Civil: a) o delegado de polcia residir na jurisdio policial
da delegacia da qual for titular; b) a autoridade policial ser destituda, por fora de deciso de maioria
simples do Conselho Comunitrio da Defesa Social do Municpio onde atuar; c) o voto unitrio
residencial ser representado pelo comprovante de pagamento de imposto predial ou territorial.
53
ocorreria por deciso do Conselho Comunitrio de Defesa Social do municpio. O STF,
no entanto, tem sido restritivo quanto a essa possibilidade: declarou o preceito da
Constituio Estadual invlido. A Corte entendeu que a Constituio Federal, no 6 do
art. 144, submete as polcias estaduais, civil e militar, aos governadores dos estados,
razo pela qual apenas a eles caberia dispor sobre a nomeao e a exonerao de
delegados
153
. Apesar de a Constituio de 1988 ter ampliado a autonomia dos entes
federados, orientando-se pelo objetivo de promover a descentralizao das
competncias federativas, a jurisprudncia brasileira tem sido pouco afeita a inovaes
institucionais nos planos regional e local de governo, e isso se manifesta tambm no
domnio da segurana pblica
154
.
IV. Concluso
As maiores ameaas democracia e ao estado de direito no Brasil
de hoje advm das polticas de segurana pblica, que tm assumido uma orientao
predominantemente autoritria. A poltica de combate; a criao de inimigos
pblicos; a criminalizao do negro e do pobre; o apelo ao emprego das Foras
Armadas: nesse tipo de retrica que germinam os elementos irracionais do ambiente
153
STF, DJU 31 out. 2002, ADI n 244, Rel. Min. Seplveda Pertence: A Constituio no abriu
ensanchas, contudo, interferncia popular na gesto da segurana pblica: ao contrrio, primou o texto
fundamental por sublinhar que os seus organismos as polcias e corpos de bombeiros militares, assim
como as polcias civis, subordinam-se aos Governadores. Por outro lado, havia um elemento nesse
preceito constitucional estadual que efetivamente merecia reprovao sob o prisma democrtico. Tratava-
se do voto unitrio residencial, deferido apenas para os contribuintes de IPTU. O voto unitrio residencial
no compatvel com o princpio democrtico, por tender a concentrar a deciso no chefe da famlia. A
restrio do corpo eleitoral aos contribuintes de IPTU tendia a excluir justamente aqueles que, em regra,
so vtimas de arbitrariedade policial: os moradores de reas no formalizadas. Foi tambm o que
entendeu o STF: dado o seu carter censitrio, a questionada eleio da autoridade policial s
aparentemente democrtica: a reduo do corpo eleitoral aos contribuintes do IPTU proprietrios ou
locatrios formais de imveis regulares dele tenderia a subtrair precisamente os sujeitos passivos da
endmica violncia policial urbana, a populao das reas perifricas das grandes cidades, nascidas, na
normalidade dos casos, dos loteamentos clandestinos ainda no alcanados pelo cadastramento
imobilirio municipal.
154
Em parte, a orientao se justifica. De fato, h o risco de que arranjos institucionais desprovidos de
razoabilidade sejam praticados em estados e, sobretudo, em municpios. No entanto, a jurisprudncia
constitucional foi mais longe do que deveria em sua prudncia quanto organizao federativa, e deve
abrir mais espao para a experimentao democrtica. As inovaes institucionais devem ser
experimentadas, preferivelmente nos planos locais, para que depois possam ser estendidas ao restante da
Federao. A atribuio de poder decisrio efetivo aos rgos em que h participao direta da
populao, por exemplo, pode contribuir para a construo de alternativas viveis ao esgotamento que
acomete vrias instituies representativas. Aps terem sido testadas no nvel local, tais alternativas
podem ser reproduzidas em outras cidades e, eventualmente, contribuir para a formulao de um modelo
de segurana pblica mais capaz de responder s demandas do Pas.
54
cultural adequado emergncia do autoritarismo. No h dvidas de que parte
considervel da populao brasileira objeto de prticas autoritrias. No h dvida
tampouco de que, em parcela do territrio, no vigora o estado democrtico de direito.
A imprensa, quando flerta com esse imaginrio, no est seno fomentando as bases
culturais que pem em cheque a estabilidade das instituies democrticas. O Judicirio
e o Ministrio Pblico, quando se omitem no controle das polticas de segurana, ou
decidem em desconformidade com a lei e o direito, no cumprem um dos principais
papis que a Constituio de 1988 lhes incumbiu: a defesa das instituies
democrticas. Romper com a ilegalidade normal das polticas de segurana figura ainda
como um objetivo fundamental a ser perseguido pelo Estado brasileiro, como etapa
indispensvel de nosso processo civilizatrio e como condio de possibilidade do
progresso social.
55
Referncias bibliogrficas
ABADE, Denise Neves. A consagrao do sistema acusatrio com o afastamento do
juiz do inqurito policial. Boletim IBCCrim, n. 55, 1997.
ACKERMAN, Bruce. The Emergency Constitution. Yale Law Journal, n. 5, 2004.
PPIO, E.. Controle judicial das polticas pblicas no Brasil. Curitiba: Juru, 2005.
ARAGO, Alexandre Santos de. A dimenso e o papel dos servios pblicos no Estado
contemporneo. (Tese de Doutorado em Direito). So Paulo: USP, 2005.
_____. Legalidade e regulamentos administrativos no Direito Contemporneo (uma
anlise doutrinaria e jurisprudencial). Revista Forense, n. 368, 2003.
VILA, Ana Paula Oliveira. O princpio da impessoalidade da Administrao pblica:
para uma Administrao imparcial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antnio. Curso de direito administrativo. So Paulo:
Malheiros, 2002.
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficcia jurdica dos princpios constitucionais: o
princpio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
_____. Constitucionalizao das polticas pblicas em matria de direitos fundamentais:
o controle poltico-social e o controle jurdico no espao democrtico. Revista de
Direito do Estado, n. 3, 2006.
BARROSO, Lus Roberto. Foras Armadas e aes de segurana pblica:
possibilidades e limites luz da Constituio, Revista de Direito do Estado, n. 7, 2007.
_____. Investigao pelo Ministrio Pblico. Argumentos contrrios e a favor. A sntese
possvel e necessria. Revista Forense, n. 373, p. 195-203, 2004.
_____. Neoconstitucionalismo e constitucionalizao do direito (o triunfo tardio do
direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, vol. 240, 2005.
BARROSO, Lus Roberto e BARCELLOS, Ana Paula de. O comeo da histria. A
nova interpretao constitucional e o papel dos princpios no Direito brasileiro. In:
BARROSO, Lus Roberto (org.). A nova interpretao constitucional: ponderao,
direitos fundamentais e relaes privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
BATISTA, Vera Malaguti. Intolerncia dez, ou a propaganda a alma do negcio.
Discursos Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade, n. 4, 1997.
BAYLEY, D. H. e SKOLNICK, J. H. Nova Polcia: inovaes nas polcias de seis
cidades norte-americanas. Trad. Geraldo Gerson de Souza. So Paulo: EDUSP, 2001.
BELLI, Benoni. Tolerncia zero e democracia no Brasil: vises da segurana pblica
na dcada de 90. So Paulo: Perspectiva, 2004.
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de histria (Tese 8). In: Obras escolhidas, v. 1.
So Paulo: Brasiliense, 1994.
BERCOVICI, Gilberto. Constituio e estado de exceo permanente: atualidade de
Weimar. So Paulo: Azougue, 2004.
_____. Desigualdades regionais, Estado e Constituio. So Paulo: Max Limonad,
2003.
56
_____. Soberania e constituio: poder constituinte, estado de exceo e os limites da
teoria constitucional (Tese de titularidade). So Paulo: USP (Faculdade de Direito),
2005.
BICUDO, Helio. A unificao das polcias no Brasil. Estudos Avanados, n. 40, 2000.
BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar,
2006.
BONAVIDES, Paulo. A Constituio aberta. 2 ed. So Paulo: Malheiros, 1996.
BUCCI, M. P. D.. Direito administrativo e polticas pblicas. So Paulo: Saraiva, 2002.
CABETTE, Eduardo Luiz Santos. O papel do inqurito policial no sistema acusatrio.
O modelo brasileiro. Revista Brasileira de Cincias Criminais, n. 35, 2001.
CAMPOS, Francisco. A poltica e o nosso tempo. In: CAMPOS, Francisco. O estado
nacional. Braslia: Senado Federal, 2001.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Metodologa fuzzy y camaleones normativos en la
problemtica actual de los derechos econmicos, sociales y culturales. Derechos y
libertades Revista del Instituto Bartolom de las Casas, n. 6, 1998.
CARVALHO, Salo de. Execuo Penal e Sistema acusatrio: leitura desde o paradigma
do garantismo jurdico-penal. In: BONATO, Gilson (org.). Direito Penal e Processual
Penal: uma viso garantista. Rio de Janeiro: Lmen Juris, 2001.
CASTRO, Guilherme Couto e. A responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro: o
papel da culpa em seu contexto. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
CERQUEIRA Daniel e LOBO Waldir. Condicionantes sociais, poder de polcia e o
setor de produo criminal. Rio de Janeiro: IPEA, 2003.
CERQUEIRA, Carlos M. N. A polcia comunitria: uma nova viso de poltica de
segurana pblica. Discursos Sediciosos, n. 4, 1997.
_____. Remilitarizao da segurana pblica: a operao Rio. Discursos Sediciosos:
Crime, Direito e Sociedade, n. 1, 1996.
_____. Polticas de segurana pblica para um Es tado de direito democrtico chamado
Brasil. In: CERQUEIRA, Carlos M. N. O futuro de uma iluso: o sonho de uma nova
polcia. Freitas Bastos, 2001.
CLAUSEWITZ, Carl von. Da Guerra. So Paulo: Martins Fontes, 1996.
CLVE, Clmerson Merlin. O Ministrio Pblico e a investigao criminal. Disponvel
em: http://www.unibrasil.com.br/revista_on_line/artigo%2012.pdf.
COMPARATO, Fbio Konder. Ensaio sobre o juzo de constitucionalidade de polticas
pblicas. In: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antnio (org.). Estudos em homenagem a
Geraldo Ataliba: direito administrativo e constitucional. So Paulo: Malheiros Editores,
1997.
CONTREIRAS, Hlio. Militares: confisses. Histrias secretas do Brasil. Rio de
Janeiro: Mauad, 1998.
COSTA, Paula Bajer Fernandes Martins da. Sobre a posio da polcia judiciria na
estrutura do direito processual penal brasileiro da atualidade. Revista Brasileira de
Cincias Criminais, n. 26, 1999.
57
DALLARI, Adilson de Abreu. Competncia constitucional da Polcia Rodoviria
Federal. Revista de Informao Legislativa, n. 135, 1997.
DIAS NETO, Theodomiro. Segurana urbana: o modelo da nova preveno. So
Paulo: FGV/RT, 2005.
DORNELLES, Joo Ricardo Wanderley. Violncia urbana, direitos da cidadania e
polticas de segurana no contexto de consolidao das instituies democrticas e das
reformas econmicas neoliberais. Discursos Sediciosos, n. 4, 1997.
DUGUIT, Lon. Trait de Droit Constitutionnel. Pars: Ancienne Librairie Fontemoing,
1928.
FARIAS, Jos Fernando Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro:
Renovar, 1998.
_____. A teoria do estado no fim do Sculo XIX e no incio do Sculo XX: os
enunciados de Lon Duguit e de Maurice Hauriou. Rio de Janeiro: Lmen Juris, 1999.
FAVOREU, Louis. La constitutionnalisation du droit. In: L'unit du droit: Mlanges en
homage Roland Drago. Paris: Economica, 1996.
FOLLIS, Luca. Laboratory of war: Abu Ghraib, the human intelligence network and the
Global War on Terror. Constellations, n. 4, dez., 2007
FRAGOSO, Jos Carlos. So ilegais os procedimentos investigatrios realizados pelo
Ministrio Pblico Federal. Revista Brasileira de Cincias Criminais, n. 37, 2002.
GENOFRE, Roberto Maurcio. O papel do juiz criminal na investigao policial. Juzes
para a Democracia, n. 23, 2001.
GOUVA, Marcos Maselli. O controle judicial das omisses administrativas. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2003.
GRAU, Eros Roberto. A ordem econmica na Constituio de 1988. 11.ed. So Paulo:
Malheiros, 2006
GRINOVER, Ada Pellegrini. Investigaes pelo Ministrio Pblico. Boletim IBCCrim,
n. 145, 2004.
HAGEN, Accia Maduro. As classificaes do trabalho policial. Revista de Estudos
Criminais, n. 22, 2006.
HELLER, Hermann. Dmocratie politique et homognit sociale. Revue Cits, n. 6,
2001.
JACKOBS, Gnther e CANCIO MELI, Manuel. Derecho penal del enemigo. Madri:
Civitas, 2003.
KAHN, Tlio e ZANETIC, Andr. O papel dos municpios na segurana pblica.
Disponvel em: http://www.mj.gov.br.
KANH, Tulio. Velha e nova polcia: polcia e polticas de segurana pblica no Brasil
atual. So Paulo: Editoria Sicurezza, 2002.
LIMA, Walberto Fernandes de. Consideraes sobre a criao do 2 do art. 82 do
Cdigo de Processo Penal Militar e seus reflexos na justia penal comum (Lei n
9.299/96). Revista Brasileira de Cincias Criminais, n. 20, 1997.
58
MACAULAY, Fiona. Parcerias entre estado e sociedade civil para promover a
segurana do cidado no Brasil. Sur: Revista Internacional de Direitos Humanos, n. 2,
2005.
MENDONA, Jos Vicente S. de. A vedao do retrocesso: o que e como perder o
medo. Revista de Direito da Associao dos Procuradores do Novo Estado do Rio de
Janeiro, v. XII, 2003.
MESQUITA NETO, Paulo. Policiamento comunitrio e preveno do crime: a viso
dos coronis da Polcia Militar. So Paulo em Perspectiva, n. 1, 2004.
_____. Violncia policial no Brasil: abordagens tericas e prticas de controle. In:
PANDOLFI, Dulce et al. (orgs.). Cidadania, justia e violncia. Rio de Janeiro:
Fundao Getulio Vargas, 1999.
MORAES, Humberto Pena de. Mecanismos de defesa do Estado e das instituies
democrticas no sistema constitucional de 1988. Estado de defesa e estado de stio.
Revista EMERJ, n. 23, 2003.
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 10 ed. Rio
de Janeiro: Forense, 1992.
MORETZSOHN, Sylvia. Imprensa e criminologia: o papel do jornalismo nas polticas
de excluso social. Covilh: Universidade da Beira Interior, 2003.
MLLER, Friedrich. Que grau de excluso social ainda pode ser tolerado por um
sistema democrtico? Revista da Procuradoria-Geral do Municpio de Porto Alegre,
ed. especial, outubro de 2000.
MUNIZ, Jacqueline. A crise de identidade das polcias militares brasileiras: dilemas e
paradoxos da formao educacional. Security and Defense Studies Review, v. 1, 2001.
MUNIZ, Jacqueline e PROENCA JUNIOR, Domnio. Os rumos da construo da
polcia democrtica. Boletim IBCCrim, n. 164, 2006.
MUSUMECI, Leonarda. Segurana pblica e cidadania: a experincia de policiamento
comunitrio de Copacabana. Rio de Janeiro: ISER, 1996.
PIRES, Thiago Magalhes. Federalismo e democracia: parmetros para a definio das
competncias federativas. Revista Direito Pblico, n. 14, out./dez., 2006.
PRADO, Geraldo e CASARA, Rubens R. R.. Posio do MMFD sobre a
impossibilidade de investigao direta pelo Ministrio Pblico ante a normatividade
constitucional. Boletim IBCCrim, n. 141, ago. 2004.
PRADO, Geraldo. Sistema acusatrio: a conformidade constitucional das leis
processuais penais. Rio de Janeiro: Lmen Juris, 1999.
QUITO, Carina e MALAN, Diogo Rudge. Resoluo CJF n. 507/06 e direitos
fundamentais do investigado. Boletim IBCCrim, n. 165, 2006.
RANGEL, Paulo. Investigao criminal direta pelo Ministrio Pblico. Rio de Janeiro:
Lmen Juris, 2005.
SANFORD, Levinson. Preserving constitutional norms in times of permanent
emergencies. Constellations, n. 1, 2006.
SANTIN, Valter Foleto. Controle judicial da segurana pblica: eficincia do servio
na preveno e represso ao crime. So Paulo: RT, 2004.
59
SAPORI, Lus Flvio. Os desafios da polcia brasileira na implementao da ordem
sob a lei. In: RATTON, Jos Luiz; BARROS, Marcelo (coords.). Polcia, democracia e
sociedade. Rio de Janeiro: Lmen Juris, 2007.
SARLET, Ingo W. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2002.
_____. Direitos fundamentais sociais e proibio do retrocesso: algumas notas sobre o
desafio da sobrevivncia dos direitos sociais num contexto de crise. Revista do Instituto
de Hermenutica Jurdica, n. 2, 2004.
_____. Algumas notas em torno da relao entre o princpio da dignidade da pessoa
humana e os direitos fundamentais na ordem jurdica constitucional brasileira. In:
LEITE, George Salomo (org.). Dos princpios constitucionais: consideraes em torno
das normas principiolgicas da Constituio. So Paulo: Malheiros, 2003.
SARMENTO, Daniel. Interesses pblicos vs. interesses privados na perspectiva da
teoria e da filosofia constitucional. In: SARMENTO, Daniel (org.). Interesses pblicos
versus interesses privados: desconstruindo o princpio da supremacia do interesse
pblico. Rio de Janeiro: Lmen Juris, 2005.
SCHMITT, Carl. O conceito do poltico. Trad. lvaro L. M. Valls. Petrpolis: Vozes,
1992.
_____. Political theology: four chapters on the concept of sovereignty. Cambridge,
Mass.; London: The MIT Press, 1988.
_____. Teora de la constitucin. Madrid: Alianza, 1996.
SCHULTE, Bernd. Direitos fundamentais, segurana social e proibio do retrocesso.
In: SARLET, Ingo W. (org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito
constitucional, internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
SILVA, Jorge da. Segurana pblica e polcia: criminologia crtica aplicada. Rio de
Janeiro: Forense, 2003.
SILVA, Jos Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19 ed. So Paulo:
Malheiros, 2001.
_____. Em face da Constituio Federal de 1988, o Ministrio Pblico pode realizar
e/ou presidir investigao criminal, diretamente?. Revista Brasileira de Cincias
Criminais, n. 49, 2004.
SILVA, Leila Maria Bittencourt da. A defesa do Estado e a ordem pblica. Revista
Forense, n. 379, 2005.
SILVA, Virglio Afonso da. Interpretao constitucional e sincretismo metodolgico.
In: SILVA, Virglio Afonso da (org.). Interpretao constitucional. So Paulo:
Malheiros, 2005.
SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto. A Constituio aberta e os direitos
fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
SKOLNICK, J. H. e BAYLEY, D. H. Policiamento comunitrio. So Paulo: EDUSP,
2002.
SOARES, Lus Eduardo. Legalidade libertria. Rio de Janeiro: Lmen Juris, 2006.
SOUZA NETO, Cludio Pereira de. A interpretao constitucional contempornea entre
o construtivismo e o pragmatismo. In: MAIA, Antnio Cavalcanti; MELO, Carolina de
60
Campos; CITTADINO, Gisele e POGREBINSCHI, Thamy (orgs.). Perspectivas atuais
da filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
_____. Teoria constitucional e democracia deliberativa. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
SOUZA NETO, Cludio Pereira de e MENDONA, Jos Vicente Santos de.
Fundamentalizao e fundamentalismo na interpretao do princpio constitucional da
livre iniciativa. In: SOUZA NETO, Cludio Pereira de e SARMENTO, Daniel (orgs.).
A constitucionalizao do direito: fundamentos tericos e aplicaes especficas. Rio
de Janeiro: Lmen Juris, 2006.
SOUZA, Jess. A construo social da subcidadania: para uma sociologia poltica da
modernidade perifrica. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
SOUZA, Luis Antonio Francisco de. Polcia, Direito e poder de policia. A polcia
brasileira entre a ordem pblica e a lei. Revista Brasileira de Cincias Criminais, n. 43,
abr./jun. 2003.
STRUCHINER, Noel. Para falar de regras: o positivismo conceitual como cenrio
para uma investigao filosfica acerca dos casos difceis do direito (Tese de
Doutorado). Rio de Janeiro: PUC-Rio, Departamento de Filosofia, 2005.
SULOCKI, Vitria Amlia de B. C. G.. Segurana pblica e democracia: aspectos
constitucionais das polticas pblicas de segurana. Rio de Janeiro: Lmen Jris, 2007.
TONIAI, Cleber Augusto. Investigaes judiciais no Direito da Infncia e da Juventude.
Da exceo ao desastre. AJURIS, n. 88, dez. 2002.
TORNAGHI, Hlio. Instituies de Processo Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1959.
TORON, Alberto Zacharias e RIBEIRO, Maurides de Melo. Quem tem medo da
publicidade no inqurito? Boletim IBCCrim, n. 84, 1999.
TORRES, Ricardo Lobo. O mnimo existencial, os direitos sociais e a reserva do
possvel. In: NUNES, Antnio Jos Avels; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda
(orgs.). Dilogos constitucionais: Brasil-Portugal. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
TROJANOWICZ, Robert e BUCQUEROUX, Bonnie. Policiamento comunitrio: como
comear? Rio de Janeiro: PMERJ, 1994.
TUCCI, Rogrio Lauria. Consideraes e sugestes acerca de anteprojeto de lei
referente instituio de Juizado de Instruo. Revista dos Tribunais, n. 817, 2003.
VIANO, Emilio. Medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios: poltica
criminal tras el 11.09.2001. Revista Brasileira de Cincias Criminais, n. 52, 2005.
VIEIRA, Luis Guilherme. O Ministrio Pblico e a investigao criminal. Revista de
Estudos Criminais, n. 15, 2004.
WACQUANT, Loc. A ascenso do Estado penal nos EUA. Discursos Sediciosos:
Crime, Direito e Sociedade, n. 11, 2002.
_____. A globalizao da tolerncia zero. Discursos Sediciosos: Crime, Direito e
Sociedade, n. 9 e 10, 2000.
ZAFFARONI, Eugenio Ral. O inimigo no direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007.
ZAVERUCHA, Jorge. FHC, Foras Armadas e polcia: entre o autoritarismo e a
democracia (1999-2002). Rio de Janeiro: Record, 2005.
61
ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria geral do estado. Lisboa: Fundao Caloustre
Gulbenkian, 1997.
Você também pode gostar
- Diretriz Geral de Ensino - Pmba 2022Documento121 páginasDiretriz Geral de Ensino - Pmba 2022Walter GuanaesAinda não há avaliações
- Manual Ford Fiesta StreetDocumento143 páginasManual Ford Fiesta StreetFranchy Rech90% (10)
- 020 o Imperio Do Direito Ronald Dworkin PDFDocumento32 páginas020 o Imperio Do Direito Ronald Dworkin PDFCarolina Zimmer0% (1)
- Manual Animais em Condominios-171046Documento31 páginasManual Animais em Condominios-171046Jessica De Carvalho M. Pinheiro100% (1)
- PONCIONI, Paula. A Feijoada Negociação e Violencia Nas Praticas Policiais de Mediação de ConflitosDocumento28 páginasPONCIONI, Paula. A Feijoada Negociação e Violencia Nas Praticas Policiais de Mediação de ConflitosleonardoAinda não há avaliações
- Dec 4241 86Documento6 páginasDec 4241 86cleybismarAinda não há avaliações
- Ferdinand La Salle - O Que É Uma ConstituiçãoDocumento16 páginasFerdinand La Salle - O Que É Uma ConstituiçãoLuis FelipeAinda não há avaliações
- Apostila - Sistema de Segurança Pública No BrasilDocumento25 páginasApostila - Sistema de Segurança Pública No BrasilBenôni Cavalcanti86% (7)
- Patrulha Maria Da Penha-NatalDocumento2 páginasPatrulha Maria Da Penha-Natalgeraldoj22Ainda não há avaliações
- Manual de Policia Judiciaria Teoria e PraticaDocumento2 páginasManual de Policia Judiciaria Teoria e Praticaheltomar0% (2)
- CICLO COMPLETO DE POLÍCIA - Projeto em 10 LaudasDocumento12 páginasCICLO COMPLETO DE POLÍCIA - Projeto em 10 Laudasvictor veloso almeidaAinda não há avaliações
- 13 - Processos Administrativos Da PM PDFDocumento48 páginas13 - Processos Administrativos Da PM PDFWellington LimaAinda não há avaliações
- FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática Do Direito.Documento234 páginasFREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática Do Direito.VictorCarvalho100% (2)
- A atuação das forças armadas na política pública de segurança no estado do Rio de JaneiroNo EverandA atuação das forças armadas na política pública de segurança no estado do Rio de JaneiroAinda não há avaliações
- A Policia Militar Na Seguranca Publica Do Estado DDocumento16 páginasA Policia Militar Na Seguranca Publica Do Estado DproffernandogamaAinda não há avaliações
- Ciências policiais e tecnologias inovadoras na segurança cidadãNo EverandCiências policiais e tecnologias inovadoras na segurança cidadãAinda não há avaliações
- POLÍTICA PÚBLICA SEGURANÇA PÚBLICA: Um olhar sobre as instituiçõesNo EverandPOLÍTICA PÚBLICA SEGURANÇA PÚBLICA: Um olhar sobre as instituiçõesAinda não há avaliações
- O Emprego das Forças Armadas em Situações de Conflitos Internos Graves: uma análise das Regras de Engajamento e a compatibilidade com os Direitos FundamentaisNo EverandO Emprego das Forças Armadas em Situações de Conflitos Internos Graves: uma análise das Regras de Engajamento e a compatibilidade com os Direitos FundamentaisAinda não há avaliações
- O Ministério Público e a Segurança Pública: a atividade de inteligência e a nova Política Nacional como estratégias de aprimoramento funcionalNo EverandO Ministério Público e a Segurança Pública: a atividade de inteligência e a nova Política Nacional como estratégias de aprimoramento funcionalAinda não há avaliações
- Acumulação de cargo público por militar estadual da ativa: possibilidades, vedações e as consequências jurídicas em caso de acumulação ilícitaNo EverandAcumulação de cargo público por militar estadual da ativa: possibilidades, vedações e as consequências jurídicas em caso de acumulação ilícitaAinda não há avaliações
- Olhares Sobre A Polícia MilitarNo EverandOlhares Sobre A Polícia MilitarAinda não há avaliações
- Apostila - Seguranca PublicaDocumento41 páginasApostila - Seguranca PublicaAledson MartinsAinda não há avaliações
- Crimes MilitaresDocumento40 páginasCrimes MilitaresJoão RenanAinda não há avaliações
- Políticas Pública de Segurança PúblicaDocumento65 páginasPolíticas Pública de Segurança PúblicaJoel RodriguesAinda não há avaliações
- Fundamentos Jurídicos Da Atividade Policial Silva Junior A.L. São Paulo Suprema Cultura 2009 PDFDocumento176 páginasFundamentos Jurídicos Da Atividade Policial Silva Junior A.L. São Paulo Suprema Cultura 2009 PDFFrancisco de Assis Silva CamposAinda não há avaliações
- Policialização Da PM Do Rs PDFDocumento648 páginasPolicialização Da PM Do Rs PDFIgor MarquezAinda não há avaliações
- Direitos Humanos - Senasp-PronasciDocumento39 páginasDireitos Humanos - Senasp-PronascirfernandessilvaAinda não há avaliações
- Segurança Pública e CriminologiaDocumento105 páginasSegurança Pública e CriminologiaMardison Gomes100% (1)
- Crime Militar, Transgressão Disciplinar e A Dupla Incidência PDFDocumento11 páginasCrime Militar, Transgressão Disciplinar e A Dupla Incidência PDFEDURONINAinda não há avaliações
- Diretrizes Guardas CivisDocumento6 páginasDiretrizes Guardas CivisEliezer AugustoAinda não há avaliações
- O Crime de Abuso de Autoridade Cometido Por Policiais MilitaresDocumento52 páginasO Crime de Abuso de Autoridade Cometido Por Policiais MilitaresProfessoraPaulaMunhozAinda não há avaliações
- Direito Processual Penal MilitarDocumento25 páginasDireito Processual Penal MilitarCharlesCampelo100% (2)
- Cartilha Segurança Pública - AtualizadaDocumento59 páginasCartilha Segurança Pública - AtualizadaMisael SousaAinda não há avaliações
- Abordagem Policial e A Fundada SuspeitaDocumento54 páginasAbordagem Policial e A Fundada SuspeitaARAUJOCAVEIRA17Ainda não há avaliações
- Crimes Militares 22Documento22 páginasCrimes Militares 22LUCAS LOEAinda não há avaliações
- Módulo de Teoria Geral de Segurança Pública - CFSD - 2015 - AtualizadoDocumento33 páginasMódulo de Teoria Geral de Segurança Pública - CFSD - 2015 - AtualizadoLuis CarlosAinda não há avaliações
- IED - Aula 1 - EMENTA DE INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITODocumento3 páginasIED - Aula 1 - EMENTA DE INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITOmaxmyllerlimaAinda não há avaliações
- PoliciamentoOrientadoProblema CompletoDocumento0 páginaPoliciamentoOrientadoProblema Completodavisson8henriqueAinda não há avaliações
- Apostila de Polícia Comunitária - CAS 2019Documento46 páginasApostila de Polícia Comunitária - CAS 2019Janildo Da Silva Arantes Arantes0% (1)
- Cartilha SENASP Atuação Policial Grupos Vulneráveis PDFDocumento128 páginasCartilha SENASP Atuação Policial Grupos Vulneráveis PDFGleidison CarvalhoAinda não há avaliações
- A Demanda Reprimida De Inquéritos PoliciaisNo EverandA Demanda Reprimida De Inquéritos PoliciaisAinda não há avaliações
- Polícia Civil e Guarda Civil Municipal: Sugestão Integrada de Segurança PúblicaNo EverandPolícia Civil e Guarda Civil Municipal: Sugestão Integrada de Segurança PúblicaAinda não há avaliações
- Caderno Polícia e EscolaDocumento84 páginasCaderno Polícia e EscolavilladoloresAinda não há avaliações
- Lei Complementar 87 - 2008Documento37 páginasLei Complementar 87 - 2008Hélio Vieira50% (2)
- Multipl I Cador Pol Com Unit AriaDocumento510 páginasMultipl I Cador Pol Com Unit AriaLuiz Miguel NunesAinda não há avaliações
- Teoria Do Crime 28Documento27 páginasTeoria Do Crime 28LUCAS LOEAinda não há avaliações
- Projeto Básico e Plano de Trabalho GGIM - MODELO VITÓRIADocumento41 páginasProjeto Básico e Plano de Trabalho GGIM - MODELO VITÓRIADavid Sveci100% (1)
- Direitos PoliticosDocumento102 páginasDireitos PoliticosFrancisco LeonAinda não há avaliações
- Política CriminalDocumento53 páginasPolítica CriminalDouglas LimaAinda não há avaliações
- Lei Complementar #114 05 Lei Orgânica Da Policia Civil MsDocumento102 páginasLei Complementar #114 05 Lei Orgânica Da Policia Civil MsRithely GuimarãesAinda não há avaliações
- Policia Militar Do Estado Do Rio de Janeiro Da Escola de Formacao A Pratica PolicialDocumento112 páginasPolicia Militar Do Estado Do Rio de Janeiro Da Escola de Formacao A Pratica PolicialEduardo TitaoAinda não há avaliações
- Direito Penal Militar - PMSCDocumento177 páginasDireito Penal Militar - PMSCxuca100% (1)
- 00 - Sistema de Segurança Pública e Gestão Integrada e Comunitária - Módulo 00 - EmentaDocumento19 páginas00 - Sistema de Segurança Pública e Gestão Integrada e Comunitária - Módulo 00 - EmentaJanildo Da Silva Arantes Arantes100% (1)
- Direito Disciplinar MilitarDocumento52 páginasDireito Disciplinar MilitarAndersonRochaLeal100% (1)
- In Pmerj #002 - Procedimentos em Serviço de Superior de DiaDocumento6 páginasIn Pmerj #002 - Procedimentos em Serviço de Superior de DialuizAinda não há avaliações
- Codigo de Justiça MilitarDocumento127 páginasCodigo de Justiça MilitarNúcleo de Justiça e Disciplina do BPTranAinda não há avaliações
- Direito Aplicado À Atividade Policial MilitarDocumento3 páginasDireito Aplicado À Atividade Policial Militarciloncapoeira100% (2)
- Patrulha Escolar ParanáDocumento7 páginasPatrulha Escolar Paranábastosmt7974Ainda não há avaliações
- Modulo III - Investigacao CriminalDocumento24 páginasModulo III - Investigacao CriminalpathellAinda não há avaliações
- Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: abordagens e busca pessoalNo EverandPolícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: abordagens e busca pessoalAinda não há avaliações
- Código Penal Militar-ResumoDocumento15 páginasCódigo Penal Militar-ResumoCiliro JúniorAinda não há avaliações
- Direito Processual Penal Resumo 2021Documento16 páginasDireito Processual Penal Resumo 2021Douglas Cardoso100% (1)
- My 2016 - 164 5b1 Bup - 66Documento251 páginasMy 2016 - 164 5b1 Bup - 66pabl0_91Ainda não há avaliações
- Questões SustentabilidadeDocumento4 páginasQuestões SustentabilidadeIvens MeloAinda não há avaliações
- O Suicídio Na Visão Espírita (Completo)Documento371 páginasO Suicídio Na Visão Espírita (Completo)yannickAinda não há avaliações
- Port. Instrumental - Cronica - Lya LuftDocumento2 páginasPort. Instrumental - Cronica - Lya LuftIvens MeloAinda não há avaliações
- A Formação Do PolicialDocumento36 páginasA Formação Do PolicialIvens MeloAinda não há avaliações
- Simulado Modos e Tempos VerbaisDocumento1 páginaSimulado Modos e Tempos VerbaisIvens MeloAinda não há avaliações
- Auxiliar de NecropsiaDocumento23 páginasAuxiliar de NecropsiaIvens MeloAinda não há avaliações
- Adreas J. Krell - Entre Desdém Teórico e Aprovação Na Prática - Os Métodos Clássicos de Interpretação Jurídica PDFDocumento26 páginasAdreas J. Krell - Entre Desdém Teórico e Aprovação Na Prática - Os Métodos Clássicos de Interpretação Jurídica PDFrafa_mooreAinda não há avaliações
- Manual de Pericia Oficial SIASSDocumento332 páginasManual de Pericia Oficial SIASSmpastanaAinda não há avaliações
- A Legislação Brasileira e o IdosoDocumento14 páginasA Legislação Brasileira e o IdosoMaria Andréia MendesAinda não há avaliações
- Edital TRE SP PDFDocumento19 páginasEdital TRE SP PDFnssbaixarAinda não há avaliações
- Caso Prático Nº1 de Direito Do Urbanismo e Do AmbienteDocumento5 páginasCaso Prático Nº1 de Direito Do Urbanismo e Do AmbienteCarlos Filipe Costa / Cláudia Alves100% (1)
- Efeitos Do Indeferimento e Da Revogacao Da Gratuidade de Justica PDFDocumento8 páginasEfeitos Do Indeferimento e Da Revogacao Da Gratuidade de Justica PDFMárcio GuimarãesAinda não há avaliações
- Análise Do Comportamento e Agências de ControleDocumento10 páginasAnálise Do Comportamento e Agências de Controledenise neivaAinda não há avaliações
- DECRETO #88.351, de 01 de Junho de 1983Documento15 páginasDECRETO #88.351, de 01 de Junho de 1983priiskafAinda não há avaliações
- Mandado de SegurançaDocumento4 páginasMandado de SegurançalulzkkkkkAinda não há avaliações
- Plano DiretorDocumento58 páginasPlano DiretorLuciano ReichertAinda não há avaliações
- Alteração Do Regime de Bens e o Registro de ImoveisDocumento72 páginasAlteração Do Regime de Bens e o Registro de ImoveisAlessandre Reis de FreitasAinda não há avaliações
- Conama - 398 - Perguntas - RespostasDocumento34 páginasConama - 398 - Perguntas - RespostasIvan AraujoAinda não há avaliações
- Lei Estadual Nº 6400, de 05 de Março de 2013 PDFDocumento3 páginasLei Estadual Nº 6400, de 05 de Março de 2013 PDFericomottaAinda não há avaliações
- Aula - Princípios Orçamentários PDFDocumento8 páginasAula - Princípios Orçamentários PDFvictorxvidalAinda não há avaliações
- Manual Nokia E71Documento165 páginasManual Nokia E71messias10spAinda não há avaliações
- Codigo de Obras - Jornal - 1719 - Extra - Assinado - 25.11Documento84 páginasCodigo de Obras - Jornal - 1719 - Extra - Assinado - 25.11thamarayoussefAinda não há avaliações
- Lei 6766 79-Parcelamento Do Solo UrbanoDocumento13 páginasLei 6766 79-Parcelamento Do Solo UrbanoRenan CardozzoAinda não há avaliações
- Acordo de Acionistas - MODELODocumento46 páginasAcordo de Acionistas - MODELOjuracialtino100% (1)
- Lei 4680Documento4 páginasLei 4680agenciaggorettiAinda não há avaliações
- Direito Constitucional I - Caso Marbury X MadisonDocumento2 páginasDireito Constitucional I - Caso Marbury X MadisonCínthia SantosAinda não há avaliações
- Lei de Regulamentação Da Profissão de Serviço SocialDocumento7 páginasLei de Regulamentação Da Profissão de Serviço SocialAndréa Sousa DuarteAinda não há avaliações
- Eduardo Tanaka - ApostilaDocumento7 páginasEduardo Tanaka - ApostilaThais NicolettiAinda não há avaliações
- Lei Ordinaria 1025 1971 Osasco SP Consolidada (21 06 2007) PDFDocumento132 páginasLei Ordinaria 1025 1971 Osasco SP Consolidada (21 06 2007) PDFAnanias Matos SantosAinda não há avaliações
- Conar Cartilha 1 - AzulDocumento12 páginasConar Cartilha 1 - AzulVelda TorresAinda não há avaliações
- 2 - 12 Lei N.º 19 - 14 - Código de Imposto IndustrialDocumento18 páginas2 - 12 Lei N.º 19 - 14 - Código de Imposto IndustrialJoao MoconoAinda não há avaliações
- Gabarito Modalidades, Tipos e Fases Da Licitação - SENADODocumento17 páginasGabarito Modalidades, Tipos e Fases Da Licitação - SENADOBernardo Donatello50% (2)
- Manual para Regularização de Equipamentos Médicos Na AnvisaDocumento176 páginasManual para Regularização de Equipamentos Médicos Na AnvisaBábáRafaelTyErinléAinda não há avaliações