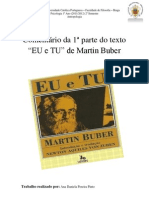Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Filosofia Do Relacionamento BUBER
A Filosofia Do Relacionamento BUBER
Enviado por
22181487Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Filosofia Do Relacionamento BUBER
A Filosofia Do Relacionamento BUBER
Enviado por
22181487Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Peridico de Divulgao Cientfica da FALS
Ano III - N VI- Out2009/Jan2010 - ISSN 1982-646X
A FILOSOFIA DO RELACIONAMENTO
Pedro Braga Gomes
RESUMO: Este artigo consiste em apresentar os fundamentos da filosofia do
relacionamento em Martin Buber, conceituado de inter-humano, para quem a relao
o evento primordial do ser humano. Em toda forma de relao EU-ISSO, EU-TU e
EU-TU- Eterno, onde se realiza a relao suprema.
PALAVRAS CHAVES: Filosofia, Encontro, Educao e Poltica do Relacionamento.
ABSTRACT: This article is to present the foundations of the philosophy of the
relationship in Martin Buber, worthy of inter-human, for whom the relationship is the
paramount event of the human being. In every form of relationship I - ISO, I - THOU
and THOU - Eternal, where the relationship is held supreme.
KEYWORDS: Philosophy, Meeting, Education and Policy of Relationship.
Martin Buber (1878 1965) nasceu em Viena, foi educado na tradio judaica, mas
tambm num clima propcio ao estudo. Ainda jovem, segundo relatos do prprio autor, dois
livros foram bastante marcantes: Prolegmenos, de Kant, e Assim falava Zaratustra, de
Nietzsche.
Em 1896 Buber ingressou na Universidade de Viena, no curso de Filosofia e Histria da
Arte. Em 1901 entrou na Universidade de Berlim, tendo como professores Dilthey e G. Simmel.
Dedicou-se ao estudo da psiquiatria e da sociologia em Leipzig e Zurich. E doutorou-se em
Filosofia, no ano de 1904, em Berlim. Em Berlim participou ativamente da vida acadmica e do
movimento sionista com o qual, mais tarde, rompeu por discordar dos rumos do mesmo.
De 1916 a 1924 foi editor do jornal Der Jude e, em 1923, foi nomeado professor, na
Universidade de Frankfurt, de Histria das Religies e tica Judaica, cadeira posteriormente
substituda por Histria das Religies. Foi destitudo do cargo pelo nazismo em 1933.
Filsofo e Professor. Especialista em Biotica e Biotecnologia pela Universidade Federal de Lavras Mestrando
em Educao e Professor da Faculdade de Educao do Litoral Sul Paulista Fals.
Peridico de Divulgao Cientfica da FALS
Ano III - N VI- Out2009/Jan2010 - ISSN 1982-646X
Em 1938 mudou-se para Jerusalm, aceitando o convite de lecionar Sociologia na
Universidade Hebraica. Esse perodo de Buber caracterizado por uma intensa atividade
intelectual, em pesquisas que se estendiam por diversas reas: Bblia, Judasmo, Hassidismo,
Poltica, Sociologia e Filosofia. Partindo para a eternidade no ano de 1965.
difcil situar a filosofia de Buber dentro de alguma corrente filosfica. Alguns autores o
qualificam como Existencialista, mas isso no constitui unanimidade. O prprio Buber se
considera um homem atpico e o professor Newton Aquiles Von Zuben, autoridade em Buber no
Brasil, prefere inseri-lo na Filosofia da Vida, devido ao carter de compromisso com a vida
concreta do filsofo judeu.
Seu pensamento fortemente influenciado pela corrente hassdica da mstica judaica, qual
dedicou algumas de suas obras. O hassidismo prega uma vida de fervor e alegria no cotidiano,
no fazendo separao entre tica e religio (o compromisso com Deus est ligado ao
compromisso com os homens) e no criando dualismo entre a vida em Deus e a vida no mundo.
Em outras palavras, o relacionar-se com Deus para os hassidim impe um profundo compromisso
com a vida no mundo, lugar do encontro com o Divino.
A filosofia do pensador austraco deve ser compreendida como uma filosofia do encontro,
ou do dilogo. O fato antropolgico primordial, para Buber, a relao. Por isso escreve,
parafraseando o prlogo do Evangelho de Joo: No princpio a relao (BUBER, 2001, p.
20). E relao, como diversas vezes lembra o autor, reciprocidade.
A inteno deste artigo justamente fundamentar em Martin Buber essa relao
intersubjetiva, que ocorre na forma de reciprocidade e dilogo, de anunciar-se ao outro e a ele
responder, tratando-se, como escreveu Henrique de Lima Vaz, de uma experincia original,
() na qual o homem se encontra empenhado numa relao propriamente dia-lgica,
estritamente recproca, e que se constitui como alternncia de invocao e resposta
entre sujeitos que se mostram como tais nessa e por essa reciprocidade (VAZ, 1992, p.
53).
Devido a isso, o caminho escolhido para a elaborao deste artigo foi, em primeiro lugar, o
da distino apontada por Buber das duas maneiras de o homem se aproximar com o mundo,
Peridico de Divulgao Cientfica da FALS
Ano III - N VI- Out2009/Jan2010 - ISSN 1982-646X
colocando-se na face-a-face da presena do TU ou tomando as coisas como um ISSO, como
objetos.
Os motivos que levam Buber a escrever vo para alm de uma ontologia da relao. A
preocupao do autor em tela no foi de criar conceitos abstratos, mas despertar a nostalgia do
humano.
Portanto, a filosofia do dilogo, mais do que tratar do evento da relao no campo da tica,
coloca a intersubjetividade como um fato antropolgico fundamental. Mais do que o dever ser
tico, Buber busca a resposta para a pergunta o que o homem? naquela categoria do entre
que faz com que o homem seja descoberto quando est na relao essencial.
Esse o motivo pelo qual se escolheu o vis antropolgico para a abordagem da relao
intersubjetiva.
Tambm tentamos aprofundar os fundamentos do Inter-humano, que desenvolvem essa
categoria do entre na relao dialgica. Aproveitamos para advertir que o pensador austraco,
em nenhum de seus textos, usa a palavra inter-subjetividade, preferindo o termo interhumano para aquilo que ocorre entre um homem e o seu outro que se revela como parceiro num
acontecimento da vida.
Aqui irei entrar no pice do pensamento do pensador de Viena. O que j foi dito acima
sobre o coletivismo pode ser importante para distingui-lo do inter-humano. Em outras palavras,
para Martin Buber, h fenmenos sociais sempre que coexiste uma multiplicidade de homens
unidos por um vnculo, que por conseqncia traz reaes em comum. Mas este vnculo no
significa qualquer relao pessoal entre um membro e outro do mesmo grupo.
No domnio do inter-humano, ao contrrio, cada um para o outro um parceiro num
acontecimento da vida, mesmo que sejam adversrios. Diz-nos Buber:
(...) A nica coisa importante que, para cada um dos dois homens, o outro acontea como
este outro determinado; que cada um dos dois se torne consciente do outro de tal forma
que precisamente por isso assuma para com ele um comportamento, que no o
considere e no o trate como seu objeto mas como seu parceiro num acontecimento da
vida, mesmo que seja apenas uma luta de boxe. (BUBER, 1982, p.138).
Peridico de Divulgao Cientfica da FALS
Ano III - N VI- Out2009/Jan2010 - ISSN 1982-646X
Martin Buber aqui se contrape, para alguns existencialistas que afirmam como fato
humano bsico a transformao do outro em objeto. Se assim fosse, a realidade caracterstica do
inter-humano estaria eliminada.
Porm, para o filsofo judeu, isso no poderia acontecer totalmente, pois o privilgio do ser
humano frente s outras coisas que, como ele, podem ser transformadas em objeto, o de que o
homem pode resistir totalmente objetivao. Este privilgio da no objetivao s pode ser
percebido entre parceiros.
A confuso entre o social e o inter-humano atribuda, por Buber, m interpretao do
conceito de relao. S nos acontecimentos atuais, ou seja, na presena do face a face que se d
a esfera do inter-humano e seu desdobramento o que o autor de Eu e Tu chama de dialgico.
Tambm no devemos confundir os fenmenos inter-humanos com os fenmenos
psquicos, pois os ltimos se encontram na alma da pessoa, enquanto os primeiros acontecem no
entre da relao. Um exemplo disso a diferena entre os sentimentos e o amor tratada em Eu
e Tu:
(...) Os sentimentos, ns os possumos, o amor acontece. Os sentimentos residem no
homem mas o homem habita em seu amor. Isto no simples metfora mas a realidade.
O amor no est ligado ao EU de tal modo que o TU fosse considerado um contedo,
um objeto: ele se realiza, entre o EU e o TU. (BUBER, 2001, p.17).
Existe uma problemtica no mbito do inter-humano, que consiste na dualidade entre ser e
parecer. H, pois, para Buber, uma existncia humana vivida a partir do que se , e uma outra
vivida a partir do que se quer parecer, de uma imagem de si. Esses dois comportamentos se
misturam, no h nenhuma existncia exclusiva de um e de outro modo. Por isso devemos nos
contentar com a distino em algum do comportamento essencial predominante.
O olhar do que vive a partir do ser um olhar espontneo, sem reservas, enquanto que, para
aquele que vive a partir da imagem, importa o que parece ao seu expectador, a imagem que
produz no outro.
Fica muito claro que, onde predomina o parecer, a relao EU-TU ameaada pela imagem
que se interpe entre os homens. O exemplo dado por Buber (1982) assustador: em duas
Peridico de Divulgao Cientfica da FALS
Ano III - N VI- Out2009/Jan2010 - ISSN 1982-646X
pessoas conversando, Pedro e Paulo, temos as imagens que querem transmitir um ao outro,
acrescidas s imagens que cada um faz do outro, somadas as imagens que cada um tem de si
mesmo. Ao todo temos seis imagens na conversao dos dois e nenhum espao para a
legitimidade do inter-humano.
No campo, pois, do inter-humano, a verdade est na comunicao entre os homens uns aos
outros como so, na autenticidade que permite a um homem que outro participe de seu ser, sem
deixar que se introduza alguma aparncia entre os dois.
Buber quer, com isso, libertar o inter-humano do campo do discurso moral e mostrar que a
autenticidade o que realiza verdadeiramente o ser humano:
(...) Se nos tempos primitivos a pressuposio do ser-homem deu-se atravs da retido
da sua postura ao caminhar, a realizao do ser-homem s pode dar-se atravs da
retido da alma no seu caminhar, atravs de uma grande honestidade que no mais
afetada por nenhuma aparncia, j que ela venceu a simulao. (BUBER, 1982, p.143).
Para Buber a vida a partir do parecer origina-se na dependncia dos homens entre si e, de fato,
no constitui tarefa fcil fazer-se confirmar no seu Ser pelos outros. Porm, o homem no est
determinado a viver a partir da imagem e pode lutar corajosamente para se encontrar.
Acontece que muito daquilo que se chama conversao entre os homens no passa de
palavreado, fato radicalizado por Sartre ao considerar instransponveis os muros entre os
parceiros de uma conversao. Para o existencialista francs, o destino inevitvel do ser humano
seria que a existncia interior do outro no diria respeito a mim.
Buber contrape-se a essa fatalidade, qualificando-a de desvio da verdadeira liberdade,
conclamando quem tomou conscincia dessa degenerao a despertar nos demais a nostalgia do
ser humano:
(...) Quem reconhece realmente quo longe a nossa gerao se transviou da verdadeira
liberdade, da livre generosidade do Eu e Tu, deve, por fora do carter de misso de
todo grande conhecimento deste gnero, exercer ele prprio mesmo que seja o nico
na terra a faz-lo o contato direto e a este no abdicar, at que os escarnecedores se
Peridico de Divulgao Cientfica da FALS
Ano III - N VI- Out2009/Jan2010 - ISSN 1982-646X
assustem e percebam na voz deste homem a voz de sua prpria nostalgia reprimida.
(BUBER, 1982, p.146).
O pressuposto para uma conversao genuna ver o parceiro como ele , tomando o
conhecimento ntimo de que ele essencialmente outro do que eu.
Esse essencialmente outro do que eu de uma maneira nica, que lhe prpria, de modo
que s aceitando-o assim que eu posso dirigir-me com seriedade a ele em sua alteridade.
Mesmo numa contenda, desde que esteja presente esse pressuposto, h uma afirmao do
outro que discorda de mim. Ao confirmar tal pessoa como parceira, s depende dele para que
surja da uma conversao genuna, uma reciprocidade tornada linguagem. Com essa
confirmao posso confiar naquele com quem estou disposto a entrar em dilogo e esperar que
ele aja como meu parceiro.
O conhecimento ntimo de que escreve Buber refere-se ao experimentar uma pessoa em sua
totalidade e concretude. E o homem s pode ser compreendido em sua totalidade enquanto pessoa
determinada pelo esprito. No posso conhec-lo intimamente, dessa forma, como um objeto, mas
como presena para mim.
Assim, o conhecimento ntimo designado por Buber como tornar-se presente da pessoa:
(...) O conhecimento ntimo s se torna possvel quando me coloco de uma forma
elementar em relao com o outro, portanto quando ele se torna presena para mim.
por isso que designo a tomada de conhecimento ntimo neste sentido especial como o
tornar-se presente da pessoa. (BUBER, 1982, p.147).
Ao tornar-se presente da pessoa contrape-se o olhar de quase tudo que se entende por
moderno. Esse olhar moderno qualificado por Buber como analtico, redutor e dedutivo entre
homem e homem. Analtico, ou como queria Buber, pseudo-analtico, por tratar do ser psicofsico
como um composto desmembrvel. Redutor por pretender abranger em estruturas visveis e
recorrentes a multiplicidade da pessoa. E dedutivo por supor, atravs de um conceito geral,
enquadrar em frmulas genticas o devir do homem e o dinmico princpio central da
individualidade neste devir.
Martin Buber no pretende desfazer-se do mtodo analtico das cincias humanas, que ele
considera como imprescindvel para avanar no conhecimento de um fenmeno. Mas esse
6
Peridico de Divulgao Cientfica da FALS
Ano III - N VI- Out2009/Jan2010 - ISSN 1982-646X
mtodo no consegue abarcar o conhecimento da individualidade desse fenmeno. Esse limite
deveria ser levado em conta pela cincia do homem que se utiliza do mtodo analtico fazendo-se
necessrio transpor do mtodo para a vida.
Dessa forma, Buber prope despertar o dom da fantasia do real na interioridade do
homem. Tal fantasia do real consistiria num penetrar vigoroso no outro, maneira de uma
fantasia, mas que no se estende ao todo-possvel, e sim quele que torno presente a mim em sua
totalidade. Diz Buber:
() na sua essncia este dom no mais um olhar para o outro; um penetrar audacioso
no outro, potente como um vo, penetrar no outro que reivindica o movimento mais
intensivo do meu ser, maneira de toda fantasia verdadeira, s que aqui o campo de
minha ao no o todo-possvel, mas a pessoa real e singular que vem ao meu
encontro, que eu posso tentar tornar presente para mim, assim mesmo e no de outra
forma, na sua totalidade, sua unidade e unicidade, e no seu centro dinmico que realiza
tudo isto sempre de novo. (BUBER, 1982, p.148).
Esse dom s pode ocorrer como nos lembra o filsofo judeu, numa parceria viva, quando,
num evento comum com o outro, me exponho participao deste. Se houver uma resposta
positiva a essa atitude, o inter-humano desabrocharia na conversao genuna.
H duas maneiras de influenciar as pessoas em seu modo de pensar e de viver. A primeira
pela imposio, na qual a pessoa quer prevalecer, impor sua opinio e atitude, persuadindo o
outro a considerar a ao fruto de seu prprio entendimento. Essa maneira desenvolveu-se mais
intensamente no campo da propaganda.
Na segunda maneira a pessoa quer encontrar-se tambm na alma do outro, incentivando
nele aquilo que reconhece em si mesmo como certo. Ou seja, o que considero certo deve tambm
estar vivo potencialmente no microcosmo do outro, bastando que este se abra a essa
possibilidade. Essa abertura acontece essencialmente no como aprendizado, mas como encontro.
Trata-se da comunicao existencial entre um ente que e um outro que pode vir a ser. Esta se
desenvolveu mais no campo da educao.
Peridico de Divulgao Cientfica da FALS
Ano III - N VI- Out2009/Jan2010 - ISSN 1982-646X
O propagandista no se interessa em absoluto pela pessoa que quer influenciar, as
caractersticas individuais s so significativas para ele enquanto pode tirar delas algum proveito.
A propaganda, que governa, na sua forma extrema, no meio poltico, significa o apoderamento do
outro e sua despersonalizao. A coao completa ou substitui a propaganda, mas
imperceptvel, passando ilusoriamente a impresso de autonomia, aniquilando-se o fator humano
no meio poltico.
Neste sentido o educador, ao contrrio, vive num mundo de indivduos dos quais alguns
esto confiados a ele. Ele no se impe ao outro, pois acredita no ser humano que o outro pode
vir a se tornar, a saber:
Ele reconhece cada um destes indivduos como apto a se tornar uma pessoa nica,
singular e portadora de uma tarefa do Ser que ela, somente ela pode cumprir (BUBER,
1982, p.150).
O educador no se impe porque as foras atualizadoras das quais se faz auxiliar tambm
agem nele, fazendo-o cumprir sua vida singularmente. Ele simplesmente propicia no outro a
abertura daquilo que certo, ajudando-o a desenvolver-se.
Mais uma vez esclarecemos que Buber coloca essas atitudes antitticas existentes em maior
ou menor grau em todos os relacionamentos humanos. E no se deve confundir esses conceitos
com orgulho e humildade, pois no se relacionam necessariamente. Alm disso, orgulho e
humildade so disposies psicolgicas, com um acento tico, enquanto imposio e abertura so
estados antropolgicos, ocorrem entre homens, e apontam para uma ontologia do inter-humano.
A proposta buberiana aproxima-se do princpio kantiano no qual o semelhante no deve ser
considerado um meio, mas tratado como um fim em si. Porm, o princpio de Buber tem origem e
finalidade diferente do dever sustentado pela dignidade humana de Kant. Interessa ao filsofo
judeu saber os pressupostos do inter-humano. Neste sentido afirma que:
O homem antropologicamente existente no no seu isolamento, mas na integridade da
relao entre homem e homem: somente a reciprocidade da ao que possibilita a
compreenso adequada da natureza humana. (BUBER, 1982, p.152).
Peridico de Divulgao Cientfica da FALS
Ano III - N VI- Out2009/Jan2010 - ISSN 1982-646X
H, para Buber, um destino humano inerente maneira da entelquia aristotlica que cada
pessoa pode alcanar, de forma s a ela especfica. Essa entelquia considerada pelo filsofo
judeu como obra de criao, da qual a individuao significa apenas a marca pessoal,
extremamente necessria, de toda realizao do ser-homem. O ser - prprio somente completa o
essencial que a criao da existncia humana. O que leva o inter-humano sua verdadeira altura
a funo de abertura entre os homens, o auxlio ao vir a ser do homem enquanto ser - prprio e
a assistncia mtua do ser - prprio da natureza humana conforme a criao.
Sendo assim, Martin Buber d uma definio sucinta dessa ontologia do inter-humano, no
qual encontramos o homem realizado em seu destino:
somente quando h dois homens, dos quais cada um, ao ter o outro em mente, tem
em mente ao mesmo tempo a coisa elevada que a este destinada e que serve ao
cumprimento do seu destino, sem querer impor ao outro algo da sua prpria realizao,
somente a que se manifesta de uma forma encarnada toda a glria dinmica do ser do
homem. (BUBER, 1982, p.152).
Somente, pois, na relao em que se tem em vista a grandeza da vocao qual o outro
chamado no mbito da criao, aparece o ser humano que deve realizar o seu ser - prprio e
manifesta-se a verdadeira natureza humana. Talvez seja essa a resposta de Buber pergunta
kantiana sobre o que o homem.
O grande aprendizado que o pensador de Viena nos deixa a todos ns homens e mulheres
do tempo moderno que no h uma relao EU-TU de tempo integral, sempre ser a partir do
EU-ISSO. O segundo ensinamento que ele chama a nossa ateno de uma sociedade de
consumo onde as coisas valem cada vez mais e o homem cada vez menos. O terceiro e ultimo
ensinamento que o autor de EU-TU nos deixa de que no h meio amor, ou eu amo ou eu no
amo e a grande poltica do relacionamento a partir do pensador de Viena a de que cada um ceda
um pouco para que ningum precise ceder tudo na feliz expresso de Martin Buber, pois quando
se encontra uma vida com outra vida a generosidade que est se encontrando entre o EU-ISSO,
EU-TU e EU-TU - ETERNO.
Peridico de Divulgao Cientfica da FALS
Ano III - N VI- Out2009/Jan2010 - ISSN 1982-646X
Referncias Bibliogrficas:
BUBER, Martin. Do dilogo e do dialgico. Traduo de Marta Ekstein de Souza Queiroz e
Regina Weinberg. So Paulo: Perspectiva, 1982;
BUBER, Martin. Encontro fragmentos autobiogrficos. Traduo de Sofia Ins Stein.
Petrpolis: Vozes, 1991;
BUBER, Martin. Eu e Tu. Traduo. E introduo de Newton Aquiles von Zuben. 5. Ed. So
Paulo: Centauro, 2001;
BUBER, Martin. Que es el hombre?. Traduo de Eugenio maz. Mxico: Fondo de Cultura
Econmica, 1985.
10
Você também pode gostar
- BARTHOLO JÚNIOR. Você e Eu Martin Buber, Presença PalavraDocumento62 páginasBARTHOLO JÚNIOR. Você e Eu Martin Buber, Presença PalavraCristiano Mignanelli0% (1)
- A Intersubjetividade em Martin BuberDocumento25 páginasA Intersubjetividade em Martin BuberFernando MichelisAinda não há avaliações
- Buber - Primado Da Presença e o Diálogo - Newton Zuben 1981Documento5 páginasBuber - Primado Da Presença e o Diálogo - Newton Zuben 1981Cláudia AraújoAinda não há avaliações
- EU e TU - Martin Buber (Fichame - Martin BuberDocumento9 páginasEU e TU - Martin Buber (Fichame - Martin BuberTiago MaltaAinda não há avaliações
- A Religião Do Encontro - A Ética de Martin BuberDocumento17 páginasA Religião Do Encontro - A Ética de Martin BuberfacavlisAinda não há avaliações
- Martin BuberDocumento5 páginasMartin BuberDaniela PintoAinda não há avaliações
- Exame-Teste Antropologia-PsicologiaDocumento3 páginasExame-Teste Antropologia-PsicologiaAna MartinsAinda não há avaliações
- O Encontro Inter-Humano em Martin BuberDocumento15 páginasO Encontro Inter-Humano em Martin BuberEduardo RosalAinda não há avaliações
- A Filosofia de M BuberDocumento13 páginasA Filosofia de M BuberElaine Bezerra100% (1)
- RAMON, Saturnino Pesquero. A Psicoterapia Dialógica de Martin Buber (Art.)Documento8 páginasRAMON, Saturnino Pesquero. A Psicoterapia Dialógica de Martin Buber (Art.)Carlos HeberAinda não há avaliações
- A Existencia Intersubjetiva em Martim BuberDocumento10 páginasA Existencia Intersubjetiva em Martim BuberDaiany BrunettoAinda não há avaliações
- A Constituição Do Sujeito Moral em Por Uma Moral: Da Ambiguidade Da AmbiguidadeDocumento12 páginasA Constituição Do Sujeito Moral em Por Uma Moral: Da Ambiguidade Da AmbiguidadebarbaracabralAinda não há avaliações
- 159-Texto Do Artigo-530-2-10-20190410Documento24 páginas159-Texto Do Artigo-530-2-10-20190410Larissa Hupalo SereiaAinda não há avaliações
- O Sentido Das - Palavras-Princípio - Na Filosofia Da Relação de Martin BuberDocumento12 páginasO Sentido Das - Palavras-Princípio - Na Filosofia Da Relação de Martin Buberjamil pimentel100% (1)
- Contribuições de Martin Buber para Uma Antropologia Autêntica e Simples - Mário Correia Da SilvaDocumento16 páginasContribuições de Martin Buber para Uma Antropologia Autêntica e Simples - Mário Correia Da SilvaGlauciene VieiraAinda não há avaliações
- Buber Diálogo PDFDocumento15 páginasBuber Diálogo PDFjasmusicaAinda não há avaliações
- A Existencia Intersubjetiva em Martin Bu PDFDocumento10 páginasA Existencia Intersubjetiva em Martin Bu PDFMaria MeloAinda não há avaliações
- Berger e A ReligiãoDocumento16 páginasBerger e A Religiãohaydee_leone3761Ainda não há avaliações
- Berger e A Religião - F.teixeiraDocumento13 páginasBerger e A Religião - F.teixeiraHellen SilvaAinda não há avaliações
- Figueiredo, Luis ClaudioDocumento20 páginasFigueiredo, Luis ClaudioVitor Oliveira100% (1)
- Projecto de Pesquisa Sobre Martim BuberDocumento13 páginasProjecto de Pesquisa Sobre Martim Buberrafell julioAinda não há avaliações
- Formação Da Pessoa e Caminho Humano - Edith Stein e Martin BuberDocumento10 páginasFormação Da Pessoa e Caminho Humano - Edith Stein e Martin BuberRone SantosAinda não há avaliações
- Artigo Holocausto Martin Buber e RogersDocumento15 páginasArtigo Holocausto Martin Buber e RogersEliabe MeloAinda não há avaliações
- Rafael Santo BernardinoDocumento10 páginasRafael Santo BernardinoKalahari HkcAinda não há avaliações
- A Psicoterapia Dialógica de Martin Buber PDFDocumento8 páginasA Psicoterapia Dialógica de Martin Buber PDFDeivson Filipe BarrosAinda não há avaliações
- Sociologia Na EducaçãoDocumento3 páginasSociologia Na EducaçãoBrunaaahhhAinda não há avaliações
- Coelho y FigueiredoDocumento21 páginasCoelho y Figueiredoevamurga5133Ainda não há avaliações
- Livro - Dossel SagradoDocumento37 páginasLivro - Dossel SagradoHelyel RodriguesAinda não há avaliações
- Buber Psicoterapia DialogicaDocumento24 páginasBuber Psicoterapia DialogicaSérgio LiziasAinda não há avaliações
- Borges e o Outro - Uma Análise Psicológica Do DuploDocumento4 páginasBorges e o Outro - Uma Análise Psicológica Do DuploDamares FernandesAinda não há avaliações
- Fenomenologia e TipificaçãoDocumento17 páginasFenomenologia e TipificaçãoMelvin JeffersonAinda não há avaliações
- 1987 Art GdjbborisDocumento4 páginas1987 Art GdjbborisEliphas Alves RamosAinda não há avaliações
- Natureza e Essência Do HomemDocumento14 páginasNatureza e Essência Do HomemEdson GongaAinda não há avaliações
- 11903-Article Text-44689-1-10-20210301Documento17 páginas11903-Article Text-44689-1-10-20210301Bianca PeixotoAinda não há avaliações
- Aproximações Das Ideias de Martin Buber e Carl Rogers Presentes No Processo PsicoterapêuticoDocumento11 páginasAproximações Das Ideias de Martin Buber e Carl Rogers Presentes No Processo PsicoterapêuticoeduardotteAinda não há avaliações
- Texto - Diálogo e Existência No Pensamento de Martin Buber PDFDocumento10 páginasTexto - Diálogo e Existência No Pensamento de Martin Buber PDFRafaelBarackAinda não há avaliações
- O Diálogo Genuíno e o Palavreado BuberDocumento11 páginasO Diálogo Genuíno e o Palavreado BuberKimbelly MenezesAinda não há avaliações
- Artigo Ciências Sociais TCCDocumento16 páginasArtigo Ciências Sociais TCCJean PelozatoAinda não há avaliações
- Relações Dialógicas Cotidianas. EUe Tu - Texto.Documento14 páginasRelações Dialógicas Cotidianas. EUe Tu - Texto.marcosAinda não há avaliações
- Sobre A Prova Da Existencia Do Mundo ExteriorDocumento4 páginasSobre A Prova Da Existencia Do Mundo ExteriorFernandoMarinhoCostaAinda não há avaliações
- VON - Zuben Newton - Aquiles Dialogo.e.existencia - No.pensamento - De.martin. BuberDocumento11 páginasVON - Zuben Newton - Aquiles Dialogo.e.existencia - No.pensamento - De.martin. BuberRafaelMarquesAinda não há avaliações
- EtnopsicanáliseDocumento10 páginasEtnopsicanáliseNathanAinda não há avaliações
- A Construção Do Sujeito Através Da Linguagem Habermas, Bakhtin, Vigotsky e FoulcaultDocumento20 páginasA Construção Do Sujeito Através Da Linguagem Habermas, Bakhtin, Vigotsky e FoulcaultMagno AquinoAinda não há avaliações
- Psicossocial IIDocumento2 páginasPsicossocial IIaugusto.silvaAinda não há avaliações
- Seer,+Revista+Caminhos,+v.+20+ +dossie2 12294Documento9 páginasSeer,+Revista+Caminhos,+v.+20+ +dossie2 12294Afra MinellyAinda não há avaliações
- 2019 - Diálogo Com Byung-Chul Han. Rev. AfluentesDocumento10 páginas2019 - Diálogo Com Byung-Chul Han. Rev. AfluentesblasciksAinda não há avaliações
- Artigo - Alteridade e Dignidade Da Pessoa Humana Na Relação Aluno-ProfessorDocumento16 páginasArtigo - Alteridade e Dignidade Da Pessoa Humana Na Relação Aluno-ProfessorWallace CamposAinda não há avaliações
- Roberto Esposito Comunidade, Biopolítica e Imunização PDFDocumento15 páginasRoberto Esposito Comunidade, Biopolítica e Imunização PDFAndreAmorimOliveiraAinda não há avaliações
- Uma Análise Psicológica Do Duplo em Cecília Meireles A Partir de JungDocumento14 páginasUma Análise Psicológica Do Duplo em Cecília Meireles A Partir de Jungpriscilla_lima_1Ainda não há avaliações
- Teoria Do Eu-Tu - BuberDocumento6 páginasTeoria Do Eu-Tu - BuberJulia TestoniAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre Antropologia e Liberdade Política em Ludwig FeuerbachDocumento15 páginasReflexões Sobre Antropologia e Liberdade Política em Ludwig FeuerbachThiago Vita BaraunaAinda não há avaliações
- O Pacto AutobiográficoDocumento6 páginasO Pacto AutobiográficoDavidson Xavier100% (1)
- Streck 1999 A Viragem Linguistica Da Filosofia e o Rompimento Com A Metafisica Ou de P 137 154Documento20 páginasStreck 1999 A Viragem Linguistica Da Filosofia e o Rompimento Com A Metafisica Ou de P 137 154Jiovane Peixoto100% (2)
- Jung e Bleuler - Armando OliveiraDocumento42 páginasJung e Bleuler - Armando OliveiraJoão Otávio MaiaAinda não há avaliações
- Chaui 2000Documento6 páginasChaui 2000Andrey ZanettiAinda não há avaliações
- O Dossel Sagrado: Religião e AlienaçãoDocumento17 páginasO Dossel Sagrado: Religião e AlienaçãoWesley Porfírio NobreAinda não há avaliações
- A Dignidade Da Pessoa Humana em BoécioDocumento18 páginasA Dignidade Da Pessoa Humana em BoécioFernanda OliveiraAinda não há avaliações
- A Reciprocidade nas Relações Interpessoais: Segundo Aristóteles e Martin BuberNo EverandA Reciprocidade nas Relações Interpessoais: Segundo Aristóteles e Martin BuberAinda não há avaliações
- Carl Rogers com Michel Foucault (Caminhos Cruzados)No EverandCarl Rogers com Michel Foucault (Caminhos Cruzados)Ainda não há avaliações
- Educação e sociedade: o potencial ético do estado de natureza em Jean-Jacques RousseauNo EverandEducação e sociedade: o potencial ético do estado de natureza em Jean-Jacques RousseauAinda não há avaliações
- Exercício Avaliativo Da Disciplina Pedagogia Da Educação Física e EsporteDocumento4 páginasExercício Avaliativo Da Disciplina Pedagogia Da Educação Física e EsporteRonaldo HernandesAinda não há avaliações
- CatiraDocumento2 páginasCatiraRonaldo HernandesAinda não há avaliações
- RELATÓRIO FAPERJ FINAL CartografagensDocumento114 páginasRELATÓRIO FAPERJ FINAL CartografagensRonaldo HernandesAinda não há avaliações
- Art 1Documento16 páginasArt 1Ronaldo HernandesAinda não há avaliações
- 108Documento9 páginas108Ronaldo HernandesAinda não há avaliações