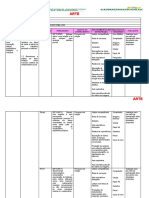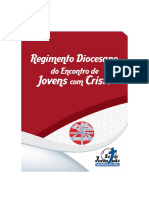Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
181 779 1 PB PDF
181 779 1 PB PDF
Enviado por
Anonymous i8yCLFADTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
181 779 1 PB PDF
181 779 1 PB PDF
Enviado por
Anonymous i8yCLFADDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tempo e Narrativa: um estudo dos escritos de Walter Benjamin
sobre o romance
Iris Selene Conrado
Programa de Ps-graduao em Letras, Universidade Estadual de Maring, Av. Colomb o, 5790, 87020-900, Maring, Paran,
Brasil. e-mail: iriselene@gmail.com
RESUMO. O objetivo deste trabalho identificar as relaes entre arte e histria, bem
como entre produo literria e tradio. Elementos como a unicidade, a autenticidade, o
narrador e o valor do texto literrio sero discutidos a partir da abordagem scio -histrica de
concepo da arte, tendo-se Walter Benjamin como base para a reflexo sobre a trajetria da
narrativa, desde a tradio oral ao gnero romanesco.
Palavras-chave: narrativa, romance, literatura e histria, Walter Benjamin.
ABSTRACT. Time and narrative: a study of Benjamins works about the novel.
The aim of this paper is to identify the relation between art and history, and between
literature and tradition. Some elements such as the unique character of literature, the
authenticity, the narrator and how art is evaluated will be discussed, considering the social
historical approach. For this purpose, we chose Walter Benjamin to give support to the
study about the narrative from oral tradition to the novel.
Key words: narrative, novel, literature and history, Walter Benjamin.
Introduo
A obra literria, para Walter Benjamin, filsofo
alemo do final do sculo XIX, possui vnculos com
a histria, e essa ligao define-se na idia de que a
obra de arte, criada no passado, funciona como
mensageira deste passado para o pre sente, explica
Kothe (1976). O presente, por sua vez, por ter seus
valores manipulados pela ideologia domina nte,
poderia ou no valorizar a obra; assim, o passado
poderia ser recuperado e reconstrudo no presente ,
inclusive por meio da arte: O passado no algo
esttico, fixo e imutvel. Antes, o presen te reconstri
de um modo novo o seu prprio passado, cujo
testemunho lhe basilar (Kothe, 1976, p. 99).
Esta reflexo do valor da obra de arte, bem como
de seu carter histrico, isto , da maneira como se
relaciona com o tempo, j foi e, no incio do sculo
XXI, ainda tema para estudos sobre o texto
literrio, como demonstra Perrone-Moiss (1998). A
autora apresenta como escritores e crticos Eliot,
Pound, Borges, Paz, Butor, Calvino, Sollers e
Campos concebem a relao entre literatura,
histria e valor, enfocando a idia de tradio e de
tempo, e provando como h controvrsias e poucas
concluses sobre tal tema.
Este trabalho, dessa forma, tem o objetivo de
trazer as consideraes do intelectual e filsofo
alemo Walter Benjamin (1892 -1940) acerca do
Acta Sci. Human Soc. Sci.
romance, enfatizando -se sobretudo o seu
desenvolvimento histrico -temporal, relacionado
narrativa e configurao do narrador criador.
Alm disso, busca-se uma reflexo sobre os
conceitos estudados por Benjamin e a percepo de
como o tempo vincula tais conceitos a um estudo
objetivo e histrico da narrativa at sua concretizao
no gnero romanesco.
Estudo de Benjamin sobre o romance
Benjamin (1994, p. 168) afirma que toda obra de
arte, na sua origem, tem uma autenticidade, pois ela
representa elementos de uma tradio original,
desde sua durao material at o seu testemunho
histrico. Isso significa que ela possui uma essncia,
uma unicidade que est presente em sua
configurao enquanto arte, e que traz vestgios de
sua produo, de sua origem. A originalidade e a
autenticidade so elementos que se estabelecem na
produo primeira e nica de um objeto artstico,
traduzindo valor e reconhecimento deste.
Ao fazer uma anlise das mudanas relativas
produo artstica por um vis histrico, W alter
Benjamin verifica que, apesar da obra de arte ter sido
sempre reprodutvel por seus prprios autores, para
divulgao, pelos discpulos destes, para aprendizado
e por outros, para a obteno de lucros, a sua
reproduo tcnica representa, historicame nte,
Maring, v. 28, n. 1, p. 47-54, 2006
48
Conrado
diversas mudanas na concepo da prpria arte e no
contexto de sua produo. A seguir, salienta -se os
critrios do filsofo alemo para a conceituao da
arte e dos efeitos da reproduo tcnica desta.
Primeiramente, o crtico observa que a reprodu o
tcnica da arte, por mais perfeita que seja, no capaz
de conter e nem de reproduzir a histria dessa arte: a
histria da obra remete no apenas aos vestgios fsicos
de sua produo primeira, marcados pelo decorrer do
tempo, mas tambm tradio, origem do momento
no qual ela foi criada. Essa tradio, essa marca original
da obra primeira caracteriza a autenticidade da obra,
identificando-a, como tal, ao longo do tempo, como
esclarece Benjamin (1994, p. 167): Mesmo na
reproduo mais perfeita, um elemento est ausente: o
aqui e agora da obra de arte, sua existncia nica, no
lugar em que ela se encontra. nessa existncia nica, e
somente nela, que se desdobra a histria da obra.
Para Benjamin (1994, p. 168), a autenticidade a
autoridade, o peso tradicional de um objeto
artstico, e ela depende da materialidade: A
autenticidade de uma coisa a quintessncia de tudo
o que foi transmitido pela tradio, a partir de sua
origem, desde sua durao material at o seu
testemunho histrico. A reproduo provoca o
distanciamento entre obra e ser humano,
desaparecendo, assim, o testemunho, a experincia, a
autoridade e a aura dela: o objeto reproduzido viola
seu aspecto tradicional, a sua origem. Conforme o
filsofo, uma experincia cotidiana nos im pe a
exigncia dessa distncia e desse ngulo de
observao. a experincia de que a arte de narrar
est em vias de extino.
A tradio e a autenticidade de um objeto
artstico, que lhe conferem autoridade e
originalidade, perdem-se com a reprodutibilidade
tcnica: Na medida em que ela multiplica a
reproduo, substitui a existncia nica da obra por
uma existncia serial, explica (Benjamin, 1994, p.
168). Por um lado, a reproduo tcnica permite a
divulgao da arte, e sua modificao, podendo ser
recriada em novos ambientes, ser atualizada a
diferentes situaes; por outro lado, a arte perde a
sua essncia, o seu aspecto tradicional, sua tradio,
o tempo presente de sua produo, sua unicidade,
como descreve Benjamin:
O aqui e agora do original c onstitui o contedo da
sua autenticidade, e nela se enraza uma tradio que
identifica esse objeto, at os nossos dias, como sendo
aquele objeto, sempre igual e idntico a si mesmo. A
esfera da autenticidade, como um todo, escapa
reprodutibilidade tcnica, e naturalmente no apenas
tcnica. Mas, enquanto o autntico preserva a sua
autoridade com relao reproduo manual, em
geral considerada uma falsificao, o mesmo no
Acta Sci. Human Soc. Sci.
ocorre no que diz respeito reproduo tcnica
(Benjamin, 1994, p. 167-168).
Isso porque a maneira como a percepo do
indivduo se estabelece e o meio no qual ela ocorre
so estruturas que tambm sofrem transformaes
no
tempo,
tanto
naturalmente
quanto
historicamente.
O crtico tambm discute o declnio da aura do
objeto artstico quanto mudana histrico temporal da percepo humana em relao ao
mundo, somada s alteraes das formas de
existncia dos indivduos sociais . Ele afirma que a
maneira como a percepo humana se estabelece,
concernente a um fato ou objeto, por exe mplo, e
ainda, o meio no qual esta percepo ocorre, esto
condicionados s transformaes naturais e
histricas. Desse modo, sugere que a massificao
social do final do sculo XIX e do incio do sculo
XX provoca a perda do carter aurtico da arte.
Definindo a aura como uma figura singular,
composta de elementos espaciais e temporais: a
apario nica de uma coisa distante, por mais pert o
que esteja, Benjamin (1994, p. 170) explica como a
obra de arte da tradio caracteriza -se por sua
unicidade, e esta define a sua aura; esta aura vinculase a uma funo ritualstica da arte: Em outras
palavras: o valor nico da obra de arte autntica tem
sempre um fundamento teolgico , por mais remoto
que seja (Benjamin, 1994, p. 171). A partir da
reprodutibilidade tcnica, uma vez que no h
preocupaes do artista com a autenticidade, a
funo social da arte se altera: ela deixa seu carter de
ritual, e se funda em uma funo poltica. Ela serve a
propsitos da sua divulgao para as massas sociais,
como exemplifica o crtico alemo com a arte
cinematogrfica.
Com o desenvolvimento da sociedade, houve
melhorias tecnolgicas e a necessidade, difundida no
discurso generalizado, de superar a unicidade da
arte, a fim de que todos pudessem alcan -la;
ocorreu, assim, uma busca por uma aproximidade do
objeto aos movimentos de massa, c omo salienta
Benjamin (1994, p. 170): Orientar a realidade em
funo das massas e as massas em funo da
realidade um processo de imenso alcance, tanto
para o pensamento como para a intu io. Com isso,
a diferena entre o objeto o riginal e a reproduo
aumenta. A reproduo de um objeto artstico tem
carter transitrio, pode se adaptar s situaes do
momento em que apresentada, e marcada pela
repetibilidade, vincula-se s massas sociais; a arte
primeira,
original,
todavia,
possui
aura,
autenticidade, unidade e durabilidade. Nas palavras
de Benjamin (1994, p. 170), Cada dia fica mais
Maring, v. 28, n. 1, p. 47-54, 2006
Tempo e narrativa
ntida a diferena entre a reproduo, como ela nos
oferecida pelas revistas ilustradas e pelas at ualidades
cinematogrficas, e a imagem. Nesta, a unidade e a
durabilidade se associam to intimamente como, na
reproduo, a transitoriedade e a repetibilidade.
Benjamin (1994, p. 171) explica tambm porque
considera a obra original aquela que caracter izada
pela unicidade e, assim, pelo seu fundamento
aurtico: o valor nico da obra de arte autntica
tem sempre um fundamento teolgico, por mais
remoto que seja. O valor da ob ra enquanto nica
ligado, desta forma, sua insero na tradio:
dependendo do contexto em que visto, o objeto
artstico envolto pelo seu culto, como, por
exemplo, a esttua de Vnus na Antiguidade
Clssica, ou ainda, pela sua negao, como o que
ocorreu com tal objeto no Cristianismo da Idade
Mdia. O que se ressalta qu e, apesar dos dois
diferentes modos de se p erceber a arte, como no
exemplo mostrado, o que lhe considerada, o que
lhe traz valor e reconhecimento a sua unicidade, a
sua aura.
Alm do que foi exposto, vale salientar que o
filsofo alemo considera que, na histria da arte,
dois aspectos representam diferenas temporais e
culturais na concepo da arte: o valor de culto e o
valor de exposio. O primeiro, caracterizado desde
a arte primitiva e anterior reproduo tcnica,
exemplificado pelas obras prod uzidas na Idade
Mdia, conferia produo artstica um carter
mgico, secreto, com uma funo ritualstica e
prtica. O valor de exposio, em contrapartida,
desenvolve-se com a reprodutibilidade tcnica das
obras artsticas, traduzindo novas funes des tas para
a sociedade, como a funo artstica, exemplifica o
crtico, ou ainda, como uma certa funo didtica da
arte, na forma de aprendizado sobre a natureza do
ser humano e da sociedade moderna, por exemplo.
Alm disso, as tcnicas de reproduo viabil izam a
montagem da arte, o planejamento, a correo, a
refaco
do
objeto,
como
a
produo
cinematogrfica, modificando assim a prpria
concepo da arte, bem como a viso desta pelo
pblico: a reprodutibilidade tcnica da obra de arte
modifica a relao da massa com a arte (Benjamin,
1994, p. 187), complementa. Assim, com a passagem
do tempo, a funo da arte se modifica: ela deixa de
ser ritualstica, de servir aos propsitos de culto ou
de negao a ela, para ser poltica.
Na obra em que analisa Charl es Baudelaire,
Benjamin (1989) apresenta tambm essa viso da
mudana da valorizao, e mesmo da caracterizao
do escritor, no sculo XX, exemplificando -o como
um flneur social, e discutindo a prpria alterao na
Acta Sci. Human Soc. Sci.
49
idia de origem do texto artstico, bem como da
funo desta e do criador.
O estudioso alemo explica que, no incio do
sculo XIX, os jornais eram distribudos apenas para
os assinantes, por um preo elevado: Quem no
pudesse pagar a elevada quantia [...] ficava na
dependncia dos cafs, onde, muitas vezes, grupos
de vrias pessoas rodeavam um exemplar
(Benjamin, 1989, p. 23). Dessa forma, os leitores
eram aqueles freqentadores dos cafs, local onde
tambm se discutia sobre as obras publicadas (em
folhetins) e seu autores. Benjamin (1989) con clui,
assim, que havia um vnculo entre leitura de
folhetins e opinio do pblico. Por isso, o jornal
passou a reduzir a taxa de assinatura, aumentando o
nmero de anunciantes e, para garantir a leitura dos
anncios pelos leitores, valorizou a publicao d o
romance-folhetim. Conseqentemente, o escritor
comeou a ser reconhecido na sociedade, por meio
dos cafs, podendo ento , configurar a sua imagem
ante ao pblico. Muitas vezes, escritores apoiavam
certas tendncias polticas para, com isso, receber
apoio financeiro, conquistar fama e prestgio social.
Observa, desse modo , que Baudelaire, de fato,
conhecia o papel do literato em sua sociedade:
como flneur ele [o poeta] se dirige feira; pensa
que para olhar, mas, na verdade, j para procura r
um comprador (Benjamin, 1989, p. 30).
Ele ainda discute a posio do escritor flneur na
sociedade: este era um caminhante, um observador
do mundo em uma perspectiva panormica.
Configurando-se em um gnero literrio, os livros
produzidos por um flneur descreviam e imitavam,
em estilo anedtico, o primeiro plano plstico e,
com seu fundo informativo, o segundo plano largo e
extenso dos panoramas (Benjamin, 1989, p. 33). O
chamado gnero fisiolgico, logo, constitua-se
por escritos descritivos de tipos huma nos da
sociedade, de animais, de cidades e dos povos: A
calma dessas descries combina com o jeito do
flneur, a fazer botnica no asfalto (Benjamin , 1989,
p. 34), uma vez que as ruas eram estreitas, e os
passeios no eram comuns, j que Paris estava sendo
reorganizada, reformada; logo, a inspirao dos
fisiologistas vinha sobretudo das gale rias. O prprio
Baudelaire, citando Guys, afirma que as galerias so
como remdios contra o tdio: Quem capaz [...]
de se entediar em meio multido humana um
imbecil. Um imbecil, repito, e desprezvel
(Benjamin, 1989, p. 35). Para o flneur, as ruas lhe
eram agradveis, visto que, nelas, observava -se a vida
humana em movimento.
Aps o seu desenvolvimento em 1840, esse
gnero sofreu uma transformao: passou a
Maring, v. 28, n. 1, p. 47-54, 2006
50
configurar em um jogo de pressuposio dos tipos
humanos do cotidiano das cidades; os escritores
tentavam adivinhar a personalidade dos transeuntes,
as particularidades e a generalizao dos povos e dos
cidados.
As fisiologias desapareceram rapidamente, e
outra classificao para o flneur surgiu: a do papel de
detetive, que no se importa m ais com os tipos,
ocupa-se, antes, com as funes prprias da massa
na cidade grande (Benjamin, 1989, p. 38). Assim,
qualquer viso crtica negativa em relao ao flneur
por exemplo, a ociosidade, o desleixo, a aparente
indolncia, a observao justificada pela sua
sagacidade e pelo seu herosmo no papel do detetive.
De fato, o incio dos romances policiais se efetiva
nesse perodo, quando Baudelaire traduz os
romances de Poe. Para Benjamin (1989), Baudelaire
valorizava o romance policial por este manter um
contedo sociocultural vinculado massa popular,
sem individualizaes.
Assim, com a passagem do tempo, isto , com as
transformaes dos valores e da prp ria estrutura
social, a escrita tambm se configura como objeto de
consumo, e o escritor, como aquele que vende o seu
produto, a sua criao.
Ainda discutindo sobre as influncias scio histricas na trajetria da obra de arte, Benjamin
(1994, p. 198) tece consideraes sobre o romance,
atentando-se ao estudo da narrativa. Retomando a
origem desta, dos seus primrdios, verifica que ela
est intimamente vinculada experincia: narrar a
faculdade de intercambiar experincias. [...] A
experincia que passa de pessoa a pessoa a fonte a
que recorreram todos os narradores. Gagnebin
(1994a, p. 66) explica que essa experincia se
inscreve numa temporalidade comum a vrias
geraes. Ela supe, portanto, uma tradio
compartilhada e retomada na continuidade de uma
palavra transmitida de pai para filho. Assim,
Benjamin (1994, p. 199) considera que os narradores
orais podem ser divididos em dois grupos principais,
tipos fundamentais, a saber, o viajante que muito
tem a contar e o ser conhecedor das histrias e
tradies de seu povo, de seu pas; ilustra estes tipos
no marinheiro comerciante e no campons
sedentrio, ressaltando que, de fato, os narradores
se interpenetravam, isto , havia narrativas que
contavam com mestres sedentrios detentores de
sabedorias tradicionais e com seus aprendizes
ambulantes: A extenso real do reino narrativo, em
todo o seu alcance histrico, s pode ser
compreendida se levarmos em conta a
interpenetrao desses dois tipos arcaicos.
Observam-se, dessa forma, duas colocaes: em
Acta Sci. Human Soc. Sci.
Conrado
primeiro lugar, que havia uma distncia espacial e/ou
temporal ou, como explica Kothe (1976, p. 39), algo
prximo no tempo [que] pode ser apresentado
como ocorrendo em lugares distantes, assim como
algo distante no tempo [que] pode ser apresentado
como prximo no espao, isto , deslocamentos,
que configuram carter aurtico apario nica de
algo distante. Em segundo lugar, nota-se que a
narrao estava sempre vinculada a duas
caractersticas, que lhe eram essenciais: ao carter
oral e experincia de vida. Desse modo, afirma
Benjamin (1994, p. 200) que a verdadeira narrativa
tem tambm um carter utilitrio: nela, o narra dor
expressa um ponto de vista, seja num ensinamento
moral, seja numa sugesto prtica, seja num
provrbio ou numa forma de vida, isto , aconselha.
Todavia, o crtico defende que, um conselho, para
ser expresso e vlido, precisa estar relacionado a uma
experincia: ele acredita que as experincias, que
baseiam os conselhos, no sculo XX, com o advento
das guerras, estavam se extinguindo e, da mesma
forma, a arte de narrar: com o passar do tempo, no
h mais experincias, ou sabedorias, a serem
narradas.
Para o estudioso alemo, a narrativa da tradio
se perde com o advento do romance no perodo que
considera moderno, sendo marcada pela inveno da
imprensa e das tcnicas de reproduo. Para
caracterizar a narrativa da tradio e pensar em sua
distino da narrativa que Benjamin considera
moderna, ou seja, o romance, Gagnebin (1994b)
aponta os trs pressupostos da realizao da erfahrung,
da experincia coletiva, que fundamenta a narrativa
tradicional: o carter no -individual da experincia a
ser relatada, isto , comum ao narrador e ao ouvinte;
a aproximidade da narrao da experincia com o
trabalho artesanal; o aspecto pr tico da narrativa. A
sociedade capitalista, com o desenvolvimento da
tcnica, do progresso e da velocidade, permite outra
forma de narratividade. Por outro lado, a narrativa
tradicional poderia ser comparada atividade do
arteso, pois se caracteriza por seu ritmo lento e por
traduzir uma sedimentao progressiva das diversas
experincias e uma palavra unificadora (Gagnebin,
1994b, p. 11); do mesmo modo, ela tem suas
praticidade devido ao fato de se aproximar do
conselho, da transmisso do saber, de uma
experincia. A narrativa moderna, ao contrrio, traz
indivduos isolados, sem orientao e angustiados,
reflexo do ser humano do sculo XX; conclui-se,
conforme Gagnebin (1994b, p. 11), que O
depauperamento da arte de contar parte, portanto,
do declnio de uma tradio e de uma memria
comuns, que garantiam a existncia de uma
Maring, v. 28, n. 1, p. 47-54, 2006
Tempo e narrativa
experincia coletiva, ligada a um trabalho e um
tempo partilhados, em um mesmo universo de
prtica e de linguagem.
Benjamin (1994, p. 201) insiste que a natureza do
romance diferente de todas as outras formas de
prosa: ela nem procede da tradio oral nem a
alimenta; distingue-se, em essncia, da narrativa da
tradio porque no se vincula experincia, mas se
baseia na segregao, no isolamento, e na experincia
particular, no havendo a possibilidade de receber ou
desenvolver conselhos. Nas palavras do crtico:
O romancista se separou do povo e do que ele faz. A
matriz do romance o indivduo em sua solido, o
homem que no pode mais falar exemplarmente
sobre suas preocupaes, a quem ningum pode dar
conselhos, e que no sabe dar conselhos a ningum.
Escrever um romance significa descrever a existncia
humana, levando o incomensurve l ao paroxismo
(Benjamin, 1994, p. 54).
Ao estudar o desenvolvimento do romance pelos
tempos, afirma o crtico alemo que este foi um
processo lento e gradativo, a partir da forma pica,
at eclodir, no contexto socioeconmico e poltico
da burguesia, em sua configurao: O romance,
cujos primrdios remontam Antiguidade, precisou
de centenas de anos para encontrar, na burguesia
ascendente, os elementos favorveis a seu
florescimento (Benjamin, 1994, p. 202). Antes do
romance, a pica era a forma literria influente, que
inclusive direcionou a prpria formao do
romance, e tinha como essnci a a experincia e a
vivncia do narrador. A informao, destacando -se
na sociedade burguesa consolidada, c om o gnero
romanesco, ocupa o centro das influncias da
narrativa: Ela to estranha narrativa como o
romance, mas mais ameaadora e, de resto,
provoca uma crise no prprio romance. Essa nova
forma de comunicao a informao (Benjamin,
1994, p. 202).
Benjamin (1994, p. 202-203) compara a
informao ao saber da narrativa da tradio,
afirmando que o saber, que vinha de longe [...],
dispunha de uma autoridade que era vlida mesmo
que no fosse controlvel pela experincia. Explica
que a informao aspira a uma verificao
imediata, isto , vincula-se a um fato prximo que
tem explicao no momento em que apresentado;
conclui que quase nada do que acontece est a
servio da narrativa, e quase tudo est a servio da
informao. Na narrativa, ao contrrio, o
extraordinrio e o miraculoso so narrados com
maior exatido, mas o contex to psicolgico da ao
no imposto ao leitor, ressalta o estudioso,
observando, assim, que o declnio da narrativa da
Acta Sci. Human Soc. Sci.
51
tradio tambm ocorre pelo uso e pela difuso da
informao.
O filsofo alemo exemplifica o seu conceito de
narrativa e o contraste desta com a informao, ao
citar um dos relatos de Herdo to, afirmando a
pluralidade e a atemporalidade da narrativa: Ela no
se entrega. Ela conserva suas foras e depois de
muito tempo ainda capaz de se desenvolver
(Benjamin, 1994, p. 204). Demonstra como a
informao est presa ao momento em que se revela
e precisa se explicar, esgotar -se em si mesma: Ela s
vive
nesse
momento,
precisa
entregar -se
inteiramente a ele ressalta, uma vez que se vincula
diretamente ao fato que informa.
Para Benjamin (1994, p. 204), a narrativa da
tradio caracteriza-se de forma distinta: seu aspecto
conciso permite sua fcil memorizao e, alm disso,
a distncia da anlise psicolgica, aproximando -a da
experincia do ouvinte e instigando este ltimo a
recont-la:
Quanto maior a naturalidade com que o narrador
renuncia s sutilezas psicolgicas, mais facilmente a
histria se gravar na memria do ouvinte, mais
completamente ela se assimilar sua prpria
experincia e mais irresistivelmente ele ceder
inclinao de recont-la um dia.
Desse modo, demonstra o seu ponto de vista, no
qual afirma que a narrativa, por estar vinculada
tradio e experincia do seu criador, pode ser
comparada ao ofcio manual, como um trabalho de
um arteso, como uma forma artesanal de
comunicao. Em suas palavras, apresenta a idia da
narrativa trabalhada, transmitida pelo narrador que o
faz de modo semelhante ao trabalho manual:
Contar histrias sempre foi a arte de cont -las de
novo, e ela se perde quando as histrias no so mais
conservadas. Ela se perde porque ningum mais fia
ou tece enquanto ouve a histria. [...] Assim se teceu
a rede em que est guardado o dom narrativo. E
assim essa rede se desfaz hoje por todos os lados,
depois de ter sido tecida, h milnios, em torno das
mais antigas formas de trabalho manual (B enjamin,
1994, p. 205).
A marca do narrador firma-se no modo como este
traduz a sua experincia, a tradio e os seus conselhos
em sua narrativa, de forma nica e peculiar: Ela [a
narrativa] mergulha a coisa na vida do narrador para
em seguida retir-la dele. Assim se imprime na
narrativa a marca do narrador, como a mo do oleiro na
argila do vaso (Benjamin, 1994, p. 205).
Ao estudar a relao da narrativa com o tempo, e
sua formatao no desenvolvimento do romance, o
filsofo aponta para a reflexo sobre a importncia de se
manter o que se narra, isto , ele faz um estudo sobre a
Maring, v. 28, n. 1, p. 47-54, 2006
52
Conrado
memria da narrativa. Afirmando que a narrativa se
funda na idia de memria, pois se preocupa com a
conservao da tradio, com a sugesto e com o relato
da experincia, Benjamin explica que a reminiscncia
representada pela deusa Mnemosyne era a musa da
narrativa pica, o que permitia tambm o
encadeamento da tradio, transmitida de gerao em
gerao. O romance, que no traz um carter nico,
pois tem base em fatos difusos, ou seja, e m transmitir
vrias informaes, sem vnculo com a tradio, tem
como musa a rememorao.
Citando Lukcs, em Teoria do romance, Benjamin
(1994) explica a idia de rememorao no romance: o
romancista recebe, como herana da epopia, a
reminiscncia; todavia, sente uma profunda melancolia
por no poder usufru-la na sua narrao, uma vez que
no consegue se desvincular da idia de tempo, isto ,
do seu tempo e, com isso, no h perspectiva de
transmisso de valores da tradio, nem de pluralidade
de leituras ou de atemporalidade. Para Lukcs ( apud
Benjamin, 1994, p. 212), o tempo estabelece-se como
um dos princpios que constituem o romance: este s
pode ser constitutivo quando cessa a ligao com a
ptria transcendental [...] Somente o romance separa o
sentido e a vida e, portanto, o essencial e o temporal;
podemos quase dizer que toda a ao interna do
romance no seno a luta contra o poder do tempo.
Dessa forma, o filsofo alemo estabelece a diferena
entre narrativa e romance, demonstrando que a quele
est aberto s interpretaes, s diferentes perspectivas e
releituras, ao interesse e conservao, ao recontar,
enquanto o romance est fadado sua materialidade ,
isto , sua produo e reproduo, processo no qual o
leitor pode, ao final da leitura, refletir sobre o sentido
de uma vida (Benjamin, 1994, p. 213).
Pode-se, dessa forma, verificar as concepes de
Benjamin quanto o desenvolvimento da narrativa,
desde a sua origem de narrativa oral, at o romance,
observando quais foram os critrios para definir tais
narrativas, vinculando-as configurao do narrador e,
alm disso, relacionar essas definies com a passagem
do tempo. Exemplificam-se, de maneira sucinta e geral,
as concepes referidas na Tabela 1, para melhor
visualizao:
Tabela 1. Comparativo da narrativa oral ao romance
Narrao oral
Plural: mltiplas
interpretaes
Atemporal
pica
Plural: mltiplas
interpretaes
Atemporal
Romance
Unilateral: interpretao
presa ao momento
Marcada e valorizada
temporalmente
Tradio oral; aura;
Sem tradio; sem aura;
autenticidade
sem autenticidade
Vnculo com a vivncia
Vnculo com a
do narrador
informao
Tradio oral; aura;
autenticidade
Vnculo com a
experincia do autor da
narrativa
Trabalho manual: uso da Uso da reminiscncia Reproduo tcnica: uso
memria
da rememorao
Acta Sci. Human Soc. Sci.
Consideraes finais
No estudo da evoluo histrico -temporal da
narrativa, sobretudo do romance, relacionado ao
desenvolvimento do narrador e da concepo de arte
atravs dos tempos, como nas teorizaes de
Benjamin (1994), observa-se que a idia de
valorizao de um objeto artstico bastante relativa,
dependente do momento no qual este lido e
reconhecido. Como explica Perrone-Moiss (1998,
p. 21), deve-se, para se julgar uma obra, verificar
quais os valores que devem presidir crtica:
dependendo do conceito de literatura, h um
conceito de histria literria e, assim, h um modo
de valorizao do texto literrio no h critrios
fixos para a crtica.
A reflexo crtica de Benjamin acerca do romance,
por ser histrica, remete a um vis em que se pode
observar o processo temporal na qual a narrativa se
desenvolve, percebendo-se de que maneira o filsofo
alemo considera a perda da aura do texto narrativo,
devido s mudanas socioculturais. Todavia, sabe-se
que as reflexes do autor demonstram uma
preocupao com a perda da tradio, da
autenticidade da obra no tempo e esses valores
tambm so discutidos por outros autores, como
Eliot (1989), que explica que o termo tradio
normalmente utilizado de m odo pejorativo, pois as
pessoas em geral, para ele, tm a tendncia de
criticar, de tecer comentrios sobre o objeto artstico
com o qual teve contato e, de fato, acabam por
buscar o elemento peculiar, singular, diferente, o
aspecto que faz com que a obra se destaque e se
diferencie de todas as outras. Eliot (1989, p. 38-39)
contrape-se a esta idia, explicando que, muitas
vezes, o carter individual da obra est justamente no
fato de ela recuperar aspectos dos seus antecessores,
de maneira a imortaliz-los: o artista com talento
aquele que sabe usar da tradio em seus textos: a
tradio [...] envolve um sentido histrico [...]; e o
sentido histrico implica a percepo, no apenas na
caducidade do passado, mas de sua presena. Isso
significa que ele entende a histria em um processo
de simultaneidade.
Alm disso, diz que uma obra nunca lida de
forma significativa, isoladamente, mas sempre
analisada e comparada s outras obras; dessa forma,
existe uma ordem de valores, completa e ideal, at
que uma nova obra de arte surja e reorganize essa
ordem, fazendo parte dela. Conclui, por
conseguinte, que o passado (tradio) modificado
pela perspectiva do presente; e o presente tambm se
transforma pela influncia do passado. Observa -se
que o crtico, assim como os tericos da crtica
sociolgica, considera o contexto sociocultural e
Maring, v. 28, n. 1, p. 47-54, 2006
Tempo e narrativa
histrico na valorizao da arte.
Ele ainda desenvolve reflexes acerca da relao
entre o poeta e o passado, ao afirmar que a arte no
se aperfeioa, ela no evolui: o que mud a a
mentalidade do indivduo (poeta, leitor, crtico), que
histrica. Assim, ele declara que a diferena entre
o presente e o passado que o presente consciente
constitui de certo modo uma conscincia do
passado, num sentido e numa extenso que a
conscincia que o passado tem de si mesmo no
pode revelar (Eliot, 1989, p. 41). O poeta deve,
ento, desenvolver ou buscar a conscincia do
passado [...] [e] continuar a desenvolv -la ao longo
de toda a sua carreira (Eliot, 1989, p. 42). O talento
do artista saber articular a conscincia do passado
no presente, despersonalizando aspectos de sua obra,
universalizando-a, a fim de aumentar as
possibilidades de criao, segundo o terico. Alm
disso, o poeta com talento utiliza -se de emoes e de
sentimentos para criar efeitos prprios do processo
artstico; ele sabe combinar, unir vrios tipos de
imagens, estruturas, para fazer suscitar emoes.
Isso significa, portanto, que h outras maneiras
de se conceber o texto literrio e seu vnculo com o
aspecto temporal, e a valorizao deste vai depender
da maneira como o crtico percebe o objeto artstico
em sua evoluo, bem como em seu contexto de
produo.
Outro ponto de vista sobre tradio, histria e
valor da obra exposto por Borges (2000), que
afirma no haver, de fato, uma diviso ou distncia
real e temporal entre os textos: tudo atual, tudo
interessa, e todos os textos podem ter sua beleza,
indiferente de seu vnculo histrico. Ou seja:
tecendo consideraes sobre a beleza e o prazer que
o poema traduz, conclui que a beleza no est no
poeta, e sim, no prprio poema, ressaltando que a
poesia no pode ser definida e que, na verdade, no
h necessidade de defini-la. Apesar de referir-se ao
texto potico, Borges (2000) na verdade inovador e
bastante diferenciado por negar o tempo , explica
Perrone-Moiss (1998, p. 33): afirma que no h
uma evoluo temporal, porque o tempo no existe
para o desenvolvimento da literatura, uma vez que o
novo cria o passado; o presente, a obra posterior
permite a existncia da obra anterior: entretanto,
chamar esses predecessores de precursores, como faz
Borges, privilegiar declaradamente o que vem
depois, subverter toda a questo das fontes, das
influncias, e a prpria noo de tradio.
Vale ainda salientar o po sicionamento de
Benjamin (1994, p. 115) em suas consideraes, ao
criticar o desenvolvimento das tcnicas de produo,
acompanhado pela ascenso da sociedade capitalista,
Acta Sci. Human Soc. Sci.
53
e a influncia da informao, em detrimento da
narrativa baseada na experincia colet iva (erfahrung),
pois qual o valor de todo o nosso patrimnio
cultural, se a experincia no mais o vincula a ns?,
questiona. De fato, o filsofo apresenta, como
explica Gagnebin (1994a, p. 64), um certo tom
nostlgico; todavia, suas reflexes se atm aos
processos sociais, culturais e artsticos de
fragmentao crescente e de secularizao triunfante,
no para tentar tirar dali uma tendncia irreversvel,
mas, sim, possveis instrumentos [...] em favor da
maioria dos excludos da cultura. Desse modo,
nota-se preocupao do estudioso quanto s
mudanas sociais e manipulao de valores
culturais, que ele traduz em seus escritos sobre o fim
da arte narrativa tradicional: Gagnebin (1994a, p. 65)
explica que se essa problemtica da narrao
preocupa Benjamin desde tanto tempo [...] porque
ela concentra em si, de maneira exemplar, os
paradoxos da nossa modernidade e, mais
especificadamente, de todo seu pensamento.
Refletir sobre a narrativa tradicional, a autenticidade
do objeto artstico, da autoridade deste em suas
origens, faz com que os escritos de Benjamin
respondam a uma crtica ao indivduo burgus que
sofre de uma espcie de despersonalizao
generalizada (Gagnebin, 1994a, p. 68) e, alm disso,
traz uma viso de mundo que tambm retomada
pelas correntes de arte moderna. Assim, conforme
Gagnebin (1994a), Benjamin tambm traz em seus
estudos uma denncia scio -poltica dos efeitos
negativos da sociedade moderna, e um alerta busca
pela no alienao sociocultural.
Ressalta-se tambm a importncia que o autor
apresenta de se reconhecer a pobreza da narrativa
moderna, o romance, que individualizada e se
refere s experincias vividas no mundo burgus,
por exemplo, explicitando a sua viso de certo modo
pessimista quanto aos efeitos do rpido progresso:
Podemos agora tomar distncia para avaliar o
conjunto. Ficamos pobres. Abandonamos uma
depois da outra todas as peas do patrimnio
humano (Benjamin, 1994 , p. 119).
Observar diferentes vises de perceber o objeto
artstico e a sua relao histrico-temporal importante
para se notar como a reflexo construda por Benjamin
reflete uma possibilidade de estudo de tal objeto.
Entretanto, pode-se afirmar, a partir do estudo do
desenvolvimento da narrativa feita por Benjamin, que o
ponto de vista do autor objetivo e coerente, uma vez
que traduz, historicamente, o percurso da formao do
texto narrativo e do narrador, firmado nos
posicionamentos coesos de Benjamin, os quais
influenciam muitos estudos da crtica literria.
Maring, v. 28, n. 1, p. 47-54, 2006
54
Referncias
BENJAMIN, W. Charles Baudelaire um lrico no auge do
capitalismo. Trad. Jos C. M. Barbosa e Hemerson A.
Baptista. So Paulo: Brasiliense, 1989 (obras escolhidas,
vol. III).
BENJAMIN, W. A crise do romance. In: BENJAMIN, W.
(Ed.). Magia e tcnica, arte e poltica: ensaios sobre literatura e
histria da cultura. 7. ed. Trad. Srgio P. Rouanet. So
Paulo: Brasiliense, 1994. p. 54-60.
BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua
reprodutibilidade tcnica. In: BENJAMIN, W. (Ed.).
Magia e tcnica, arte e poltica: ensaios sobre literatura e
histria da cultura. 7. ed. Trad. Srgio P. Rouanet. So
Paulo: Brasiliense, 1994. p. 165-196.
BENJAMIN, W. Experincia e pobreza. In: BENJAMIN,
W. (Ed.). Magia e tcnica, arte e poltica: ensaios sobre
literatura e histria da cultura. 7. ed. Trad. Srgio P.
Rouanet. So Paulo: Brasiliense, 1994 . p. 114-119.
BENJAMIN, W. O narrador. In: BENJAMIN, W. (Ed.).
Magia e tcnica, arte e poltica : ensaios sobre literatura e
histria da cultura. 7. ed. Trad. Srgio P. Rouanet. So
Paulo: Brasiliense, 1994. p. 197-221.
Acta Sci. Human Soc. Sci.
Conrado
BORGES, J.L. Esse ofcio do verso. Trad. Jos Marcos
Macedo. So Paulo: Companhia das Letras, 2000.
ELIOT, T.S. Ensaios. Trad. Ivan Junqueira. So Paulo: Art
Editora, 1989.
GAGNEBIN, J.M. No contar mais? In: Histria e narrao
em Walter Benjamin. So Paulo: Perspectiva / Fapesp;
Campinas: Editora da Unicamp, 1994 a. p. 63-82.
GAGNEBIN, J.M. Walter Benjamin ou a histria aberta.
In: BENJAMIN, W. (Ed.). Magia e tcnica, arte e poltica:
ensaios sobre literatura e histria da cultura. 7. ed. Trad.
Srgio P. Rouanet. So Paulo: Brasiliense, 1994 b. p. 7-19.
KOTHE, F.R. Para ler Benjamin. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1976.
PERRONE-MOISS, L. Altas literaturas. So Paulo:
Companhia das Letras, 1998.
Received on July 08, 2005.
Accepted on May 12, 2006.
Maring, v. 28, n. 1, p. 47-54, 2006
Você também pode gostar
- Apostila Historia Da ArteDocumento122 páginasApostila Historia Da Artejhon100% (4)
- 24 26 PBDocumento575 páginas24 26 PBRafael Sicoli PachecoAinda não há avaliações
- Oficina de Traducao I ProsaDocumento137 páginasOficina de Traducao I ProsaJulio Shibata100% (1)
- A Obra de Arte Na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica PDFDocumento4 páginasA Obra de Arte Na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica PDFlizardAinda não há avaliações
- Homem e Sociedade NP1Documento3 páginasHomem e Sociedade NP1Jenifer Tais Jhonatan Deymison64% (14)
- Perfil Turma 3ºADocumento3 páginasPerfil Turma 3ºAanon-91388088% (8)
- BENJAMIN, W. Magia e Técnica, Arte e PolíticaDocumento13 páginasBENJAMIN, W. Magia e Técnica, Arte e PolíticaNicole DiasAinda não há avaliações
- Metodologia Da História Da ArteDocumento8 páginasMetodologia Da História Da ArteLaura Catarina100% (1)
- Literatura Intertextualidade - Cid SeixasDocumento60 páginasLiteratura Intertextualidade - Cid SeixastimtimtonesAinda não há avaliações
- Resenha "O Fim Da História Da Arte" de Hans BeltingDocumento6 páginasResenha "O Fim Da História Da Arte" de Hans BeltingNina Fonseca100% (2)
- O filme Zabriskie Point: fotografia e artes plásticas no cinemaNo EverandO filme Zabriskie Point: fotografia e artes plásticas no cinemaAinda não há avaliações
- Historicidade Final-5 4Documento213 páginasHistoricidade Final-5 4mfernandes_257394Ainda não há avaliações
- Fichamento 1-ARAÚJO, Bráulio Santos Rabelo De. O Conceito de Aura, de Walter Benjamin, e A Indústria CulturalDocumento11 páginasFichamento 1-ARAÚJO, Bráulio Santos Rabelo De. O Conceito de Aura, de Walter Benjamin, e A Indústria CulturalespelhosdeclioAinda não há avaliações
- Fichamento - A Obra de Arte Na Era de Sua Reprodutividade TécnicaDocumento9 páginasFichamento - A Obra de Arte Na Era de Sua Reprodutividade TécnicaBruno PaesAinda não há avaliações
- A Obra de Arte Na Era Da Sua Reprodutividade Técnica by Walter BenjaminDocumento58 páginasA Obra de Arte Na Era Da Sua Reprodutividade Técnica by Walter BenjaminRubianny SalesAinda não há avaliações
- 1 - Fichamento BenjaminDocumento6 páginas1 - Fichamento Benjaminppgas fachAinda não há avaliações
- Visibilidade Da Transformação - Tempo Na Literatura e No CinemaDocumento17 páginasVisibilidade Da Transformação - Tempo Na Literatura e No CinemaRita GomesAinda não há avaliações
- RESENHA BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: ADORNO et al. Teoria da Cultura de massa. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 221254.Documento3 páginasRESENHA BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: ADORNO et al. Teoria da Cultura de massa. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 221254.Zé Luiz Cavalcanti0% (1)
- Reprodutibilidade Técnica - BenjaminDocumento6 páginasReprodutibilidade Técnica - BenjaminEllen RomanAinda não há avaliações
- Benjamin Versus Adorno e HorkheimerDocumento8 páginasBenjamin Versus Adorno e HorkheimerRégis DÁvilaAinda não há avaliações
- Anais Digitais do XVIII Encontro Estadual de História ANPUH-PB: História: desafios do ensino, da pesquisa e da extensão no tempo presente: 30 de julho a 03 de agosto de 2018 / Realização: ANPUH-PB. – João Pessoa, 2018.Documento9 páginasAnais Digitais do XVIII Encontro Estadual de História ANPUH-PB: História: desafios do ensino, da pesquisa e da extensão no tempo presente: 30 de julho a 03 de agosto de 2018 / Realização: ANPUH-PB. – João Pessoa, 2018.paulajeanibAinda não há avaliações
- Visibilidade Da Transformacao o Tempo NaDocumento17 páginasVisibilidade Da Transformacao o Tempo NaKarina GonçalvesAinda não há avaliações
- Até Que o Instante Ou A Hora Participem de Sua ManifestaçãoDocumento18 páginasAté Que o Instante Ou A Hora Participem de Sua ManifestaçãoSandro NovaesAinda não há avaliações
- 6 - Tese Dilson Midlej - Capítulo 3 PDFDocumento76 páginas6 - Tese Dilson Midlej - Capítulo 3 PDFRenata LimaAinda não há avaliações
- MAKOWIECKY - Os Lugares Das Imagens - Arte, Historia, EventoDocumento19 páginasMAKOWIECKY - Os Lugares Das Imagens - Arte, Historia, EventoAndrea De Almeida RegoAinda não há avaliações
- Resenha - A Obra de Arta Na Era de Sua Reprodutibilidade TécnicaDocumento4 páginasResenha - A Obra de Arta Na Era de Sua Reprodutibilidade TécnicaGabriel AugustoAinda não há avaliações
- Relação Entre História, Narrativa e A Comunicação ArtísticaDocumento9 páginasRelação Entre História, Narrativa e A Comunicação ArtísticaAdriana Rodrigues SuarezAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa PPF3Documento6 páginasProjeto de Pesquisa PPF3toushirogabrielAinda não há avaliações
- Novo AnacronismoDocumento28 páginasNovo AnacronismoCarlos GenovaAinda não há avaliações
- A Natureza-Morta - Uma Reflexão Poetica - ArtigoDocumento16 páginasA Natureza-Morta - Uma Reflexão Poetica - ArtigoJéssica de AguiarAinda não há avaliações
- Resenha: Obra de Arte ReprodutibilidadeDocumento3 páginasResenha: Obra de Arte Reprodutibilidadecassiopribeiro222Ainda não há avaliações
- SELIGMANN SILVA Marcio A Atualidade de WDocumento6 páginasSELIGMANN SILVA Marcio A Atualidade de WRosi GiordanoAinda não há avaliações
- Arte, Tempo, Fim Do Mundo e SalvaçãoDocumento21 páginasArte, Tempo, Fim Do Mundo e SalvaçãoSofia VermelhoAinda não há avaliações
- Resenha - Hermenêutica Da Obra de Arte - Hans-Georg GadamerDocumento6 páginasResenha - Hermenêutica Da Obra de Arte - Hans-Georg GadamerDa Paz Da PazAinda não há avaliações
- Caracteristicas Basicas Da Epopeia Classica. VICTORIA BEATRIZDocumento3 páginasCaracteristicas Basicas Da Epopeia Classica. VICTORIA BEATRIZVictoria Beatriz Martins FerreiraAinda não há avaliações
- Neurivaldo PedrosoDocumento20 páginasNeurivaldo PedrosoFco. Miguel de Moura JúniorAinda não há avaliações
- Resenha II - Barroco No Brasil - Argan - Guia Da História Da ArteDocumento6 páginasResenha II - Barroco No Brasil - Argan - Guia Da História Da ArteCarolAinda não há avaliações
- Alfredo BosiDocumento5 páginasAlfredo BosiLucas Oliver100% (1)
- 726 2264 1 PBDocumento24 páginas726 2264 1 PBmaria claraAinda não há avaliações
- Batalha Do Avaí ExplicaçãoDocumento21 páginasBatalha Do Avaí ExplicaçãoClaudia SodreAinda não há avaliações
- Eduardo-Iconografia MusicalDocumento51 páginasEduardo-Iconografia MusicalEduardo MagalhãesAinda não há avaliações
- Poética e Filosofia Da Memória Na Lírica de CamõesDocumento14 páginasPoética e Filosofia Da Memória Na Lírica de CamõesJoão GAinda não há avaliações
- Ekphrasis - Alvaro GomesDocumento22 páginasEkphrasis - Alvaro GomesDebora Sales da RochaAinda não há avaliações
- Paradoxo e Infra Mince Na Obra de Giuseppe PenoneDocumento10 páginasParadoxo e Infra Mince Na Obra de Giuseppe PenoneMarina CâmaraAinda não há avaliações
- ARQUIVO TextoDocumento17 páginasARQUIVO TextomvclageAinda não há avaliações
- Aula 1 EstéticaDocumento28 páginasAula 1 EstéticajuliaeliasczynczykAinda não há avaliações
- Arte & SociedadeDocumento10 páginasArte & SociedadeVinícius GandolfiAinda não há avaliações
- 5119 Article 8135 1 10 20200202Documento13 páginas5119 Article 8135 1 10 20200202Simao NascimentoAinda não há avaliações
- Raianesilva, Gerente Da Revista, 12897-41747-1-PBDocumento13 páginasRaianesilva, Gerente Da Revista, 12897-41747-1-PBMonserrat BrizuelaAinda não há avaliações
- O Patrimônio Histórico e A Cultura Material No Renascimento de Christine Ferreira AzziDocumento19 páginasO Patrimônio Histórico e A Cultura Material No Renascimento de Christine Ferreira AzziTainá SousaAinda não há avaliações
- PanofskyDocumento3 páginasPanofskyKarinaAikoAinda não há avaliações
- DO Genio Ao Jogo o Papel Da Tecnica Na Transformacao Dos Valores Esteticos em Walter Benjamin, Nelio R ConceicaoDocumento22 páginasDO Genio Ao Jogo o Papel Da Tecnica Na Transformacao Dos Valores Esteticos em Walter Benjamin, Nelio R ConceicaoanAinda não há avaliações
- A Narração e A HistóriaDocumento12 páginasA Narração e A HistóriaLuís PereiraAinda não há avaliações
- GlossárioDocumento6 páginasGlossárioGabriel SantanaAinda não há avaliações
- Arthur Danto e A Arte Pós-HistóricaDocumento12 páginasArthur Danto e A Arte Pós-HistóricaRachel Cecília de OliveiraAinda não há avaliações
- As Imagens No Tempo e Os Tempos Da ImagemDocumento10 páginasAs Imagens No Tempo e Os Tempos Da ImagemAlessAinda não há avaliações
- Walter Benja Mim Music ADocumento15 páginasWalter Benja Mim Music AGustavo GoulartAinda não há avaliações
- ARGAN, G. C. Preâmbulo Ao Estudo de História Da Arte.Documento8 páginasARGAN, G. C. Preâmbulo Ao Estudo de História Da Arte.Ravena ReisAinda não há avaliações
- Cronotopo e Exotopia de MARILIA AMORIM em Bakhtin Outros Conceitos ChaveDocumento3 páginasCronotopo e Exotopia de MARILIA AMORIM em Bakhtin Outros Conceitos ChaveRoger F. L.Ainda não há avaliações
- Arte Do Documentário e Arte No Documentário Anamorfose e OntologiaDocumento20 páginasArte Do Documentário e Arte No Documentário Anamorfose e OntologiaEverton AguiarAinda não há avaliações
- Klinger Escrita de Si Como PerformanceDocumento5 páginasKlinger Escrita de Si Como PerformanceKarenramosAinda não há avaliações
- Teoria Da História de ArteDocumento37 páginasTeoria Da História de ArteLaura Catarina100% (1)
- A Fenomenologia de Cesare Brandi Temporalidade e Historicidade No Restauro - Trabalho CompletoDocumento8 páginasA Fenomenologia de Cesare Brandi Temporalidade e Historicidade No Restauro - Trabalho CompletoRita MexiaAinda não há avaliações
- Intenções Espaciais - Do Espaço para o Corpo - Junia MortimerDocumento8 páginasIntenções Espaciais - Do Espaço para o Corpo - Junia MortimerVachevertAinda não há avaliações
- FASANO, A FANTANARI, J. R. P. - Uma Aproximação Ao Conceito de Aura Emm Walter BenjaminDocumento13 páginasFASANO, A FANTANARI, J. R. P. - Uma Aproximação Ao Conceito de Aura Emm Walter BenjaminJéssica de FreitasAinda não há avaliações
- FlashMob - Reflexões PreliminaresDocumento11 páginasFlashMob - Reflexões PreliminaresHenrique LimaAinda não há avaliações
- Portugues Instrumental Aula 10 Volume1Documento16 páginasPortugues Instrumental Aula 10 Volume1GuilhermeAinda não há avaliações
- Plano de Curso Artes 5º Ano2022Documento8 páginasPlano de Curso Artes 5º Ano2022Glleyce SouzzaAinda não há avaliações
- 2011 Historia Capa PDFDocumento214 páginas2011 Historia Capa PDFJosé A. Fernandes100% (3)
- Manifestacao Da Minha CulturaDocumento9 páginasManifestacao Da Minha Culturamaldonato6bolachoAinda não há avaliações
- AUGUSTO, M. Os Ideais Políticos de Domingo Faustino SarmientoDocumento11 páginasAUGUSTO, M. Os Ideais Políticos de Domingo Faustino SarmientoArtur Alves da SilvaAinda não há avaliações
- Edital Arte Cultura Visual - TURMA 2017 FINAL (OK) PDFDocumento13 páginasEdital Arte Cultura Visual - TURMA 2017 FINAL (OK) PDFWilder FioramonteAinda não há avaliações
- O Capote de Gogol Biografia Critica ResumoDocumento9 páginasO Capote de Gogol Biografia Critica ResumoJonathas MeloAinda não há avaliações
- Telecurso 2000 - Ensino Fund - Português - Vol 03 - Aula 54Documento6 páginasTelecurso 2000 - Ensino Fund - Português - Vol 03 - Aula 54Portugues TCAinda não há avaliações
- 2 - Intelecção de Textos - INSS - DANIELA TATARINDocumento10 páginas2 - Intelecção de Textos - INSS - DANIELA TATARINThamires AdelinoAinda não há avaliações
- Sassá Mutema: A Construção de Personagens Protagonistas Na Teledramaturgia, A Partir Da Hermenêutica de ProfundidadeDocumento16 páginasSassá Mutema: A Construção de Personagens Protagonistas Na Teledramaturgia, A Partir Da Hermenêutica de ProfundidadePoli LopesAinda não há avaliações
- Interpretação de Textos - OAB (Piloto)Documento7 páginasInterpretação de Textos - OAB (Piloto)Rodrigo BravoAinda não há avaliações
- Seminário de Estágio em Gestão Da EducaçãoDocumento1 páginaSeminário de Estágio em Gestão Da EducaçãoFabiana GelardAinda não há avaliações
- BURNHAM, Rika. A Arte de Ensinar No MuseuDocumento5 páginasBURNHAM, Rika. A Arte de Ensinar No MuseuFranciele AguiarAinda não há avaliações
- ArquivoDocumento17 páginasArquivoVinícius GomesAinda não há avaliações
- Atividade de Ensino ReligiosoDocumento3 páginasAtividade de Ensino ReligiosoDamiãoAinda não há avaliações
- Carvalho Segato PDFDocumento51 páginasCarvalho Segato PDFLuísa PontesAinda não há avaliações
- Análise de Uma Situação Social Na Zululândia - Max GluckmanDocumento19 páginasAnálise de Uma Situação Social Na Zululândia - Max GluckmanTomaz Magalhães SeincmanAinda não há avaliações
- Jesus e Cogumelos Por ChatgptDocumento2 páginasJesus e Cogumelos Por ChatgptAnonymous Oa5kEgtVAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2022-08-01 À(s) 14.25.17Documento32 páginasCaptura de Tela 2022-08-01 À(s) 14.25.17Brenda Thomazini Conceição ChavesAinda não há avaliações
- Apostila - Trentina ADocumento16 páginasApostila - Trentina AAngeloGabrielAinda não há avaliações
- Livros Mencionados Por Olavo de CarvalhoDocumento84 páginasLivros Mencionados Por Olavo de CarvalhoLiana MartinsAinda não há avaliações
- Entrevista Com Zé Celso (1968)Documento8 páginasEntrevista Com Zé Celso (1968)Gabriel Reis MartinsAinda não há avaliações
- Edital O2 2023Documento25 páginasEdital O2 2023barrosmartinsibsonkawaAinda não há avaliações
- Jornalismo Como Cultura Popular - Peter DahlgrenDocumento10 páginasJornalismo Como Cultura Popular - Peter DahlgrenManuca FerreiraAinda não há avaliações