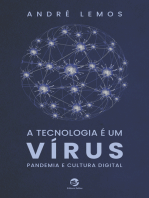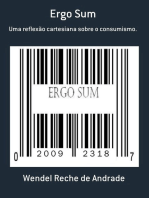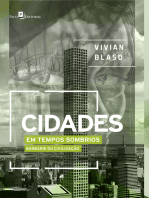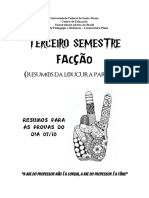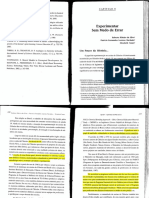Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
20110817-Domingues Paradigma 2010
20110817-Domingues Paradigma 2010
Enviado por
Karoliny MartinsDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
20110817-Domingues Paradigma 2010
20110817-Domingues Paradigma 2010
Enviado por
Karoliny MartinsDireitos autorais:
Formatos disponíveis
i
i
i
i
i
Jos Antnio Domingues
O Paradigma Mediolgico
Debray depois de Mcluhan
LabCom Books 2010
i
i
Livros LabCom
www.livroslabcom.ubi.pt
Srie: Estudos em Comunicao
Direco: Antnio Fidalgo
Design da Capa: Madalena Sena
Paginao: Marco Oliveira
Covilh, 2010
Depsito Legal: 308684/10
ISBN: 978-989-654-031-9
i
i
Dedico este livro minha irm Tonita
i
i
i
i
ndice
Apresentao
1
A mediao como problema na contemporaneidade
1.1 A mediao como problema. . . . . . . . . . . . . . .
1.2 A distoro pela teologia e filosofia. . . . . . . . . . .
1.3 Como a modernidade estruturou a mediao a partir da
representao e do simblico. . . . . . . . . . . . . . .
1.4 A ligao da cultura com a mediao e a tcnica. . . .
1.5 A emergncia do paradigma mediolgico. . . . . . . .
7
7
10
12
17
20
Arqueologia do conceito de mediao
2.1 Genealogia da ideia de Mediao. . . . . . . . . . . .
2.2 A questo da Mediao como problema fundamental
da constituio da Experincia. . . . . . . . . . . . . .
2.3 Crise da Linguagem como modelo de mediao quando
a Tcnica o meio absoluto . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 O efeito da digitalizao na libertao da Mediao. . .
27
27
A mediologia de Marshall McLuhan
3.1 A colonizao pelo Medium de toda a dimenso existencial humana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 A totalizao da Mediao. Medium is the Massage.
3.3 A mutao em luta processada na Histria em torno da
natureza tcnica do Medium. . . . . . . . . . . . . . .
103
64
73
88
103
113
124
i
i
3.4
3.5
3.3.1 A oposio categorial do Medium. . . . . . . .
3.3.2 As trs fases de domnio das duas Categorias. .
A Utopia mcluhaniana: a Mediao Tcnica como a
condio universal de ligao dos homens. . . . . . . .
Adorno, uma crtica Mediao Tcnica Moderna. . .
129
134
153
157
Concluso
171
Experincia, Cultura e Liberdade. . . . . . . . . . . . . . . 171
A questo do Paradigma Mediolgico de Debray. . . . . . . 174
Referncias
181
ii
i
i
Apresentao
No mito de Epimeteu e Prometeu o homem obtm uma essncia especfica depois de o segundo dos deuses lhe entregar os artefactos tcnicos
que roubara a seus pares. Aparte a filantropia de Prometeu, desencadeada por fora do esquecimento de Epimeteu, de guardar uma qualidade
distintiva para a raa humana, o que importa reter que, originariamente, o homem de condio incompleta1 . Supera a incompletude
no momento da tecnicizao da sua experincia. O mito serve, aqui,
para prestar auxlio compreenso da natureza humana, ao facto de o
humano colocar a tcnica no centro da sua existncia, como seu suporte, sem o que esvaeceria. Rgis Debray: O meu crebro morrer,
no estas notas escritas a tinta num papel que durar mais que eu2 . O
mito esclarece, ainda, que h inerncia do inorgnico relativamente ao
orgnico. Tal inerncia mostra que em modos artificiais que o natural
humano se projecta e se identifica.
O homem um ser de mediao tcnica. O homem envolve-se com
o mundo da vida concebendo ambientes artificiais. Concebe uma cultura que se baseia numa mediao tcnica. Concebe a tcnica e esta
concebe-o a ele. A histria das suas concepes tambm a histria da
revelao progressiva do humano a si. Concebe a escrita e concebido
nele um certo tipo de racionalidade. um coabitante das suas concepes. Esta coabitao identifica, portanto, um habitar em comum.
1
PLATO, Protgoras, 320c-322d.
Rgis DEBRAY, Cours de Mdiologie Gnrale, Paris, ditions Gallimard,
1991, p. 75.
2
i
i
O Paradigma Mediolgico
Donde, a criao tcnica no est para o homem como um objecto. O
facto de encontrar na tcnica a identidade avesso a uma interpretao
dual de sujeito e de objecto. Eu sou o meu carro, o meu telefone3 ,
expressa, segundo Rgis Debray, que o humano em ligao com a tcnica. O homem construdo pelo nicho que ele prprio construiu4 .
A criao das tcnicas equivale, por um lado, a um separar e a um exteriorizar uma vida prpria: exteriorizadas, as tcnicas so o lugar onde
o homem emerge. A criao das tcnicas recria, pelo modo como interrelaciona, a vida do homem, orienta-a para uma vida em que a tcnica
participa como um fim da vida e esse fim a vida binica. Corresponde
a uma participao ou influncia ao nvel da conscincia e da aco.
uma participao de compulso, apreendida na prtica de uma retroaco ou feed-back. O que fundamenta esta concepo das tcnicas? As
tcnicas concebem, segundo Debray, nas nossas costas, sem nos pedir, sem nos informar, um mundo, um espao-tempo, uma cidade que
se impe a todos5 .
A experincia do humano tcnica. hbrida. Intersecta-se com
a tcnica. E se o humano , fundamentalmente, mediao tcnica
automvel, televiso, pintura, livro, imprensa, fotografia, cinema , a
mediao tcnica institui-se como cultura. A cultura corresponder a
uma instaurao das mediaes. Todavia historicamente nem todas as
mediaes se instituram como cultura. O que implica as palavras, as
imagens, os objectos e os sons como cultura um certo poder. Trata-se
do poder de constituio da experincia. A cultura instaurada atravs
de alguns objectos, alguns sons, algumas palavras, ensina-nos que a
cultura significa constituio. Assim, irrompem como constitutivos os
meios que desempenham papel polarizador, que organizam a realidade
imediata e a diversidade em que esta est mergulhada. Numa perspectiva cronolgica das mediaes, constata-se que as mediaes que
3
Rgis DEBRAY, Manifestes Mdiologiques, Paris, ditions Gallimard, 1994, p.
141.
4
5
Ibidem.
Rgis DEBRAY, Cours de Mdiologie Gnrale, p. 76.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
comeam por ser utilizadas privilegiam a ligao com o natural: por
exemplo, um povo que surge em lugar soalheiro e tem nas costas uma
serra que o protege das nortadas. Com a passagem agricultura e
domesticao dos animais entra-se numa nova fase de constituio do
universo humano, acelerado com o artifcio da escrita, os projectos urbansticos e os meios de transporte mecnicos. A mediao digital, na
contemporaneidade, a nossa nova pele, repete este processo. A nova
mediao, a nova humanidade que fabrica, faz com que se prolongue
o sentido da existncia local numa existncia global, leva a crer em
formas diferentes de constituio. O fascnio faz-se num quadro de
transfigurao do vivo.
A mediao digital representa uma nova constituio ecolgica.
um ambiente, uma paisagem onde o humano se inscreve e onde se completa a partir de uma espacialidade e temporalidade prprias. Integrase neste espao e tempo digital para que possa experimentar o real no
campo do indirecto. Este espao e tempo tm uma razo, diramos, ontolgica, dada a natureza da simulao implicada. A simulao digital
a mediao no estado puro, identificando-se quase com a physis,
diz Bragana de Miranda6 . importante, pois, reflectir esta questo,
integr-la sob o aspecto de uma representao de uma hermenutica
dos tempos7 . evidente, a no ser que estejamos demasiado narcotizados, de modo que j somos insensveis ao problema, a imerso de
todos os domnios experienciais humanos esttico, poltico, tcnico,
mdico, biolgico, econmico na mediao tcnica, de todo um pensar que parece no poder fazer-se seno sob o aspecto de uma funo.
A digitalizao da mediao cria uma cultura que se baseia na ideia
de que todos os meios se transformam em fins. A experincia parece
qualquer coisa que j no uma procura. A digitalizao j um fim.
A digitalizao elimina a experincia imediata, substitui a relao do
homem com o mundo da vida. A experincia de vida a experincia
6
Jos A. Bragana de MIRANDA, Notas para uma abordagem crtica da cultura,
p. 11 (Texto policopiado).
7
Ibidem, p. 14.
Livros LabCom
i
i
O Paradigma Mediolgico
como simulacro.
O paradigma mediolgico de Mcluhan expressa, essencialmente,
aquilo que vimos de considerar. Mcluhan faz o estudo das mediaes
que privilegiadamente comunicam a experincia. A sua mediologia
permite, tambm, compreender o devir das mediaes. Justamente, o
estudo de Mcluhan corresponde a uma primeira fase na abordagem da
questo. Se a mediao directriz do humano, enquanto este est confrontado com a alteridade da experincia do mundo, pensar a mediao
corresponde a pensar no liame de uma experincia proveniente de uma
cesura. A mediao aquilo que liga a experincia. A mediao uma
questo de ligao.
Na histria dos meios a linguagem o meio que d s coisas o
espao que as torna coisas conhecidas. Por ela passa um sentido de
mediao como reduo a um problema gramatolgico. Mas no mbito teolgico cristo e filosofia grega valoriza-se a conexo dos seres
e essa conexo pressupe a participao num tempo da ideia. Segundo
os crticos das mediaes teolgica e filosfica, as conexes que so
abstraces puras no so, em rigor, mediaes porque o ponto de conexo um ponto projectado. Falam destes casos como casos de xodo
da mediao e de perda da carne da vida. A cultura tcnico-cientfica
moderna faz daquele xodo a reduo do mundo real a um mundo ideal.
O surgimento da realidade como cosmoviso maqunica um resultado
metafsico. Com a mquina a mediao, no seu sentido mais dominante, aparece ligada instrumentao. A tcnica razo. A razo vir
a configurar as mediaes modernas com as caractersticas da objectividade, univocidade e funcionalidade. Estas caractersticas no so
apenas vlidas para a razo, transportam-se para a linguagem e da linguagem para as coisas. A experincia moderna do mundo corresponde
a um conjunto de artefactos susceptveis de manipulao e transformao racionais. A razo mediao absoluta e nica. O todo est
sob o efeito da mediao da razo. Nestes termos, a razo medial a
instncia de controlo da constituio. As suas qualidades no so as
qualidades de simples meio, mas de fim.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
A base de sustentao da teoria moderna da mediao a representao. O controlo da experincia atravs de um quadro criado pelo
homem fundamentado na possibilidade da representao. A representao a possibilidade de operar com a realidade numa segunda
presena da realidade (re-presentao). Nesta modalidade de segunda
presena a realidade ganha propriedades ontolgicas. A representao
o meio de ontologizao da experincia. A representao arquitecta
a significao dos objectos na representao dos objectos. o smbolo
a figura em que a representao significa e se comunica. O simblico
remete para o exerccio de abstraco efectuado sobre o real, proporciona o seu sentido. O predomnio do smbolo equivale, por conseguinte,
ao predomnio de uma certa mediao, mas de essncia performativa,
poitica, criativa. Os desenvolvimentos tcnico e cientfico lem-se a
essa luz, criam uma representao e um smbolo para a realidade finita.
A cultura, segundo o modelo tcnico, permanece objectiva e formal. O smbolo tecniciza-se. Guy Debord diz algo sobre esta tecnicizao quando explica que para a sociedade contempornea que repousa
na representao o fim no nada, o meio tudo8 . Na acepo de
Debord, o que inquieta saber que o mundo se faz ver por diferentes
mediaes sem se dar por isso. Porque, se a ligao do mundo com
a existncia humana acontece por mediao artificial, e se esta o altera, ento a mediao o que se encontra por explicar. Se pelos
meios que os acontecimentos e os sujeitos so realizados no mundo, o
meio devm uma conscincia. Para Debord, a vida degradou-se [. . . ]
em universo especulativo9 . Segundo Debord, o homem utiliza o problema da alteridade da experincia para se desligar da experincia. A
sua identidade dirigida pelo meio, o que, dadas as circunstncias, revela uma experincia como se de uma unidade estruturada se tratasse,
em tudo semelhante a um discurso, cujas partes se conectam seguindo
leis lgicas. O quadro lgico da identidade do sujeito no produzido
8
Guy DEBORD, A Sociedade do Espectculo, Trad. Francisco Alves e Afonso
Monteiro, Lisboa, mobilis in mobile, 1991, p. 14.
9
Ibidem, p. 16.
Livros LabCom
i
i
O Paradigma Mediolgico
a partir do real, produzido a partir do no-real, logo a conscincia
que se tem de mundo e as existncias singulares pem-se em risco.
O mundo e o indivduo sero momentos integrantes da estrutura geral
formal de uma cultura da representao.
Na linha deste processo, a que se pode chamar de desontologizao do real a favor da ontologizao da representao, sucede o apreo
pela uniformidade universal, de que Adorno d conta crtica. O tema
mediolgico tem em Adorno muita importncia, em termos de correspondncia com a libertao do humano de constrangimentos que o dissimulam durante a modernidade. A libertao em Adorno perspectivada como manifestao de esttica criadora, uma premissa que faz
aparecer a cultura como obra de arte. Para si a tarefa da mediao esttica, fundamentalmente, no fica nas mos de uma filosofia da aco
ou de uma tica.
Enfim, a razo dos meios que liberta o humano para um sentido e ao lado de uma tal acepo encontram-se conflitos os conflitos
encontram-se na prpria experincia de mediao do humano!
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Captulo 1
A mediao como problema na
contemporaneidade
1.1
A mediao como problema.
Mediao refere a operao em que um medium, algo situado no meio,
une dois termos, duas realidades, que esto em estado de diviso e de
oposio. Mediar , por conseguinte, interpor alguma coisa para estabelecer uma unidade1 . Requer a diferena, a alteridade, uma oposio.
A diferena isso que imediato e a essa imediatez que a mediao
se ope.
Trata-se de um conceito desvelado pelo pensamento teolgico cristo e pelo pensamento filosfico grego. Estes pensamentos afiguram-se
como as suas fontes principais. Embora o hebraico no tenha um termo
para referir a situao da mediao, conhece a sua importncia a partir
de prticas de vida corrente. Se no decurso de uma altercao entre
homens um deles for de encontro a uma mulher grvida, e se ela der
luz sem outras complicaes, o culpado ficar sujeito indemnizao imposta pelo marido da mulher, que pagar na presena de juzes
1
D. FOLSCHEID, Mdiation, Encyclopdie Philosophique Universelle (Philosophie Occidentale), Paris, PUF, 1990, p. 1584-1585.
i
i
O Paradigma Mediolgico
(xodo, 21, 22-23)2 . De salientar que, sendo o pano de fundo a discrdia, o terceiro no pronuncia sentena, interpe-se entre as duas partes,
sem se confundir com nenhuma delas. O crdito que tem perante ambas
que o qualifica para as unir. O seu papel instaurar a razoabilidade
nas exigncias a fim de que a paz seja conseguida.
Para a Filosofia a mediao de primordial importncia, sendo as
suas questes fundamentais uma busca desta. O pressuposto adiantado
por Plato no Timeu a este respeito disso prova: que dois termos
formem, ss, uma bela composio, eis o que no possvel sem um
terceiro. Porque preciso que no meio deles haja um liame qualquer
que os aproxime a ambos3 . Esse o desafio do acto filosfico: consiste em buscar uma via que honre identidade e alteridade. Recusa a
submisso de um termo a outro, a desapario dos dois num terceiro,
ainda, a disperso em forma de estranheza radical. Essa via vem para
que os seres assegurem a comunicao entre eles, obrigando a uma ligao de proporo e harmonia, no a uma ligao qualquer4 .
A questo em termos filosficos cruzada com a questo da oposio, evidenciando esta questo um pensamento que capta a experincia
pelo negativo, dada a tenso posta a nu. Dessa forma, os opostos so
os ordenadores da experincia. Diz J. J. Wunenburger: estratgia para
arrancar ao silncio um real complexo e resistente5 . Corresponde a
tentativas para traar o mapa do mundo, reproduzir-lhe a organizao,
traar-lhe os relevos, traduzindo-lhes o movimento6 . J. J. Wunenburger refere que o desejo profundo do pensamento a domesticao do
dado. Em vez de entrar no corao das coisas, ir no encalo dos seus
conflitos, no encalo do chaos, o pensamento est tentado pela estabi2
As referncias bblicas remetem para a edio Bblia Sagrada, Lisboa, Difusora
Bblica, 1991.
3
PLATO, Timeu, 31b-c.
4
A anlise pode ser acompanhada em: Pierre-Jean LABARRIRE, Le Discours
de laltrit: une logique de lexprience, Paris, PUF, 1983.
5
Jean-Jacques WUNENBURGER, A Razo Contraditria, Lisboa, Instituto Piaget, 1995, p. 11.
6
Ibidem.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
lizao, amarra os fluxos e refluxos das coisas ao ser formal.
Na Idade Moderna a mediao fundamental para a estabilizao
da experincia. Bragana de Miranda defende que a poca moderna a
poca da Constituio, corporizada nos discursos7 . A vontade de unificar a experincia surge em torno de figuras tericas como forma de a
capturar na imediatidade. A cultura rene todos os processos discursivos, o reflexo deles. Em cada instante, o que est em acto, o actual,
melhor dizendo, existindo como evento singular, disperso e espontneo, trabalhado dentro de categorias emprestadas pela linguagem.
Por isso que entre a cultura e o acontecimento h choque, pois so
a anttese um do outro.
A linguagem, que aparece quase como forma de salvao, afirmase semelhante com a natureza e, devido a este estatuto, todo o poder de
constituio lhe revelado. Bragana de Miranda denomina este poder
de magnificao da palavra8 : dizer que a experincia tem uma natureza que se prende ao estatuto da linguagem no pactua com a reduo
de tudo ao discurso9 . Giorgio Agamben, na mesma linha de pensamento, diz: O risco est no facto de a linguagem [. . . ] se separar do
que ela revela e adquirir uma consistncia autnoma10 . Bragana de
Miranda e Giorgio Agamben fazem perceber que a linguagem separa a
experincia do homem e que, simultaneamente, se interpe entre eles.
De potncia positiva, a linguagem devm potncia negativa. Para Giorgio Agamben esta a condio do nosso tempo11 . Com essa potncia ter perdido a sua aura. Ter perdido o estatuto ontolgico. Revela,
agora, o nada de todas as coisas.
O nominalismo o fenmeno caracterstico da modernidade, designa o contributo primacial da palavra na configurao da experincia. Toda a experincia moderna recoberta por palavras. Agir e pen7
Jos A. Bragana de MIRANDA, op.cit., p. 8.
Idem, Analtica da Actualidade, Lisboa, Vega Universidade, 1994, p. 16.
9
Ibidem, p. 23.
10
Giorgio AGAMBEN, Moyens sans fins, Paris, ditions Payot & Rivages, 1995,
p. 94.
11
Ibidem, p. 95.
8
Livros LabCom
i
i
10
O Paradigma Mediolgico
sar remetem para as palavras, a experincia um efeito das palavras.
Qualquer fragmento de experincia recebe a inteligncia no interior da
mediao lingustica. Inclusive a techne, significando mediao produtiva, recebe esta leitura. A mediao tcnica , por isso, de essncia
lingustica.
Aps o que se pode considerar a crise da linguagem, o problema da
mediao permanece. Surgem, com as novas tcnicas, novas formas de
mediao. Repete-se a questo da mediao da experincia.
1.2
A distoro pela teologia e filosofia.
Na Filosofia e na Teologia a privao da mediao no garante que se
passe do estado ilusrio, a exemplo dos escravos e das sombras da Caverna. O problema ontolgico precisa de uma mediao. A mediao
o aspecto principal da explicao inteligvel da vida. A vida e os
acontecimentos passam pela mediao.
Na cultura crist pode observar-se, na prtica do cone, que o seu
interesse no o de ser um objecto artstico, que se submete contemplao. As caractersticas estticas prprias, as formas, a textura, a cor
e a expresso testemunham uma espiritualidade que visa dar visibilidade a uma vida invisvel. A encarnao de Deus em Cristo o facto
teolgico que o legitima. O aspecto infirme, perecvel, menos nobre,
da carne transubstanciado na imagem (eikon), que o exacto reflexo
de Deus em Cristo12 . O seu carcter transcendente e as ambies de
absoluto emanam de uma revelao. O princpio segue-se com outros
elementos sacramentais como a Eucaristia, por exemplo. Na Eucaristia
a conjugao harmoniosa da msica, do canto, do rito, da luz, do odor
e da cor, resulta em elevao do sensvel. Uma catedral gtica, outro
exemplo, fascina esteticamente, no entanto no esse o seu sentido
teolgico.
12
B. MAGGIONI, Cristianismo, su transcendencia y sus pretensiones de absoluto, Diccionario Teologico Interdisciplinar II, Salamanca, Ediciones Sigueme,
1982, p. 181-191.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
11
cone, Eucaristia e Catedral no so meros objectos plsticos, so,
acima de tudo, objectos de culto, inserem-se na prtica sacral como
elementos de elevao do finito ao infinito. Qual , contudo, a relao
existente no cone entre o suporte sensvel, o po o vinho, e o sentido
metafsico que lhes atribudo? Poder ser, na verdade, estabelecido
um nexo causal entre as caractersticas sensveis dos materiais utilizados e a representao teolgica do divino? Eduardo Subirats considera
que a causalidade que os Conclios e os Telogos acabam por fazer
vencer relativamente a um significado absoluto inautntico, precisamente pelo carcter convencional13 . A seu ver, est lanada a semente
para que uma qualquer banalidade se transforme em mediao de um
acontecimento histrico e universal. Para Subirats isso significa legitimar a reduo da existncia humana existncia de um nada de ser.
A Encarnao, do seu ponto de vista, um argumento teolgico e
histrico a favor da projeco da vida na fico14 .
Na filosofia, o criticismo de Plato apresentado na Repblica para
com a poesia e seu valor propedutico afirma: A poesia estraga o esprito dos que a ouvem, se eles no possurem o remdio do conhecimento da verdade15 . Porque no razo que ela fala, mas aos
instintos e s paixes. A poesia tem sobre a alma do homem a influncia de despertar os eidola ou imagens e de o desviar da vida pensante
(bios theoretikos)16 . Todavia a filosofia platnica no est isenta de,
tambm ela, desviar o rumo mediao ao valorizar a compreenso do
mundo em ideia e de a obteno do conhecimento verdadeiro pressupor
o caminho asctico.
A cultura tcnico-cientfica moderna, nos exemplos da mediao
que no convive com as suas circunstncias, prescinde do mundo. A
cultura tcnico-cientfica pe em primeiro lugar a techne e a sua dimenso ontolgica: no h organizao que povoe a existncia humana que
13
Eduardo SUBIRATS, La Cultura como Espectculo, Madrid, Fondo de Cultura
Economica, 1988, p. 112.
14
Ibidem.
15
PLATO, Repblica, 595b6; 603c.
16
Ibidem, 599d-600e3; 600e5.
Livros LabCom
i
i
12
O Paradigma Mediolgico
ela no afecte. o factor de formao cultural mais forte. Subirats diz:
a tecno-cincia moderna define as palavras e as imagens do mundo, o
nosso conhecimento e a nossa deciso moral sobre as coisas da vida17 .
O papel da tcnica no estritamente instrumental ou passivo, intervm
como papel dominador. A ordem racional que a configura, os nexos e
as combinaes lgicas que lhe pertencem, aplica-se a toda a realidade,
de modo a gerar a ideia de uma nica realidade possvel, a realidade racional e objectiva e de uma nica verdade. A tcnica ser a nica possibilidade para realizar integralmente o possvel racional. Define-se, por
isso, como princpio originrio ou ontolgico.
Os exemplos referidos remetem, numa certa crtica, como se constata, a um s pressuposto: a experincia da imediatez uma experincia
com um fim, ou antes, um meio. Subirats faz a ponte deste tema com
o Grande Teatro do Mundo, de Calderon, no qual a vida individual
trabalhada como representao de um papel virtual. A ironia da representao virtual a de que o indivduo no compreende como virtual o
papel que representa, cr antes na sua realidade. Subirats: O sujeito
individual confronta-se com esta fico como com uma segunda realidade ontologicamente mais intensa que a realidade da sua experincia
individual do mundo18 . Para esta crtica, os meios de mediar os acontecimentos devem ser postos numa relao dirigida por um ponto que
ultrapassa a prtica da errncia.
1.3
Como a modernidade estruturou a mediao a partir da representao e do simblico.
Nas teorias modernas tudo passa pela mediao, por uma razo de ordem epistemolgica. impossvel determinar sem mediao o algo
17
18
Eduardo SUBIRATS, op.cit., p. 74.
Ibidem, p. 120.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
13
de alguma coisa. As categorias kantianas de que a razo dispe, num
sentido pr-subjectivo, e que constituem, na essncia, a subjectividade,
so prova disso, nivelando sob o modelo delas tudo o que se encontra
entre a terra e o cu (Adorno)19 . Se uma forma de o sujeito manifestar a sua absolutidade perante o objecto, o qual no pode ser pensado
seno pelo sujeito, todavia pertence j ao sentido da subjectividade ser
tambm objecto. Descartes far seguir verdade de que pensa a de que
uma substncia, algo que subsiste em si, independente de qualquer
coisa20 . Adorno: As minhas (representaes) reenviam a um sujeito
como objecto entre os objectos21 .
Hegel inclui no seu pensamento a polaridade sujeito-objecto e considera que se constituem um ao outro. Porm, ao afirmar que a natureza
da constituio dialctica, o que faz afirmar que sujeito e objecto so
produto do pensamento, portanto, que o pensamento que primeiro.
No um primeiro puro, est comprometido com a dualidade a unidade no se obteria sem a dualidade. O conceito, expresso de unidade,
reflecte a harmonia do pensamento com o que pensado. Executa uma
constituio antagnica.
Adorno v na teoria da mediao moderna uma preponderncia de
objectividade nos sujeitos que os impede de devirem sujeitos. Diz:
na potncia espiritual do sujeito que a sua impotncia real depara com
o seu eco22 . Significa que no acto de o sujeito conhecer o objecto
ele j parte do objecto. Para Schopenhauer, fundamentalmente, ns
estamos antes de mais nada limitados nossa prpria conscincia e o
mundo s nos dado como representao23 . Tese idealista que equivale de Descartes: Cogito, ergo sum!. A representao reveste-se
de maior relevo no contexto da teoria do conhecimento. Com efeito,
conhecer significa tornar presente ao esprito algum contedo ou rea19
Theodor ADORNO, Dialectique Ngative, Paris, Payot, 1992, p. 137-138.
Ren DESCARTES, Discurso do Mtodo, Porto, Porto Editora, 1989, p. 89.
21
Theodor ADORNO, op.cit., p. 146.
22
Ibidem, p. 143.
23
Arthur SCHOPENHAUER, Esboo de Histria da Teoria do Ideal e do Real,
2a edio, Coimbra, 1966, p. 45.
20
Livros LabCom
i
i
14
O Paradigma Mediolgico
lidade. a possibilidade de a realidade exterior ao sujeito se tornar
presente conscincia do sujeito. Trata-se de operar numa segunda
presena da realidade (re-presentao), num novo modo de ser dela, liberto das determinaes e limites com que se oferece percepo do
sujeito24 .
O termo representao comporta duas acepes. Na anlise de
Carlo Ginzburg a representao d a ver uma ausncia e exibe uma
presena25 . So acepes contraditrias, sugerindo, as duas, que a representao representao de alguma coisa invisvel e que s se torna
visvel mediante outra. A representao assinala duas presenas, a presena da coisa ausente e a presena da coisa que torna visvel, respectivamente, presena imediata e mediata. No que se refere ao elemento
mimtico ou evocativo, isso uma questo, apenas, da primeira presena, visto que ela que mediatizada. A questo principal est em
saber se o que mediatiza evoca, simplesmente, ou estabelece uma comunicao verdadeira. O problema oscila entre uma perspectiva instrumental do elemento que portador de significao e uma perspectiva
relacional do mesmo. O objecto, o conceito, a figura, a imagem, o signo
e objecto ausente, que relao mantm com a representao? A tenso
existe na representao, corresponde tenso entre presena-ausncia,
nos domnios da perspectiva instrumental, e presena-sobre-presena,
nos domnios da perspectiva relacional. Em qualquer das situaes h
um jogo que a representao criou, primeiro, de tornar-se ausente, em
seguida, de tornar-se presente. Exila-se o real para, paradoxalmente,
descobrir-se.
O modo de conhecimento inaugurado pela representao, ou modo
de tornar presente, indirecto e designa-se de simblico. Pressupe
uma distanciao, mas sem rupturas. O smbolo, evocando qualquer
coisa de ausente, incapaz de pr vista a totalidade do significado
24
Manuel Costa FREITAS, Representao, Logos, Vol.4, Lisboa/So Paulo, Editorial Verbo, 1992.
25
Carlo GINZBURG, Reprsentation: le mot, lide, la chose, Annales, No 6,
Novembre-Dcembre 1991, p. 1219-1234.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
15
em si, como tambm, propondo uma direco, funcionando como luz,
compromete a crena na sua pertinncia. Gilbert Durand diz que o
smbolo deixa de funcionar por falta de distanciao26 . A sua gnese
devida ao facto de a actividade psquica ser indirecta, no ser marcada pelo imediatismo do instinto animal. O processo de simbolizao reporta-se a um processo de pensamento que tenta compreender
por meio de uma representao, faz parte, por conseguinte, de uma
conscincia da mediao. Originariamente comporta a ideia de uma
separao e de reunio. Ideia contraditria que sugere, como na representao, que algo se desfaz e que possvel voltar a fazer atravs do
smbolo. A bipolaridade semntica que afecta o termo d a ideia de um
processo de reencontro de algo com a unidade definitiva.
A atitude moderna no est s no panorama histrico-cultural do
problema, partilha das premissas, nomeadamente, aristotlicas, platnicas e escolsticas. De uma concepo substancialista e eidoltrica do
ser passa-se a uma concepo idoltrica. O facto de se fazer repousar
o devir natural em categorias como a de Substncia ou Bem, Unidade
ou Identidade manifesta que a Razo a dominadora dos acontecimentos. Por uma questo de controlo do conhecimento, a diferenciao do
mundo -lhe entregue. O mundo dominado por uma entidade que
visa tudo assemelhar. Consequentemente, o devir deixa de ser natural e passa a ser revelado pelo prprio esprito. A natureza parte do
mundo espiritual. Assim, o conceito no busca fora de si o alimento
fundamental do seu desenvolvimento. a si prprio que tem de reflectir. O eidos e a ousia, neste panorama, so a realidade, -lhes atribudo
dimenso ontolgica. O smbolo com que se representa compete com
o ser representado, sobrepondo-se a ele, substitui-o e torna-se no nico
ser objectivamente real. Face evidncia de a apreenso ter de ser indirecta, predomina a reproduo indefinida dos smbolos. So eles as
estratgias mediais da cultura. Todas ligadas do origem a uma cultura
direccionada para a fico.
O sentido originrio de mediao, que sugeria que nada desaparece26
Cf. Ren ALLEAU, A Cincia dos Smbolos, Lisboa, Edies 70, 1982, p. 256.
Livros LabCom
i
i
16
O Paradigma Mediolgico
ria nela, que o que por ela fosse mediatizado ganharia em consistncia,
perde-se. Em termos lgicos, os smbolos correspondem duplicao
formal da experincia humana, mas neles esta nunca descoberta como
experincia subjectiva. Os smbolos fidelizam as qualidades lgicas do
objecto que reproduzem. visado neles o efeito de idealizar, portanto,
de superar a experincia individual do real. Bacon e Marx dir-nos-o
estarmos perante uma perspectiva alienante da existncia humana. Os
signos e as imagens no so cpias das representaes verdadeiras do
ser, so cpias das representaes das coisas arrebatadas sua experincia e dotadas de qualidade ontolgica27 . Bacon e Marx partem de um
conceito de experincia que est prximo das condies materiais da
existncia. So crticos da caracterstica performativa da representao,
responsvel, no entender deles, pela viso de um mundo programado.
O smbolo uma rplica do mundo, trabalhada ao nvel multimedial,
por outras palavras, o smbolo a representao convertida em segunda
natureza.
O mundo deveio vontade (Schopenhauer)! A ltima consequncia
da produo de um mundo assim a produo da conscincia individual e identidade subjectiva ser entregue realidade virtual. o fim
do sujeito e da histria, na medida em que o elo existencial no interpela mais a questo da mediao e a histria , somente, uma fico
mediacional. A filosofia de Hegel exemplo disso. Na luta do servo
e do escravo a emancipao do primeiro ocorre no pensamento e no
na realidade histrica28 . O projecto dialctico hegeliano tem a pretenso de harmonizar e conjugar elementos diversos, at contraditrios.
O engendramento da mediao, nestas condies, no apoiado sobre
objectos, mas sobre a Razo.
27
Bacon com a teoria dos dolos e Marx com a teoria das alienaes. Cf. Gustavo
de FRAGA, Bacon (Francis), Logos, Vol.1, Lisboa/So Paulo, Editorial Verbo,
1989; Antnio PAIM, Marx (Karl), Logos, Vol.3, Lisboa/So Paulo, Editorial
Verbo, 1991.
28
Enrico RAMBALDI, Mediao, Einaudi (Dialctica), Vol.10, Porto, Imprensa
Nacional Casa da Moeda, 1988, p. 161-162.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
1.4
17
A ligao da cultura com a mediao e a
tcnica.
A representao no uma coisa, nem um qualquer resultado do trabalho da conscincia sobre o mundo. Como expressa Serge Tisseron, a
representao um meio sustido por prticas simblicas, constituindose ele mesmo uma forma de simbolizao29 . A concepo representacional impele a compreender o papel das mediaes simblicas. A
actividade humana mediatizada por elas, desde as mais simples s
mais complexas, elas correspondem-se com as formas de vida cultural.
So os meios atravs dos quais cada sujeito se apropria da sua experincia do mundo para a tornar intermutvel, defende Umberto Eco30 .
Para Ernst Cassirer as formas simblicas permanecem ontologicamente primeiras sobre qualquer actividade humana consciente. O fazer
propriamente humano nasce quando o homem se distancia da experincia do aqui e agora e instaura o jogo da presena e ausncia31 . Toda
a cultura fica remetida ao jogo simblico, ao qual dado visibilidade
no jogo do signo. , ento, segundo palavras de Umberto Eco, que se
instaura a humanidade quando se instaura a sociedade32 . A favor de
qu os jogos simblicos se sucedem? Bragana de Miranda responde
em Analtica da Actualidade: a favor de uma resposta ao desaparecimento dos fundamentos, em que, desde sempre, se baseou a aco dos
homens, dando-lhes critrios seguros para julgar, decidir, agir33 . Por
uma razo de ordem prtica, por uma questo de orientao para o agir.
Procura-se na cultura a orientao possvel para o agir singular.
Bragana de Miranda diz que no preciso explicar que a cultura
o reflexo do universo de possibilidades da aco humana. preciso
29
Serge TISSERON, Le mythe de la reprsentation, retirado de
http://www.mediologie.com/travaux.htm em Maro de 1998.
30
Umberto ECO, O Signo, Lisboa, Editorial Presena, 1989, p. 97.
31
Ernst CASSIRER, Ensaio sobre o Homem, So Paulo, Martins Fontes, 1994, p.
49-50.
32
Umberto ECO, op.cit., p. 97.
33
Jos A. Bragana de MIRANDA, op. cit., p. 69.
Livros LabCom
i
i
18
O Paradigma Mediolgico
explicar o inverso: O que preciso explicar a singularidade, so as
diferenas, e no as semelhanas, em boa parte ilusrias34 . As semelhanas so o efeito de se apreender a experincia a partir de um ponto
de vista. A cultura tem-se afirmado como um campo autnomo, de
fronteiras perfeitamente demarcadas, tendo em conta uma experincia
totalizada. A categoria da totalidade tem sido, segundo o autor, afecta
produo da cultura, um modo de harmonizar fragmentos e uma maneira de evitar a desintegrao. Ora, a obsesso pela totalidade evidencia que o mundo uma crise, que a finitude a grande caracterstica
da situao humana. Na modernidade, admite, a questo mais vincada. A poca histrica dos chamados Tempos Modernos o horizonte
da cultura e situa-se aps uma poca fundada em princpios evidentes,
fortes, como o nome de Deus. Na poca moderna tudo isso posto em
causa. A modernidade , assim, um momento em que, perdido o centro, desaparecida a rocha sobre a qual erguer o mundo, se investiu na
ligao da experincia a partir de ideias inabalveis como as do cogito
cartesiano e programas de libertao da razo e optimismo na cincia.
uma poca de iluminismos. O que o homem faz passa a ser o fundamento. Consequncias: intensifica-se o projecto de dominao da
experincia e segue-se a estratgia de tudo transformar em imanente.
Tudo depende da racionalizao do mundo. Faz-se da racionalizao
uma soluo para a crise. O positivo, que se identifica com a razo,
confronta-se com o negativo, com o qual se identifica a experincia35 .
E entra-se nos domnios da constituio da experincia, de uma sua estabilizao, em ordem a fazer do mundo uma instalao, a que remete
a problemtica do Gestell heideggeriano.
Os processos modernos de constituio implicam o trabalho da idealizao do mundo, da idealizao da experincia e so, simultaneamente, uma busca de poder36 . As normas, as regras e os cdigos, por
34
Idem, Notas para uma abordagem crtica da cultura, p. 1.
A escola de Frankfurt acabar por se revelar contra a positividade racional exorbitando a negatividade.
36
Jos Bragana de MIRANDA, Analtica da Actualidade, p. 70.
35
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
19
um lado, a ordem, a repetio e os automatismos, por outro, promovem
esse poder37 . A linguagem serve-o, mediatiza-o, no como simples
instrumento, mas produzindo nele o seu efeito38 . A problemtica de
constituio de um mundo (Welt), que est na origem da produo de
signos, cuja funo mediar o abismo entre o homem e o meio, conduz
autonomia do mundo da Razo. Trata-se de uma Razo iluminada.
Ser ela a fundadora do que Adriano Duarte Rodrigues denomina de
coalizao entre a cincia e a tcnica39 . A partir da prossegue-se a
via da indistino e da indiscernibilidade relativamente natureza e aos
seres vivos. Tentar-se- co-naturalizar o prprio homem, mas acabarse- por o destronar do centro. E se, primeiro, existiu a morte de Deus,
anuncia-se, agora, a morte do homem. A extenso do devir tcnico
a todas as esferas da experincia humana o movimento responsvel
pela deposio.
A totalidade da experincia humana est em vias de ser colonizada
e de ser dependente das possibilidades performativas da tcnica. O processo de tecnicizao do mundo generaliza-se. Descontrola-se quando
se autonomiza em relao experincia. Acresce que o cariz dos objectos tcnicos tende a confundir-se com o funcionamento dos objectos
naturais. Natureza e tcnica atenuam as suas fronteiras. Inclusive o
imaginrio viaja para a tcnica. A mediao tcnica passa a ser o repositrio de aco e de sentido e o mundo o mundo dos meios tcnicos. No estaremos expostos a um excesso de mediaes?, pergunta
Gadamer ao observar na contemporaneidade um crescimento de mediaes, uma mediao ininterrupta que em vez de encurtar a distncia
com o Outro e com a Natureza a aumenta40 . O filsofo denuncia o
37
Ibidem, p. 90.
Ibidem, p. 88.
39
Adriano Duarte RODRIGUES, Comunicao e Cultura, Lisboa, Editorial Presena, 1994, p. 72.
40
Hans Georg GADAMER, Cultura e Media, Maria Teresa CRUZ (con.
e coord.), Inter@ctividades, Lisboa, Centro de Estudos de Comunicao e
Linguagens/FCSH-UNL, Cmara Municipal de Lisboa-Departamento de Cultura,
1997, p. 26.
38
Livros LabCom
i
i
20
O Paradigma Mediolgico
percurso e desloca-se para a proteco da relao. Com o ciberespao
pretende-se, na mesma, conceber uma instncia de controlo capaz de
obter clareza, por meio de medida, ponderao ou clculo, e que assim
nos tranquilizaria41 . Gadamer dir que errneo pensar assim numa
sociedade deveras racionalizada, porque est em causa a questo da liberdade. Na sua reflexo nada se tornou to difcil nesta civilizao,
altamente regulada, como fazer experincia42 .
So introduzidas mudanas profundas ao nvel das mediaes, mas
a arte foi sempre importante para as avaliar, dado o seu papel de transfiguradora da experincia do mundo. A arte ser sempre um indicador
[. . . ] um mediador fundamental das potencialidades de um dado momento civilizacional e cultural [. . . ], escreve Maria Teresa Cruz43 . O
artista um ser medinico por excelncia.
1.5
A emergncia do paradigma mediolgico.
Em Manifestes Mdiologiques, Rgis Debray, reconhecendo a centralidade da mediao, justifica que se a pense, que se coloquem as suas
questes em termos sistemticos. V nesse tipo de abordagem a forma
de atacar frontalmente a dinmica da mediao e de a retirar do estado
de dissidncia e marginalidade relativamente s grandes teorias. Foram, alis, os marginais dessas grandes teorias a explorar o medium em
todos os sentidos, os melhores e os piores44 . Na sua opinio, as gran41
Ibidem, p. 33
Ibidem.
43
Maria Teresa CRUZ, Cultura Tcnica e Mediao, Maria Teresa CRUZ (coord.), op.cit., p. 12.
44
Rgis DEBRAY, Manifestes Mdiologiques, Paris, ditions Gallimard, 1994, p.
129. Nomes como Balzac, tido como av da Mediologia, Diderot, tio-av, Vico,
Victor Hugo, Baudelaire, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Leibniz, Derrida, entre
outros, so referidos por Debray como percursores da abordagem mediolgica em
termos cumulativos. Tambm inclui Mcluhan, um grande poeta em prosa, fantasista
e genial Ibidem.
42
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
21
des teorias, corpus obscuros e fechados45 , dizem tudo com clareza,
a falha no reflectirem nas maneiras e matrias de dizer46 , ou seja,
no reflectirem na tcnica que serve de base aos signos.
De acordo com Bernard Stiegler, com Rgis Debray a tcnica dignificada, mais, tornada objecto de pensamento47 . Por via da tcnica o
esprito d conta de si mesmo, como se perseguisse a identidade, uma
coerncia, por entre os acidentes histricos. No se observa directamente, mas por intermdio do que o constitui materialmente, suporte
existencial dele. Sem a tcnica o esprito seria como uma pomba privada de elemento: incapaz de levantar voo48 . Para Rgis Debray o
suporte o que mais importncia tem, se bem que seja o que menos
se v49 . atravs do suporte que o logos se alcana, como atravs da
gua que o peixe se v. Na perspectiva da mediologia de Rgis Debray,
o estudo das ideias faz-se em simultneo com o estudo das tcnicas.
Passa-se da situao eidoltrica situao idoltrica por associao daquela com um suporte tcnico. Rgis Debray cita o exemplo de S.
Paulo, cujo procedimento, no seu entender, foi cristalinamente mediolgico, comeando por construir um aparelho de autoridade ao qual
confiou os dogmas50 . Falham, mediologicamente falando, os que acreditam que so as ideias que abalam os homens, desligando-as do meio
material que as difunde.
Em matria simblica, o interesse desloca-se do binmio verdade/falsidade das ideias para o binmio performatividade/no performatividade das tcnicas. A ateno, ao modo kantiano, centrada no a
priori da ideologia, nas condies de possibilidade de uma ideia ganhar fora e se impor, com a diferena de a se encontrar um complexo
45
Ibidem, p. 125.
Ibidem, p. 129.
47
Bernard STIEGLER, La croyance de Rgis Debray, Le Dbat, no 85, mai-aot
1995, p. 44.
48
Ibidem, p. 45.
49
Rgis DEBRAY, Cours de Mdiologie Gnrale, Paris, ditions Gallimard,
1991, p. 195.
50
Ibidem, p. 27.
46
Livros LabCom
i
i
22
O Paradigma Mediolgico
de tcnicas e no um complexo de ideias. A tcnica colocada no centro da existncia, sendo esse o mistrio da cultura, o facto de o homem
sobreviver com prteses. O que corresponde exteriorizao do esprito e se constitui em sua extenso a garantia da passagem do esprito,
o que fica como sua marca.
Rgis Debray procura, desde a publicao de Le Pouvoir Intellectuel en France, em 1979, fundar a mediologia como disciplina. Cours
de Mdiologie Gnrale, de 1991, e Manifestes Mdiologiques, de 1994,
so os seus principais textos neste mbito. O ltimo representa a tese
de habilitao carreira de investigador universitrio51 . Cours de Mdiologie Gnrale a obra onde Rgis Debray traa os contornos do
estudo das mediaes, apresentando-se a obra como exemplo da organizao mediolgica. Embora no papel de construtor do modelo de
anlise, esta, efectivamente, no inteiramente sui generis, comparados os quadros mediolgicos de Rgis Debray com as idades tecnolgicas mcluhanianas.
Marshall Mcluhan (1911-1980) desenvolve as suas principais intuies acerca do primado da mediao na estruturao da cultura e intelecto humano. Foram as suas obras que introduziram conceitos como
51
Antes de empreender a carreira na Sorbonne, de Paris, Debray foi atrado pelas
lutas libertrias vividas em toda a Amrica Latina, nos meados do sculo XX. companheiro de Fidel Castro e de Che Guevara tendo, em 1967, sido preso na Bolvia
pelos militares da Junta e condenado a trinta anos. Cumpriu trs anos da sentena e
foi libertado aps pedidos de clemncia por parte de Charles de Gaulle, Andr Malraux e Jean-Paul Sartre. A faceta activista valeu-lhe o convite do presidente Franois
Mitterrand para ser Conselheiro de Estado nos assuntos latino-americanos, cargo que
ocupou entre 1981-1985 e 1987-1988 (Cf. Keith Reader, Rgis Debray, a critical
introduction, London, Pluto Press, 1995, p. 1-22). Debray director da revista intitulada Les Cahiers de Mdiologie e faz parte da direco da Association pour le Dveloppement de la Recherche en Mdiologie. Les Cahiers de Mdiologie uma revista
com periodicidade semestral, publicada pela Association pour le Dveloppement de
la Recherche en Mdiologie em parceria com a Gallimard. Para alm disso, organiza
uma coleco de estudos, denominada: Le Champ Mdiologique, cuja finalidade
acolher todos os trabalhos de comentrio que caibam na temtica da interseco da
tcnica com a cultura: http://www.mediologie.org
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
23
meios de comunicao, aldeia global e Idade da Informao. Na Universidade de Toronto fundou, em 1964, The Mcluhan Program in Culture and Technology, que dirigiu at sua morte. o departamento de
estudos de mediao mais consagrado do mundo, dirigido, em seguida,
por Derrick de Kerckhove. Dominique Scheffel-Dunand o novo director do programa desde Julho de 200852 . De salientar o eco fora do
Canad que esta iniciativa teve, alastrando a muitas universidades da
Amrica do Norte e da Europa atravs da criao de departamentos
similares.
Sobre a especificidade terica de Debray e Mcluhan, h dois aspectos a sublinhar: o primeiro aspecto refere-se ao pressuposto que
fundamenta a reflexo sobre a mediao, o segundo aspecto refere-se
descrio que ambos fazem da evoluo da tcnica ao longo da histria.
Relativamente ao primeiro dos aspectos, verificamos que existem mais
pontos de encontro que pontos de fuga entre os dois. certo que para
Mcluhan o medium a prpria mensagem e que para Debray o medium
conduz a mensagem, o que constituir um ponto de fuga, assinalandose uma maior pertinncia na tese do primeiro que na do segundo. Mas
o processo de chegada a essas teses equivale-se. Vejamos: em ambos, a mediao tcnica central. Para ambos, o que o meio fsico
para o vivo a mediao tcnica para o signo, um meio de difuso e
de sobrevivncia53 . Quer o programa de Mcluhan, quer o de Debray,
52
As actividades afectas ao programa podem ser consultadas on-line::
http://www.mcluhan_toronto.edu/aca.html.
Outras referncias importantes e
disponveis na Net, so: a edio de um jornal com trabalhos de Mcluhan que no
chegaram a ser publicados, da responsabilidade de Eric Mcluhan, filho de Marshall
Mcluhan, e Francesco Guardiani: http://www.chass.utoronto.ca/mcluhan-studies/; o
The Marshall Mcluhan Center on Global Communications, fundado em 1981 por
Mary Mcluhan, filha de Marshall Mcluhan: http://wwwmcluhanmedia.com;
Maastricht Mcluhan Institute http://www.mmi.unimaas.nl; Mcluhan Global Research Network http://www.mcluhan.org/; Mcluhan Studies Journal
http://www.epas.utoronto.ca/mcluhan-studies/mstudies.htm
53
Em ambos, a questo da mediao perspectivada em termos de meio
ambiente.
Cf.
Rgis DEBRAY, Manifestes Mdiologiques, p.
138;
Mcluhan sugerir a Neil Postman o nome de Media Ecology para o depar-
Livros LabCom
i
i
24
O Paradigma Mediolgico
so projectos intelectuais que visam expor o ambiente da mediao tcnica, visam fazer vir superfcie as regras que moldam a conscincia e
a aco do homem. O homem habita uma experincia tcnica e por
ela processado, dir Mcluhan, ou definido, dir Debray. A mediao
tcnica , por conseguinte, um modo de ser antropolgico.
No tocante ao aspecto da descrio histrica das inovaes tcnicas, Rgis Debray prope-se ler a marcha do esprito a partir de trs
mediaesferas: a logoesfera, na qual a escrita o dado central e se difunde pelos canais da oralidade; a grafoesfera, dominada pela fora da
imprensa em impor a racionalidade ao conjunto do meio simblico; e
a videoesfera, ou poca mediolgica das tcnicas audio-visuais54 . Posteriormente admitir que seria til introduzir mais duas mediaesferas:
a mnemoesfera, para tipificar a poca de domnio dos meios de transmisso puramente orais, e a numeroesfera, para caracterizar a cultura
de fluxo que actualmente se constitui em paradigma55 .
Segundo Debray, a imagem est sujeita mesma espcie de histria
que a palavra, da o quadro similar da evoluo da imagem e da palavra
explicado na obra Vie et Mort de lImage56 . O estudo da imagem tem
especial valor na economia do pensamento de Debray, explorando-lhe
a medialidade nas trs principais pocas assinaladas: na logoesfera, a
que corresponde o regime de dolo, na grafoesfera, a que corresponde o
regime de arte, e na videoesfera, a que corresponde o regime de visual.
Sem uma tipologia to distintiva, Mcluhan dispe a mediao segundo trs paradigmas: oral, literrio e elctrico. Comparativamente:
o paradigma oral absorve as tcnicas da mnemoesfera; o paradigma
literrio absorve, em simultneo, as tcnicas da logoesfera e as da grafoesfera; e o elctrico, as da videoesfera e numeroesfera.
tamento que o americano queria criar na Universidade de Nova Iorque. Cf.
http://www.voyagerco.com/catalog/mcluhan/indepth/on_mc.html
54
Idem, Manifestes Mdiologiques, p. 40. A obra em referncia apresenta em
anexo os quadros mediolgicos construdos por Debray em Cours de Mdiologie Gnrale, Le Pouvoir Intellectuel e Vie et Mort de Limage.
55
Idem, Chemin Faisant, Le Dbat, no 85, mai-aut 95, p. 56.
56
Idem, Vie et Mort de lImage, Paris, ditions Gallimard, 1992.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
25
Na verdade, o esquema de Debray semelhante ao de Mcluhan,
todavia revela-se no ser to abrangente. De facto, Debray menciona
a numeroesfera, mas no a analisa. Dada a sistematicidade das abordagens e a sua concorrncia, legtimo defender a constituio de um
paradigma mediolgico. Mcluhan o primeiro a participar nele.
Livros LabCom
i
i
i
i
Captulo 2
Arqueologia do conceito de
mediao
2.1
Genealogia da ideia de Mediao1.
Mediao. Mediao, messianismo, redeno so ideias afins: as
duas ltimas enunciam somente um aspecto da primeira, e o mais
importante. A ideia de mediao merece, contudo, ser estudada
por si mesma, por ser a mais abrangente. Sem este pano de fundo,
messianismo e redeno ficariam desprovidos de fundamento e de
perspectiva 2 .
Esta a abertura que o Dictionnaire de la Bible concede palavra
mediao e que interessa citar. Depreende-se dela que o conceito de
mediao ganha sentido perspectivado na relao entre o divino e o hu1
Seguindo a advertncia nietzschiana de Genealogia da Moral, como poderemos
esquecer o acto de autoridade que emana dos que dominam e encontram o nome
para a ideia que perseguimos?! Eis, justificada, a remisso histrica do comeo do
nosso texto. Cf. Friedrich NIETZSCHE, Genealogia da Moral, Lisboa, Guimares
Editores, 1992, p. 21.
2
CSPICQ, Mdiation, Dictionnaire de la Bible, Supplment, Tome V, 1957, p.
983.
27
i
i
28
O Paradigma Mediolgico
mano, facto que as formas mais antigas de religio registam3 . ele,
alis, o pano de fundo do messianismo e da redeno crists o cerne
da mensagem bblica do Antigo e do Novo Testamento , por outras
palavras, o pano de fundo de uma figura que livremente seja vtima expiatria dos pecados dos outros e imolada para os resgatar4 . Tambm,
de uma comunho entre o crente e o seu salvador que representasse um
renascer para o primeiro (2.o Corntios 5, 17).
Caber perguntar: porque a mediao um conceito to importante, ou mesmo fundamental, na questo da f? E estamos em crer
que s num horizonte de ruptura ela possvel, tornando-se essa ruptura o fundamento. O livro da Sabedoria confirma-o: Deus criou o
homem para a imortalidade e o fez imagem de Seu prprio Ser; mas
a morte entrou no mundo por inveja do demnio e os que lhe pertencem passaro por ela (Sabedoria, 2, 23-24). Por obra do diablico,
o homem experimentou a confuso, gerou-se, e como que se disseminou, o chaos, sendo necessrio livrar-se dele5 . Mas nem sempre assim
foi. A semelhana (homologia) original de Deus com o homem, no
contexto criacionista, no foi posta em causa por Ado, primeira cpia
viva de Deus6 . Nem to pouco seria quebrada quando Ado com cento
3
Nas religies da Mesopotmia, a mediao protagonizada pelo rei. O rei representava o povo no culto e constitua o meio atravs do qual a vontade dos deuses
era transmitida e suas bnos eram concedidas. Existiam outros mediadores, seus
subalternos, os sacerdotes. Na religio egpcia, o fara encarnava os dois mundos,
era como deus e como homem.
4
Os quatro poemas do servidor so prova disso: Poema I, Isaas 42, 1-4;6-7;
Poema II, Isaas 59, 1-6; Poema III, Isaas 50, 4-7; Poema IV, Isaas 52, 13-53, 12.
5
Miguel Baptista PEREIRA ope a experincia dia-blica experincia simblica, utilizando como referncias a Torre de Babel, para a primeira, e o encontro do Cenculo, para a segunda. Cf. Miguel Baptista PEREIRA, Comunicao e
Mistrio, CENCULO, XXXV, 136 (1995/96), p. 163-182.
6
Gnesis 1, 26-27. Como se equaciona, neste caso, a relao do homem com
Deus? A tese de Soggin a de que a relao igual que a cpia mantm com o
original. Quer isto dizer que a criatura no tem autonomia prpria, depende sempre
do Criador, a quem representa. Cf. J. A. SOGGIN, Ad immagine e somiglianza
di Dio, Varios (Atti del simposio per il XXV dellABI), Brescia, 1975, p. 75-77 (Cf.
G. BARBAGLIO, Imagen, Diccionario Teologico Interdisciplinar III, Salamanca,
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
29
e trinta anos gerou um filho sua imagem e semelhana, e ps-lhe o
nome de Set (Gnesis 5,3). Inclusive no pecado. A questo da mediao iniciar-se- no momento em que a questo da imago Dei perde
a conotao natural, mantendo-se a exigncia da reproduo radical
da realidade divina, conforme palavras do telogo Barbaglio, ou da
identidade perfeita entre o eikon e o prottipo, conforme as de Kittel7 .
Ao povo de Israel, a quem Deus falou (xodo 19, 3-6), coloca-se,
nitidamente, a exigncia de mediao. Se existe a necessidade de a
criatura procurar proteco, existe igualmente a impresso de que entre ela e Deus h um abismo. Contudo, a aliana, de iniciativa divina,
sublinhando a distncia infinita que separa os dois termos que se pretendem conjugar, abre uma via de acesso8 . de um mediador que o
povo precisa, d a entender Job: Entre ns no h rbitro que se possa
interpor entre ns dois. Que retire a Sua vara de cima de mim, para que
no me assombre com o terror que me causa. Ento falar-Lhe-ia e no
O temeria, pois eu no sou culpado aos meus olhos (Job 9, 33-35).
primeira vista, precisa de uma figura que no permanea apenas na
esfera do humano, mas entre na esfera do divino, receba de Deus mandamentos9 . A primeira figura a materializar esse conceito Moiss.
Ediciones Sigueme, 1982, p. 133).
7
G. BARBAGLIO, op.cit., p. 137.
8
O hebreu significa a situao de duas maneiras. Quando aparece na Sagrada
Escritura significa intercesso ou orao, e veja-se I Samuel 2, 25; Gnesis 20, 7;
Nmeros 21, 7; Deuteronmio 9, 20. A mesma significao em Job 31, 1-11, com
o sentido de Juz, e em xodo 21, 22, com o sentido de rbitro. O outro significado
guarda uma ressonncia mais forense. Exprime a deciso imposta por aquele que
tem autoridade. Veja-se em Gnesis 31-42, como se espera a arbitragem de Deus,
equivalente a uma sentena. O facto de que se trata da interveno de um terceiro
encontra-se em Gnesis 31, 37, com os companheiros de Labo e Jacob a desempenharem esse papel. Em Job 9, 33 Deus o rbitro. O mesmo pensamento aparece em
Job 16, 21.
9
Abrao pode ser citado como exemplo de uma mediao que permanece na esfera
do humano, ora para salvar Sodoma (Gnesis 18, 22-23), ora para justificar Abimelec (Gnesis 20, 1-17). Moiss tambm representou esse tipo de mediao. Veja-se
quando as tribos sadas do Egipto deparam com Amalek (xodo 17, 11-13), o episdio do vaso de ouro (xodo 32, 7-14) e o episdio da serpente de ouro (Nmeros
Livros LabCom
i
i
30
O Paradigma Mediolgico
Moiss o mediador da aliana de Deus com o povo de Israel que teve
lugar no monte Sinai. Moiss desceu do monte Sinai, levando na mo
as duas tbuas da Lei. No sabia, enquanto descia o monte, que a pele
do seu rosto resplandecia, depois de Ter falado com o Senhor. Quando
Aaro e todos os filhos de Israel o viram, notaram que a pele do seu
rosto se tornara resplandecente e no se atreveram a aproximar-se dele.
Moiss, porm, chamou-os; e Aaro e todos os chefes da assembleia
foram ter com ele, e ele falou-lhes (xodo 34, 29-31).
Pressente-se na mediao mosaica o caminhar para uma vida instruda por Deus, sob a sua autoridade, o que mais tarde ser designado
de coinonia (I Corntios 1, 9). H, porm, neste estdio do devir histrico, algo que impede que se tenha alcanado o fim. que, como
descobre S. Paulo, a obra de Moiss conforme ao modelo que lhe foi
mostrado no monte (Hebreus 8, 5). Por isso, considera, a aliana de
Moiss no est isenta de defeitos (Hebreus 8, 7). Tratar-se- de uma
aliana imperfeita, onde a marca do intermedirio muito forte. O factor humano, presente, relativiza a mediao e torna-a caduca, valida-a
provisoriamente (Glatas 3, 19), concluindo-se que s as intervenes
directas de Deus so perfeitas e definitivas10 .
Outros mediadores povoaro o devir histrico de Israel como agentes da libertao que Deus preconizou, desde o rei David, tomado dos
apriscos das ovelhas (II Samuel 3, 17-18), homem eleito pelos outros homens, os quais representa diante de Deus (Deuteronmio 17,
21, 7). So passagens que oferecem de Moiss a imagem de um intercessor. O principal objectivo era obter o perdo de Deus para o povo, to s. Contudo, Moiss
ultrapassar Abrao, ultrapassar a mediao sob a forma de intercesso.
10
Eis a posio de S. Paulo relativamente interveno de Moiss. No o mediador ltimo. Ser, no entender do apstolo, um delegado, um intrprete da vontade
de Deus, um Seu agente subalterno. Algum eleito pelo seu carisma, mas apenas
para manter o plano de salvao previsto para o povo de Israel. Um peo no jogo de
Deus! Posio partilhada por Flon de Alexandria e pelos rabinos judaicos. O primeiro no o considera mais que um intercessor, conciliador e protector do seu povo;
os segundos assemelham Moiss a um negociador ou intrprete. Cf F. J. SCHIERSE,
Mediador, Conceptos Fundamentales de la Teologia, Tome II, Madrid, Ediciones
Cristandad, 1966, p. 620.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
31
18-20)11 . Os sacerdotes, por seu turno, desempenham uma mediao
institucional, proclamam a Torh (I Crnicas 16, 40) e asseguram o
louvor a Deus (I Crnicas 16, 8-36). O profeta, ao contrrio do mediador anterior, ntimo de Deus, caso de Jeremias, repete fielmente a
ordem que lhe confiada12 . Apaga a sua personalidade ante a misso.
Ao falar no segue o seu prprio esprito, como o falso profeta, segue
o esprito da fonte13 . Nem rei nem profeta, o Servo, se ele mediador
entrando livremente no sofrimento. uma vtima humana inocente
que voluntariamente tornada culpada por Deus dos pecados do seu
povo e imolado para os resgatar (Isaas 53, 9-12)14 . Nunca a mediao
espiritual do Antigo Testamento ter ido to longe, segundo Feuillet,
realando este na mediao sacrificial do Servo a antecipao do que
se passar quatro sculos depois com Cristo15 .
Como traos marcantes da mediao que se acaba de expor, dir-se-
tratar-se de uma mediao exercida por homens que se tornam capazes
de pensamento e aco junto de outros homens porque se elevam para
perscrutar em Deus esses mesmos pensamentos e aces. Para alm
disso, vinca as matrizes das crenas do meio oriental. Ora, como explicar que este conjunto de mediao assinalada declare que sob a
11
O rei israelita Sal, David ou Salomo no tem nada da divindade do fara,
nem to pouco da qualidade sobre-humana que naquela poca se apresentava nos
monarcas da Mesopotmia.
12
Jeremias 2, 26-3,5; Isaas 6; Jeremias 1; Ezequiel 1-3; Ams 7, 15.
13
Em termos estritamente teolgicos, o domnio prprio do profeta a escatologia,
o anunciar o reino de Deus e o advento messinico.
14
O Servo tem outras particularidades, comparveis s do Sbio grego, que apenas ensina. simplesmente um mestre de sabedoria, sem necessidades de sair da
Palestina para cumprir sua misso. No se pronuncia em pblico, deixa de fora as
questes polticas, no questiona as instituies tradicionais, concentra-se apenas na
moral e tem uma doutrina humanista. No foi esta a imagem de Scrates dada por
Plato na Apologia? Como o Servo, tambm Scrates recebe de um esprito revelaes. bvio que o daimon socrtico no o mesmo que o Esprito do Servo. O
Servo integrado, como o profeta, numa perspectiva escatolgica. De salientar que,
na Babilnia, nos cultos e na magia, usava-se este princpio de substituio a que o
Servo d expresso bblica.
15
C.SPICQ, op.cit., p. 1015. Confronte-se com os poemas do Servo.
Livros LabCom
i
i
32
O Paradigma Mediolgico
impulso do Esprito Santo, sob a sua assistncia e autoridade, que as
suas obras so realizadas? Vejam-se as declaraes de Moiss (Nmeros 11, 17, 25, 26), dos reis Sal e David (I Samuel 16, 13, 14), do
Servo (Isaas 42, 1), ou dos profetas (Isaas 48, 16; 11, 12; Ezequiel 2,
2; 3, 12, 14; Oseias 9, 7; Miqueias 3, 8; Zacarias 7, 12). Tais declaraes colocam-nos perante uma mediao que desce, que vem de cima
para baixo. E isso inverte o processo.
Paralelamente s funes do Esprito Santo, so colocadas as funes atribudas Palavra. A Palavra revelou-se no Sinai a Moiss e
revelou-se aos profetas. O que acontece exactamente com a Sabedoria,
no papel que desempenha na alma humana (Sabedoria 9, 7; 8, 9; 9,
10; 1, 4; 7, 27) e no mundo material (9, 9; 8, 4; 7, 22-23; 7, 27; 8, 1).
No cumpriro claramente as trs noes uma funo mediadora descendente? Relativamente Sabedoria, vejam-se as imagens empregues
em 7, 25-26; 8, 3 e 9, 4, 10 para um ser pessoa, engendrado e residente
em Deus. Do mesmo modo a Palavra, que nos Salmos assimilada a
um ser vivo que se mantm nos cus e de l impe a sua autoridade
aos humanos e s coisas, criando por todo o lado a harmonia (Salmos
119, 89). Tambm o Esprito personificado (Isaas 53, 10; Ageu 2, 5;
Salmos 143, 10; Sabedoria 1, 5, 7; Judite 16, 14). Sero hipstases, no
sentido em que no se pode dizer que sejam a primeira das criaturas,
ou uma espcie de intermedirios, que participam simultaneamente da
natureza divina e da natureza das coisas criadas. No se confundem
com Deus, exercem a sua aco ao lado de Deus16 . Dado este carcter,
haveria toda a pertinncia em consider-las mediadoras, no fosse as
funes atribudas ao Esprito no diferirem das que so atribudas
Palavra, por um lado, e a indiferenciao de actividades atribudas ao
Esprito e Sabedoria, por outro (Sabedoria 1, 4-5; 7, 22-25; 9, 17)
17
. Assim, deixa-se de colocar-se a questo da hipstase e, por consequncia, a de uma mediao propriamente dita. So trs realidades,
16
Atente-se em Provrbios 8, 22-36, o relato da origem da Sabedoria.
Confirme-se em II Samuel 33, 2: Isaas 49, 21; Zacarias 7, 12; Salmos 33, 6;
Provrbios 1, 23; Judite 16, 14. Os hebreus nunca as distinguiram perfeitamente.
17
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
33
efectivamente, mas representam a aco directa de Deus (Nmeros 11,
29)18 . Donde, a investigao sobre a significao descendente da mediao destas trs noes culmina no fracasso. Salvar-se- nos anjos?
No livro do Gnesis, o patriarca Jacob v uma escada que une a terra
ao cu, ao longo da qual os anjos sobem e descem. Sobem para levar
homenagens e os votos dos homens, descem carregados de favores divinos (28, 12). Pensa-se: este um papel que convm mais qualidade
de enviado que de mediador, e que o anjo simplesmente instrumento,
auxiliar, ministro de uma comunicao feita de cima para baixo, mas
jamais um mediador. Em Daniel (10, 13), ainda se poder reconhecer
o anjo Miguel nessa qualidade de mediador quando intercede pelos homens e por Deus para que se mantenha a paz de Israel19 . Temos, assim,
a propsito dos elementos contidos no Antigo Testamento sobre a ideia
de mediao, uma variedade rica, porm dispersa, o que complica a
tarefa de sistematizao.
A concepo neotestamentria do problema da mediao, exclusivamente por mrito da teologia de S. Paulo, concentra em Cristo o
papel de mediador de uma nova aliana, fundada sobre promessas melhores (Hebreus 7, 22; 8, 6-13; 9, 15; 12, 24)20 . multiplicidade ope
a unidade de mediao. Por nenhuma outra via o homem pode aceder a
Deus. O destaque para a figura de Cristo como mediador nico assimilvel ideia de um Deus tambm nico (I Timteo 2, 5). Exclui-se,
consequentemente, toda a panplia de intermedirios anjos, profetas, sacerdotes, etc. criados pela especulao religiosa anterior, bem
18
A ideia da presena do Esprito no meio do povo, para o guiar e renovar os seus
sentimentos, uma ideia que tem consistncia aps o exlio. Cf. Isaas 4, 4; 63, 10,
11, 14.
19
O livro de Daniel de um judasmo tardio. A concepo do anjo como mediador
no eminente nos primeiros livros do Antigo Testamento, devendo ser chamado
mais de intermedirio que de mediador.
20
A interpretao de S. Paulo a de que, na aliana sinatica, os homens ficaram
sob a custdia da Lei e no da Revelao (Glatas 3, 23). Demarca o que mais adiante
dir ser da ordem da pedagogia (24) do que da ordem da promessa (29). A primeira
tem origem no negcio entre Moiss e Deus, a segunda tem origem em Cristo.
Livros LabCom
i
i
34
O Paradigma Mediolgico
como se altera a qualidade da mediao. Com Cristo, realmente, a
mediao entra ao servio da obra de salvao, da reconciliao dos
homens com Deus (Glatas 2, 20), de todos (I Timteo 2, 5-6), evocando a universalidade desta. Uma perplexidade: como chega Cristo a
receber o conceito de mediador se na Nova Aliana as leis ho-de ser
impressas no esprito e gravadas no corao dos que pertencem casa
de Israel (Hebreus 8, 8-12)? No representa esta passagem a interveno directa de Deus, consequentemente a negao do mediador? A
justificao da Carta aos Hebreus reside no facto de Cristo ser Filho de
Deus. A encarnao de Cristo a explicao fundamental21 . Enquanto
Filho de Deus, a imagem (eikon), ou o exacto reflexo de Deus, o que
lhe d autoridade e o torna chefe de toda a economia de salvao (Colossenses 2, 9). Ora, desta forma, Jesus Cristo no est, como Moiss,
entre Deus e o homem22 . Em Cristo, na sua pessoa, une-se o homem
e Deus. O papel de Cristo descrito como sendo mais o de um fiador
(Hebreus 7, 22)23 de um testamento24 em que necessrio que se d
21
A questo da imagem, da verdadeira e autntica imago Dei, uma inquietao
que vem da igreja primitiva e que S. Joo exprime, afirmando:A Deus ningum jamais o viu. (Joo 1, 18). Na Carta aos Colossenses, S. Paulo escreve:Ele a
imagem de Deus invisvel. (1, 15). Em Cristo Deus d-se a ver. Foi em Cristo
que a Palavra se fez carne (Joo 1, 14), se realizou a unio das duas naturezas, divina e humana (Efsios 3, 9). A Encarnao constitui um dos elementos capitais do
cristianismo e tem sido um dos mistrios divinos onde mais esforo racional foi feito.
22
Mesites a palavra grega que designa a situao de estar entre. Faz parte de um
grupo de palavras como mesiteia (mediao), com o significado de posio central,
mediana, garantia, e mesiteuo (mediar), com o significado de ser intermedirio, estar
no meio, arbitrar. O termo mesites s aparece na era crist, junto com a Coinonia
(sc.IIIA.C.). No Novo Testamento utilizado seis vezes: Glatas 3, 19-20; I Timteo
2, 5; Hebreus 8, 6; 9, 15 e 12, 24. E, como se verifica, releva exclusivamente do
vocbulo paulino.
23
Fiador um termo do direito muito frequente nos papiros egpcios e no direito
grego. Refere-se ao que toma sobre si as obrigaes jurdicas num contrato de garantia. O fiador podia mesmo pagar a cauo com a prpria vida. O termo integra-se,
perfeitamente, no mbito dos fiis cristos que, como peregrinos, avanam e perseveram sobre a cidade celeste unicamente apoiados em promessas.
24
Anunciado em Jeremias 31, 31-34 e redito em Hebreus 8, 8-12.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
35
a morte do testador (Hebreus 9, 16)25 . O sangue do prprio mediador
transcende qualquer tipo de mediao havida. Reflecte uma soberania
e uma eficcia que nenhuma outra criatura pode colaborar com ele ou
ser suplemento na sua obra26 . Em O Verbo fez-se carne assinala-se a
passagem de um modo de ser a um outro. Mas como deveio? Como
que em Cristo se realiza a unio de Deus e dos Homens? Tal permanece
insondvel. O que testemunhado que a divindade reside nele de um
modo permanente e fixo (Actos 9, 22; 11, 29; 13, 27; 22, 12), tornando
a sua mediao sempre actual (Hebreus 7, 3; 24) e estvel (Eclesistico
29, 14) relativamente ao acesso e alcanar dos bens prometidos.
Cristo , para os cristos, o lugar de encontro, o agente de comunicao puro. Assume-se como a via e a verdadeira via (Joo 14, 6).
como se fosse a ponte entre duas margens de um rio, que o mediador possibilita passar, ir de uma a outra. A sua mediao tem por meta
suprimir qualquer antilogia inicial e impor a comunho de um mesmo
modo de ser e de agir. Vislumbra-se que o fim o de abolir todas as
diferenas de raas ou de naes e constituir um povo nico (Efsios
2, 14-18). Reduzir todos os seres sob um s, restaurar a harmonia inicial da criao, com Cristo a ser a sntese, tanto das realidades visveis
como invisveis, tanto das coisas da terra como das coisas do cu27 .
Subjaz a ideia da comunicao atravs de uma vida em e por Cristo (I
Corntios 1, 9), o que designa uma pertena ontolgica, mais profunda
que a comunho psicolgica de pensamentos e sentimentos realizada
na primeira aliana28 .
25
Cristo ratifica a aliana com o seu sangue (Mateus 26, 28). Nenhuma unio pode
ser concebida sem efuso de sangue (Hebreus 9, 22). A morte necessria para que
os herdeiros de Cristo recebam em herana os seus benefcios. A morte tem valor de
sacrifcio, oferec-la acto essencial da sua mediao (I Timteo 2, 6).
26
Mesmo os anjos o adoram. Cf. Hebreus 1, 6.
27
Perspectiva teleolgica da mediao. Cristo a causa eficiente, exemplar e final
de todos os seres, utilizando-se uma linguagem aristotlica. Tudo nele recapitula. A
ideia de arbitragem que comporta etimologicamente o termo mesites esfuminha-se
em proveito do poder e soberania detidos por Cristo.
28
Na linha da misso do dialctico, sublinhada em Fedro 266b,c, Cristo distingue
a unidade na multiplicidade. Realiza a comunicao amorosa entre seres contrrios.
Livros LabCom
i
i
36
O Paradigma Mediolgico
Para os cristos, Cristo revela o plano da salvao e realiza-o, o que
significa que a sua mediao a sua aco mesma29 . E depois dele?
Que valor de mediao os apstolos e as oraes tm? S. Paulo responde a essa pergunta em I Timteo. Responde que a vontade salvfica
universal (2, 4) e que a Igreja participa na mediao de Cristo por
meio das oraes, das splicas, peties e aco de graas que se hode dar (2, 1), assim como a pregao apostlica (2, 7)30 . Exclui a ideia
de a Igreja ter uma existncia independente, poder ser tomada como
um efeito produzido por uma causa. Posto isto: o conceito de mediador expressar de modo adequado a funo de Cristo?31 Atendendo
ao sentido original de mediador, este designa o que ocupa um lugar
intermedirio ou central, que fica no meio. Situa-se a igual distncia
dos extremos32 . O seu papel o de se intrometer numa negociao33 .
Assim sendo, e dada a identidade entre Pai e Filho, porque sempre que
Cristo fala Deus quem fala, e seguir a Cristo seguir a Deus (I Corntios 6, 11; Romanos 8, 18-30; Colossenses 1, 13-14), h um sentido
de mediao que descoberto. Se Cristo no est entre Deus e os homens, e no entanto ele realiza a mediao salvfica, por mediar s se
pode vir a entender o consumar de uma unio. Cristo acaba por ser a
Como na msica, ainda segundo Plato (Sofista 253b), da combinao de graves e
agudos que resulta a harmonia conciliadora.
29
C. SPICQ, op.cit., p. 1080: O Cristo mediador a nossa sabedoria, simultaneamente especulativa e prtica.
30
Os santos passaro a desempenhar o papel de medianeiros da Igreja. Homens
consagrados e silenciosos, representam as boas formas da Igreja, as etiquetas cerimoniosas do gosto hiertico, nas palavras de Nietzsche, que impedem que se fale
directamente com Deus. Lutero empreendeu contra eles uma autntica guerra. Cf. F.
NIETZSCHE, op.cit., p. 121.
31
Como o conceito de Filho, ou o conceito de Homem.
32
C. SPICQ, op.cit., p. 1022; F. J. SCHIERSE, op.cit., p. 620; AAVV, Mediao,
Mediador, Dicionrio Bblico, So Paulo, Edies Paulinas, 1984, p. 596-597.
33
As situaes mais frequentes so: recomendar conselheiros a prncipes; regular o
que um contrato ou uma aliana deve estipular; conciliar contrrios; servir de rbitro
numa transaco jurdica; negociar a paz entre foras beligerantes procurando cessar
as hostilidades. Cf. C. SPICQ, op.cit., p. 1022-1023.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
37
figura por excelncia, polarizadora de todas as mediaes, contudo, o de um modo paradoxal, parecendo no ser, no existir, sequer, como
mediador34 .
Da instncia compreensiva da palavra mediao far parte apenas a
especulao teolgica? Com efeito, no se trata de uma noo especificamente religiosa, a especulao filosfica aplicou-se igualmente a precisar o vasto campo da sua aplicao35 . J.Moller precisa a significao
filosfica do termo: Mediao significa, em primeiro lugar, a reduo
das coisas opostas a um ponto central ou a partir deste. [. . . ] A oposio contrria distingue-se da contraditria no sentido em que permite
achar um ponto de equilbrio, portanto, uma mediao. [. . . ] Mas tam34
Flon de Alexandria (n.20?a.c.-m.50?d.c.) um filsofo e telogo do judasmo
helenstico que recorre a Plato, Aristteles e aos esticos para apresentar uma filosofia em que o papel de intermedirios e mediadores entregue a seres transcendentes, como o Logos (pensamento divino criador), a Sabedoria (meio de criao
do universo), Pneuma (une a alma com Deus), as Potncias (seres mitolgicos, figuras, smbolos), anjos (embaixadores de Deus entre os homens) e os padres. So
entendidos como extenses de Deus; atravs deles que Ele estende o seu poder s
extremidades do universo, contendo todos os seres o seu domnio. Neste sentido, o
crente convidado a progredir de imagem em imagem at alcanar o ser simples, que
o entendimento no pode ver por defeito de subtileza. O judasmo palestiniano,
semelhana da teologia anterior, reconhece tambm uma multiplicidade de seres intermedirios: Sabedoria, Torh, Esprito de Deus, Memra, Mtatron (qualidades da
natureza divina mas que no se distinguem realmente dela) e Shekinah (marca e presena de Deus, da sua imanncia, que todos conhecem mas ningum est autorizado
a dizer). Esta ltima tende a atenuar o que h de perigoso e de pouco decente numa
apreenso directa da face de Deus.
35
Os textos hermticos e astrolgicos, posteriores era crist, so outras das formas que exploram o conceito. Vejam-se as revelaes de Hermes Trimegistro a Tat a
propsito da influncia sobre a alma humana que os demnios dos planetas exercem.
devido a eles a mudana dos reis, a sublevao das cidades, as pestes, as fomes, o
fluxo e o refluxo do mar, os tremores de terra, etc.. Os planetas, em nmero de 36,
designados os Decanos, so os mediadores. A medicina astrolgica egpcia, por sua
vez, defende que cada parte do corpo humano estava sob a dependncia de um deus
ou de um gnio e era necessrio conciliar-se com ele para que tal rgo permanecesse
so ou recuperasse a sade. situao mediana prendia-se uma significao moral
ou mdica. Cf. C.SPICQ, op.cit., p. 1027-128.
Livros LabCom
i
i
38
O Paradigma Mediolgico
bm na oposio contraditria existe uma mediao no sentido em que
o homem pode pensar, por intermdio da sua razo, tal oposio. Todavia, esta mediao no se d no ser36 . Assim, o trabalho filosfico da
mediao tem por tarefa buscar a entidade que estabelea a ponte entre
opostos, cujas modalidades dos mesmos se circunscrevem, no autor, s
oposies contrrias e contraditrias. Para alm disso, J.Moller chama
a ateno para a abordagem dos opostos como facto de razo e como
facto de ser. Por conseguinte, para equacionar a mediao em filosofia
tem de se explicitar a questo das oposies conceptuais, sendo destas
que aquela emerge.
O pensamento por opostos, sendo categorial, um pensamento que
evidencia a tenso, o contraste, a negatividade da experincia37 . Ao
mesmo tempo, os opostos tornam-se peas mestras de um pensamento
ordenador da mesma experincia como se a cognio comeasse com o
estabelecimento de rupturas e descontinuidades, se fizesse com a produo da diferena. Os contedos da experincia sofrem, por assim
dizer, um regime de separao, uma conduta de corte e de ciso38 .
36
Cf. J. MOLLER, Mediacin, Conceptos Fundamentales de la Teologa, Tomo
II, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1966, p. 614-615.
37
O termo Categoria, na etimologia, aponta para as duas perspectivas, significa
afirmar, predicar, mas tambm, na linguagem dos tribunais, acusar, falar contra. Cf.
Michel RENAULD, Categoria, Logos, Vol.1, Lisboa/So Paulo, Editorial Verbo,
1989. A bipolaridade semntica da palavra categoria encontra semelhanas com outras palavras, como o termo egpcio Ken, que designa o forte e o fraco, os termos
latinos Saltus, que exprime ao mesmo tempo o alto e o profundo, e Sacer, ao mesmo
tempo positivo e negativo. Remeter a palavra para dois objectos distintos ou antes
para a relao e diferena entre os dois? A cultura barroca do sc. XVI gerou o potico fazendo renascer uma prtica lingustica que procura exprimir a simultaneidade
dos contrrios e a impossibilidade de basear a realidade no unvoco. Qualquer forma
no pode ser vista isolada, sim ligada ao seu oposto. Nos extremos desta cultura,
pode observar-se o risco de a diversidade antagnica passar a ser vista como um jogo
de inverso de formas, o que pode levar ao enfraquecimento da diferenciao dos
opostos. exemplo a obra de Montaigne, que apresenta, segundo os seus crticos,
a reversibilidade dos contrrios e o consequente isomorfismo e indistino. Cf. J. J.
WUNENBURGER, A Razo Contraditria, p. 146-149.
38
As expresses pertencem ainda a J. J. Wunenburger, que as associa semntica
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
39
Comeam por aparecer recortados binariamente39 . E porqu? Universalmente, responde J. J. Wunenburger, a dualidade est associada
sada da unidade, produo da primeira diferena40 . A dualidade
liga-se alteridade e heterogeneidade, rompe com a homogeneidade
de uma unidade primordial41 . O dois representa uma forma de organizao primitiva de inteligir o real. o mnimo exigido para se falar de
mutao.
O movimento da histria nesta questo tem revelado que se passou
de um desdobramento do dado em dois para um desdobramento em
modalidades superiores a dois. A morfologia ternria abriu, por assim
dizer, a porta para a inteligibilidade do complexo e, simultaneamente,
afinou as leituras das diferenas: dois elementos articulados em torno
de um terceiro desenrolam melhor as propriedades da diferenciao.
Pela introduo de um terceiro percebe-se melhor se dois elementos
so disjuntos ou se so confusos, pela razo de que a dualidade retrocede para a unidade, no consegue desfazer-se dela como se de um seu
prolongamento se tratasse.
Com a trade desenvolve-se a necessidade de assentar a diferena
num espao intermedirio s entidades distinguidas. Entre estas entidades toma forma um estado especfico que faz com que identidade
e alteridade coabitem e que procura resolver os problemas postos peda ferida.
39
Confirme-se atravs de Alcmon ([. . . ] a maioria das coisas humanas anda
aos pares: branco-preto, doce-amargo, bom-mau, grande-pequeno. Cf. ARISTTELES, Metafsica, A,5,986 a 31-32; 35-36; KIRK e RAVEN, Os Filsofos PrSocrticos, Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1982 p. 235-239) e da tbua pitagrica, composta de 10 pares de opostos (Limite-Ilimitado, mpar-Par, Um-Mltiplo,
Direita-Esquerda, Macho-Fmea, Repouso-Movimento, Rectilneo-Curvilneo, LuzObscuridade, Bom-Mau, Quadrado-Oblongo. Cf. ARISTTELES, op.cit., 986 a
22-26). Estas so posies elementares de um trabalho filosfico sobre os opostos.
Essa elementaridade ser motivo de fortes crticas por parte de Aristteles. Veja-se
em Metaf., A,5, 986 a 36-37; Categorias, 10, 12a sq.
40
J. J. WUNENBURGER, op.cit., p. 32.
41
No pitagorismo a plenitude do ser est conferida no Uno, este a figura da igualdade perfeita. A Dade introduz a primeira forma de indeterminao.
Livros LabCom
i
i
40
O Paradigma Mediolgico
los pontos de encontro e de separao entre duas coisas42 . O princpio
da diferenciao justifica, assim, um pensamento que de outra maneira
confundiria todos os gneros no ser43 . As formas de oposio conceptual que se desenharo a partir dele significaro modulaes suas
porque os pares no se organizam segundo a mesma matriz. Quais as
principais?
Seguindo a elucidao formal do assunto por Fernando Gil, em Mimesis e Negao44 , as figuras de oposio organizam-se em pares no
antagnicos e antagnicos, distinguindo-se um do outro, respectivamente, pela no excluso mtua dos termos ou excluso mtua, e pelo
conjunto de ocorrncias ou no ocorrncias implicado na ocorrncia de
um. A simetria, a dualidade e a complementaridade encontram-se entre
o primeiro dos pares, sendo o segundo configurado pelos paradoxos,
contrariedades e contradies. Observando um exemplo de simetria
42
Sendo o dual uma oposio que s favorece o triunfo de um s, a trade ganha
vantagens porque traz em si um jogo de alianas e de oposies graas ao qual dois
podem agir contra um, um contra dois. S na trade podem existir ligaes e repulses. , realmente, expresso do holon e no j de uma reunio segundo o pan. A
problemtica da alteridade mpar rompe com a simetria do dois e devm, verdadeiramente, a primeira forma complexa. O dois havia j fixado uma primeira diferena,
mas, dado o seu carcter especular, mais de uma indiferena que se trata. Com a
trade, a dualidade rebenta e cada elemento v-se confrontado com dois outros, chegando a adquirir violncia (o demiurgo de Plato). A vida no redutvel a um ou a
outro dos elementos, no se decide numa lgica de incluso ou de excluso.
43
Princpio refutado por Parmnides, de acordo com o argumento de que o que
incriado, extinguindo, por consequncia, a ideia de gerao e mudana. Isso
impensvel, abrindo para um horizonte especulativo que no encontra ponte entre a
Unidade e a Multiplicidade. As primeiras cosmologias, pelo contrrio, associam o
princpio da diferenciao explicao da gnese do mundo. Tales, Anaximandro
e Anaxmenes, ainda Heraclito, estabelecem um regime de causas entre os opostos.
Derivam da aco dos opostos uns entre outros a gerao, algo que para Aristteles
um erro. um erro supor que os opostos sejam a causa de todas as coisas sem
a existncia de um substrato (hypokeimenon). A este substrato caberia a funo de
mediao. Cf., Met., 10, 1075 a 25-30.
44
Fernando GIL, Mimesis e Negao, Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda,
1984, p. 173-194.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
41
(dia e noite), o que salta evidncia que no h antagonismo45 . Os
elementos opostos constituem como que uma dissociao do idntico,
a reduplicao de uma mesma estrutura46 . Nas dualidades (grandepequeno), por seu turno, existe homogeneidade entre os termos, existe
uma continuidade, coeso47 . Passa-se de um termo para o seu contrrio
por continuidade. Os opostos compreendem-se como limites de uma
variao contnua. Nestes facilmente aplicvel o princpio platnico
segundo o qual a transformao dos contrrios em geral se baseia na gerao recproca de cada um deles em direco ao outro48 . A simblica
da linha recta, onde cada termo encontra o seu correlativo, esclarece
muito bem esta oposio49 .
A outra das figuras no antagnicas, a complementaridade, reportase a disjunes que se apresentam tal qual faces heterogneas de um
mesmo domnio (par-mpar nos pitagricos)50 . Nas complementaridades levanta dificuldades aplicar o princpio platnico enunciado, porque se se aceita que a morte nasa da vida, como explicar que a vida
provenha da morte? Havendo ruptura, descontinuidade, uma gerao
em linha recta no seria possvel, requer-se, sim, um percurso circular.
A gerao d a volta, diz Plato, atravs de um processo de compensa45
Outros exemplos: alto e baixo, direita e esquerda, frente e atrs, cncavo e convexo, avesso e direito, uma forma e sua imagem especular.
46
O mito toma a simetria como um dos principais critrios organizadores: Eram,
no princpio o Espao e o Companheiro; o espao, no alto Cu, que Tananoa rematava; Ele governava o Cu, e Mathuei envolvia-o. Trata-se de um excerto de um mito
polinsio da criao. O suporte bsico da criao atribudo ao acoplamento de elementos, dependendo deste a estabilidade do todo. Cf. Ernst CASSIRER, Linguagem,
Mito e Religio, Porto, Edies Rs, 1976, p. 83.
47
Outros exemplos: doce-amargo, rpido-lento, belo-feio, justo-injusto, fortefraco.
48
PLATO, Fdon, 71b.
49
Aristteles, no esclarecimento sistemtico que faz, designa este tipo de oposio
por oposio relativa. Cf. Categorias, 7, 6b 20sq; 8, 10b 25 sq.
50
Outros exemplos: essncia-aparncia em Plato, Yin-Yang no pensamento chins, extenso-pensamento em Descartes, sujeito-objecto na epistemologia moderna,
nmeno-fenmeno em Kant, onda-corpsculo na mecnica quntica, viglia-sono,
vida-morte, imortal-mortal.
Livros LabCom
i
i
42
O Paradigma Mediolgico
o que as coisas que existem se do umas s outras51 . A volta indispensvel nas circularidades, ficando por descobrir a lei da articulao,
j que elas fazem emergir um princpio de alteridade forte. O dispositivo de conhecimento que opera em cada um dos elementos difere, as
metodologias de estudo da res cogitans so diversas das metodologias
do estudo da res extensa52 .
As figuras antagnicas mais importantes, que so a contradio e a
contrariedade, produzem-se a partir da negao de cada termo pelo outro, quer dizer, a presena ou a verdade de um implica a ausncia ou a
falsidade do outro. Lendo exemplos de contrariedades (branco-preto),
e deslocando a ateno para cada estado do leque de possibilidades que
existe entre um e outro (todas as cores), constata-se que ela re-introduz
o multivalente53 . Raciocinando com o Tratactus, de Wittgesntein, cada
facto positivo representa um s de entre o conjunto de estados de coisas virtuais54 . A imagstica de que a contrariedade est impregnada
a do contnuo, por isso a geometria da contrariedade no a da linha,
invocada no Fdon, mas a da superfcie ou do volume55 . Na cincia da
modernidade, precisamente, onde a contrariedade a figura por excelncia, as leis visam estabelecer interaces admitidas e os limites de
uma compossibilidade. A abertura para o regime das contradies pode
ser dada por Heraclito, quando afirma: As coisas em conjunto so o
todo e o no-todo, algo que se rene e se separa, que est em consonncia e em dissonncia; de todas as coisas provm uma unidade, e de uma
51
PLATO, op.cit., 72 a-b.
A filosofia grega parece interessar-se mais pela descontinuidade das complementaridades que pelas variaes contnuas das dualidades. Como provas podemos referir
Heraclito, os opostos pitagricos e a fsica estica. O esbatimento das descontinuidades ser um problema que transitar at ao sc. XVII, altura em que a matemtica
um instrumento decisivo.
53
Outros exemplos: vil-honesto, Ser-Outro. Cada elemento tudo o que o outro
no .
54
Ludwig WITTGENSTEIN, Tratado Lgico-Filosfico, Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1987, proposies 3.411 e 3.42.
55
Frequentemente, entendem-se as contrariedades como dualidades, porque os dois
pontos, considerados extremos, condensam o sentido de uma variao contnua.
52
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
43
unidade, todas as coisas56 . Acompanhado das foras motoras, o Amor
e a Discrdia, de Empdocles, Heraclito revela o quanto o conflito um
elemento indispensvel justificao da existncia, toda ela incompatvel e afecta de pluralidade antittica. O conflito que provoca as
mudanas57 . Assim no pensa Aristteles, para quem o pensamento s
pode aceder inteligibilidade e coerncia custa de uma submisso
aos princpios de identidade, de no contradio e terceiro excludo58 .
Um ideal concebido pela conformidade com um jogo de regras antecipadamente fixadas pode fixar um indicador de certeza59 . Trata-se de
uma posio inversa da descrio prolixa das formas e das foras do
cosmos (Empdocles e Heraclito) e das inverses vertiginosas que se
infligem s palavras e aos conceitos (Sofistas). Nestas, sem qualquer
dvida, o postulado da economia do pensamento no seguido. A posio aristotlica empenha-se na via de uma estabilizao substancial
dos dados, abandonando o devir contrariedade ela s existe no seio
de um mesmo gnero (justia-injustia) e no entre seres que diferem
em espcie. Segundo Aristteles, os contrrios protagonizam a diferena perfeita, estabelecendo que no pode haver duas extremidades,
porque para cada coisa no pode haver seno um s contrrio60 . Pelo
56
KIRK e RAVEN, op.cit., p. 193, fr.10, e tambm o fr. 67: O deus dia-noite,
inverno-vero, guerra-paz, saciedade-fome; passa por vrias mudanas do mesmo
modo que o fogo, quando misturado com especiarias, designado segundo o aroma
de cada uma delas.
57
Heraclito e Empdocles sero casos raros no panorama filosfico grego, em
grande parte dominado pelo paradigma identitrio.
58
Aristteles, ao mesmo tempo que elucida o regime das contradies, demonstra
o princpio da no contradio e do terceiro excludo e as concluses que retira so as
de que as doutrinas tradicionais sobre o ser e a verdade no esto de acordo consigo
prprias ou conduzem a concluses inaceitveis. Refere, como exemplos, as doutrinas de Protgoras (Met., 4-6), Heraclito, Anaxgoras (Ibidem, 7-8) e Empdocles
(Ibidem, B, 4, 985 a 23; B, 4, 1000 a 25sq.).
59
Duas ideias: a) a razo julga encontrar em si, nas suas produes conceptuais,
um fundamento insupervel, antes mesmo de ter a certeza de poder atingir o fundo
das coisas; b) as regras vm antes da preocupao de alcanar a textura complexa do
devir e do mltiplo.
60
Ibidem, I, 4, 1055 a 20-33.
Livros LabCom
i
i
44
O Paradigma Mediolgico
contrrio, a representao da contrariedade deve elevar-se ao plano de
uma quididade que obedece estrita identidade61 . Qualquer substncia s pode ser compreendida como quididade simples. Da, a verdade
assenta na unilateralidade do dado, limita-se alternativa do sim e do
no62 . Ora, o pensamento est prisioneiro de uma representao homognea, em ltima anlise, encerra-se na tautologia segundo a qual o
que est vivo est vivo63 . As contradies que Aristteles visa, sadas
da elucidao dos princpios, referem-se a dois juzos antinmicos, nos
quais a afirmao e a negao incidem sobre o mesmo determinante
particular.
A clarificao filosfica parece incidir antes sobre as paridades de
raciocnio, das quais podemos dar o exemplo das antinomias da razo
pura kantianas64 . Que da complexidade? Que do emaranhamento
de processos opostos que levam a um facto positivo? Que da interaco entre a criao e a destruio? Abrir a porta ao contraditrio,
tolerar a sua positividade, favorecia o descontrolo do conhecimento,
entrar-se-ia num domnio de indeterminao. por essa razo que eles
so submetidos ao paradigma da identidade65 . Que escapa a este paradigma? No acha lugar para pensar a aurora e o crepsculo em que se
chocam e conjugam a noite e o dia, ou a divindade andrgina na qual se
compem os opostos do macho e da fmea, responde J. J. Wunenbur61
Aristteles esclarecer (Ibidem, 4) que impossvel que o mesmo atributo pertena e no pertena ao mesmo tempo, ao mesmo sujeito, sob o mesmo aspecto (Princpio da No Contradio, estreitamente ligado ao Princpio do Terceiro Excludo
(Ibidem, 7), porque uma coisa ou no ).
62
A afirmao e a negao do mesmo esto desunidas. Um organismo no pode
estar seno morto ou vivo; a quididade do homem no a quididade do no-homem
(Ibidem, 4, 1007 a 20 sq.)
63
o que o Princpio da Identidade enuncia, que uma coisa , o que !
64
Antinomias matemticas: o mundo tem/no tem um comeo no tempo; o mundo
/no limitado no espao; o mundo /no composto de partes simples. Antinomias
dinmicas: liberdade/causalidade; necessidade/contingncia.
65
Aristteles recusa-se a pensar o devir dos fenmenos e o Terceiro Excludo
disso prova, condenando o pensamento disjuno, obturando qualquer terceira posio que permitisse pr a coexistncia dos contrrios.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
45
ger66 . A diferenciao ficou contida na figura ch, o que corresponde
a uma hipertrofia do valor do homogneo67 . Deixa por legislar as relaes dinmicas do Mesmo e do Outro. S com Hegel a contradio
ganha direitos filosficos. Hegel apresenta-a como o conceito que permite pensar o real como movimento ou devir68 . Categoria conceptual,
a contradio a charneira na dinmica tambm do ser69 . Pensamento
66
J. J. WUNENBURGER, op.cit., p. 158.
A respeito da longevidade da lgica clssica e da conotao pejorativa da lgica contraditria que aquela lhe atribui, J. J. Wunenburger adianta que o pensamento
identitrio tomou para si a aura da normalidade. Reforou-se por meio de uma patologia, enfim. Divulgou o seu ideal ao assegurar que o respeito pela normalidade
assegurava a normalidade psquica. A contradio, ao invs, permanecia associada a
uma monstruosidade lgica, a uma subverso racional. Tal verso surgia da parte das
psicopatologias centradas no primado da desconflitualizao. Carrear a perspectiva
do contraditrio era sinal de desestruturao dos quadros mentais, de uma alienao da conscincia e a uma total incapacidade de se inserir numa linguagem comum.
Portanto, sempre foram apresentados fortes motivos para dissuadir a concepo da
contradio, at que a psicopatologia da esquizofrenia e a psico-sociologia dos grupos distinguiram a contradio patognica da contradio criadora. Em si, concluem,
a contradio no patognica, s o porque o sujeito incapaz de dinamizar a contradio. E que, se a contradio pode avivar sintomas neurticos, a no contradio
tambm o pode fazer. O emprego generalizado do esquema identitrio pode levar a
uma espcie de racionalismo mrbido, dissolvendo todas as diferenas no homogneo. Alm disso, repelir a alteridade pode veicular ideologias diablicas. Cf. Ibidem,
p. 161-167.
68
Jacob Boehme, uma figura alem da especulao teosfica, preludia Hegel a propsito da ideia de que o infinito pressupe o finito, sendo este o fundamento daquele.
A intuio de Boehme formula uma diferenciao contraditria no Absoluto divino.
Conjectura que Deus no se manifesta seno num fundo de Ser e de Nada, de sim
e de no. Estende a lei da polaridade at ao absoluto. Segundo ele, o divino achase exposto a um conflito de dois poderes. Para uma viso resumida desta posio,
Cf. Alexandre Fradique MORUJO, Boehme (Jacob), Logos, Vol.1, Lisboa/So
Paulo, Editorial Verbo, 1989. Para alm da intuio da contradio no corao do
Ser, Hegel herda o conceito de uma realidade que actividade, processo, movimento,
auto-movimento do eu penso kantiano e do idealismo de Fichte e Schelling.
69
Tomando que a substncia sujeito, Hegel retoma o aforismo parmenidiano segundo o qual a mesma coisa pensar (noein) e ser (einai).
67
Livros LabCom
i
i
46
O Paradigma Mediolgico
e realidade esto implicados nesta forma de progredir70 . Hegel procura
solucionar o velho problema da consumao ntica do ser, na expresso de F. V. Pires71 , questionado por Plato desta maneira: como obter
do Ilimitado um advento existncia?72 Trata-se, claramente, de uma
aporia, j posta pelos pr-socrticos, que se perguntavam como que
o determinado se obteria do indeterminado. No tero de pressuporse princpios de organizao e de diferenciao no seio da indistino
originria?73 Sob que procedimento se podem articular os termos diferentes na qualidade de diferena? que, pensado o Ser na economia
do Mesmo, ele teria de retirar-se do devir. E este est dado74 . Como
70
O esprito jamais est em repouso: vai arrancando um aps outro os pedaos
da fbrica do seu mundo precedente; o seu titubear insinua-se por sintomas isolados,
a frivolidade e o aborrecimento que mordem no existente, a vaguido do desconhecido, so pressgios de algo de novo. O paulatino desmoronar-se, que no altera a
fisionomia do todo, interrompe-se e, como um raio, produz de golpe o acontecer do
novo mundo (HEGEL, Fenomenologia del Espritu, Madrid, Revista de Occidente,
1935, p. 15-16). Hegel descreve o comeo do esprito como sendo o produto de uma
revoluo ampla nas mais diversas estruturas, o galardo de uma carreira multiplamente intrincada e de esforos e fadigas tambm mltiplas. Quanto progresso,
ela ter uma configurao em espiral. O momento abstracto ou intelectual, o dialctico ou negativo-racional e o especulativo ou positivo-racional marcam o ritmo dessa
configurao. Cf. Idem, Enciclopdia das Cincias Filosficas em Eptome, Vol. I,
Lisboa, Ed. 70, 1988, 79-82.
71
Cf. Francisco Videira PIRES, Dialctica, Logos, Vol.1, Lisboa/So Paulo, Editorial Verbo, 1989,
72
PLATO, Filebo 26d.
73
Anaximandro prope o gonimon, que se introduz entre os contrrios e o infinito
primordial, o apeiron. Em Anaxmenes, os contrrios, que so a raridade e a densidade, exprimem mudanas intrnsecas do ar, que so a rarefaco e a condensao.
Para Parmnides, o advento e a individualidade dos entes permanecem um mistrio.
Em Plato, a individuao e a organizao relevam da chora e da ideia (instncias
descoordenadas); do to pan (tudo) fisicista, entendido como elemento primordial de
onde procede o que , e do to holon (todo) metafsico (PLATO, Sofista 242 d). Em
Aristteles, o mundo d-se, originariamente, como uma multiplicidade das substncias (a unicidade pertence definio de substncia) (Met., 2, 1003b27-28).
74
O devir da natureza, o lugar de onde o esprito retorna sua identidade, revelado pelo esprito, consiste na revelao de que livre. Pe a natureza como seu
mundo, um pr que [. . . ] ao mesmo tempo um pressupor o mundo como natureza
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
47
o tornar inteligvel? Pergunta-se agora. Como integrar numa representao completa todas as determinaes heterogneas do concreto?
Eis o que abre para uma razo mvel, que deixa a possibilidade de
postular uma coextensividade lgica e ontolgica entre o Mesmo e o
Outro. Enquanto movimento, a Razo produz os contedos negativos,
as determinaes75 . Temos, portanto, um ser que posio e negao.
Dialctica o termo que abarca a fora que remete o ser na sua
forma vazia para um contedo, e que abarca todos os encadeamentos
nos quais o pensamento se envolve gradualmente, sem se deter em nada
de satisfatrio antes de uma ltima etapa76 . A forma (dialctica) definida pelo prprio Hegel como um passar para outro77 . Ser e No-Ser,
identidade e diferena, esto ligados, assim, por uma relao dialctica.
E a negao o conceito central dessa relao. Em termos lgicos, a
primeira posio da negao surge na lgica do ser (negando o ser puro,
fazendo-o equivaler ao nada), reaparecer na lgica da essncia (pressupondo uma alteridade diferenciadora intrnseca identidade do ser),
por ltimo, ao nvel da lgica dos conceitos (encontrando o particular
no percurso de concretizao do universal em individual)78 . A negao afectar posteriormente a realizao do real sob todas as formas,
inanimadas e animadas79 . Presidir, ulteriormente, ao aparecimento de
cada figura da conscincia, de cada forma institucional80 . A negatividade traduz, em Hegel, a dinmica do esprito, do seu surgimento81 .
Cada forma, cada figura, que a contradio do Esprito, prepara o
acesso sua verdade. A alteridade colocada no centro do disposiindependente (HEGEL, op.cit., Vol.III, Lisboa, Ed. 70, 1992, 384).
75
Hegel retoma a frmula de Espinosa: Omnis determinatio est negatio.
76
Esta ideia de dialctica liga-se de inquietude, explorada por Kierkegaard.
77
Ibidem, vol. I, 84.
78
Ibidem, Primeira, Segunda e Terceira Seco da Lgica.
79
mbito da Filosofia da Natureza.
80
mbito da Filosofia do Esprito.
81
A essncia do esprito negar-se imediatamente idntico. Apesar disso, no
deixa de manter-se afirmativo. Tem a liberdade de suportar a negao. Ele contm o
negativo de si mesmo, a contradio (Ibidem, Vol.III, 382; Vol I, 214).
Livros LabCom
i
i
48
O Paradigma Mediolgico
tivo lgico e real. esse processo de alteridade que Hegel pensa82 .
Como se instala a diferena na unidade? Para abordar o problema, o
pensador alemo cruza dois trajectos, um que afirma que a alteridade
surge como processo de alienao, segundo uma exterioridade, outro
que afirma que a alteridade se prende a uma divergncia interna. Sobre
o edifcio dialctico caem como que duas cargas ambguas. A primeira
vem no prolongamento de uma teologia crstica, centrada no mistrio
da Encarnao83 , a segunda vem no prolongamento de um vitalismo e
biologismo romnticos, provenientes de uma Filosofia da Natureza84 .
De acordo com o primeiro dos paradigmas, a diferena depende de um
movimento de dilacerao da identidade, exprime uma espcie de duplicao de si mesma, de projeco fora de si num reflexo. No segundo
paradigma este tornar-se em outro mudado para uma viso centrada
na cissiparidade do Absoluto em determinaes duais. A prov-lo temos a imagem do boto que gera a flor e a flor o fruto. Em toda a flor
est contido o boto segundo a sua idealidade, ela no seno a explicitao do conceito de boto85 . O boto realiza a sua finalidade intrnseca
contando com os seus prprios recursos. , em sentido estrito, causa
82
Veja-se que Hegel reconhece em primeiro lugar o primado da identidade. Tal faz
surgir uma perplexidade: a ser assim, o trabalho da contradio no ter outro fim
que o de restaurar ou renovar uma unidade no interior da qual todas as coisas tm
consonncia, apesar de o prprio Hegel sugerir que se trata de uma consonncia viva
e no imvel, como a dos medievais, que simplesmente inclui. A este respeito, J.
MOLLER (op.cit., p. 616) afirma: [. . . ]Hegel [. . . ]intenta uma mediao tal entre o
pensar e o ser que as realidades que se comunicam constituem uma verdadeira vida e
no uma unidade petrificada.
83
A religio crist, no seu modelo luterano, uma das fontes principais, alis, uma
espcie de ilustrao antecipadora da sua doutrina idealista.
84
Escreve Hegel no prlogo Fenomenologia do Esprito que o boto refutado
pela flor, esta declara falsa a existncia daquele, assim como o fruto declara falsa a
existncia desta. Em lugar da flor aparecer o fruto como a verdade da planta. Cf.
HEGEL, Fenomenologia del Espritu, 1935, p. 5.
85
Hegel reata com a oposio da potncia e do acto aristotlica, como que a anunciar que o conceito no tem de ir buscar fora de si o alimento fundamental ao seu
desenvolvimento.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
49
sui. ele prprio que concede a si mesmo a existncia86 . Nesse caso, a
oposio vista como uma duplicao, uma espcie de desdobramento
do Mesmo87 . O processo da alteridade explicado pela sada de si para
se tornar numa figura completamente nova submete-se a uma finalidade
teleolgica, a um plano que desloca a causa do devir da origem para o
fim, ao passo que, explicado segundo uma performance do Outro no
Mesmo, o Outro j no produzido, mas actualizao daquilo que
est em boto, em potncia. Os dois esquemas oscilam a compreenso
da diferenciao entre a alienao e a alterao, como acabmos de ver.
De acordo com J. J. Wunenburger, a oscilao suprimida na negatividade e na contradio. A negao e a contradio tomam a vez dos
esquemas teolgicos e biolgicos e elevam a diferena sua mxima
amplitude. Como? Pensando que a identidade em Hegel implica a diferena, que implica, ela prpria, a contradio, que implica, ela prpria,
a oposio, temos que no h identidade sem diferena e sem contradio. O que que isso significa? Hegel verte a identidade do Absoluto na contradio e a potncia do negativo alimenta-se na integrao
sucessiva de todas as figuras da diferenciao. Assim, a oposio e
a diferenciao so momentos que preparam o culminar da contradio88 . A negatividade abisma-se em contradio, realiza-se nela89 . O
processo dialctico conduz a diferena para a contradio, seu desvio
maior. O que prossegue o processo de negao? Outra figura de negao?90 Em Hegel, poder-se- dizer, a contradio racionalizada a
partir de premissas aristotlicas, da a pergunta: a contradio abarca
86
Cf. M. M. COTTIER, Lathisme du jeune Marx: ses origines hgliennes, Paris,
Vrin, 1959, p. 93.
87
A verso do infinito no finito obedece, neste paradigma, a uma perspectiva continuista.
88
Entende-se a contrariedade hegeliana como o processo que designa a dilacerao
do Mesmo segundo um par de extremos e a oposio o processo de instalar o Outro
no Mesmo, a corroso do Mesmo pelo Outro.
89
A negatividade diz a dinmica que afecta todas as figuras no processo de diferenciao.
90
Se o positivo devm negativo, s pode entender-se a aufhebung como continuao do processo de negao.
Livros LabCom
i
i
50
O Paradigma Mediolgico
todas as disputas, todas as diferenas? Abarcar as que se reportam a
ordens de realidades afastadas umas das outras ou desniveladas?91
Se pensarmos em pares contraditrios do tipo analogia e digital, verificamos que estes instauram ou suscitam choques entre ordens de realidades diferentes92 . Eles no se mantm no interior do mesmo tipo de
nvel. Este tipo de oposio que faz apelo a um mundo fortemente diferenciado designa-se de paradoxal93 . Lendo, por exemplo, as Penses,
de Pascal, deparamos com uma reflexo que se desenha em torno da diferena de Deus e do homem94 . O mesmo tipo de discurso se encontra
em Kierkegaard95 . De Pascal e Kierkegaard, conclumos que a inteligibilidade dos elementos em presena afectada pela recusa da lgica da
univocidade, da continuidade, da homogeneidade96 salvaguarda do que
91
A oposio contraditria, visto que incide sobre objectos idnticos ou semelhantes, explicita uma diferenciao fraca.
92
Outros exemplos: natureza e cultura, finito e infinito, relativo e absoluto, homem
e Deus.
93
O paradoxo afigura-se, neste sentido, situar-se alm da razo identitria.
94
Todo este mundo visvel no mais que um trao imperceptvel no amplo seio
da natureza. Nenhuma ideia se lhe aproxima. [. . . ] enfim o maior rasgo sensvel
da omnipotncia de Deus que a nossa imaginao se perca nesse pensamento [. . . ]
Que o homem no infinito?. Cf. Blaise PASCAL, Penses, Paris, Librairie Gnrale
Franaise, 1972, frag. 199.
95
A paixo paradoxal da inteligncia esbarra portanto sempre com este desconhecido que certamente existe, mas que no deixa por isso de ser menos desconhecido,
e a este ttulo menos inexistente. A inteligncia no pode ir mais longe: mas o seu
sentido do paradoxo leva-a a aproximar-se do obstculo e a ocupar-se dele; porque
pretender exprimir a nossa relao com o Desconhecido negando a sua existncia
no correcto, visto que o enunciado desta negao implica precisamente uma relao (citado de Pierre MESNARD, Kierkegaard, Lisboa, Ed. 70, 1986, pg.54). Cf.
KIERKEGAARD, As Migalhas filosficas, III, O paradoxo absoluto: uma quimera
metafsica.
96
Essa tem sido a lgica das diversas escolas filosficas (materialismoespiritualismo;
idealismo-realismo;
racionalismo-empirismo;
dogmatismocepticismo)que se encerram em vises sempre desmentidas por uma escola
oposta. Instalam-se num ponto fixo, vlido como ponto absoluto, ignorando a
contradio. Tomam o aspecto de uma antinomia, adjudicando a verdade a cada um
dos opostos, do seu ponto de vista, como em Kant.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
51
Pascal decidiu chamar Razo dos Efeitos97 e Kierkegaard aut-aut existencial98 . A contradio ressurge sempre, invertendo o por no contra99 ,
ou atravs do salto do contra para o por100 , que a natureza do homem
no consiste em ir, sempre, tem as suas idas e vindas101 . Ser, assim,
possvel um ponto de equilbrio entre os opostos ou, dada a natureza
diversa das determinaes, no h um ponto de apoio especfico, mas
cada ponto , em potncia, um ponto de apoio?! A geometria do paradoxo resvala para a segunda hiptese. O paradoxo no j pensvel
em termos de esfera ou de balana, antes em termos de cone. que
o movimento volta do cone no sentido ascendente e convergente,
ordena para um fim, nico, os pontos de vista diversos. Mantm, simultaneamente, juntos e separados os opostos.
A ironia, por conseguinte, associa-se tarefa de desapossamento
de uma posio absoluta em favor da associao com o seu contrrio e
que pode pr tudo do avesso, exteriorizar o interior, interiorizar o exterior102 . Como notou Pascal, Cristo revelou que os pobres ho-se ser
ricos e os ricos, pobres, que os primeiros ho-de ser os ltimos e os
ltimos os primeiros. A ironia a que aqui se faz referncia manifesta a
trgica impossibilidade de desfazer a contradio, tornando esse facto
97
A Razo dos Efeitos, ou das proposies, na qual desempenha papel de relevo o
esprit de finesse, traz luz a natureza paradoxal do homem. O homem , simultaneamente, grande e miservel, e que qualquer doutrina que considere apenas um destes
aspectos falsa e perigosa (B.PASCAL, op.cit., frag. 121). Nessa medida, so falsos
o dogmatismo de Epicteto e o pirronismo de Montaigne (Ibidem, frag. 109).
98
No haver lugar para o ou-ou suprimir a existncia. Noutros termos, fazer abstraco da alternativa na existncia significa fazer abstraco da existncia. Cf. KIERKEGAARD, Post-Scriptum aux Miettes Philosophiques, Paris, Gallimard, 1949,
p. 207-210.
99
Cf. B.PASCAL, op.cit., frag. 93.
100
A existncia marcada por uma oscilao. Equivale a uma vibrao da alma,
na imagem de Janklvitch (Le pur et limpur, Paris, Flmmarion-Champs, 1979,
pg.228). Um acontecimento instantneo no um acontecimento quase-nada?!
101
PASCAL, op.cit., frag. 27. Contra o tdio do repouso, incita: preciso sair
dele e mendigar o tumulto (frag. 136).
102
A ironia, neste contexto, revelar que o finito esttico se abre ao infinito tico, e
que o vazio da interioridade torna possvel a confrontao com a plenitude de Deus.
Livros LabCom
i
i
52
O Paradigma Mediolgico
matria para pensar. O mistrio pascaliano e o escndalo kierkegaardiano so definidos por esta ironia. Nenhum conhecimento de ns
mesmos podemos ter sem conhecermos o mistrio da transmisso do
pecado, dir Pascal. E que a transmisso do pecado o que h de mais
impenetrvel ao nosso conhecimento, de modo que o homem inconcebvel sem este mistrio e este mistrio inconcebvel ao homem103 .
Para Kierkegaard, o escndalo consiste em crer que o pecado pode ser
perdoado e ainda em desesperar de os pecados no serem perdoados104 .
Perante to rica modulao da diferena, cabe perguntar se chegaremos a responder ao problema da mediao, e que o de saber em
que termos a mediao fornecida, se a filosofia, efectivamente, lcida quanto forma de ligar a diferena. Ou se nos vamos deparar com
uma teia de solues que velam mais que desvelam, ganhando-se em
amplitude o que se perde em acuidade, fruto do refinamento do que as
problemticas da oposio e da mediao foram alvo. Relativamente
simetria, a mediao incorporada nas prprias coisas, dispensa um
terceiro. A distino resolvida em termos de equilbrio entre partes contrastantes105 . O dia e a noite, constituindo transformaes de
um mesmo, no modificam a estrutura dele, asseguram a estabilidade
(synthesis) do mesmo. Ora, isso assumir um grau zero na mediao,
um seu limiar inferior. A partir dele outras mediaes se subentendem.
Nas dualidades o problema da organizao do mltiplo no se pe,
ela auto-suficiente. A inteligibilidade destas no invoca uma mediao propriamente dita, porque passa-se do aquecimento ao resfriamento de um corpo por uma gerao recproca. Cada um dos contrrios
103
Perante a resistncia da razo em admitir um mistrio para explicar outro mistrio, Il faut parier!, j que estamos lanados na vida. PASCAL, op.cit., frag. 131.
104
Indicao encontrada em Pierre MESNARD, op.cit., Lisboa, Ed. 70, 1986, p.
61.
105
Convm distinguir a mediao simtrica aristotlica da de Anaximandro. Para
Aristteles, segundo o exemplo: a sade uma simetria de calores e de frios (Fsica, VII, 3, 246b5), a simetria implica diferena, o que distinto da simetria a que
Anaximandro alude para explicar a imobilidade da terra no centro do universo (op.cit.,
II, 13, 295b11), esta uma simetria na indiferena.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
53
origina-se no outro, no h ruptura, h uma coeso patente, o que faz
com que as coisas acabem por revestir a mesma figura106 . As complementaridades suscitam a questo da unio e da organizao107 . Plato:
impossvel combinar bem duas coisas sem uma terceira: preciso
entre elas um elo que as aproxime, e o elo melhor o que estabelece
a mais perfeita unidade entre o que ele une e ele mesmo108 . A terceira coisa, o misto, o responsvel pela unio. A natureza deste misto
de modo a faz-lo participar das qualidades dos extremos, s assim
podendo fundi-los e possibilitar qualquer comunicao entre eles. Da,
vai alm deste misto o papel de participao e conexo, exige que se
estabelea ordem, proporo e harmonia (Koinonia)109 , nem que para
isso tenha de implicar violncia, como no caso do demiurgo, para unir
o Mesmo ao Outro, porque o Outro era rebelde mistura110 . Haver
limites interveno desta causa exgena? A avaliar pelos exemplos, o
metaxy platnico intervm tanto no plano fsico, intelectual, moral, social, como religioso111 . um conceito que Plato aplica para designar
106
PLATO, Fdon, 71d.
Simetrias e dualidades so morfologias elementares, modelizadas, a primeira, segundo a inteligibilidade da durao, do contnuo, sem nenhuma seco, e a segunda
segundo a inteligibilidade da dobra, com comeo e fim. A estas subjazem outras,
como a ruga, que modeliza o engendramento, a unio e a desunio. Os gneros Ser,
Repouso e Mesmo apresentados no Sofista contam-se entre a primeira das morfologias, e a emergncia do cosmos em Anaximandro uma dobra. A Concrdia e
a Discrdia em Empdocles pode representar-se como uma ruga, como as demais
complementaridades. Cf. Fernando GIL, Mimesis e Negao, p. 169-170.
108
PLATO, Timeu, 31c.
109
Idem, Poltico, 284b.
110
Idem, Timeu, 35c.
111
Vrios exemplos: a gua e o ar servem de transio entre o fogo e a terra (Ib.,
31b-32c); a medula o meio termo entre a alma e o corpo (Ib., 73d); em Retrica,
a perfeio consiste em discursar entre o demasiado conciso e o prolixo (Protgoras, 338 a), entre o demasiado curto e o demasiado longo (Fedro, 267b); Eros o
intermedirio entre o mortal e o imortal (Banquete, 267b), um auxiliar da alma,
ajuda-a a elevar-se acima do mundo sensvel, at contemplao da ideia (Ib., 211
a,b), facilitando-lhe a ascenso at ao Bem (Repblica); o virtuoso o que se mantm na justa medida (Protgoras, 346d); em poltica o ideal ser entre a servido e
107
Livros LabCom
i
i
54
O Paradigma Mediolgico
a relao entre o fragmentrio, o contingente, e o uno, o todo. Plato
visa observar a passagem da unidade do infinito multiplicidade do finito112 . Aristteles , igualmente, tributrio desse esforo, bem como
Plotino113 .
a liberdade (Leis, 694 a). O metaxy intervm tambm na religio, sob a forma de
daimones e de orculos, sobretudo o orculo de Delfos, onde Apolo o exegeta do
direito sagrado (Repblica, 738b-d; 427b,c). Os daimones, por seu turno, servem de
trao de unio entre os deuses e os homens (Banquete, 203 a). De entre os principais
aspectos da sua interveno, destaca-se o papel que tem de transmitir aos deuses o
que vem dos homens e aos homens o que vem de Deus, completar o vazio que existe
entre uns e outros, unir o Todo a ele mesmo (Ib., 202e), proteger dos males da injustia, cupidez, violncia, loucura (Leis, 906 a). Atribudo a cada homem logo pelo
nascimento, vela por ele durante a vida terrestre e condu-lo diante do tribunal onde se
julgam as almas. assim uma espcie de aliado ou gnio tutor (Fdon, 107d-108b;
113d; Repblica, 617d-e; 620d-621b).
112
Plato afirmar no Filebo: [. . . ] um e muitos [. . . ] circulam por todas e cada
uma das coisas que dizemos (15d). A unidade e a multiplicidade informaro uma
lista vasta de outras figuras conceptuais: parte-todo, simples-complexo, MesmoOutro, Discreto-contnuo, finito-infinito, absoluto-relativo.
113
No desempenhando um papel to preponderante como em Plato, o misto para
Aristteles tem tambm uma causa exgena experincia; refere-o como sendo da
mesma natureza que os extremos (ARISTTELES, Metafsica, 1057 a 26). Na lgica, o termo mdio do silogismo rene os extremos e torna a concluso possvel
(Idem, Segundos Analticos, 81b, 31, 35; 82 a, 2, 21, 28, 30, 31, 33); o contnuo espacial ou temporal no pode conceber-se sem intermedirio: a linha intermediria
entre dois pontos, como o tempo entre dois instantes (Idem, Fsica, VI, 231b, 6-10);
o movimento produz-se entre termos opostos ou contrrios (Ibidem, V,III,236h, 23;
Idem, Metafsica, 1068b, 27); a noo utilizada em moral para definir o meio termo
virtuoso (Ibidem, 1023 a 7); na religio, o motor imvel, fonte primitiva de todas as
foras motoras, faz seguirem-lhe deuses de segunda ordem, condutores dos astros, a
quem o Primeiro motor entrega o governo do mundo; a forma, definidora e configuradora do ser concreto, serve de mediadora entre o ser e o conhecer; por outro lado, o
conhecer, que no se pode explicar a partir do homem, remete para o ser que pura
ousia, pura energeia, pura noesis. Pode aludir-se, ainda, ao papel dos intermedirios
nos relativos e dentro da contrariedade. Plotino multiplica as hipstases mediadoras
(PLOTINO, Enades, V, 1, 4). A todos os nveis h um movimento de retorno unidade mais elevada da hipstase anterior da Alma ao Nous e deste ao Uno (Ibidem,
VI, 7,17). No topo est o Uno, que faz remontar a si o que de si procede (Ibidem, V,
4, 1; 2, 1; 2, 2). Este movimento de retorno resolve-se graas ao Nous (Inteligncia),
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
55
Afinal, qual a origem do misto? Ser causa sui? Ou a complementaridade dada nas partes? So estas a fornecer o princpio de
complementao? Ou, ainda, a causa do misto v-se no fim?114 A
abordagem aristotlica do carcter contingente dos seres e dos acontecimentos defende, no essencial, que o regime da contrariedade referese ao ser que existe, podendo no existir. A contrariedade refere-se,
por conseguinte, existncia dependente de outra existncia. Natural,
pois, que o sentimento de ser no seja garantido conscincia, o sentimento de uma subsistncia, o que agudiza o fantasma do acaso. Como
servida, ento, a mediao num mundo onde as ocorrncias so imprevisveis? Vrios pensadores tentaram fornecer uma resposta a essa
pergunta, como Leibniz, interpretado por Michel Serres: A mnada,
como tal, encontra-se constantemente designada como o suporte de caractersticas inversas, como o so as do mundo que elas constituem...
(ela) uma unidade, repetida uma infinidade contnua de vezes; feque forma uma unidade com a pluralidade dos seus objectos (eide), descrevendo-se
como um uno mltiplo, e graas Alma, cuja unidade se desdobra na diversidade
dos entes (Ibidem, V, 1, 8, 25-26). Em concluso, a dialctica uno-mltiplo joga-se
nos planos da Inteligncia e da Alma. Quanto ao Uno, dele s lcito dizer que est
para l do ser, no exprime um isto determinado nem sequer possvel exprimir o
seu nome. Comporta s uma tese negativa: no isto (Ibidem, V, 6, 10-12). Toca-se
o Uno pelo xtase, o que sugere uma imediao no seu acesso, a no discursividade.
114
A filosofia grega, atrada por esta questo dos complementares, apresenta solues variadas. A propsito da primeira hiptese, o fogo (pyr) de Heraclito estabelece
a medida dos complementares. Representa, por conseguinte, uma lei csmica, como
constitui a alternncia entre a dominao da Concrdia e a dominao da Discrdia em Empdocles. A soluo de Anaxgoras, segundo a qual os spermata contm
uma mistura inicial vlida para todo o sempre, partidria da segunda hiptese. Os
elementos de Anaxgoras transportam consigo uma constituio originria e os princpios da sua organizao. Soluo tambm de Leucipo e Demcrito e os Esticos
(Cf. ARISTTELES, Met., A,4,985b5). Aristteles partilha da terceira hiptese. A
perenidade das espcies, diz ele, um efeito da tendncia da Natureza para Deus
(Idem, De Generatione, II, 10, 336 a 35-337 a 1; Idem, Gener. Animal, II, 1, 731b
18ss; Idem, De Anima, II, 4, 415 a 29 -b 3). Em Aristteles h uma reorientao teleolgica do problema da gerao dos seres. Tal processo natural de reproduo existe
para os seres vivos participarem no eterno e no divino (Ibidem, II, 4, 415 a 28).
Livros LabCom
i
i
56
O Paradigma Mediolgico
chada e aberta, sem janelas nem lacunas, mas representa a totalidade do
mundo...: original, irredutvel, insubstituvel mas harmnica e entreexpressiva segundo todas as inter-relaes imaginveis115 . A mediao (ordem) da contingncia v-se atribuda apenas a um conceito,
apenas um conceito fixa as condies de ocorrncia de cada termo. A
mnada mediao entre os contrrios, ela que fornece a regra ao
devir. Outras mentes reagiram contingncia, ora expulsando as qualidades secundrias do mbito das qualidades apreciveis, reduzindo-se,
obviamente, uma fenomenologia aparente a uma mais uniforme, outras buscaram num cogito pr-reflexivo e na experincia ingnua do
mundo os actos fundadores, mas esquecidos, como a fenomenologia
husserliana. Outros, ainda, seguiram diferentes snteses, comeando
pela sntese que se d no plano da sensibilidade, mediante as formas
puras da intuio espao e tempo, passando pela do entendimento, em
que a sntese ser unificao dos elementos da representao, mediante
as categorias, at que se observa no plano da razo, com base nas
ideias. Tal ponto de vista sobre a mediao pertence a Kant, que o
designou de sntese transcendental.
O inatismo cartesiano elucidou, igualmente, esta configurao. Assenta na ideia de que a alma possui, desde o princpio da sua existncia,
ideias congnitas, criadas por Deus ao criar a natureza do homem. A
ideia de Deus e da sua imutabilidade, substncia, pensamento, espao
e movimento, princpios de identidade e causalidade e as verdades matemticas e as leis mais universais da natureza constituem como que o
patrimnio originrio da razo, que s esperam pelo estmulo exterior
para se desenvolverem. Ora, o que resulta? Uma mediao como ser
de razo, extrapolando-se desta para a ordem real de modo a obter uma
imagem do mundo essencialmente continuista, isenta de conflitos116 .
115
Citado em Fernando GIL, op.cit., p. 185.
A significao da soluo da mediao dos contrrios como facto de razo vem
prejudicar a anlise aristotlica da dupla pertena que os opostos gozam, ao ser e ao
pensamento. No possuem s um estatuto lgico, tambm ontolgico. Valorizando
os contrrios no estatuto, eminentemente, de factos de razo, esto Plato, Plotino,
Santo Agostinho, So Boaventura, Malebranche, Leibniz e Kant, entre outros.
116
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
57
No fim encontra-se uma estrutura que procura recuperar a organicidade
primordial, mediadora de diferenas. O plano em que colocada o
de um ideal regulador117 .
Passando abordagem da contradio, e tal qual foi dito sobre isso
e sobre Hegel, a partir da proposio Ser e Nada so o mesmo que o
jogo da busca de mediaes comea118 . A identidade encontra-se posta
assim porquanto o ser se mediatiza atravs da negatividade o ser
referncia a si enquanto referncia a outro119 , implicando-se um movimento de aparncias, vistas na funo mediadora at que o absoluto
se re-conhea unidade de pensar e ser120 . Como visvel, a mediao,
ou seja, segundo a definio lgica, o ter partido de algo de primeiro
para um segundo e um sair da diferena121 , uma automediao, a
partir do momento que o Absoluto que pe ele prprio a si o Outro e
se concilia consigo. O Esprito encontra a sua identidade no movimento
de oposio imediatidade que ele inclui, imediatidade esta cumprida
na diversidade de aparncias sobre as quais o ser se recolhe sem se
deixar esvanecer. Aquilo que o ser devindo ao mesmo tempo imediatidade e mediatidade, que ser superada pelo pensamento de tudo
unir. a especulao que tudo transforma em mediao. Contradio,
negatividade e aufhebung constituem, em suma, a traduo silogstica
117
Marx conta-se entre os grandes crticos desta ideia de mediao. Aceitar a procura da harmonia, da coeso, da igualdade, do equilbrio, mas tomando como ponto
de partida os sujeitos reais. O cunho humanista deste pensador leva-o a depreender
que os conceitos apenas constroem outros mundos, que apenas alienam as relaes
do homem com as suas obras; provocam a desorientao do homem: na religio, na
filosofia, no Estado, na classe social, no produto do trabalho. E dissipar esse outro
mundo o papel da crtica filosfica. Cf. MARX, Contribution la critique de la
Philosophie du Droit de Hegel, Paris, Aubier-Montaigne, 1971, p. 79.
118
O Ser est no comeo contido no Nada (Nada ainda e (j) preciso que algo
seja) como o Nada sobrevem na interioridade do Ser, marcando-lhe o progresso. Cf.
HEGEL, Enciclopdia das Cincias Filosficas, 87.
119
Ibidem, 112.
120
Atravs de Hegel, o aforismo parmenidiano encontra-se posto dialecticamente
em movimento.
121
Ibidem, 86.
Livros LabCom
i
i
58
O Paradigma Mediolgico
do pensamento especulativo. Onde, efectivamente, com o desenvolvimento, e por meio dele, tudo encontra mediao a histria. para
ela que Hegel remete a reflexo do facto de o homem como indivduo
s adquirir um significado real aps um desenvolvimento milenrio de
mediaes122 . Encontramo-nos, por conseguinte, face natureza poltica da mediao, cujo pressuposto declara que o homem sempre
membro de uma comunidade, est sempre exposto relao com outro, numa relao de oposio. A mediao aparecer com o propsito
de interligar uma relao intersubjectiva123 .
Central na anlise da categoria de mediao intersubjectiva vem a
ser, mais uma vez, e coerentemente, a contradio, como se o sistema
fosse um crculo. O que significa que o desenvolvimento para a igualdade realiza-se por meio de uma desigualdade crescente124 . Para se
alcanar, por exemplo, a auto-conscincia, cada resultado concreto das
mediaes precedentes foi extinto. Porm, as mediaes precedentes,
quer dizer, as formas aparentes da conscincia consciente de si como
livre e universal, permanecem constitutivas da nova realidade125 . A
auto-conscincia criada no desenvolvimento das mediaes. A natureza originria enriquece-se126 , conserva em si um carcter intrinsecamente mediato127 . Num primeiro momento, a alteridade entra apenas
122
A histria , como opina Enrico Rambaldi, o crisol da mediao, o seu lugar
por excelncia. Cf. Enrico RAMBALDI, Mediao, Enaudi, Vol. 10 (Dialctica),
Porto, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1988, p. 145.
123
Natureza e cultura enfrentam-se na histria. As relaes entre indivduos so o
palco onde o choque se torna visvel.
124
Por oposio mediao radical de Hegel surge a mediao no radical, segundo
a qual a desigualdade fruto de uma incompleta arte social.
125
As mediaes precedentes correspondem a articulaes de diferenas. autoconscincia elas no aparecem significativas, mas constitutivas. Sublinha-se, desta
maneira, uma mediao em dois sentidos, negativo e positivo.
126
Rambaldi no tem dvidas de que a Fenomenologia do Esprito hegeliana o
maior incunbulo moderno da reflexo sistemtica sobre este aspecto enriquecedor
da mediao. Cf. Ibidem, p. 157.
127
O momento originrio, totalmente imediato, do eu e do outro desdobra-se em
mediao. O eu, como pura conscincia, destri o outro, nega-o. E teramos a tauto-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
59
negativamente na constituio do homem, seguindo-se da que o homem faz a experincia no da prpria independncia do mundo, mas da
sua dependncia. que se o mundo fosse anulado, a auto-conscincia
perderia a sua essncia. partida existe uma experincia de mediao inadequada que, contudo, resulta adequada assim que o outro da
auto-conscincia se eleva a si mesmo a universal, com dignidade igual
quela do eu originrio. S o encontro com um outro independente
pode elevar a auto-conscincia. S uma alteridade que seja diferente,
mas que, mesmo na negao, se mantenha, sem se extinguir, pode realizar uma mediao intersubjectiva autntica128 . O enfrentar imediato
de duas auto-conscincias o comeo de um novo desenvolvimento
da auto-conscincia129 . A aco seguinte consiste em cada uma das
duas rebaixar a outra a uma mera forma de vida imediata. Consiste,
enfim, no desprezo pela vida e pelo outro. Cada uma procura infligir a
morte outra, contudo a contrariedade presente faz com que isto signifique tambm arriscar a prpria vida. Chegados aqui, avizinha-se a
anulao da mediao, porque a morte inadequada para ser meio. O
aniquilamento no soluo, antes o manter dos extremos, ainda que
seja um manter desigual. Logo, o enriquecimento depende de quando
se enfrenta a morte, no de quando a mediao truncada pela morte.
Temer perder a vida significa no se resignar a afundar-se na forma
de coisa do mundo. A conscincia que ignora o temor conscincia
dependente, ao contrrio, a conscincia que enfrenta o temor conscincia independente, reconduz cada alteridade sob si. Uma representa o
servo, a primeira, outra representa o senhor, a segunda130 .
logia do eu sou eu. Mas porque o eu constrangido a mover-se no mundo, o comportamento do homem , antes do desenvolvimento das mediaes, de negao da
alteridade do mundo, esforo por subsumir o mundo sob si mesmo. Neste momento,
as diferenas de si prpria so nulas, o que conduz a uma concupiscncia que jamais
se satisfaz. Razo para que a sua aco seja mera destruio.
128
O desenvolvimento do encadeamento entre mediao e imediatez gerou uma
nova totalidade, a duplicao da autoconscincia.
129
enfrentar imediato porque as duas no so reconhecidas reciprocamente pelo
que so em si.
130
Para uma abordagem sucinta do texto hegeliano sobre a dialctica do senhor e do
Livros LabCom
i
i
60
O Paradigma Mediolgico
Oposio paradoxal: que figura de mediao ela poder conceber?
Nenhuma, prestando ateno crtica de Kierkegaard para com a pretenso mediao hegeliana, que em Post Scriptum considera negadora
da existncia singular, esta caracterizada pela angstia, tenso, dilemas,
alternativas, caractersticas resultantes da condio de escolha, deciso.
E essa condio s reside na subjectividade, domnio onde no penetra
a reflexo sistemtica131 . Em Temor e Tremor declara que o paradoxo
no se presta mediao. O Indivduo, que exclusivamente Indivduo, desde que quer tomar conscincia do dever e realiz-lo, reconhece que est em crise e, embora resista perturbao, no consegue
sintonizar a conscincia do dever com a realizao do dever. No h
mediao possvel na angstia de Abrao, personagem que sabe que
deve obedecer a Deus e sacrificar Isaac. Tem renitncia em cumprilo por amar a Isaac. Pensar paradoxalmente no , vistas as coisas,
procurar uma terceira via de conciliao, fora dos opostos, que seria
externa, ser mais pensar os contrrios juntos e mobilizar a razo no
entre eles. Desse entre que poder brotar uma soluo. Em vez de
superar os opostos, procura-se escav-los e, em vez de os conciliar, o
paradoxo absorve o seu conflito. Ao modo pascaliano, qualquer compreenso exaustiva dos elementos em causa tarefa impossvel, que
assim que se consegue uma perspectiva global dos contrrios gera-se
de novo a instabilidade, e assim por diante. Pascal: Ns ardemos de
desejo de encontrar um lugar firme e uma ltima base constante para a
edificarmos uma torre que se eleve at ao infinito, mas todos os nossos
escravo, contido na Fenomenologia do Esprito, observar o esquema de Giuseppe BEDESCHI, Servo/Senhor, Einaudi, Vol. 5 (Anthropos-Homem), Vila da Maia, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985, p. 266-267, e, ainda, E.RAMBALDI, op.cit.,
p. 160-161.
131
Para Kierkegaard, o calcanhar de Aquiles da filosofia sistemtica reside na crena
de que no existe quebra, de que o comeo absoluto, e que no acontece na deciso. Ao invs, o pensador dinamarqus pressupe uma sequncia com a qual se est
permanentemente a romper, fazendo do comeo um re-comeo, sucessivamente. Cf.
Jean WAHL, tudes kierkegaardiennes, Paris, Vrin, 1967, p. 177.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
61
alicerces estalam e a terra abre-se at ao abismo132 . No nos podemos
libertar da contradio. No existe a possibilidade de se produzir uma
sntese, atravs da qual finito e infinito, aparncia e realidade, presena
e ausncia, se confundem. A condio do homem estar ao meio entre dois extremos133 . Existimos e pensamos afastados dos extremos e
de um ponto ltimo de equilbrio.
As formas contrrias so pontos de partida e pontos de chegada
das metamorfoses, das mudanas na experincia, das diferenciaes
fenomenais que ocorrem sob o tempo. Qual a razo das contrariedades? A razo talvez seja a de que se as formas fossem idnticas no
haveria transformaes, mas, tambm, se fossem simplesmente diferentes, resultaria da uma exploso de metamorfoses possveis, com a
consequente deliquescncia dessa noo. Assim, as mudanas ligam
entre elas diferenas reguladas, que o que as formas contrrias so134 .
Qualquer mudana se v atribuda a um par-tipo, que ou constitui os
dois nicos estados possveis (par-mpar, limitado-ilimitado) ou constitui os dois extremos de um campo de variaes que se produzem no
seu intervalo (quente-frio, grande-pequeno). A actualizao desta ou
daquela forma v-se posta em relao com a aco correlativa inversa.
Por conseguinte, as unidades do real j no so simples e homogneas, dotadas de propriedades unilaterais, mas organizaes polares,
acolhem uma espcie de coexistncia dinmica de polaridades opostas.
De modo que, em vez de distinguir duas naturezas de corpos, uns vivos, outros mortos, pode-se admitir a existncia de constituies que
comportem, ao mesmo tempo, destruio e criao.
As determinaes extremas dos fenmenos ligam-se entre si por
foras antagnicas que produzem misturas de propriedades. Quebra-se
a viso de um mundo inerte, formado de partes independentes, contguas, e expostas a perturbaes externas que o animariam de um mo132
PASCAL, op.cit., frag. 199.
Ibidem.
134
Philippe QUAU, Metaxu, Champ Vallon, 1989, p. 85.
133
Livros LabCom
i
i
62
O Paradigma Mediolgico
vimento135 . A questo do modelo que pode apreender o encontro de
foras contrrias faz nascer a problemtica do equilbrio dos contrrios, o ponto de juno. J. J. Wunenburger agrupa em dois paradigmas
este problema, um, o paradigma arquimdico e, outro, o paradigma hipocrtico136 . De acordo com o paradigma arquimdico, o equilbrio
assenta no uso de artefactos (balanas), procurando definir, idealmente
e abstractamente, um centro de gravidade e as condies de uma imobilidade137 . As teorias sadas deste paradigma privilegiam, na maioria,
a figura da anulao das foras opostas. De acordo com o paradigma
hipocrtico, o equilbrio caracteriza-se pelas pequenas oscilaes em
torno de um centro de gravidade fictcio138 . O paradigma arquimdico segue o modelo de equilbrio do fiel da balana, procura explicar
a estabilidade num mundo em devir instvel, e o paradigma hipocrtico segue o modelo do pndulo oscilante, pressente sob a ordem uma
alteridade em movimento. Um prope um equilbrio de repouso, se
assim se pode dizer, que resulta da igualdade constante de duas foras
que actuam continuamente segundo direces diametralmente opostas,
o outro prope um equilbrio de movimento que resulta da aco simultnea de foras iguais, mas que prevalecem uma sobre a outra, alternadamente, custa de agentes exteriores139 .
135
Do mesmo modo que as bolas de bilhar recebem a sua energia cintica do exterior
e se entrechocam segundo leis puramente mecnicas.
136
J. J. WUNENBURGER, op.cit., pg.110.
137
A ideia de equilbrio fornecida pela balana uma balana est em equilbrio
quando as duas partes se sustentam to exactamente que nem uma nem outra sobe
nem desce, privilegiando-se o zero, o neutro, o inerte. E este dfice de diferena
implica que cada desequilbrio seja amortecido, compensado, de modo a que a estabilidade inicial se restabelea. D-se a equivalncia dos opostos, ou coincidentia
oppositorum.
138
O paradigma hipocrtico remete para as situaes em que pode oscilar o desequilbrio e a harmonia. Para Hipcrates a harmonia do organismo no era um estado
estvel e perfeito. O ideal biolgico resulta de uma justa proporo dos humores.
139
O paradigma arquimdico reivindica uma contradio resolvida, expandindo-se
no pensamento da alquimia, que mistura opostos por intermdio de um mediador.
O paradigma hipocrtico reivindica uma contradio no resolvida, culminando no
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
63
Numa melhor anlise da constituio do equilbrio arquimdico,
verifica-se que este se organiza em posies que ora desligam os opostos, ora os igualam, fundindo-se os aspectos diversos numa unidade
superior140 . O esquema da compensao, nutrido por um componente
normativo, generaliza-se e colocado no centro de todas as coisas, porque tudo na natureza est submetido a uma harmonia geral, garantida
por um Deus previdente e generoso141 . O equilbrio das foras, nesta situao, assenta numa finalidade providencial, transcendente, portanto,
aos elementos que se compensam142 . A compensao leva os extremos
para o centro, as extremidades para o meio, os excessos para a medida. Nessa medida, as filosofias da compensao acabam por ser um
monismo da ordem, valorizam o equilbrio como lugar da reconciliao, como forma de atingir uma mdia, introdutria de uma espcie de
forma ideal justa e dissuasora de se conceder qualquer eficcia ao desequilbrio. Idealiza-se o estvel143 . O paradigma arquimdico, moldado
balanceiro pascaliano e kierkegaardiano. O equilbrio por igualao objecto da
mecnica (os movimentos tm o seu fundamento no centro de gravidade) e serve
de referncia a Descartes (uma s e mesma coisa pode produzir efeitos contrrios,
tal como numa balana em que o mesmo peso eleva um prato e abaixa o outro).
Cf. DESCARTES, Regras para a direco do Esprito, 2a ed., Lisboa, Ed. Estampa,
1977, regra IX.
140
No exemplo: a rosa bela tem os seus espinhos, ama-se a rosa pela sua beleza e detesta-se por causa dos seus espinhos, a coexistncia do positivo e do negativo assenta numa conjuno desarticulada, numa ausncia de sntese. A, o conflito
imobiliza-se, no se torna possvel o devir, o real cortado em dois. Mas no exemplo: a rosa bela tem os seus espinhos, pode, tambm, amar-se a rosa apesar dos
seus espinhos. Os aspectos diversos fundem-se numa unidade, facto que as Luzes
evidenciam ao ligarem a existncia universal de antagonismos a um mecanismo que
restaura a igualdade das foras em conflito: ao Direito, por exemplo, atacando-se os
delitos por meio de penas adequadas. S desta forma o sistema pode manter-se em
equilbrio de repouso.
141
Nenhum excesso ou extremo gera um mal irremedivel, uma desordem absoluta.
142
A lei da compensao projectada artificialmente sobre elementos como Deus,
que o grande compensador da Natureza no sc. XVIII. o grande engenheiro do
universo, que construiu um artefacto de alta preciso.
143
Compensar equivale a igualar, aplainar, rectificar, corrigir diferenas, unificar
Livros LabCom
i
i
64
O Paradigma Mediolgico
no Direito e na Economia, vai ser substitudo pela tcnica no sc. XIX.
A mquina permite que se transfira para sistemas artificiais o processo
de restabelecimento do equilbrio.
A providncia transcendente substituda por um automatismo imanente. Mais tarde, com a ciberntica, os mecanismos de restaurao de
uma constncia tornam-se flexveis e mais autnomos e automticos144 .
Ou seja, de Arquimedes Ciberntica, a finalidade a de garantir a
igualdade, a supresso de uma diferena. Atravs destes modelos estamos colocados perante a valorizao de estados homogneos e estabilizados. A alteridade dissipa-se numa situao em que no existe
antagonismo vivo, os extremos tocam-se e repousam, apagam-se, diramos, para dar lugar ao neutro.
2.2
A questo da Mediao como problema
fundamental da constituio da Experincia.
A evoluo do pensamento da oposio, estruturado na origem segundo
o par, d-se da simetria ao paradoxo, balanceia entre uma maneira binria rgida do Mesmo e do Outro a uma maneira que os compatibiliza
em mltiplas possibilidades. Em virtude da natureza dos instrumentos
forjados, e progressivamente, o pensamento revelar-se- desencarnado.
Os contedos dos nveis que organiza artefactualizam-se, por assim dizer145 . Os significantes objectivos em torno dos quais eles se movem
geram a sua descontextualizao.
Nas teorias modernas, confrontadas com a ausncia de plos fixos,
multiplicidades, estabelecer continuidades.
144
Na lgica arquimdica, a ciberntica de Norbert Wiener parece no fazer seno
amplificar o mecanismo de retorno ao equilbrio, anterior s diferenas provocadas
sada.
145
Nessas condies, o sujeito ou se deixa absorver pelo mecanismo que ele prprio
mantm vivo ou ficar fora dele.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
65
incondicionados, a organizao da contrariedade surge como tarefa indeclinvel. Em consequncia, segundo Fernando Gil, acentua-se mais
a tendncia para o nivelamento, a laminagem das questes, a suboptimalidade, a reduo da dvida, dos riscos, do contingente, da desordem. Desde Aristteles que seguido o postulado da economia do
pensamento segundo o qual a representao de algo remete para uma
substncia estranha a qualquer possibilidade de atributos contraditrios. Domina o imperativo da identidade, sendo esse o modelo formado
para controlo do mundo de maneira clara e segura. Fixar a diversidade
na lgica bivalente tem esse efeito. Haver uma recusa permanente em
pensar o devir dos fenmenos, patente no caso das complementaridades
que, exprimindo a pluralidade contrastante da experincia, simultaneamente evidenciam a incompatibilidade dos contrrios e a necessidade
de um princpio de estabilidade. O misto de Plato um bom exemplo.
Lyotard: Quem tem autoridade para suspender, interditar a interrogao, a suspeio, o pensamento que tudo corri?!146 . Trata-se de
uma atitude para Lyotard que incompatvel com o pensamento cuja
essncia questionar tudo, inclusivamente a si mesmo. Quando pensamos, aceitamos a ocorrncia pelo que : ainda no determinada. No
a pr-julgamos, nem nos asseguramos dela. uma peregrinao no
deserto147 .
A questo da constituio da experincia a questo que aparece
no horizonte da questo da mediao. a clarificao da constituio
a conduzir a procura dos meios. Como se d o surgir desta constituio? Tomando como ponto de partida uma analtica da actualidade,
Bragana de Miranda, na obra, justamente, Analtica da Actualidade,
afirma, nas primeiras pginas: A urgncia do presente um imperativo
do pensar148 . O autor sugere que o centro da reflexo o actual. Por
outras palavras, a reflexo uma interpretao da possibilidade. Esta
146
Jean-Franois LYOTARD, O Inumano, consideraes sobre o tempo, Lisboa,
Editorial Estampa, 1990, p. 9.
147
Ibidem, pg. 80.
148
Cf. Jos A.Bragana de MIRANDA, Analtica da Actualidade, p. 16.
Livros LabCom
i
i
66
O Paradigma Mediolgico
interpretao toma forma a partir do cruzamento da experincia com
as teorias interpretativas da mesma. Bragana de Miranda suspeita da
interpretao que atira a realidade para a fico, fazendo devir a fico
real. Quando a realidade se torna fico e a fico devm real atingido o prprio acontecer e, com isso, a actualidade, escreve149 . A inquietao do autor no somente uma inquietao terica, ela envolvese com a problemtica da liberdade do agir, de o querer salvar, de lhe
dar beleza. Como que determinando leis dos possveis o agir ainda
pode ter sentido?
Bragana de Miranda suspeita que as interpretaes, na sua vontade
de totalidade, obliterem a experincia, o que, do seu ponto de vista,
constitui mais problema que resposta. compreenso sua que se deve
seguir uma orientao que seja um exerccio crtico das formas gerais
e do visar da experincia pela discursividade, como programas, teorias
e fices150 . Tal obriga que se demarquem dois aspectos, que so: um,
o determinar a experincia como crise, outro, o determinar o discurso
como mediador da constituio151 . Crtico das teorias da modernidade,
se bem considere estas inquietaes assunto na ordem de todos os presentes, diz que experincia que deve ser concedida prioridade, que
ela que funda o saber152 . Que saber? Um saber que tenha vontade
de poder, em absoluto, impondo uma matriz desqualificadora de outros
saberes possveis?153 Temos de incluir todas as experincias possveis154 , ou todos os saberes possveis.
A dominao dos actos e saberes corresponde dominao da cons149
Ibidem, p. 13.
Ibidem, p. 18.
151
Ibidem, p. 129.
152
Em sentido ontolgico, portanto, a experincia refere-se ao que existe.
153
A cincia e a poltica so apontadas como exemplos de saberes com vontade de
poder.
154
Ibidem, p. 310. to importante a experincia da criana que nasce quanto a
do estrangeiro que chega cidade, a do campons que se agarra terra. Todas as
experincias originrias revelam o sentido em estado nascente. So experincias mudas, ainda no contaminadas pela constituio discursiva. Reportam-se ao inefvel,
escapam a uma verdade dominadora.
150
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
67
tituio, algo que contrafactual, na medida em que teoria e real no
chegam ao mesmo tempo155 . Quando a teoria chega j tudo ter mudado. Segundo a analtica de Bragana de Miranda, a teoria perigosa, j que o que visado um caminho (met odos) nico. Existe
a iluso de controlar o existente por a, por uma teoria, ou um conjunto delas156 . Esta iluso esbarra num dado inevitvel, intrnseco ao
humano, muito simples, o de que a experincia regida pela finitude,
que escapa subjectividade. O humano um ser que compreende em
funo da situao, interagindo com ela157 . A finitude o inevitvel,
considera Bragana de Miranda, que se liga a Kant e a Heidegger para
entender porque que a finitude surge como possibilidade de ser pensada na sua essncia158 . Em Heidegger descobre a definio do homem
como abertura de horizontes. No estar-a, a sendo, Dasein, possvel
tudo, mesmo o impossvel. Desaparecendo as limitaes das formas
de experincia, caso para perguntar: continuar a haver experincia?
Continuar a haver limites?159
Para Bragana de Miranda o discurso moderno excede-se. As axi155
Jean Baudrillard atira a teoria para o hiperespao da simulao, perdendo toda a
validade objectiva. Considera que ela j no est em condies de reflectir nada, os
conceitos foram arrancados da zona crtica de referncia: a gravidade suficientemente forte para que as coisas possam reflectir-se e, portanto, ter alguma durao e
alguma consequncia. Cf. Jean BAUDRILLARD, A iluso do fim ou a greve dos
acontecimentos, Lisboa, Terramar, 1995, p. 8, 10.
156
A constituio segundo uma nica figura, com carcter intemporal, seria a mais
perfeita. Todavia: a verdade da experincia alguma vez se compadece com alguma
teoria ou mtodo?!
157
Na psicologia esta tese suportada pela concepo construtivista, na filosofia
determinada pela filosofia existencialista e uma filosofia hermenutica.
158
Bragana de Miranda pretende evidenciar que o homem est no mundo sem sentido e sem orientao e que a sua vontade realizar. O problema maior surge assim
que se quer qualquer realizao. A espreita a desqualificao do existente, uma espcie de niilismo.
159
A morte de Deus anuncia que no h limites, e muito no seguimento do optimismo das Luzes, que prometem um novo comeo, no qual tudo depender de cada
um. Todavia, Samuel Becket e Franz Kafka descobrem que as possibilidades so
limitadas.
Livros LabCom
i
i
68
O Paradigma Mediolgico
omticas da modernidade assentam na convico de que possvel dominar a verdade do existente160 . A constituio equivale a mostrar a
arbitrariedade das formas de experincia em que o homem se expe
e em que tudo poderia ser diferente, que no existente existem possveis161 . Com a prioridade ontolgica do existente, Bragana de Miranda assume como tarefa suspender as teorias, obstculo anlise da
experincia e da ocorrncia do acontecimento. H uma abismao pelo
negativo nos discursos da modernidade, que so uma resposta crise
que cesura a experincia, confirma o texto Analtica da Actualidade162 .
A positivizao uma forma de estabilizar o existente fragmentado, de
o sossegar por intermdio de um processo que obriga a pensar a experincia da experincia163 . nesse processo de mediao da experincia
que intervm o discurso. um processo de contaminao da experincia pelo discurso e do discurso pela experincia. A constituio s
se torna possvel custa desta dupla contaminao. A mediao da
linguagem surge por no haver uma imediatidade do homem relativamente ao mundo, ao fenomnico, para mediar a aproximao, estabelecer uma ligao. Atenua, se assim se pode dizer, a tenso entre poder
constituinte e constitudo. Enquanto tal, faz oscilar todo o existente na
sua constituio. partida, programa a constituio. O que resulta?
Bragana de Miranda: a linguagem um sinal de exorbitncia, de
um absolutismo, de uma violncia, j que arregimenta as afeces, os
actos e as instituies164 . A linguagem pe em acto um quadro cujo objectivo articular os elementos constituintes entre si165 . Permite pensar
a constituio como se ela estivesse determinada discursivamente. A
linguagem a teleologia da experincia. Todo o seu sentido se baseia
160
Jos A. Bragana de MIRANDA, op.cit., p. 313.
Ibidem, p. 113.
162
Ibidem, p. 115.
163
A crise, em si mesma, no impe limites s estratgias estabilizadoras?
164
A ligao implcita entre linguagem e violncia expressa-se no absolutismo que
tende a fazer da linguagem uma resposta negatividade da experincia.
165
A metfora do quadro uma maneira de pensar esta questo fundada no facto de
o imaginrio cultural sempre se inquietar com o enigma do dar a ver. Ibidem, p. 116.
161
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
69
numa experincia que no encontra os seus fundamentos. operante
enquanto forma de orientao.
em sede de crise que tm cabimento estratgias de fechamento
da experincia, porque a abertura de horizontes incontrolvel e abismal. Justifica-se, nesta ptica, a delimitao da experincia dentro de
enquadramentos formais. Sem o quadro da constituio no se perceberia muito bem o tipo de trabalho produzido pelos projectualismos
de todo o gnero, dos mais particulares aos mais universais, que tm
de pressupor a plasticidade do existente para melhor o dominar166 .
Bragana de Miranda considera que a metfora do quadro visa a experincia, mas em permanente fazimento e desfazimento. A constituio
ocorrer nesta oscilao. O quadro estrutura-se, actualiza-se, dentro
de determinadas figuras167 . Estas figuras resultam de um trabalho sobre o imaginrio, que por sua vez trabalha sobre os possveis. E se
para o trabalho imprescindvel a linguagem, ento o quadro est j
na linguagem168 . A linguagem segue, por conseguinte, a ideia da prioridade da interpretao da teoria sobre a experincia. Pressupe que
possvel dominar os possveis da experincia e que possvel impor o
absolutismo terico na constituio169 . A tendncia seguida, no se
perguntando em que momentos a teoria interessa, se em todos ou s em
alguns. Se a palavra, nesta matria da constituio, que exerce o controlo sobre a experincia (se a lgica de controlo), o que a controla a
166
Ibidem, p. 119.
A figura efeito da obsesso de interpretar totalmente. Mas o homem o responsvel pelas figuras que como uma teia o enredam. Cf. Idem, Notas para uma
abordagem crtica da cultura, p. 16-22.
168
Wittgenstein o expoente dessa tese. A chave para a compreenso do Tractatus
(Tratado Lgico-Filosfico [1961], Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1987)
a designada teoria da figurao: Construmos figuras dos factos (2.1). A figura
um modelo da realidade (2. 11). A figura um modelo da realidade (2.12). A
figurao da realidade revela a natureza especular que o Tratactus atribui linguagem.
Aos objectos correspondem na figura os elementos desta (213), o que pe em
evidncia o referido carcter especular da linguagem e da sua perfeita simetria com o
mundo.
169
S assim a constituio se constituir em universal, em ideal do existente
167
Livros LabCom
i
i
70
O Paradigma Mediolgico
ela? Bragana de Miranda afirma: [. . . ] a infinidade discursiva controlada pela representao170 . a representao que serve de esquema
mediao da linguagem, principalmente para gerir a ligao que ela
instaura entre ausncia e presena, proximidade e distncia, suspendendo, deste modo, a violncia da fuso171 . Bragana de Miranda diz:
A representao era o operador primeiro dos procedimentos clssicos
de controlo172 .
Anthony Giddens confirma a conexo linguagem/representao, atribuindo linguagem a razo de ser da representao. Toda a experincia
virtualmente mediada atravs da aquisio da linguagem, que eleva o
homem para alm da imediatidade da experincia. O socilogo americano considera a linguagem uma mquina do tempo porque permite,
concordando aqui com Levy Strauss, o relanamento das prticas sociais atravs das geraes e fazer a diferenciao do passado, presente
e futuro. A sua evanescncia no tempo e no espao compatvel com
a preservao do significado ao longo das distncias do mesmo espao
e do mesmo tempo. Todavia, uma viso do espao e do tempo mediatizada pela linguagem, centrada nela, suspende-se, fruto da revelao
ambivalente da representao. A representao introduz na experincia
o afastamento e produz novo absolutismo, resultante de novo trabalho,
tcnico. Da transformao das coisas em signos, dos objectos em signos, passa produo de objectos, de coisas, a partir de signos.
A mediao atacada pela tecnicizao, na representao e na palavra. O quadro da constituio uma construo tcnica. A tcnica
situa-se nos limites de uma representao, como uma espcie de tipo
ideal. Apresenta-se como efeito de interpretao posta prova do constitudo permanentemente, o obrigando a submeter-se tenso natural
do prprio constitudo. E assim a construo do quadro sofre a necessidade de ser auto-desconstruo, j que ele intervm localmente, na
170
Jos A. Bragana de MIRANDA, Analtica da Actualidade, p. 120.
Jos A. Bragana de MIRANDA, Espao pblico, poltica e mediao, Revista
de Comunicao e Linguagens, Vol. 21-22, Lisboa, Edies Cosmos, 1995, p. 135.
172
Ibidem, p. 145.
171
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
71
impossibilidade de apreender a totalidade. A noo de quadro a noo que estende os possveis da actualidade. Impor-se-, neste mbito
do fazer-se e desfazer-se do quadro, uma lgica que d conta de que a
experincia est sempre em instituio. Bragana de Miranda diz que
a lgica da disseminao, ou de la trace, derridiana a que melhor
preserva que a experincia no se encerre numa figura nica, onde a
oscilao dos possveis poderia ser destruda.
A disseminao derridiana uma constituio com origem na constituio da lgica dialctica hegeliana, esta criada para exercer o domnio sobre o modelo da constituio173 . A lgica da disseminao
organiza um campo conflitual e hierrquico que no se deixa reduzir unidade, nem derivar de uma simplicidade primeira, nem superar
ou interiorizar dialecticamente num terceiro termo, escreve Derrida
em Dissmination174 . Em primeiro lugar, vai contra o esquema da sntese, e, em segundo lugar, vai contra o esquema ternrio, o operador
de recuperao da unidade perdida. Que outra figura do pensamento
ele traz para substituir estas alteraes? Derrida, na obra Dissmination, aponta a figura do quatro como figura substituta. Porqu? Para
pensar a abertura, abrindo-se o tringulo ao meio, suspendendo-se a fuso da constituio com o constitudo. Ora, que mais resta, doravante,
seno errar, andar deriva?!
A teoria das ideias de Plato faz corresponder a ideia ao ordenamento objectivo do fenmeno, h nela como que uma compatibilizao. Com Derrida, e de acordo com a definio parcial que apresenta
de errncia: Aquilo a partir do qual um devir-imotivado do signo
possvel [. . . ]175 instaura um diferendo entre a ideia e o fenmeno, o
que vem dar que a ideia seja um produto resultante da prpria errncia. Faz que a constituio seja retraar do j traado pela experin173
A nfase da modernidade reside no controlo, a subordinao do mundo, o sequestro da experincia, nas palavras de Anthony Giddens (Modernity and SelfIdentity, Cambridge, Polity Press, 1991, p. 144), pela dominao humana.
174
Cf. Jos A. Bragana de MIRANDA, Analtica da Actualidade, p. 127.
175
Jacques DERRIDA, De la Grammatologie, Paris, Les ditions de Minuit, 1967,
p. 70.
Livros LabCom
i
i
72
O Paradigma Mediolgico
cia, explica Bragana de Miranda176 . Ainda, que para realizar no se
tem lugar prprio para comear, dado ser impossvel justificar qualquer
ponto de partida177 . Mas a ideia no perdeu em Derrida o seu vigor de
estabilizar, ainda que remetida situao concreta, e que esta no dispensa o arquivo da tradio, em reelaborao constante a partir do aqui
e agora178 . Por conseguinte, a questo da constituio joga-se na possibilidade de intervir nos processos de mediao da experincia, de o
homem no se deixar esmagar por eles179 .
176
J. A. Bragana de MIRANDA, op.cit., p. 123.
Jacques DERRIDA, op.cit., p. 233.
178
Ibidem, p. 69: preciso pensar a errncia antes do sendo. O movimento da
errncia no se deixa ver, necessariamente, oculta-se a si mesmo, o que provoca que
o campo do sendo, antes de ser determinado como presena, estrutura-se segundo
diversas possibilidades que a errncia lhe oferece. A presena do sendo passa por um
processo de dissimulao. Ao sendo, aparecido como tal, no lhe escapam as possibilidades postas pela errncia. Logo, o que , -o de forma dissimulada, esconde
sempre algo. Derrida faz aqui jus ao projecto semitico de Peirce que compreendeu
que a significao de um signo emerge de um campo de significao que lhe anterior
e ligado. O reenvio de um signo a outro signo (semeiosis) deriva desse enraizamento
que no compromete a originalidade estrutural do campo simblico, a autonomia de
um domnio, de uma produo e de um jogo (Ibidem, p. 70). Peirce entendeu, melhor que Saussure, na opinio de Derrida, a imotivao da prpria errncia. Conclui,
contra Saussure, que no h signo, mas antes um devir-signo. O sentido est aberto a
todos os investimentos possveis.
179
Dominar a palavra dominar o agir. Cf. Jos A. Bragana de MIRANDA, Espao pblico, poltica e mediao, p. 135. Compreensvel, portanto, que Lyotard
aluda s mil maneiras, frequentemente incompatveis entre si, de Apel, Rorty, Habermas, Rawls, Searle, entre outras, de abordar pela palavra o humano. Cf. J. F.
LYOTARD, O Inumano, p. 9.
177
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
2.3
73
Crise da Linguagem como modelo de mediao quando a Tcnica o meio absoluto
Umberto Eco abre a questo do signo com a premissa de Ionesco: s
as palavras contam, o demais tagarelice180 . Querer advertir com
esta premissa para a orientao que o tratamento da linguagem tem no
domnio sgnico. Prev-se que ela venha a ocupar o lugar central nesse
campo de mediao. Lana mos de uma histria cujo enredo gira em
torno do senhor Sigma durante uma estadia em Paris181 .
No decorrer da histria de Sigma apercebemo-nos que o signo
uma rubrica codificada, tem, portanto, uma significao precisa, contrariando a impreciso do fenmeno natural (dor de barriga) que o motivou. O signo motivado, no originrio, ontologicamente falando,
o que diz da sua natureza artificial182 . A sua funo a de integrar
o sujeito entre outros sujeitos e no meio ambiente, sem ser de modo
imediato, maneira dos animais. A validade do signo no se esgota
no indivduo, tem pretenses de uma comunicao universal. Por outro lado, as estratgias sgnicas so inversas s estratgias literrias,
por exemplo, quando estas fazem tudo para soltar o sentido, a equivocidade, a polissemia inerente ao signo linguagem, explodindo com a
palavra, colocam o pensamento da realidade na linha de encolhimento
ao preferir a univocidade183 .
Esta deciso de manter o signo na linguagem no representa uma
clausura para a experincia humana? No se afigura a deciso sgnica,
da qual se descortina o carcter epistemolgico, denunciadora de uma
180
Umberto ECO, O Signo, Lisboa, Editorial Presena, 1990, p. 7.
Ibidem, pg.7-9.
182
No se aceita a hiptese de o signo revelar o ntimo parentesco com as coisas.
Eco (Ibidem, p. 103): Se esta assuno for aceite, no existe mais semitica nem
teoria dos signos.
183
A suspenso do conhecimento do que existe, em Aristteles, a partir de dez conceitos, nos Esticos a partir de quatro, e em Peirce a partir de trs, disso exemplo.
181
Livros LabCom
i
i
74
O Paradigma Mediolgico
falta de vontade com a linguagem? E o facto de a linguagem aparecer
mediada por signos, representantes do objecto ao sujeito, no mostra
uma economia em que o sujeito para permanecer na sua autonomia
de senhor que utiliza um instrumento? A maior perda, parece ser, a
do ser da linguagem, como diz Michel Foucault: Nada h j no nosso
saber, nem na nossa reflexo que nos venha lembrar tal ser. Nada, salvo
talvez a literatura184 . A literatura aparece, no horizonte da arte, como
a actividade que por excelncia melhor veicula a experincia do tempo.
Aparece a subverter uma dada escritura, a metafsica, desconstruindoa, afigurando-se a libertao em acto dos desejos e dos imaginrios do
indivduo185 .
O que faz a literatura surgir? Michel Foucault: Na idade moderna,
a literatura o que compensa o funcionamento significativo da linguagem186 . Perante a perda da aura da linguagem em funo do seu arrastamento para a objectivao, a literatura , na cultura ocidental, o
lugar onde o ser da linguagem se v brilhar de novo. Paul Ricoeur
encontra-se aqui com Foucault. Na devida escala hermenutica, defende que todas as palavras so polissmicas por natureza, decorrendo,
diramos, que todas as tentativas de introduzir a univocidade perpetram
184
A evidncia a de um fim da linguagem, de um seu desvanecimento, de um
esquecimento completo dela. Restar a literatura para lhe lembrar o ser. Cf. M.
FOUCAULT, As Palavras e as coisas, uma arqueologia das cincias humanas, Lisboa, Ed. 70, 1991, p. 98.
185
Fruto de um mundo cada vez mais enredado no totalitarismo do discurso tcnico
e burocrtico, do discurso do poder econmico e poltico, cada vez mais votado a uma
linguagem unidimensional. Deleuze e Guattari falam da literatura como constituindo
o momento em que a linguagem deixa de se definir pelo que ela diz, ainda menos
pelo que a faz correr, fluir e eclodir o desejo, conforme citao encontrada em
Dennis HUISMAN, A Esttica, Lisboa, Ed. 70, 1995, p. 68-69. Deleuze e Guattari
comparam a linguagem esquizofrenia, que diz respeito a um processo e no a um
fim, uma produo e no uma expresso. D-se o encontro com Humboldt. Para este
a linguagem algo que se faz, no algo j feito. Cf. Fernando BELO, Linguagem
e Filosofia, algumas questes para hoje, Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda,
1987, p. 160.
186
Michel FOUCAULT, op.cit., p. 99.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
75
uma violncia linguagem187 . A tendncia do empirismo lgico vai
no sentido de estabelecer uma linguagem formalizada para criar um
discurso coerente e unvoco que contrarie o equvoco da linguagem do
quotidiano188 . Ao contrrio, um poema deixa vir ao de cima todos os
valores semnticos, mais de uma interpretao justificada, mltiplas
dimenses de sentido realizam-se ao mesmo tempo. a festa da linguagem, observa Paul Ricoeur189 .
Umberto Eco afirma que o desenho tambm signo. A palavra perdeu o estatuto de signo exclusivo, um signo entre muitos. Guardar,
entretanto, no entender de Adriano Duarte Rodrigues, um estatuto semitico especfico190 . S a palavra pode falar de si como signo e do
que no de si como signo e reflectir na significao das condies
de possibilidades de significao. Trs caractersticas exclusivas do
187
Paul RICOEUR, O conflito das interpretaes, Porto, Ed. Rs, 1988, p. 95-98.
Ora, o discurso que apenas tolera uma significao tem de ocultar a riqueza semntica das palavras, reduzi-las a um plano de referncia, a uma temtica. Por exemplo, se desenvolver um discurso sobre um tema geomtrico, a palavra volume ser
interpretada, nesse discurso, sempre como um corpo no espao.
189
Ibidem, p. 98. Na mesma direco, encontram-se os problemas postos por Heidegger respeitantes ontologia da linguagem, designadamente num seu texto de
1959, Unterwegs zur sprache, que agrupa seis ttulos relativos ao problema da linguagem. O pensamento heideggeriano neste Unterwegs zur sprache continua, depois
de um longo itinerrio do pensamento que entrelaou a questo do ser com a questo da linguagem, a vincular-se s coisas do mundo, comprometendo-se com elas a
ponto de se opor tentativa de as converter em objecto de controlo por intermdio do
logos. Em Heidegger, o logos nunca ser funo, toma-se como acontecimento.
ele a casa do ser, e os poetas e os pensadores so os seus guardies. Com efeito, no
filsofo germnico ressoa a nostalgia do tempo em que as palavras constituam sinal
das coisas, em que eram transparentes. Eram o lugar por onde a verdade singular assomava e se reflectia, como num espelho, cuja visibilidade que dava era a visibilidade
originria. Assemelhava-se a elas, gozava de interdependncia com elas, cruzava-se
o visvel das coisas e o enuncivel das palavras. Heidegger nostlgico da cultura em
que a significao dos signos no existia. Cf. Martin HEIDEGGER, Acheminements
vers la parole (Unterwegs zur sprache), Trad. Jean Beaufret, Wofgang Brokmeier et
Franois Fdier, Paris, Gallimard, 1976.
190
Adriano Duarte RODRIGUES, Introduo Semitica, Lisboa, Ed. Presena,
1991, p. 9-10.
188
Livros LabCom
i
i
76
O Paradigma Mediolgico
signo linguagem que lhe garantem realidade semitica parte. Surge,
no decurso do texto, a dificuldade de se construir um objecto definvel
para a teoria do signo. Qual o signo?, perguntar Eco191 . A questo
complica-se porque h signos por todo o lado e o som tambm um
signo, como uma cor um signo. Quer dizer, a mesma coisa muitas coisas. Quando atravesso um cruzamento com semforo sei que
/vermelho/ significa no passagem e /verde/ significa passagem. Mas
sei tambm que a ordem de /no passagem/ significa obrigao, enquanto a permisso /passagem/ significa livre escolha (posso tambm
no passar): Alm disso, sei que /obrigao/ significa castigo pecunirio, enquanto a /livre escolha/ significa, digamos, apressa-te a decidir192 . Este um exemplo de Umberto Eco que esclarece como
Hjelmslev explica que o signo tem vrias leituras possveis e que no
fundo se est perante vrias semiticas. Existe a expresso //, significado da expresso, e este a tomar-se expresso // para outro significado193 . Ao primeiro nvel acontece logo significado, o nvel
denotativo. O segundo nvel o conotativo194 . O signo evidencia que
a realidade complexssima, imagem de um relgio, cuja dificuldade
em perceber como funciona no posta de imediato na pequena percepo que se tem dele, s o abrindo. Sigma tem de conhecer muitas
regras para poder finalmente aproximar-se do mdico.
191
Umberto ECO, Signo, Einaudi, 2 (Linguagem Enunciao), Imprensa Nacional/Casa da Moeda, p. 17.
192
Ibidem, p. 89
193
Umberto ECO, O Signo, p. 89.
194
No se pode falar em sistema denotativo puro, j que ele substancialmente
conotativo, transformando-se a conotao tambm em denotao, e assim por diante.
Tal disposio semitica ter influenciado a distino de Roland Barthes entre sentido
primeiro e sentidos segundos. Aponta para a estratificao de sentidos, apoiando-se
os segundos sobre os primeiros, sobre os pertencentes estrutura paradigmtica que
a linguagem. A linguagem a estrutura onde os elementos de sentido se evidenciam, funcionando como significante para eles. o sentido originrio Cf. Roland
BARTHES, Mitologias, p. XXVII; Idem, Elementos de Semiologia, Lisboa, Ed. 70,
p. 75; Antnio FIDALGO, Semitica, a lgica da comunicao, Covilh, Universidade da Beira Interior, 1995, p. 73-74.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
77
O acto semitico um acto longo, tcnico, de permanente desconstruo e construo. Um nmero indefinido de peas interferem na
orientao de Sigma at ao mdico, quase fazendo esquecer uma experincia de dor de barriga. So muitos signos, mas o argumento
o de que favorecem o sujeito, guiam-no ao stio. Os signos so o resultado de uma reduo do natural, uma miniaturizao deste, uma sua
imploso, ao que a questo do controlo da situao devm com maior
acuidade. So muitos e em Peirce o jogo entre eles remete de uns para
os outros, num processo indefinido. Um signo gera outro signo, numa
relao de semiose ilimitada195 . Peirce e Saussure so quem mais faz
neste domnio a favor da sistematizao da temtica196 . A diferena
entre os dois reside no facto de que, para Saussure, a linguagem que
satisfaz as caractersticas fundamentais da semiologia, dada a natureza
dicotmica do processo de significao na relao entre o significante
e o significado ou imagem mental197 , e para Peirce a semitica uma
195
Trata-se de um processo de mediao constante.
A emergncia da Semitica como cincia nos meados do sc. XX enquadra-se
no contexto histrico da separao das cincias psicolgicas das cincias sociais. A
escola americana, liderada por Peirce, quer fixar a Semitica como organon (literalmente, instrumento), das outras cincias, enquanto todas elas usam signos, exprimem
os seus resultados em termos de signos. A ambio fornecer uma linguagem geral,
formal, a que todos os outros discursos se submetem. Da, semitica apenas um
outro nome da Lgica. No domnio da reflexo filosfica vem desde a escola hipocrtica. Plato, Aristteles e os esticos so quem forja a ideia de uma doutrina dos
signos, passando por Sto. Agostinho, os medievais, contando, entre eles, Pedro da
Fonseca e Joo de S. Toms, os empiristas ingleses, J. Locke, Berkeley e D. Hume,
os racionalistas Leibniz e Descartes, mais prximos de ns, Husserl, o positivismo
lgico (Carnap) e a Filosofia analtica (Frege e Wittgenstein), at Peirce e Morris.
No domnio da Lingustica, com outra designao semiologia conta-se o contributo de Saussure, do Crculo lingustico de Praga (R Jakobson e N. Troubezkoy),
juntamente com os franceses E. Benveniste e A. Martinet, L. Hjelmslev, Buyssens e
Prieto. No domnio da semiologia desenvolvida a partir de Roland Barthes, na direco da semiologia da comunicao e da literatura, a partir dos anos 60, conta-se, entre
outros, F. Todorov. Pela diversidade de abordagem sgnica perpassam questes preliminares comuns, se bem que as solues s mesmas originem uma matria-prima
muito matizada.
197
Semitica e semiologia gozam do mesmo timo grego, semeion, contudo o pri196
Livros LabCom
i
i
78
O Paradigma Mediolgico
lgica, definindo tanto os signos verbais como os signos no verbais.
Permanecemos na linguagem. A linguagem constitui-se em objecto
especfico de uma cincia, a Lingustica198 . Saussure comea por distinguir Lngua e fala, tomando para objecto de estudo a primeira, porquanto a segunda se dispersa na psico-fisiologia, sociologia e psicologia, o que a impedir de constituir-se em objecto especfico de uma
disciplina. A fala tratar-se- de um objecto demasiado heterogneo,
muito matizado, para se enclausurar. Reserva as regras do cdigo, o estatuto de instituio, para a lngua. A lngua leva vantagens sobre a fala
devido sua natureza homognea199 . Estabelece, partida, que o conjunto de signos deve ser considerado como um sistema fechado a fim
de o submeter anlise200 . O trabalho de anlise sempre governado
pela clausura. O sistema que analisa no tem exterior, apenas relaes
internas. O signo define-se no apenas pela sua relao de oposio a
todos os outros signos, mas tambm nele prprio existe uma diferena:
o significante e o significado em Saussure, a expresso e o contedo
em Hjelmslev. O signo uma realidade de duas faces201 .
meiro termo mais utilizado pela tradio anglo-saxnica e o segundo pela escola
francesa. Ambos designam a doutrina dos signos. Entre as duas escolas h a assinalar a diferena de ponto de partida e a diferena de limite. O ponto de partida da
semiologia o acto smico entendido como facto social. A fala que o faz circular,
e em prisma dialgico, na relao mnima de dois indivduos. Associada diferena
de ponto de partida est a diferena de limites: os limites da semiologia de Saussure
o facto social, tudo o mais no lhe pertence. A semitica de Peirce, inversamente,
demasiado extensa para se lhe determinar os limites. Uma fundamental diferena
consiste na concepo de signo: com duas faces em Saussure e ilimitado em Peirce,
devido ao seu cariz de mediao. Cf. Eduardo PRADO COELHO, Os Universos da
Crtica, Lisboa, Edies 70, 1987, p. 501-505; Antnio FIDALGO, op.cit., p. 16-17.
198
Saussure o fundador da Lingustica no Cours de Linguistique Gnrale e
Hjelmslev quem revela os fundamentos nos Prolegomena to a Theory of Language.
199
Inclusive a linguagem preterida a favor da lngua afinal, a favor de uma sua
parte.
200
O que evidente ao nvel do lxico, imenso mas no infinito, e ao nvel da fonologia, domnio possvel de estabelecer um inventrio acabado adentro dos fonemas
de uma dada lngua.
201
Com certeza que a passagem pela Lingustica, segundo Paul Ricoeur, uma
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
79
Incorrendo na possibilidade de estabelecer a mentalidade cientista
que se abate sobre a linguagem, Michel Foucault ajuda a compreender
que a partir do sc. XVI que ela se torna mais visvel. data, o
estado da linguagem era de uma coisa entre coisas, o estudo dela assentava na mesma disposio epistemolgica das cincias da natureza
ou das disciplinas esotricas. Senhor Sarsi [. . . ] A Filosofia est escrita nesse grandssimo livro que continuamente est aberto diante dos
nossos olhos [. . . ]202 , escreve Galileu em Il Saggiatore, provando assim que a linguagem reside no mundo, entre as plantas, as ervas, as
pedras e os animais, precisa Foucault203 . Por consequncia, mais no
se espera que deva ser estudada como uma planta o , na afinidade dos
seus elementos. Depois do sc. XVI a linguagem no guarda mais vestgios da transcendncia divina, de ser um sinal das coisas, sinal certo e
transparente, semelhante a elas204 . Deixou de ser a natureza na sua visibilidade originria. Agora faz parte do mundo, uma das suas figuras.
Continua, entretanto, a ser o lugar onde a verdade se revela, tendo por
isso uma funo de redobro, reprodutora da realidade, mais do que de
sua significao, algo que o projecto enciclopdico utiliza para, atravs
do encadeamento das palavras, repor a ordem do mundo. A disposio
em signo, binrio ou ternrio, vem desfazer a interdependncia entre
passagem na cientificidade, no rigor, na explicao da equivocidade das palavras e da
ambiguidade do discurso, mas que no resiste a ser refutada enquanto permanece ao
nvel das possibilidades combinatrias das unidades de significao sub-lexicais. Cf.
Paul RICOEUR, op.cit., p. V.
202
Cf. Maria Helena Varela SANTOS e Teresa Macedo LIMA, O saber e as mscaras, Porto, Porto Editora, 1988, p. 215.
203
Michel FOUCAULT, op.cit., p. 90.
204
Originariamente, quando dada aos homens por Deus, a palavra fazia transparecer a fora que estava escrita no corpo do leo, a realeza do olhar da guia, o siflar
do vento. Esta transparncia foi destruda em Babel, considera Foucault. O episdio
bblico marca o desvanecimento da semelhana com as coisas, que fora a primeira razo de ser da linguagem. Confundem-se a os dizeres. Neste panorama s o hebraico
conserva as similitudes, para mostrar como foi a lngua comum a Deus, a Ado e aos
animais da terra.
Livros LabCom
i
i
80
O Paradigma Mediolgico
linguagem e mundo205 . Desaparece o cruzamento do visto com o lido,
coisas e palavras separam-se. O olho ser destinado a ver, e a ver apenas, o ouvido apenas a ouvir. O discurso ter por objectivo dizer o que
, mas j no ser coisa alguma do que diz.
A histria do desvanecimento comea mais cedo, na Idade Clssica.
Esta Idade foi o primeiro estdio da imensa reorganizao da cultura a
que ainda hoje nos encontraremos presos. Foi ela que nos separou da
cultura em que a significao dos signos no existia, em que o ser da
linguagem era enigmtico e cintilava na disperso infinita206 . O logos
veio calar o mythos e aliar-se techne. O logos incorpora no saber um
poder. O pensamento filosfico na sua origem fez do logos o lugar da
verdade, aletheia, do juzo sobre a verdade, o belo, o bem, quer dizer,
do saber. A techne representa lugar do poder207 . Essa distino perdeu
vigor com a discusso no Crtilo sobre a adequao do nome s coisas
nomeadas. A questo resolve-se a favor da ruptura da inerncia do logos relativamente ao ser, a palavra entendida como nome distinto da
coisa, a palavra oferece-se s coisas como signo, como algo que j no
uma sua imitao, uma cpia mais ou menos semelhante, mas reenviando para outra coisa que no ela. O estatuto de linguagem passa a ser
de organon do pensamento. Ter o estatuto de signo. Aristteles est
convencido da importncia da linguagem para a constituio de uma
episteme. A sua aco ser a de banir da linguagem a equivocidade
e a polissemia. Se a palavra no significar uma coisa determinada
como se ela no significasse nada. Uma palavra que significa qualquer
coisa significa tambm uma nica coisa. Aristteles visa estabelecer o
primado da univocidade da palavra face ao facto de ela apenas poder
205
O texto de Foucault lembra que no estoicismo o signo tinha uma estrutura ternria, reconhecendo-se nele o significante, o significado e a conjuntura (Tuxanon). Lembra tambm que na Renascena a disposio continua ternria na forma, contedo e
similitude. Por ltimo, lembra que a partir do sc. XVII, na lgica de Port-Royal, a
disposio ser binria, definida pela ligao de um significante a um significado.
206
Ibidem, p. 98.
207
Bernard STIEGLER, Philosophie et mdias, Travail mdiologique, no 1, Juillet
1996: http://www.mediologie.com/travaux.htm
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
81
designar uma substncia determinada208 . A cultura ocidental comea
com Plato e Aristteles a incorrer num processo lgico em que a linguagem se artificia em contraponto com a linguagem corrente.
Veritas est adaequatio intellectus ad rem (a verdade a adequao do intelecto com a coisa) segundo a definio medieval, significa
que a determinao da verdade ter lugar no signo proposicional, a
onde a convenincia da verdade da coisa com a da inteligncia se d209 .
A histria continua no interior da filosofia, uma histria de dissipao
do mythos pelo logos, e nela intervieram quase todos os filsofos. De
acontecimento do saber do real nos pr-socrticos, o logos devm poder
sobre o real. O corte operado vir a ser extremo na linguagem formal
de tipo matemtico durante o perodo moderno da lgica210 . Neste pe208
ARISTTELES, Met., Z,12,1037b 25-28.
Bem vistas as coisas, o signo s tem, ainda, uma face, o significante, que a
parte visvel, o significado reenviado para as coisas. A lgica neste momento ainda
no tem objecto prprio, um organon. Sero os esticos a estabelecer esse objecto
ao definirem o signo (significado, significante e objecto). com os esticos que as
significaes verbais se desligam das coisas e so como que um espao em que as
coisas se ordenam. Relativamente explicao da frmula latina e da sua relao
com a frmula veritas adaequatio est rei et intellectus (a verdade a da adequao da
coisa com o intelecto), cf. Martin HEIDEGGER, Sobre a essncia da verdade (Vom
wesen der wahrheit), Porto, Porto Editora, 1995, p. 17-23.
210
Os trabalhos no domnio da lgica, de Boole, Russel, Whitehead, Hilbert, Frege,
Heyting, Brower, entre outros, aproveitam as investigaes lgico-matemticas anteriores, nomeadamente de Leibniz. Leibniz representa a grande viragem da lgica tradicional para a lgica matemtica e tinha como projecto: 1.o simbolizar as
ideias simples atravs de caracteres simples e universais (characteristica universallis); 2.o combinar os caracteres primitivos simples para produzir ideias complexas
(ars combinatoria); 3.o substituir pelo clculo o raciocnio (calculs ratiocinatior). Ser
com Boole, Frege, Whitehead e Russel que a lgica se transforma numa lgebra e
num clculo lgico. Boole o responsvel pela algebrizao da lgica o silogismo
passa a resolver-se atravs de equaes lgicas, prximas do clculo algbrico. Com
Frege surge o que se designou de logstica, a lgica adopta o ideal de positividade
prosseguido nos trabalhos de Leibniz, impressionado pelo contraste das discusses
dos filsofos e a unanimidade dos matemticos. Whitehead e Russel concluem a logicizao das matemticas. Para uma maior informao sobre o assunto, consulte-se:
Fritz HEINEMAN, A Filosofia no sc. XX, Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian,
209
Livros LabCom
i
i
82
O Paradigma Mediolgico
rodo moderno, os signos tm origem numa linguagem codificada, com
regras de relao e combinao e independncia de todo o sentido e
referncia. Ao invs da linguagem do quotidiano, cuja matria significante, tem sentido e tem referncia, no prescinde dos sujeitos humanos, uma linguagem qualitativa, a linguagem codificada um jogo
de smbolos que opera segundo regras, como um jogo de xadrez, mas
sem sujeito nem contedo211 . Os signos resultantes sero actualizados
electronicamente nas novas tcnicas, correspondero aos impulsos no
circuito do computador.
A partir do sc. XIX a teoria da representao desaparece como
fundamento de todas as ordens possveis, e com ela a linguagem caminha para a perda do lugar privilegiado que mantinha na mediao. Em
consequncia, as coisas, na expresso de Foucault, enrolam-se sobre
si, pedindo s ao seu devir o princpio da sua inteligibilidade212 . De
intermediria privilegiada entre a representao e os seres, o garante da
existncia de coerncia na ordem das coisas, deixa de o ser porque as
coisas abandonam o espao da representao213 . A mentalidade cientfica que se abate sobre a linguagem reduz o jogo do sentido e do no1983, p. 301-319. Stanhope, Jevons, Hull, von Newman, entre outros, constroem
dispositivos mecnicos com base nos algoritmos.
211
Adriano Duarte Rodrigues (Comunicao e Cultura, p. 190-191) explora esta
imagem na lgica do jogo de xadrez: o valor de cada pea varia na sequncia das
jogadas, a informao semntica constri-se no encadeamento sintctico das jogadas.
Os lances decorrem entre a previsibilidade e a imprevisibilidade, o que est de acordo
com a lgica da teoria dos sistemas. Os seres vivos esto organizados deste modo.
Esta lgica decalca as regras que regulam o funcionamento dos organismos vivos,
uma espcie de biologizao do discurso da experincia. Existe uma analogia entre
o que se passa no mundo dos seres vivos e o que se passa nos artefactos construdos
pela tcnico-cincia.
212
Michel FOUCAULT, op.cit., p. 53-54.
213
A configurao a que obedece a histria natural e a anlise das riquezas torna-se
equivalente configurao da gramtica. Por exemplo, o verbo gramatical desempenha na frase a mesma funo que o valor no sistema de trocas. o verbo a primeiridade da linguagem, assim como o valor a primeiridade das riquezas. Cf. Ibidem, p.
248.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
83
sentido a unidades diferenciais, o seu mbito tecniciza-se214 . Procurase o modo como funciona, o que importa o processo, os meios, no
os fins, nem o sentido.
Jacques Ellul crtico desta forma de colocar os problemas da linguagem. Em termos da teoria da linguagem, os estruturalistas so habitados por este esprito, tm por ideal chegar a transformar em mquinas
tudo o que existe. A palavra igualmente uma mquina, por isso no
se colocam os problemas de porqus, nem de qus, nem de para qus,
apenas como que isto funciona? A tcnica o modelo determinante. Tudo deve devir nesse modelo, transformar-se nele, inclusive
a realidade menos tcnica, como a palavra. Mesmo esta deve ser escalpelizada, cindida, reduzir-se a algo desmontado, que o estado em
que as coisas se demonstram. No o todo da palavra a tecnicizar-se,
s o significante pode estar sujeito a uma tratamento do gnero, visto
ser o elemento observvel. A questo da transmisso, o mecanismo da
circulao, toda a ateno a visada, na organizao do significante,
na sua estrutura215 . O que dito submetido possibilidade dos jogos
da estrutura da lngua.
Nesta situao de tecnicizao da linguagem, o texto: La prise de
parole, de Michel de Certeau, acaba por constituir um poema precioso216 . A tcnica poder ser analisada como modo de atraco pelo
214
Na base da sintaxe encontram-se unidades lexicais, na base da semntica
encontram-se unidades mnimas de diferencial significao, na base da pragmtica
encontra-se o lugar de onde se fala, o saber quem fala, quando, etc.
215
Jacques ELLUL, La parole humilie, Paris, ditions du Seuil, 1891, p. 186.
216
De algum modo, o deslumbramento evidenciado para com a linguagem integrase aqui, embora o autor diga, aqui e alm, que tomar a linguagem no tomar o poder
e que os slogans ouvidos em Maio de 68 (sociedade de consumo, sociedade do
espectculo, capitalismo) no representam uma magra bagagem intelectual dos
que os proferiram, representam, antes, uma amostra de um uso diferente de uma
linguagem j feita, que s reemprega uma sintaxe inalterada. Michel de Certeau diz
que os acontecimentos de Maio de 68 foram significativos para a palavra, para a sua
libertao como meio da verdade. Numa lgica poltica da linguagem, aceita que
seja nela que se pronunciam as relaes de fora, os conflitos se mimam, que nela
se insinua e se ganha em espao de liberdade. Na revoluo de 68 houve o que ele
Livros LabCom
i
i
84
O Paradigma Mediolgico
visvel, caracterstica da cultura contempornea e que faz o significante
triunfar. nesta tentativa de introduzir uma viso na cultura contempornea que Ellul reflecte217 . La parole humilie confronta a direco da
vista ontem e hoje. Anteriormente, dirigia-se ao espectculo da natureza, a nica imagem era a natureza, servia-lhe de modelo a uma aco
ulterior e s o aspecto exterior das coisas era contemplado. Hoje, o simples olhar transforma em objecto o que existe218 . No s o olhar do
homem de cincia sobre a matria, todo o homem considera o universo
onde se move como absolutamente seu, sem reservas219 . A anlise que
Ellul faz do olhar de hoje elucida alguns aspectos que vale a pena referir. Diz que o olhar leva o sujeito para o centro, arrastando consigo
todas as outras coisas. Pelo olhar o sujeito apropria-se do espao envolvente, domina sobre o mesmo. Diz respeito, ainda, descentrao do
mundo: o centro pode ser no importa aonde, porque as coisas deixam
de estar situadas relativamente ao sujeito. Alude, tambm, capacidade do olhar em fornecer indcios, informaes pontuais, centenas de
instantneos posteriormente encadeados pelo crebro. Depois, o olhar
provoca a aco. Uma imagem provoca a criao de outra imagem. Em
ltimo lugar, o olhar constri um universo imediato220 .
O antropocentrismo do olhar aproxima-se da realizao das caracdesigna por tomada da palavra, por todo o lado se ter feito acto de dizer, acontecendo
uma espcie de comunho, precisamente pela palavra. Cf. Michel de CERTEAU, La
prise de parole, Paris, ditions du Seuil, 1994.
217
Jacque Ellul analisa as formas de mediao tcnicas que, segundo ele, desferiram
o golpe final no estatuto mediador da linguagem, depois de Aristteles e Plato, e toda
uma tradio que pensou o logos enquanto signo. O contributo de Ellul nesta matria
limitado dadas as circunstncias actuais de evoluo da mediao para o digital.
Todavia tem muito interesse a sua reflexo no s pelo confronto da tcnica com a
linguagem, mas tambm porque muita da pertinncia esboada por ele encontra eco
no digital, nomeadamente a que operada ao nvel da categoria do tempo e do espao,
do sujeito e da realidade.
218
A descrio do olhar por Sartre disso exemplo. Sartre considera que o olhar de
outrem incide sob o ser que olhado na forma de uma possesso.
219
Jacques ELLUL, op.cit., p. 127.
220
Ibidem, p. 9-15.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
85
tersticas da omnividncia, omniscincia e omnipotncia divinas. Tudo
ver para tudo saber e tudo poder. Ellul: As imagens artificiais potenciam tudo isto221 . Fotografia primeiro, cinema depois, televiso, publicidade, anncios, ilustraes. A evidncia da imagem vai tornando
obsoleta qualquer outra maneira de expresso. Do que no contenha
imagem duvida-se. Tudo lhe est subordinado, nada adquire significao fora dela. A visualizao o meio222 . A visualizao tambm
a tcnica, para ela que a tcnica remetida. Ellul apresenta duas
ordens de razes para pensar esta remisso: uma, a tcnica revela a
possibilidade da imagem, a possibilidade da multiplicao da imagem.
A imprensa, a fotografia, os satlites, a cmara, a televiso, o lintipo,
indicam que a imagem a justificao da tcnica. por uma lgica de
auto-desenvolvimento, considera Ellul, que a imagem escapa ao controlo do homem. A lgica prpria justificar a vitria das tcnicas de
difuso da imagem sobre as tcnicas de difuso da palavra223 . A expresso da proximidade diferente. As tcnicas da palavra exigem
deciso, escolha, querer, as tcnicas da imagem so hipnticas. Outra
razo: a tcnica manifesta-se na possibilidade da constituio de um
universo de imagens224 .
A visualizao tcnica. Entre uma e outra existe conaturalidade.
Imediatidade, permanncia, instantaneidade (tempo), encurtamento da
distncia (espao), so notas sobre a imagem que comportam em si
os traos e caracteres de uma organizao tcnica225 . A tcnica visa a
visualizao. Uma e outra so construdas, no so propriamente apreenses directas do meio humano ou do quadro cultural. So artefactos.
O artefacto da imagem visual sempre especular, a imagem das obras
221
Ibidem, p. 127.
H uma coincidncia histrica irreprimvel, a teoria da comunicao ganha balano depois do desenvolvimento do visual. A informao adquire as caractersticas
do visual.
223
Telefone, rdio, altifalante, gravador, so algumas dessas tcnicas de difuso da
palavra.
224
Ibidem, p. 164-168.
225
Ibidem, p. 15-16.
222
Livros LabCom
i
i
86
O Paradigma Mediolgico
visuais que o homem realizou. Eidos platnico e princpios de Identidade, No-Contradio e Terceiro-excludo aristotlicos contam-se entre as mltiplas tcnicas de visualizao criadas culturalmente para fundar a autoridade do sujeito sobre o devir.
Dir-se-ia que o homem ocidental est polarizado pelo visual e que a
tcnica sua condio. Ao mesmo tempo, o homem formado no meio
tcnico o homem que tem necessidade de viver por imagens. Imagem
e tcnica constituem-se, reciprocamente, enquanto meios. Necessitamse para se aplicarem226 . No interior de uma cultura onde a imagem
passa a conter tudo, e a imagem , a este nvel, sinnimo de imagem
tcnica, que acontece palavra? Recua, preenche o vazio deixado pela
imagem, s, e explica o que pode no aparecer l claramente. Assume a
funo de acessrio227 . Assiste-se, hoje em dia, a um universo cultural
determinado pela apresentao visual, tudo lhe dedicado, tudo tende
a ser mostrado228 . O jogo da representao no qual a palavra intervinha
agora ocupado pelo jogo da apresentao, intervindo agora a imagem. a imagem que passa a ex-pr o real, isto significa, a exil-lo,
precisamente, no acto de o manifestar229 .
A palavra perdeu importncia. Roamos uma vivncia baseada no
226
O sistema panptico de Bentham, redescoberto por Foucault, visa mostrar que
o sistema de controlo no exclusivo nas prises e se estende, com efeito, a todo
o corpo social: escola, empresa. Todo o corpo social interpretado como atravessado por esta visualizao universal. O paradoxo este: -se livre na condio de
se aceitar a cultura da imagem. Um sistema de viglia pela vista, uma viglia permanente (tempo) e extensiva a todos (espao), de um s relance, uma exigncia da
ordem e eficcia da sociedade tcnica e s possvel atravs de meios tcnicos muito
desenvolvidos. Foucault expos o sistema panptico em: Surveiller et Punir (Paris,
Gallimard, 1979).
227
Antes, a imagem constitua-se em ilustrao do texto, hoje o texto a constituirse em ilustrao da imagem. Cf. Jacques ELLUL, op.cit., p. 130.
228
As bibliotecas actuais concentram imenso material visual: esquemas, fotos, diapositivos, televises, computadores.
229
A no presena imediata do real que estava na ordem das produes culturais de
mediao atravs da palavra ameaada na imagem. O domnio do simblico, no
qual a palavra hegemnica, perde fora a favor de um domnio que a pouco e pouco
se pretende mais real que o prprio real, hiper-real, seja. Ibidem, p. 129-132.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
87
slogan, afirma Ellul230 . Por consequncia, o verbo deixa de significar
aco, retira-se para valer como incitamento, fuga. Do que pode resultar em termos de ganhos/perdas de ordem intelectual, psicolgica e fisiolgica da apresentao das imagens, Ellul passa os olhos pelo cinema,
televiso e fotografia231 . O cinema, para si, o lugar do cataclismo de
imagens. O exagero provoca a renncia ao mundo real, que no s
ao nvel do pensamento, ou s do corpo, de todo o ser. No cinema o
espectador encontra-se num estado de disponibilidade afectiva tal que
se torna permevel a todas as grandes influncias. Entra por elas na
fico. A televiso representa a imagem trazida ao nvel da existncia
familiar. O espectador convive com uma pea de teatro constante que se
desenrola diante dele e a sua casa apenas um cenrio, entre milhares
de outros. A imagem da televiso renova o imaginrio diariamente, em
detrimento da realidade, que se apaga cada vez mais. A imagem acaba
por devir mais verdadeira que a prpria vida do espectador. A televiso a droga rainha, por transportar a existncia para a fico e faz-la
habitar a. A imagem da fotografia uma outra entrada no mundo da
fico. A existncia inteira desenrola-se num universo de imagens e no
centro desse universo situa-se o homem passivo, do qual Guy Debord
se far grande crtico. A realidade ausentou-se e tomou-lhe o lugar o
imaginrio. Perderam-se as referncias232 .
Do ponto de vista de Ellul, o homem mudou, mas sem ter a ideia
230
Ibidem, p. 141.
Ibidem, p. 132-134; 155-164.
232
As novas tcnicas superaro estas lacunas? O desafio mais difcil , portanto,
imaginar como poderiam ser concebidas obras virtuais, ou seja, obras em estado
potencial, constitudas apenas de seus elementos de articulao, obras mveis, metamrficas, passveis de permanentes alteraes, capazes de se manter em permanente
dilogo com o leitor e de absorver as suas respostas. Excerto da conferncia proferida por Arlindo Machado na Conferncia Internacional sobre Mediao e Tcnica
(ICTM97), ocorrida em Lisboa, na Culturgest, em 27, 28 e 29 de Maro de 1997:
http://interactividades.pt/ictm/am.html. Edmond Couchot, artista e terico francs,
tem desenvolvido dispositivos interactivos que solicitam a participao do espectador
no mbito do digital. Para mais contributos na rea da interactividade, ver trabalho de
Frank Popper: http://mitpress.mit.edu/e-journals/Leonardo/isast/articles/popper.html
231
Livros LabCom
i
i
88
O Paradigma Mediolgico
de mudana. Incorre na orientao para a imagem de forma inconsciente, essa a justificao para a impresso que normalmente se tem de
que a tcnica apenas um instrumento, e neutro, que se pe disposio do sujeito. Isto , tem-se a impresso que o homem ainda ocupa o
centro, que ele o arquitecto das mediaes, logo, que qualquer mediao inteligente. D a ideia que o sujeito permanece um ser soberano,
inaltervel, intangvel, que a sua identidade no afectada nas mediaes. Ellul: O jogo das tcnicas influencia-nos233 . A modificao
operada pelos meios em geral e pelas imagens em particular. O modo
rpido como as imagens se sucedem gera a iluso de um acesso imediato, global e directo da ocorrncia, de muitas ocorrncias. Na comunicao visual o espectador adere ao que transmitido, logo a distncia
sujeito/objecto deixa de existir. O sujeito, na verdade, no est fora,
est dentro da realidade. Exilado num meio abstracto, terico, diferente do meio tradicional, um meio que no tem vida, o mundo natural
parece irreal. Devido imagem, natureza tcnica dela, a realidade
ausente torna-se presente, e a possibilidade, o lugar de mediao por
excelncia, o meio tcnico. A unio de imagem e tcnica virtualiza
um programa de real, at substituio.
2.4
O efeito da digitalizao na libertao da
Mediao.
Die Frage nacht der Technik (A essncia da tcnica) trata-se de uma
meditao de Heidegger sobre a tcnica. nossa inteno conhec-la
tendo em vista o modo como a feito o trabalho de certos conceitos
para os confrontar com o mundo tcnico contemporneo234 . Das vrias ideias que o texto nos oferece, estaremos especialmente atentos s
233
Jacques ELLUL, op.cit., p. 227
A realidade deveio tecnicamente mais sofisticada, por isso a dvida se a meditao de Heidegger nesse domnio tem efectividade lanada para diante. Die Frage
nacht der Technik faz parte de um texto intitulado Vortrage und Aufsatze (Ensaios e
Conferncias), que recolhe pensamentos que se repartem entre 1943 e 1953. Seguire234
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
89
ideias da questo da tcnica moderna. Passar-se- reflexo dos pressupostos da referida tcnica, terminando-se com a exposio do digital,
a realidade tcnica de hoje. Indicam-se os principais conceitos que descrevem o digital e acentua-se a sua especificidade de mediar, ou seja,
a disseminao ou libertao do digital nas mltiplas manifestaes da
actividade humana.
Die Frage nacht der Technik: O desvendamento que rege a tcnica moderna uma provocao (Herausforden), pela qual a natureza
intimada a fornecer uma energia que possa como tal ser extrada e
acumulada235 . Os exemplos propostos no texto ilustram bem o que
Heidegger considera a essncia da tcnica na modernidade, o facto
de a crosta terrestre se desvendar hoje como bacia hulhfera, o solo
como entreposto de minrios, a regio que provocada extraco de
carvo, o Reno transformado em reservatrio de energia elctrica, to
diferente do Reno de Holderlin, a floresta entregue indstria da celulose. Situaes contrastantes com a do moinho que entrega as suas
velas directamente ao sopro do vento sem o acumular, ou do campons que quando semeia o gro confia as sementes s foras do crescimento e vela para que prospere. Herausforden o conceito que abre
a inteligibilidade da tcnica moderna236 . Traduz-se por provocao.
Herausforden, partindo dos exemplos, apresenta-se como uma espcie de violncia cometida contra a natureza. Olha-se a natureza como
algo comparado a um armazm de energia, susceptvel de extraco.
O desvendamento que rege a tcnica moderna aparece como algo encomendado, especifica Heidegger, ligando a questo anterior com a
questo da encomenda (bestellen)237 . Esta encomenda estar, por sua
vez, ligada questo da interpelao (stellen): [. . . ] tambm a cultura
dos campos foi assumida no movimento que encomendava um modo
mos a publicao: Martin HEIDEGGER, The Question Concerning Technology and
other essays, New York, Harper Torchbooks, 1977.
235
Ibidem, pg.14.
236
Hervorbringen, com o sentido grego de poiesis, produo de uma presena, abre
a inteligibilidade da tcnica antiga.
237
Ibidem, p. 16.
Livros LabCom
i
i
90
O Paradigma Mediolgico
que interpela a natureza. E interpela-a no sentido da provocao238 .
A tcnica moderna um modo de desvendamento. -o por provocao. Cada elemento da natureza como se estivesse disponvel para
entregar o que nele est em reserva. O quente do sol provocado a
desvendar o calor239 . Por todo o lado, todas as coisas se interpelam a
permanecer, estar ao alcance, na verdade para responder encomenda
que se lhes fizer240 . A este estado chama de fundo (Bestand). Bestand
remete para a existncia de uma reserva estvel, um gnero de stock
que os elementos naturais possuem e que condio de resposta ao
bestellen. Tratar-se- de um fundo invisvel, no presente, mas tornado
presente no desvendamento. Um aeroplano numa pista de aterragem,
por exemplo, seguramente um objecto, est lanado para diante, faz
frente ao sujeito, obstculo, porm desvendado em txi s permanece na mesma pista como reserva disponvel, bestand, enquanto no
interpelado a assegurar o transporte de algum passageiro.
O acto de encomendar (bestellen) desvenda (herausforden) a reserva disponvel (bestand). Flix Duque diz existir na reflexo heideggeriana, na abertura da tcnica para uma regio da verdade, um delrio
de perfeio, nsia de que tudo venha superfcie, que tudo seja desvendado241 . reprimida a retraco do ser, considerando que o ente
verdadeiro quando desvendado (entbergen), ao incorrer na aco
de vir presena. Neste contexto, a tcnica a oferecer a possibilidade de a verdade da natureza acontecer. Quem realiza a provocao
fazendo uma encomenda mediante a qual o real desvendado como
fundo?, questiona o texto heideggeriano, orientando-se para a identificao do responsvel por este gnero de tcnica: Obviamente que
o homem242 . A interveno do homem fundamental. A tcnica
obra do homem, sem a sua colaborao no haveria desvendamento.
238
Ibidem, p. 15.
Ibidem.
240
Ibidem, p. 17.
241
Flix DUQUE, El mundo por de dentro, ontotcnica de la vida cotidiana, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1995, p. 49.
242
HEIDEGGER, op.cit., p. 18.
239
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
91
Ele pode conceber, modelar, isto , ser sujeito da aco de interpelar a
natureza, contudo no controla o facto de na sada, simultaneamente, o
ser se ocultar. O desvendamento em si mesmo nunca trabalho que
o homem possa fazer mo [. . . ]243 . O ser retrai-se no acto mesmo
de se mostrar, da nunca aparecer como uma coisa presente, ao alcance
do homem, sua disponibilidade. somente na medida em que, do
seu lado, o homem j provocado para libertar as energias naturais que
este desvendamento que encomenda pode ter lugar244 .
A argumentao de Heidegger, como evidencia Michel Renaud, inverte as perspectivas relativamente ao homem. De sujeito activo da
aco de encomendar, passa a sujeito passivo da aco de provocar e
de encomendar245 . Heidegger aplica tcnica o que havia aplicado
linguagem ao dizer que no o homem que fala. Tambm neste domnio a provocao que desvenda a natureza mediante o homem. O ser
torna-se presente como um fundo que h-de projectar-se no fazer e dizer humanos246 . O homem far parte tambm desse fundo (bestand), de
outro modo no o desvendaria, como se conclui da seguinte passagem:
Quando o homem provocado a isto, no ser que ele faz tambm
parte do fundo, e de um modo mais original que a natureza?247 . Esta
a tese fundamental de Heidegger, recaindo a compreenso da tcnica
num processo ontolgico, pois que o que est em causa o desvendamento do ser. A tcnica aparece como sendo o domnio por onde se d
a sada do oculto, por onde se faz passar do estado de ser vendado para
o de ser desvendado.
Homem e ser originariamente trilham o mesmo caminho. Pode
perguntar-se: porque se d historicamente o fracasso? Heidegger responde em Vom Wesen der Wahrheit (Sobre a essncia da verdade) que
esse fracasso acontece no instante em que o homem se afastou do
243
Ibidem.
Ibidem.
245
Michel RENAUD, A essncia da tcnica segundo Heidegger, Revista Portuguesa de Filosofia, 45, 1989, 349-378, p. 361.
246
Flix DUQUE, op.cit., p. 49.
247
HEIDEGGER, op.cit., p. 18.
244
Livros LabCom
i
i
92
O Paradigma Mediolgico
mistrio e se fica pelo que acessvel e dominvel, se atm ao ente,
tomando-o como coisa perfeitamente ao alcance, descoberta e disponvel248 . Mas no s. Quando o homem investiga, observa, armadilha
a natureza, j esperado por um modo do desvendamento que o provoca a abordar a natureza como um objecto de investigao, at que o
objecto desaparea no sem-objecto do fundo249 . A dedicao tcnica
atia o homem a colaborar com ela, a colocar-se ao servio do fundo
para o desvendar250 . O bestand a opacidade primordial, nas palavras de Flix Duque. o elementar e negro fundo sem fundo pressentido como cho, pr-dito como silncio. Da como retraco (entzug),
[. . . ] ou como recusa (Verweigerung) do Vazio [. . . ]251 .
Aps a apresentao do processo ontolgico envolvido na questo
da tcnica moderna, Heidegger propor o conceito de Gestell para polarizar o que foi exposto: a provocao, a interpelao, a encomenda,
o fundo252 . Como Plato investiu na palavra Eidos para designar a
forma ontolgica invisvel do real visvel, tambm Heidegger investe
no conceito de Gestell, o tornando o conceito da essncia da tcnica
moderna253 . Gestell, como eidos, um conceito arbitrrio, formado
para nomear tudo o que cai na esfera da actividade tcnica, no conjunto das operaes que giram em torno de stellen (interpelar)254 .
248
Idem, Vom Wesen der Wahrheit, p. 53; 49. A questo desenvolve-se em dois
captulos, sob os ttulos: A no-verdade como ocultamento, p. 46-51, e: A noverdade como errncia, p. 52-57.
249
Idem, The Question Concerning Tecnhology, p. 19.
250
A natureza superada como objecto e assumida pelo homem como bestand,
como uma imensa reserva de energia da qual se pode servir. Servir-se o mesmo que
tornar visvel, desvendar, o fundo.
251
Flix DUQUE, op.cit., p. 53-54.
252
HEIDEGGER, op.cit., p. 19.
253
Eidos, na significao corrente, designa o aspecto exterior das coisas e dos seres;
Gestell significa correntemente andaime, estante, esqueleto.
254
Adriano Duarte Rodrigues traduz o termo Gestell por dis-positivo. Associa Gestell vocao operatria das tcnico-cincias que levam a natureza a desvendar o seu
destino tcnico. Cf. Adriano Duarte RODRIGUES, op. cit., p. 189. Michel Renaud
encontra a palavra portuguesa composto para afirmar a inteligibilidade da tcnica
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
93
formado com o prefixo Ge, que significa o que congrega, e stellen, pr
de p, que est unido a colocar debaixo dos olhos. Conserva o sentido
de produo, visto tornar a coisa presente na no-ocultao, por exemplo pr em p uma esttua para todos verem, e o sentido de provocao. Hervorbringen e Herausforden apesar de radicalmente diferentes
so ambos modos de desvendamento, modos da verdade, diz Heidegger255 . No Gestell surge a no-ocultao, manifestando-se o real como
fundo256 . A tcnica moderna trabalha tambm em conformidade com
a no-ocultao, mas com um seno: a no ocultao concorda que a
natureza se apresente como um clculo complexo de efeitos de foras
e permita determinismos correctos257 . E o perigo instaura-se, precisamente de se ir a caminho do desvendamento e de neste a verdade se
retirar, no meio de toda a infalibilidade.
No a tcnica que perigosa, refere Heidegegr258 . O homem
experimenta um modo de Gestell que perspectiva a natureza como o
que ele construiu previamente, e s isso perigoso259 . Ainda, que o
fim da tcnica no seja seno o homem. O homem tenha a impresso
de ser, nas suas palavras, o senhor da terra, uma perfeita imagem de
dominao, para a qual o mistrio da natureza desaparece, a distncia
desaparece, a inesgotabilidade desaparece. O perigo a inverso ontolgica260 . A meditao de Heidegger sobre a tcnica envolta num
carcter profusamente negativo, o que a passagem seguinte fortemente
sugere: A ameaa para o homem no lhe vem em primeira instncia
do potencial letal maqunico e dos aparatos da tcnica. [. . . ] A regra
do Gestell ameaa o homem com a possibilidade de que lhe possa ser
negada a entrada num desvendamento originrio e por consequncia
fornecida pela palavra Gestell. Cf. Michel RENAUD, op.cit., p. 363.
255
Cf. Martin HEIDEGGER, op.cit., p. 21.
256
Heidegger privilegia a interpretao ontolgica interpretao instrumental ou
ainda antropolgica da tcnica.
257
Ibidem, p. 26.
258
Ibidem, p. 28.
259
Ibidem, p. 27.
260
Michel RENAUD, op.cit., p. 366.
Livros LabCom
i
i
94
O Paradigma Mediolgico
experienciar o chamamento de uma verdade mais primria261 .
O tom apocalptico das palavras de Heidegger vai no sentido de
dizer que a tcnica deve deixar de sobreaviso no que realmente desvendado por ela, em vez do espanto de olh-la. Continua: ns somos
presa fcil da vontade de a dominar262 . Representa-se esta como um
instrumento para uso do homem, entregando-lhe este as esperanas de
ela intervir nos problemas, como um poder salvador. Equivale a entrega
a um entregar do desvendar do ser e a realizao humana tcnica. Isso
algo que a reflexo pode evitar porque o sentido do ser, da existncia e do agir, ultrapassa o domnio do Herausforden.
O prprio Heidegger situa o problema da sua meditao no alvor
da fsica moderna como uma cincia exacta263 . O seu dedo acusador
apontado na direco do pensamento representacional de que esta fsica
vem revestida. O desenvolvimento da tcnica deu-se, segundo Heidegger, tendo por base o exerccio de um controlo da natureza, impregnada
que estava da imagem aristotlica da matria, algo evocador da desordem, da entropia, de monstruosidade a que era forosos dar forma264 .
A verdade no passa pela arbitrariedade e sim pela necessidade. A necessidade de controlo, de segurana, estendida s diferenas infinitas,
recolhidas num princpio uno, ora a substncia em Aristteles ora o esprito em Hegel. A teorizao passa por ser o instrumento tcnico de
visualizao do mundo.
A pretensa neutralidade da tcnica ligada cincia desfeita por
Heidegger, bem como a tcnica ligada mquina, cujo desenvolvimento se d na segunda metade do sc. XVIII. Heidegger estar a
pensar em mquinas cujo sistema determinado, que so, afinal, fsica aplicada265 . O surgimento de uma e de outra paralelo, dir Flix
261
HEIDEGGER, op.cit., p. 28.
Ibidem, p. 32-34.
263
Ibidem, p. 21.
264
Atente-se no nietzschianismo de Heidegger, o qual suspeitou da vontade de poder
realizada na vontade de verdade da metafsica ocidental. Cf. NIETZSCHE, Para alm
do bem e do mal, 6.
265
HEIDEGGER, op.cit., p. 23.
262
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
95
Duque266 . A mquina d corpo a um algoritmo, ou seja, a um modo
detalhado de proceder tendo em vista a resoluo de problemas267 . A
sua aplicao determinada e prevista. Dado o seu funcionamento
controlado, mantm com o ser vivo uma espcie de correspondncia
estrutural, o que suficiente para entender a mquina como imagem
exterior ao mundo, o que melhor o pode revelar268 . A mquina tornase, desta forma, no s suporte material de algoritmos como suporte de
visibilidade de algo oculto e de verdadeiro sobre o mundo. a transparncia que se insurge contra o segredo teolgico269 . O contributo
266
Flix DUQUE, op.cit., p. 40.
Cortez e Mamede descrevem o algoritmo como sendo uma caixa preta onde se
inserem objectos especficos para obter resultados especficos. Os resultados dependem invariavelmente do que se introduziu e da lgica utilizada nessa caixa. Neste,
a resoluo dos problemas, por exemplo colocar pneu sobresselente, implica a introduo de um mtodo de soluo claramente definido, identificao do problema,
procurar macaco, subir carro, retirar pneu furado e procurar pneu sobresselente.
Cf. J. M. CORTEZ e H. S. MAMEDE, Introduo s tcnicas de programao,
Lisboa, Editorial Presena, p. 37-38.
268
O mito vem desde a Ilada, da referncia a Hefasto, o deus do fogo, criador de
dois autmatos inteligentes que o serviam. Raimundo Lullo, sc. XIII, pressentiu o
poder de mecanizao da lgica, de maneira a que pudesse competir com as capacidades do esprito. Pascal concebe a mquina de calcular, porm s no sc. XVIII
Lord Stanhope construiu um dispositivo mecnico capaz de resolver silogismos. No
sc. XIX surge o Plano Lgico de Jevons, que resolvia mecanicamente equaes
algbricas de Boole. A Segunda Guerra Mundial acelera o aperfeioamento e desenvolvimento das mquinas, e das mquinas convencionais tornou-se urgente a necessidade de mquinas rpidas e seguras para descodificar as mensagens inimigas e
calcular os parmetros balsticos. Estes projectos, desenvolvidos nos meados do sculo, nos quais estiveram envolvidos Turing e von Newmann, levaram s primeiras
mquinas electrnicas, depois aos primeiros computadores. Cf. Jean-Gabriel GANASCIA, Lme-machine, les enjeux de lintelligence artificielle, Paris, ditions du
Seuil, s/d, p. 21-22. O panorama actual o de conseguir mquinas inteligentes plagiando a inteligncia natural. Hans Moravec alude ao esforo de alguns ciberneticistas
em construir modelos de sistemas nervosos de animais ao nvel neural. Para alm da
mquina convencional, a IA debrua-se sobre problemas cujos meios que conduzem
soluo no se encontram definidos previamente. Cf. Hans MORAVEC, Homens e
robots, Lisboa, Gradiva, 1992, p. 33.
269
A Ciberntica de Wiener aproveita a ideia e funda-se aqui, na comunicao ele267
Livros LabCom
i
i
96
O Paradigma Mediolgico
de Heidegger no passa avante, no se aplica realidade tcnica mais
sofisticada de hoje, centralizada numa ideia de mquina numrica, o
computador, e que aberta a todas as possveis aplicaes. O dgito
uma forma vazia capaz de suportar toda a figuratividade. Qualquer
conjunto de enunciados a pode ser introduzido270 .
Flix Duque observa na mediao computacional, por contraste
com a da mquina tradicional, dois aspectos: um, que pela primeira
vez surge Mundo no sentido integral, sem referncia a um sujeito fazedor ou construtor271 ; outro, que tambm pela primeira vez surge a
vada a valor central e feita de informao circulante, contra toda a poltica de armazenamento da mesma. Esta transfere para a mquina um modelo de comunicao capaz
de suster a tendncia para a entropia que o homem revelou nos incios do sculo,
com duas grandes guerras, a construo de armas nucleares e os gases qumicos, com
cerca de 70 milhes de vtimas. A ars combinatoria de Leibniz e tambm a razo de
Descartes, fascinada pelo clculo e pelo ideal de uma comunicao clere e eficaz,
dissuasora da comunicao retrica, presa de estreis discusses, tm aqui papel relevante na nova roupagem aritmtica do signo. Era inteno de Leibniz construir uma
linguagem que desse forma matria. Influenciaro a teoria da informao de Shannon, que por sua vez encontra na Ciberntica de Wiener uma das aplicaes mais
importantes. Compreende-se assim que o ciberespao seja um espao de controlo.
Cf. Miguel Baptista PEREIRA, Filosofia e comunicao hoje (Texto policopiado).
270
Cf. Michael BENEDIKT, Ciberespacio, los primeros pasos, Consejo Nacional
de Ciencia y Tcnica, Equipo Sirius Mexicana, Mexico, 1993, p. 25. O autor alude
ao patrono desta ideia, Descartes, que na obra A Geometria tentou demonstrar como
os teoremas da geometria podiam ser matematizados, estabelecendo o vnculo entre
geometria e lgebra, espao e smbolo, forma e figura. Distingue-se geralmente a
mquina trivial da mquina no trivial, introduzindo a primeira a designao de automao, onde existe uma autoridade central, e introduzindo a segunda uma certa
margem de indeterminao no comportamento maqunico, para a qual previu possibilidades de ampliao. Coloca-se, hoje, a mquina no trivial na posio de se
redefinir pela interactividade que sugere. Estas mquinas tero uma natureza de fazer
operar um dilogo e no somente de trabalhar os dados que lhes damos. H nelas
um modo dialgico, e so como interfaces que medeiam a relao do sujeito com
o mundo. Estas mquinas, denominadas de bio-culturais, confrontam-se com as mquinas biotecnolgicas, projectadas pela Ciberntica.
271
Na mquina tradicional existem reminiscncias de uma metafsica da subjectividade como unidade transcendental de representaes: esse sujeito que sugere que
se est sobre o real.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
97
possibilidade que o ser humano se entenda como Dasein, como ser-nomundo, no como uma coisa no interior do mundo, mas como declinao dos casos do mundo. Adverte, contudo, para o perigo da disperso
do homem na infinidade de lugares do acontecer postos no conjunto
das redes, no facto de estas remeterem umas para as outras, simulando
uma hiper-realidade272 . Antev-se o domnio da multiplicidade sobre a
unidade273 . A este respeito convm perguntar, como Bragana de Miranda, se no se trata de uma aprendizagem a fazer, a da multiplicao,
a do diablico, como lhe chama, e ope ao simblico. Bragana de
Miranda em O fim das mediaes? insiste que a questo tecnolgica
actual, impondo a instantaneidade, a omnipresena, a simultaneidade
no espao e no tempo, realiza a utopia de desvanecimento da distncia
entre sujeito e acontecimento. O Ciberespao apresenta essa ideia de
que todos os espaos so transformados em no-espaos, como se de
repente houvesse um espao nico suportado tecnologicamente.
A evoluo tecnolgica desemboca num desejo de imediatidade
que no encontre qualquer obstculo, seja no espao seja no tempo,
que podemos viver uma relao imediata, una. o fim da mediao?
Na cultura contempornea, ciberespao , para Benjamim Woolley, a
emergncia de um ambiente totalmente dominado tecnicamente, totalmente artificial274 . um espao que ressoa na exigncia de Galileu, um
espao produzido matematicamente, ou no espao algbrico de Descartes, ou, mais antigo ainda, na Chora do Timeu platnico, definido por
Derrida, metaforicamente, como uma me, uma ama-de-leite, um receptculo [. . . ]275 . Corresponder a um lugar onde tudo vem tomar
lugar e reflectir-se, resistindo a ser determinado, a receber uma forma
sensvel ou inteligvel276 . O ciberespao manifesta a marca originria
272
Foucault, no final de As palavras e as coisas, refere-se a um homem que se
dissipa, como beira do mar um rosto de areia. Cf. Michel FOUCAULT, op.cit.,
p. 420-422.
273
Cf. Flix DUQUE, op.cit., p. 40.
274
Benjamin WOOLL, Virtual Worlds, Oxford, Basil Blackwell, 1992, p. 130.
275
Jacques DERRIDA, Khra, Paris, ditions Galile, 1993, p. 22.
276
Ibidem, p. 46.
Livros LabCom
i
i
98
O Paradigma Mediolgico
de unidade das coisas, um reconhecimento sem obstculos. A cunhagem do termo por William Gibson, num contexto de distopia, evoca o
ciberespao como o acontecimento nascido sob o impulso da tcnica e
que rapidamente se torna para alguns o espao por onde pode ocorrer
a transio do singular para o colectivo. So tentativas de realizar fisicamente o que com evidncia um arqutipo cultural, algo que no
pertence a ningum e todavia a toda a gente, escreve M. Benedikt277 .
A ideia de arqutipo enfatiza a viso religiosa que afecta o ciberespao. B. Woolley constata que no ciberspeo as trocas de informao
do mundo real actual j se instalaram: Talvez seja o lugar onde as
ocorrncias crescentemente aconteam, onde as nossas vidas e destinos so crescentemente determinados; um lugar que tem um impacto
directo nas nossas circunstncias [. . . ]278 . Deste modo o que outrora
fora espao do imaginrio, liberto dos constrangimentos do espao e do
tempo fsicos, invisvel, pode converter-se em algo visvel279 . O ciberespao equivale a uma utopia realizada por mediao de uma tcnica
de simular um referente puramente imaginrio.
A tese de Jean Baudrillard a de que vivemos um tempo sgnico
em que o real povoado por uma infinidade de spectrums280 . A tcnica, pela sua difuso na experincia do indivduo contemporneo, a
pele da vida, o que envolve, o ambiente. A pele a imagem de Derrick
de Kerckhove, divulgada em The skin of culture, que d fora fuso
estreita entre o humano e a tcnica. A ideia de um ser biotcnico, se
aflige, no deve obscurecer o facto de sempre termos mantido uma
relao quase binica com os nossos inventos281 . Parece que uma relao de vida do homem com o meio envolvente est prestes a ser concretizada tecnicamente como nunca. Em Kerckhove uma aspirao
277
Michael BENEDIKT, op.cit., p. 21. A figura do forno comunitrio nas nossas
comunidades tambm vai nessa linha de controlo das entropias.
278
Cf. Benjamin WOOLLEY, op.cit., p. 133.
279
Michael BENEDIKT, op.cit., p. 11; 13.
280
Jean BAUDRILLARD, Le crime parfait, Paris, Galile, 1995.
281
Derrick de KERCKHOVE, The skin of culture, investigating the new electronic
reality, Toronto, Somerville House Publishing, 1995, p. 175.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
99
de alcance mximo, uma figura polarizadora por excelncia. As novas
tcnicas intervm no tempo e no espao, sugerem novas construes de
um e de outro. Os elementos-chave do paradigma fenomenolgico kantiano, de uma mediao para a conscincia da experincia, so aqui trabalhados no sentido de os libertar da figura fenomnica, da actividade
sinttica que detm no processo do conhecimento espao e tempo.
Paul Virilio acentua o trabalho que a mediao digital opera no tempo
ao diminuir o intervalo entre as coisas, os objectos e o sujeito, e a impossibilidade deste ltimo intervir na dinmica que tambm o envolve.
Acresce instantaneidade na interaco do sujeito com o mundo, que a
faculdade da representao rompia282 . Leo Scheerer observa nesta interveno a resoluo do problema poltico da representao. Todos
os indivduos estaro no mesmo espao sem estarem fisicamente, portanto favorece o advento de uma nova ordem poltica, falida que est
a representao clssica que releva da comunidade agrupada em torno
de uma ideologia283 . Kerckhove salienta a resoluo do problema da
ubiquidade. Cada indivduo pode estar em diversos espaos ao mesmo
tempo. Esta liga-se com a sbita expanso das identidades psicolgicas
para alm dos limites da pele e do corpo. O sujeito alarga as fronteiras
da sua pessoa, do seu mundo, passa a habitar um outro modo de ser
repleto de informao284 .
A viabilizao do mito atravs das tcnicas desmaterializadas e dos
signos objectivados efectivam uma comunicao sem resistncia ou
demora e num meio invisvel. Tudo isto possvel graas complementaridade entre volume e nmero. Diz M. Benedikt: num espao
matemtico as distncias no so distncias fsicas, mas valores numricos285 . A numerizao generalizada faz o resto, faz saltar todos os
limites. A tcnica um acontecimento novo, mas igualmente a possibilidade da criao de um novo. Em termos estticos, a obra de Stelarc
282
Paul VIRILIO, La vitesse de libration, Paris, Galile, 1995.
Leo SCHEERER, La dmocratie virtuelle, Paris, Flammarion, 1994.
284
Derrick de KERCKHOVE, op.cit., p. 177-179.
285
Michael BENEDIKT, op.cit., p. 15-25.
283
Livros LabCom
i
i
100
O Paradigma Mediolgico
a evidncia desta premissa. E se a tcnica da ordem da razo e a arte
da ordem da sensibilidade, se se opem, ento em Stelarc essa oposio questionada. Com o artista australiano as mquinas ligam-se ao
desejo, paixo, quilo que na modernidade era da ordem do privado.
As obras de Stelarc, fractal flesh, the third hand, entre outras, envolvem trabalho tcnico sobre a carne, de modo a obter uma infinidade de
imagens rumo a uma espcie de hiper-identidade286 .
O que parece intrabalhvel marcado em Stelarc por uma consistncia tcnica. Hoje as nossas tcnicas so de tal maneira versteis
que nos do o poder para re-desenhar o que ns designamos de realidade, manifesta Kerckhove287 . Tudo uma possibilidade de design
da tcnica. Para Baudrillard, os acontecimentos podero ser analisados
enquanto informao que circula por todo o lado velocidade da luz288 .
Os acontecimentos dos media electrnicos correspondem a um noo
de acontecimento efmero, desaparece a especfica correlao do acontecimento com a realidade. Qualquer que seja o acontecimento, nada
sagrado, nada permanente. Confronta o acontecimento com uma
realidade puramente artificial, virtual, simulao, negao, de estrutura voltil. Baudrillard introduz a noo de apagamento do real em
benefcio do hiper-real, da verdade em benefcio da hiper-verdade, da
finalidade em benefcio da hiper-finalidade. A presena no se apaga
face ao vazio, apaga-se face ao redobrar da presena289 . O universo
decorrente da mediao electrnica provocado pelos extremos, no
pelo equilbrio. Pelo antagonismo e no pela reconciliao. como
se um gnio malfico, um esprito do mal, o provocasse. No nem
a moralidade nem o sistema positivo de valores de uma sociedade que
286
Nicholas MIRZOEFF, Bodyscape, art, modernity and ideal figure, London, Routledge, 1995, p. 3. Ao corpo idntico dos modernos contrape-se o corpo fragmentado ps-moderno.
287
Derrick de KERCKHOVE, op.cit., p. 176.
288
Jean BAUDRILLARD, As estratgias fatais, Lisboa, Editorial Estampa, 1991,
p. 18.
289
Ibidem, p. 12.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
101
a faz progredir, mas a sua imoralidade e vcio290 . O funcionamento
das sociedades racionais expresso daquilo que se teme, a perverso
dos signos: a distoro espectacular dos factos [. . . ], o triunfo da simulao fascinante como uma catstrofe [. . . ] um efeito vertiginoso
de todos os efeitos de sentido291 . As coisas, os valores, o mundo,
libertam-se no digital sob a forma de vertigem. A funo de representao no reconhecida enquanto autoridade e o mundo de imagem
que se reconhece no uma imagem do mundo. O mundo que lhe
atribudo consagra, de facto, uma iluso. No sendo seno imagem, o
mundo uma volatilizao, iluso.
Iluso do fim, de Baudrillard, reflecte o possvel desaparecimento
da histria. O mundo construdo pela difuso e acelerao dos acontecimentos. Sem histria, a recorrncia de uma sequncia de sentido
impossvel. Para Baudrillard, a acelerao da tcnica liberta a esfera referencial do real, a sada do horizonte em que o real possvel,
o do espao-tempo. Cada facto, cada acontecimento, fragmentado,
desarticulado para entrar no dispositivo binrio e circular na memria electrnica. Da, a teoria histrica confronta-se com a impossibilidade da reflexo, com a legitimao objectiva. Os acontecimentos
sucedem-se e neutralizam-se na indiferena292 . No que no haja
acontecimentos, mas deixam de interpelar. No fundo, o efeito imediato
dos acontecimentos implode o sentido da actualidade. a proximidade
absoluta do real que faz desaparecer o sentido. A fascinao do tempo
real que deslumbra a tcnica origina a assuno de uma realidade que
apaga o acontecimento.
Baudrillard conjectura sobre o fim da histria, da remisso do acontecimento a um sentido. Diz Baudrillard: Se queremos ter o gozo
imediato do acontecimento, se queremos viv-lo no instante, como se
l estivssemos, porque j no temos confiana no sentido ou na fi290
Ibidem, p. 62.
Ibidem, p. 63.
292
Idem, A iluso do fim ou a greve dos acontecimentos, Lisboa, Terramar, 1995, p.
11.
291
Livros LabCom
i
i
102
O Paradigma Mediolgico
nalidade do acontecimento293 . Surpreendentemente, afloram comportamentos de arquivo. Mas o arquivo um processo de denegao do
acontecimento, j que ele forado coleco. Para Baudrillard,
interessante que tudo o que ocorreu no sculo XX em termos de progresso, libertao, revoluo, violncia, sofra, hoje, um processo de
reviso. Esta uma moratria de fim de sculo. um trabalho de luto
que tudo reescreve para apresentar uma contabilidade perfeita294 .
A tcnica, que rege o cenrio fantstico de hoje, impe-se como
uma interpelao que emerge no quadro da existncia. Isto significa
que abrange qualquer sistema. como fora que constitui o mundo
de maneira virtual. Enquanto isso, tende a alterar uma relao com o
mundo e os conceitos que a podero analisar.
293
294
Ibidem, p. 19.
Ibidem, p. 24.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Captulo 3
A mediologia de Marshall
McLuhan
3.1
A colonizao pelo Medium de toda a dimenso existencial humana.
De entre os inmeros medium que caem na descrio de Mcluhan, pode
comear-se pelo estribo: poucos inventos foram to simples, mas poucos exerceram uma influncia to catalisadora na histria1 . Desaparecidos os carros de guerra e as estradas, rectas e planas, do Imprio
Romano, ideou-se um substituto para os que no Ocidente tinham necessidade de continuar a lutar em batalha vestindo armaduras pesadas.
O estribo, procedendo do Oriente, nos princpios do sc. VIII, viria a
resultar no florescimento do estilo cavaleiresco e do Feudalismo. Atrs
do estribo vem a armadura, o cavalo, o escudeiro, a obrigao de os cidados menos prsperos se reunirem e equiparem um dos seus e envilo guerra. Estava em causa desenvolver a tcnica da guerra. A seguir
vem a distino entre homens livres e pobres, que d origem aos feu1
Marshall MCLUHAN e Quentin FIORE, Guerra y Paz en la Aldea Global, Jerome Agel (coord.), Barcelona, Ediciones Martinez, 1971, p. 41.
103
i
i
104
O Paradigma Mediolgico
dos, e o servio militar convertia-se em questo de classes.
O estribo, ao incorporar-se na armadura, aboliu os pequenos prdios campesinos a favor do domnio senhorial. A chave das instituies
feudais o dever de servir e a sua aceitao como classe guerreira era
o princpio determinante da posse de terras. Os cavaleiros ganham a
exclusividade da guerra, profissionalizam-se. Ora, a violncia do embate aumenta e os artfices construram armaduras mais pesadas e mais
protectoras, tornando difcil a identificao do cavaleiro. Motivo forte
para comear a usar-se, no sc. XII, o emblema herldico e a arma
hereditria. Na histria europeia introduzida uma tcnica militar estrangeira e a ordem social sai perturbada. Obriga a que nasa um novo
modo de fazer guerra e nasa uma nova forma de sociedade ocidental
europeia, dominada por uma aristocracia de guerreiros, proprietrios de
terras para que pudessem combater de um modo novo e especializado.
Fez nascer novas formas culturais e modelos de pensamento e emoo
em harmonia com o estilo de combate a cavalo. Os povos converteramse em robots de um novo artefacto, personalizado no cavaleiro, o amo
da Europa nos primeiros anos da Idade Mdia. A couraa guerreira da
poca representou um feliz casamento da tcnica com as roupas e as armas que afectou as instituies educativas e polticas que directamente
emanam dela. Mcluhan: toda a inovao tecnolgica arrasta consigo
mudanas anlogas2 .
O carcter suprfluo de todo o sistema feudal seria provado aps
a inovao da plvora, outra tcnica. S esta foi capaz de arrebatar
as armaduras dos cavaleiros e destronar a unio entre cavalo e homem,
uma unio combativa, sonhada outrora na figura do Centauro. Na senda
de outros media, exemplos demonstrativos de que o homem muda a
organizao social, surge a roda, extenso do nosso p, que permite
uma evoluo no espao3 . Com ela tiveram de vir as estradas. Criouse o impulso para o intercmbio e um maior movimento de matrias2
Ibidem, p. 43.
Idem, The Medium is the Massage, Jerome AGEL (coord.), s/l, Penguin Books,
1967, p. 30-33.
3
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
105
primas e dos produtos agrcolas dos campos para os centros de trabalho,
as cidades. Com as melhorias na roda e nas estradas, o campo ficou
mais prximo da cidade, a ponto de se aproximar dele: comeou a
falar-se em ir dar uma volta ao campo4 .
A seguir veio o perodo da auto-estrada, como uma cidade que
se estira continuamente, at alcanar todo o continente, e as cidades
dissolvem-se em agregados populacionais designados de metrpoles.
O campo, entretanto, tende a voltar a converter-se na extenso sem caminhos que precedeu a roda. As implicaes no ficam por aqui,
que a cidade funda-se como uma espcie de pele protectora, ou escudo. Contudo, intra-muros, comearam os grandes conflitos entre cidados. As cidades tornaram-se meios irritantes e de diviso competitiva. Como anti-irritantes produziram-se outros inventos, na esperana
de atravs deles neutralizar o perigo e a angstia. Utilizaram-se novas
tcnicas para controlar as intensidades e as novas energias trazidas com
a acelerao das interaces geradas na vivncia contgua.
O sensrio humano prolonga-se atravs da tcnica. A tcnica no
s uma exteriorizao, uma ampliao, sem perda de identidade do
humano. A componente metafsica do sujeito est assegurada, no
ameaada, antes reforada. A histria viaja de longe, desde as tcnicas do passado. Em muitas culturas o algodo, o trigo, o gado, o
tabaco, entre outros produtos, que realizam esse papel. A mediao
surge associada a suportes slidos naturais. Um deles converte-se no
elemento social dominante e actua como factor de configurao, reordena os padres de associao e comunidades humanas. No vocabulrio mcluhaniano isso que medium significa: um meio de comunicao, serve de acumulador de valores e tradutores da experincia
humana, das suas capacidades e tarefas, em forma de outros materiais5 .
As coisas podem comunicar-se com flores, arados ou locomotoras
Mcluhan abre o paradigma mediolgico aos objectos que sejam ex4
Idem, Comprender los medios de comunicacin. Las extensiones del ser humano,
Barcelona, Paids, 1996, p. 111.
5
Ibidem, p. 143. Considera o medium como segundo corpo.
Livros LabCom
i
i
106
O Paradigma Mediolgico
presso directa de toda a presso fsica que fora a exteriorizar-nos ou
a prolongar-nos Pode ser com palavras ou com rodas6 .
Incidindo sobre os elementos de qualquer agrupamento que provocam alteraes na organizao, concordar que o surgimento de comunidades novas ocorre merc das formas de comunicao. Na organizao de comunidades piscatrias ou recolectoras, antes da organizao
em aldeia, e depois em cidade, e ainda em estado universal, estiveram meios de comunicao naturais, mecnicos e, por fim, elctricos7 .
Nas primeiras estiveram produtos naturais, na segunda o alfabeto, o papiro, a roda, a estrada, a escrita, a imprensa, a mquina de escrever, o
automvel, os caminhos-de-ferro. A terceira mediada pela rdio, a
televiso, o telefone, o computador, e introduzida pelo telgrafo.
Sobre a actualidade dos media, Mcluhan diz-nos que todos eles
cumpriram a sua funo. Por exemplo, o tren cumpriu a sua funo importante antes da roda, dos animais de carga, dos rios, quando
s existiam extenses do caador-recolector. Depois tornaram-se obsoletos, numa lgica clara de melhor meio, e irrelevantes como ajustes
psquicos e sociais. Foi assim que o automvel gerou a crise nas cidades, tambm o avio espalhou a confuso sobre a questo do espao e
tambm as formas elctricas como o telefone, o telgrafo, a rdio e a
televiso olharam o espao como uma questo irrelevante.
De cada vez que um meio incrementa o poder e a velocidade modifica-se a interdependncia entre as pessoas e as propores estabelecidas entre os sentidos e origina-se uma nova extenso. No extremo
da acelerao de um sistema h a interrupo e o colapso ou desintegrao. Qualquer novo modo de trasladar a informao, na explicao
de Mcluhan, afecta toda a estrutura de poder existente. Se esse modo
for exequvel em todas as partes ao mesmo tempo, possvel que a
mudana acontea sem colapso. Contrariamente, se houver disparidades produzem-se conflitos graves no seio das organizaes. Cita como
exemplo de conflitos os que existem entre o transporte areo e o trans6
7
Ibidem, p. 193
Ibidem, p. 116.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
107
porte por estrada, entre o telefone e a mquina de escrever8 . S no
haveria rebelio nem colapso se houvesse absoluta homogeneidade de
velocidades. Mcluhan deixa-nos tambm a ideia de que o estado actual de qualquer tcnica um facto irreversvel, responder a uma mera
operao automtica na nossa vida social. No sendo uma questo de
valores, no , por conseguinte, uma questo de opo, ou ainda algo
que se evite9 .
As vrias extenses ou meios tm impacto sobre os mesmos corpos
que as engendram. O aparato reprodutor do mundo tcnico, que o
homem, no fica imune aos poderes delegados. A resposta ao maior
poder e velocidade do nosso corpo prolongado resulta no gerar de novas extenses. Mcluhan salienta vezes sem conta que toda a tcnica faz
nascer novas necessidade nos seres humanos que as engendram. As novas necessidades e a resposta tcnica nascem da adopo de tcnicas j
existentes, num processo sem termo, o que atesta a dinmica que afecta
cada meio. Cada um dos meios no um sistema fechado e no tem
sentido por si s. Move-se na interaco relativa com outros meios e
na sequncia de outros. Com a acelerao dos ps surgiu a necessidade
das estradas, do mesmo modo que da extenso das costas nos encostos
da cadeira surgiu a necessidade da mesa. A novela realista que apareceu no sc. XVIII, bem assim como a forma jornalstica da cobertura
de temas socialmente representativos e de interesse humano, anteciparam a forma flmica. O cinema a mecanizao do movimento e do
gesto, a escrita a transformao do discurso falado... O argumento
forte o de que os media disponveis esto em relao com as formas
sociais de organizao e os novos media surgem para romper com os
media hegemnicos existentes, j que eles geram novos centros de poder, surgem para criar novos padres de associao e articular novas
formas de conhecimento. Assim sendo, o local prprio do devir social
a tcnica. Ela tem o poder de constituio do social. revestida de
uma gestalt.
8
9
Ibidem, p. 109.
Para tal seria necessrio fazer coincidir no homem compreenso e aco.
Livros LabCom
i
i
108
O Paradigma Mediolgico
Dois traos caractersticos podem ser imputados a esta relatividade.
Na anlise de Alex Gillis, a relatividade de base histrica e de base
lgica. A histria tende a acentuar que as rupturas fundamentais comeam por ser aplicadas no processo de comunicao: a idade mecnica
foi introduzida pela imprensa, a idade electrnica foi introduzida pelo
telgrafo. A lgica leva a considerar que a humanidade existe numa
relao simbitica com a tcnica. As tcnicas so consideradas extenses da relao humana com o mundo da vida: a roda uma extenso
do p, a arma uma extenso da mo, at acontecer que o corpo, por
completo, se retira da experincias e esta mediada pelo computador,
onde o espao se traduz em puro artifcio10 . Da ligao intrnseca entre
comunicao e transporte visvel que a forma de evoluo orientada
pela forma de mediao. Historicamente, certas sociedades tendem
para uma noo temporal de sociedade, prolongam-se no tempo. A utilizao da escrita, em pedra, por certas sociedades, revela a durao no
tempo. Esta sociedade evolui no sentido de uma percepo temporal
da realidade. Outras tendem para uma evoluo espacial. A utilizao
do papiro revela a expanso no espao11 . O medium faz parte do devir
perceptivo das sociedades. Os humanos estendem-se permanentemente
no espao e no tempo, como um imperativo inato. Isto tem efeitos na
cognio do humano, constitui, justamente, a mensagem do medium,
na opinio de Mcluhan. A percepo humana massajada pelo medium, emergindo uma nova noo de realidade. As obras de Mcluhan
descrevem os sucessivos efeitos (massagens) de cada um dos media na
10
Alex GILLIS, The Internet Gestalt:
Prolegomenon to a Descriptive Political Economy of the Electronic Subject, retirado de
http://www.carleton.ca/jweston/papers/gillis.94 em Maro de 1998.
11
Uma das formulaes mais citadas a respeito da histria da comunicao pertencente a Harold Innis precisamente esta referente ao tempo e ao espao. A
sua posio nesta rea a de que a maneira como o tempo e o espao so acentuados atravs das comunicaes se reflecte no nascer e no cair de um imprio cultural. Cf. Paul HEYER, Empire, history and communications viewed
from the margins: the legacies of Gordon Childe and Harold Innis, retirado de
http://kali.murdoch.edu.au/cntiuum/7.1/Heyer.html em Maro de 1998.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
109
percepo humana. Toda a tcnica que ascende influencia um sentido
ou outro. A palavra falada influi sobre o ouvido, o alfabeto sobre a viso, o nmero sobre o tacto, a imagem da televiso sobre o sentido do
gosto, do tacto, oferece vrias preferncias e orientaes para a vista e
o ouvido.
Ligado com o que vem sendo exposto, a fotografia um claro exemplo da traduo e, simultaneamente, distoro que os meios de uma
dada cultura introduzem na esfera da existncia humana. A totalidade
da experincia afectada por ela de modo imperceptvel j que ela
age subliminarmente, afastada dos padres da conscincia. Extenso
do ser humano, a fotografia, como qualquer outra tcnica, oferece um
novo modo de o homem consignar a experincia, com a particularidade
desta extenso responder ao desejo de a humanidade se prostituir.
Mcluhan regista este anseio a partir do facto de a fotografia converter
tudo o que regista em objecto, mesmo as pessoas. Sugere a ideia de um
fcil manuseamento ao alcance de todo o pblico. Para alm disso, e
dada a facilidade de reproduo, massifica. Juntamente com o cinema,
um prolongamento seu, restitui o gestual e o sonoro tcnica, retirados
da palavra pelo alfabeto fontico. Exercer a sua influncia sobre a arte,
fazendo com que o artista opte por revelar o processo interior da criatividade. O impressionismo e a arte abstracta fazem isso, como o poeta
e o novelista. A arte desloca-se para os gestos mentais interiores, aqueles segundo os quais o sujeito se faz a si mesmo e ao mundo. Passou
da correspondncia externa construo interior. Em vez de retratar
um mundo que a fotografia dava a conhecer, os artistas dedicam-se a
oferecer o processo criativo participao do espectador. Orientam o
espectador para a produo do mundo12 . A prpria linguagem assume
12
A obra cintica de Gabo, por exemplo, explora a ideia de que os ritmos cinticos so potencialmente criadores plsticos. Para tal concebe uma vareta de ao posta
em movimento por um motor, da decorrendo a percepo de figuras que a expresso trompe lesprit melhor caracterizaria, porquanto o esprito que informa a vista.
Noutras obras, como as de Marcel Duchamp, Malevitch, Mondrian, Klee, Vasarely,
Kandinsky, o movimento, a luz e a cor, trabalhados por si, e em combinao, fazem
incorrer a arte e a cincia num cruzamento que possibilita a visualizao das catego-
Livros LabCom
i
i
110
O Paradigma Mediolgico
o carcter icnico, de imagem fotogrfica, cujo significado pouco tem
que ver com o universo semntico. Ela responsvel por despertar o
sentimento de efemeridade na relao do homem com as coisas que
eram vulgares e satisfaziam o padro da normalidade. Abole o espao
e o tempo, supera as fronteiras nacionais e culturais e implica-nos na
famlia humana: uma fotografia de um grupo de pessoas de cor uma
imagem de pessoas, no uma imagem de pessoas de cor. Esta a lgica da fotografia, politicamente falando, esclarece Mcluhan13 . Afecta
as posturas exteriores. A transformao completa da percepo sensorial humana por esta forma tecnolgica implica o desenvolvimento de
uma timidez que chega a alterar a expresso facial e a maquilhagem,
como a postura corporal. E afecta as posturas interiores, desprezando
uma gama vasta de atitudes de auto-crtica14 . Esta nova cultura gestalt fornece indicaes na maneira de arranjar as nossas casas, jardins
e cidades tal qual postais. Fez os seus estragos igualmente na velha
ideia de viajar, que havia sido a de deparar com o estranho e o desconhecido. Ao invs, processou um turista passivo e a experincia de
viajar tornou-se algo de artificial e de pr-fabricado. Viajar comea a
diferir pouco de ir ao cinema ou folhear uma revista. A chegada a um
lugar novo acabou-se, nunca se chega l, verdadeiramente, porque os
objectos j foram encontrados noutro meio15 .
A rea da imagem fotogrfica alcana tambm a rea da apresentao da embalagem, do comrcio, exercendo uma presso centralizadora
nas vendas por intermdio de catlogos. Com a mesma fora aparece
no desporto, ao que Mcluhan julga, a favorecer alteraes radicais no
mundo do futebol, por exemplo. Cr que a exibio massiva dos actos
de violncia dos desportistas inibe os mesmos actos. Tem efeito na vida
rias mentais implicadas. Cf. Frank POPPER, A Arte cintica e a Op Art, Histria
da Arte, Edices Alfa, Vol. 10.
13
Cf. Marshall MCLUHAN, op.cit., p. 206.
14
Da no ser estranho ler em Mcluhan que a idade da fotografia equivale idade
da psicanlise.
15
O cmulo ser preferir a imagem fotogrfica de um objecto ao objecto real, ou
preferir a imagem de uma pessoa pessoa real, como se parodia.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
111
das pessoas, obrigando-as a esconder as atitudes de extravagncia aos
olhos do grande pblico, que as acham humilhantes. Demonstra poder
mgico quando cria, na sua etapa cinematogrfica, uma nova aristocracia de actores e actrizes. reconhecido o empurro que deu valorizao da declarao sem sintaxe, com gestos e mmica16 . No podendo
deixar de ser, conecta-se com outros meios, novos e antigos, entra na
dana que procura incessantemente o equilbrio na floresta de extenses novas que surgem. Na sequncia da tavoletta de Brunelleschi, o
que traz de novo a possibilidade de traduzir as impresses em termos
tcteis e cinticos17 . Realiza, nessa medida, o mesmo que a perspectiva
e a terceira dimenso18 . Por outro lado, contribui para a aprendizagem
de pr direito o nosso mundo visual que a nossa vista natural inverte.
Induz a uma viso, ao que qualquer tcnica mecnica induz19 .
16
Uma dimenso que interessa especialmente a Freud.
A tavoletta era um pequeno instrumento de ptica que consistia numa espcie
de caixa com um painel interior a mostrar Florena. Essa caixa tinha um orifcio no
centro do painel por onde se olhava. Na extremidade do orifcio, no interior da caixa,
havia um espelho e outro espelho em baixo para reflectir o cu. Ao olhar-se pelo
buraco via-se a paisagem pintada no painel reflectida em relevo.
18
Metaforicamente, a perspectiva designada por Piero della Francesca de mquina da viso. A expresso visa acentuar a racionalidade subjacente mesma. Marca
o incio de uma caminhada encetada no sentido de assegurar ao sujeito da viso um
domnio medido da realidade.
19
O investimento da perspectiva na fidelidade em todos os pontos do mundo existente s entendvel no efeito da paragem do tempo em realidade o tempo no se
pra! o momento em que se assiste ao espectculo do visvel, sua representao
diante de ns, todo ele despojado do casual, irrelevante ou contraditrio, insignificante, irracional. Por um processo de ilusionismo (trompe loeil), o tempo como que
pra para o espectador ter acesso experincia do espao (Cf. Hans HOFSTATTER,
A Arte Moderna, Lisboa, Verbo, 1984, p. 67). Merleau-Ponty manifesta pretender
a perspectiva renascentista artificialis opor-se ao campo visual esfrico dos antigos,
naturalis (Cf. MERLEAU-PONTY, Phnomenologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 97-98). Comenta Giulio Carlo Argan que com a perspectiva deixamos
de ver as coisas em si e passamos a v-las atravs de ligaes proporcionais, no se
apresentando a realidade como inventrio de coisas, mas sistema de relaes mtricas. , assim, uma simulao da espacialidade pensada como dimenso da relao e
da aco humanas.
17
Livros LabCom
i
i
112
O Paradigma Mediolgico
Confrontada com a palavra, escrita ou falada, a fotografia o rival,
usurpa o poder de se captar algo raiz, nascena, que a etimologia da
palavra concretiza. A fotografia, contrariamente, exibe o mundo sem
criao, a partir do nada (ab nihil). Tal impe a Mcluhan o reconhecimento de Joyce, o de que h na fotografia um temvel niilismo20 .
Trava outras lutas com a imagem da televiso e a escultura. A descontinuidade da imagem fotogrfica choca com a continuidade da cmara de
televiso, o facto de representar um momento isolado no tempo choca
com a intemporalidade visada na escultura. Desprende-se do mundo
que a imprensa projecta, na disposio das linhas e dos pontos que tm
sintaxe prpria. Na fotografia acabou-se a direco do ponto de vista
sintctico.
Mcluhan compara o facto de a fotografia descobrir a maneira de
fazer informao sem sintaxe com o facto de em Seurat o mundo aparecer atravs do quadro. Os objectos naturais passaram a desenhar-se a
si mesmos, sem a ajuda dos procedimentos tcnicos do lpis do artista,
apenas por uma exposio intensa luz e qumica21 . Outro sinal de
que a fotografia est no meio de meios o de ela transportar ao ncleo
do pseudo-acontecimento, das percepes insidiosas, de empequenecimento do mundo. Mcluhan justifica o sentimento face novidade do
meio fotogrfico. Diz que o sentimento extensvel aos novos meios
de qualquer poca. Todos os novos so qualificados de falsos comparativamente aos padres de aco e pensamento que os anteriores
promoveram. Pergunta: No , afinal, para isso que todos os meios
existem, para conferir percepo artificial e valores arbitrrios nossa
vida?!22
20
Marshall MCLUHAN, op.cit., p. 203.
Mcluhan observa no tratar-se este procedimento j de mero industrialismo mecnico, postulando a a centralidade da fotografia na ruptura com uma idade tipogrfica e no advento da idade grfica. A autonomizao toma conta do processo de
criao, reflectindo a fotografia o mundo exterior (automaticamente) e produzindo
uma imagem fielmente repetvel.
22
Ibidem, op.cit., p. 208.
21
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
3.2
113
A totalizao da Mediao. Medium is
the Massage.
O que a ave fez ontem f-lo- o homem no ano que vem, frase lembrada em Understanding Media e que ocorre em Finnegans Wake, de
Joyce, visando assinalar o poder do homem em apanhar e soltar o seu
ambiente para voltar a apanh-lo de uma maneira nova23 . Apanhar
e soltar so dois gestos antitticos que produzem o efeito desejado
alternando-se. A fala ter sido o primeiro resultado desse poder. Mediante a traduo das expresses sensoriais imediatas em smbolos vocais
pode recuperar-se o mundo inteiro em qualquer momento. Atravs da
palavra, a experincia traduz-se em smbolos ou metforas. A ideia de
fundo valida que o ser humano possa repetir-se a si mesmo, traduzir ou
transferir um material noutro e que o mundo possa remodelar-se, que
os materiais do mundo natural se podem programar em vrios nveis e
intensidades.
Toda uma natureza se expe metamorfose e o que resulta a arte
humana. O mundo existe para acabar na tcnica, de acordo com Malharm, lembra Mcluhan, e, quando isso no se d, o acontecimento
do mundo reprimido. Acabar na tcnica quer dizer armazenar-se,
que um modo de transformar-se em algo de diferente. A experincia
amplifica-se em formas variegadas. A fim de elucidar-nos nesta questo de o medium se instituir como tradutor da experincia, Mcluhan
afirma: Assim como as metforas transformam e modificam a experincia tambm o fazem os meios24 . Um meio uma metfora. O dinheiro, como a vivenda ou a roupa, como a cidade ou a roda, enquadrase neste domnio. Instrumento de mediao, analisado como conservando sempre algo do seu carcter comunal e de mercado. A princpio,
apenas ter relevncia a sua funo de prolongar o domnio prensil,
desde as matrias-primas e mercadorias mais prximas s mais afastadas; depois verifica-se que acontece com o dinheiro o que acontece com
23
24
Ibidem, p. 77.
Ibidem, p. 80.
Livros LabCom
i
i
114
O Paradigma Mediolgico
a fala: a capacidade para emitir sons voluntariamente d-se juntamente
com o desenvolvimento da capacidade de soltar as coisas.
A fala surge quando h poder sobre o ambiente e o poder surge de
um conhecimento do ambiente. Assim ocorre com o crescimento da
ideia de dinheiro como moeda substituta da mercadoria. A moeda
uma forma de soltar as mercadorias imediatas que servem de dinheiro,
em primeiro lugar, com o propsito de ampliar o comrcio a todo o
complexo social. O comrcio atravs do dinheiro baseia-se no princpio do apanhar e soltar em ciclos alternativos: uma mo retm o artigo
com o qual tenta a outra parte, a outra mo estende-se num gesto de
pedido do objecto desejado em troca. A primeira mo solta, a segunda
mo apanha. O dinheiro uma forma externa do apetite de trocar e
inter-trocar. Representa uma imagem corporativa. Sem a participao
comum o dinheiro no teria sentido25 . Mcluhan enfatiza-o como arte
poltica. O dinheiro uma metfora, uma transparncia, uma ponte.
Nas sociedades alfabetizadas traduz-se no trabalho do campons, no
trabalho do barbeiro, do mdico ou do engenheiro. Nas sociedades
no alfabetizadas o homem aceita como dinheiro qualquer matriaprima, porque as matrias-primas so simultaneamente produtos bsicos e meios de comunicao (algodo, trigo...). Hoje em dia o dinheiro
cada vez mais deixa de ser uma forma de armazenar e intercambiar
trabalho e conhecimento. medida que o trabalho substitudo por
mero movimento de informao, o dinheiro smbolo de uma moeda
indiferenciada, irreconhecvel como moeda. Em qualquer das formas,
o dinheiro tem a funo de traduzir ou reduzir um material noutro.
Como metfora social sinal de conhecimentos e trabalhos alcanados em comum, cuja principal fora a de acelerar os intercmbios
e estreitar os laos de interdependncia na comunidade, facilitada pelo
porte fcil. Por outro lado, actua para transmitir percepes e experincias de uma pessoa, ou gerao, a outra, mas, como qualquer meio,
insere-se numa dinmica onde outros elementos existem e com ele se
implicam. Existe, ainda, em virtude da cultura e conhecimentos parti25
Ibidem, p. 148-149.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
115
lhados por uma comunidade26 . Meio e metfora apontam ambos para
o processo de obter-se algo atravs de outra coisa. Um conjunto de
relaes visto atravs de outro conjunto, afectadas ao mesmo tempo,
sem que a mente perca a imagem de uma experincia unificada. nela
que a experincia vertida e ela faz uso de uma proporcionalidade dos
sentidos, suas extenses, tal como a roda extenso do p em movimento. Os sentidos correspondem a tradues suas. E tal como o tacto,
por exemplo, no se deve somente pele, mas interaco dos outros
sentidos, tambm a conscincia verte a experincia de um sentido em
todos os sentidos. Esse o sinal da racionalidade, o de uma conscincia
harmonizada com as suas extenses.
Na sequncia da dinmica da traduo, e, numa fase posterior, a
traduo do nosso corpo nas extenses das mos, dos ps, dos dentes,
segue-se a extenso tecnolgica da conscincia, a traduo do sistema
nervoso em tcnica electromagntica. Auspicia Mcluhan: numa fase
posterior bem poderia ser o verter a conscincia tambm no mundo do
computador27 . Numa sua eventual programao vislumbra que no
haveria mais motivos para que o homem se insensibilizasse ou distrasse com as iluses narcisistas do mundo do espectculo que acossam o homem quando se v prolongado em seus prprios artefactos.
O mito de Narciso vai ao encontro dessa hipnose causada pelas diversas extenses. Narciso, o mito, relata a histria do jovem que contemplando uma extenso sua na gua se tornou insensvel ao amor da
ninfa Eco. Atraiu-o a imagem de si mesmo, rendeu-se a ela. O ponto
importante do mito, segundo Mcluhan, o facto de que o homem se
sente fascinado por qualquer extenso sua em qualquer material diferente dele, ao ponto de se converter em seu servo. Fisiologicamente h
razes que fazem com que uma extenso induza a um estado de narcose. Sob o ponto de vista mdico, toda a extenso visa o equilbrio,
vendo-se qualquer uma delas como auto-amputao28 . O corpo valer26
Ibidem, p. 147-158.
Ibidem, p. 81.
28
Auto-amputar equivale a saltar fora, a sair. O desporto uma rea referida
27
Livros LabCom
i
i
116
O Paradigma Mediolgico
se- deste poder ou estratgia como forma de sublevar-se irritao
que o atormenta.
Porque que o homem se v compelido a exteriorizar partes do seu
corpo mediante uma espcie de auto-amputao? A teoria mdica explica que, no caso da tenso fsica, o sistema nervoso central actua para
proteger-se. Na situao de sofrer estmulos excessivos, dirige uma
estratgia de auto-amputao, isolando o rgo, o sentido ou funo
ofensor. A tenso o pretexto para se verificar a extenso ou amputao. O sistema nervoso s suporta a amplificao graas insensibilidade ou bloqueio de sentido, rgo ou funo. Esta a interpretao do
mito de Narciso. A imagem que o jovem v reflectida uma extenso
induzida por presses irritantes e como anti-irritante produz-se uma insensibilidade generalizada, ou choque, que evita o reconhecimento. A
auto-amputao previne o auto-reconhecimento, confirma Mcluhan29 .
A auto-amputao vai funcionar como um alvio instantneo de uma
presso exercida sobre o sistema nervoso central. O princpio aplica-o
Mcluhan origem dos meios de comunicao, desde a fala aos computadores.
Fisiologicamente o papel principal desempenhado pelo sistema
nervoso central. aqui o centro coordenador dos vrios sentidos. Qualquer ameaa sobre ele detectada e contida, muitas vezes implicando o
corte completo do rgo ofensor. A funo do corpo, dos seus diversos
rgos, proteger o sistema nervoso central, agir como amortecedor
das variaes repentinas dos estmulos no conjunto fsico e social30 . No
entender de Mcluhan, existem boas razes para que Narciso se insensibilize face sua extenso. O choque de se contemplar no exterior de si
induz amputao. Persistindo com a aluso mdica, um choque, quer
fsico (queda), quer psicolgico (a perda de um ente querido), gera ou a
por Mcluhan onde por norma se criam situaes artificiais que igualam as irritaes
e tenses da vida real.
29
Ibidem, p. 62.
30
Umas vezes introduzindo anti-irritantes, caso da prtica desportiva, assistir a um
espectculo, ingerir lcool, outras vezes eliminando-os, o que se verifica pela comodidade.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
117
insensibilidade ou a acelerao de todas as percepes. O choque gera
um estado de imunidade dor e ao sentido. Por exemplo, na queda
repentina a pessoa no sente imediatamente, s passado um tempo. A,
o sistema nervoso fecha-se, abrindo-se pouco a pouco, o que provoca o
tremor, o suor e a reaco, como se ele estivesse espera dessa queda.
Basta, alis, que seja um sentido a estimular-se intensamente para que
o sistema nervoso acometa uma resposta de insensibilidade geral. A
eleio de um sentido apenas fora o sistema nervoso a fechar-se ou a
procurar um equilbrio: um sentido relaciona-se sempre com outros e
a intensificao de um pode representar a perda, a reduo ou o despontar da aco de outros. Mcluhan garante que estes conhecimentos
de ordem fisiolgica so a razo da insensibilidade que a tcnica produz. na base deles que a tcnica vaticina que sentido ou faculdade
amputar.
As sucessivas mecanizaes dos diversos rgos fsicos, desde a inveno da imprensa, produziram, no parecer de Mcluhan, uma experincia violenta e estimulada que o sistema nervoso central no suportou.
Procura-se, na contemporaneidade, amputar o prprio sistema nervoso
atravs da tcnica elctrica. Trata-se de uma amputao desesperada
e suicida, como se o sistema nervoso central j no pudesse depender
dos rgos fsicos como amortecedores31 . Qualquer invento ou tcnica
posto como extenso biolgica, na estreita relao com o mito de Narciso. um prolongamento ou amputao do corpo fsico. As diversas
tcnicas representam o corpo diversamente extenso. De cada vez que
uma extenso surge, novas relaes ou equilbrios entre os demais rgos do corpo se impem e no h forma de as evitar cumprir32 . O
medium afecta todo o campo perceptivo, acelera-o, faz com que os homens se rendam a ele, se convertam a ele, por ele se deixem massajar.
Escutar rdio ou ler uma pgina impressa supe aceit-los como extenses de ns mesmos, escreve Mcluhan em Undestanding Media, o
31
Ibidem, p. 63.
Ibidem, p. 64. O cumprimento radica num quadro cultural. As imagens tecnolgicas, os sons tcnicos, no tm os mesmos efeitos em todas as sociedades.
32
Livros LabCom
i
i
118
O Paradigma Mediolgico
que vem a ser um experimentar da aco automtica das tcnicas sobre
o campo dos sentidos.
Mcluhan explora em The Medium is the Massage a ideia de que as
sociedades foram sempre modeladas pelos media. Os padres da interdependncia social e os aspectos mnimos da vida pessoal, como sejam cada pensamento e cada aco, so re-modelados e re-estruturados
pelos media dos diversos tempos. Todos os media nos alteram profundamente. So todos de tal maneira penetrantes nas suas consequncias
pessoais, polticas, econmicas, estticas, psicolgicas, morais, ticas
e sociais que no deixam nenhuma parte de ns intocada, inafectada,
inalterada. a passagem do mximo testemunho do poder do medium
sobre o individual e o social. No fundo, por serem eles o ambiente
em que o humano sobrevive. E se o ambiente muda o homem tambm muda, se as extenses se alteram, as maneiras de pensar e agir,
as maneiras de captar o mundo, tambm se alteram. Mcluhan, mais
que um determinismo, prope que existe um abrao permanente de ns
mesmos com as nossas extenses, o que nos pe no papel de Narciso.
Ao abra-las relacionamo-nos como servo-mecanismos. Utiliz-las
servi-las como a deuses. Exemplos: um ndio o servo-mecanismo
da sua canoa, como o vaqueiro o servo-mecanismo do seu cavalo, o
executivo do seu relgio33 . O homem cumpre nesse mundo os seus
desejos, a mquina corresponde ao seu amor, nela que vai fecundar
novas formas para si. Da que no estranhe ler, na continuao, que o
homem os rgos sexuais da mquina. A maldio de Midas colada
aqui por Mcluhan, que equipara o dom do rei da Frgia, de transformar
em ouro tudo o que tocava, com o carcter de qualquer meio. Todas
as extenses dos sentidos e do corpo humano, todas as tcnicas, tm
o toque de Midas, assim que se desenvolvem, modificam as demais
funes at elas se acomodarem. Numa assero clara ao domnio da
mediao, corrobora que a mensagem a mquina e no o que se faz
com ela34 . Pouco importa se com ela se produzem copos de maz ou
33
34
Ibidem, p. 66.
Ibidem, p. 29.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
119
Cadillacs, mas o que a mquina modifica nas relaes dos homens uns
com os outros e consigo mesmos.
O que cada tcnica age no humano, a configurao dos esquemas
das relaes humanas, prende-se com a essncia da tcnica. Por exemplo, a reestruturao do trabalho humano assume formas impostas pela
tcnica da mquina que no assume pela tcnica da ciberntica. Precisamente o contrrio, a primeira centralista, a segunda anti-centralista.
Toda a tcnica cria gradualmente uma nova forma. O que caracterstico de todos os meios que no sejam eles a mensagem, mas outros
meios. O contedo de todo o meio outro meio35 . O contedo da
escrita o discurso, o contedo da imprensa a palavra escrita, o contedo do telgrafo a imprensa, o contedo do discurso o pensamento
no verbal, o contedo de um quadro abstracto um pensamento criativo. Os processos de um representam uma manifestao directa dos
processos do outro, porm no exclusiva, porque o pensamento criativo, para dar um exemplo, pode aparecer num desenho de computador
ou numa folha de papel. O que Mcluhan pe em anlise que os meios
que so contedo amplificam e aceleram o meio onde existem e que da
decorrem consequncias mentais e sociais.
Os meios, em si mesmos, no comportam mensagem, s quando
so utilizados, pouco importando para o qu. A luz elctrica um
meio sem mensagem, pois que pode ser utilizada para iluminar uma
interveno cirrgica ou um jogo de futebol. A mensagem, ou o contedo, aquilo que no pode existir sem ela. Por esse facto, ela
que modela e controla a escala e a forma das actividades referidas. Os
contedos so variados e no so eles que modelam. Nesta perspectiva, o meio mero processamento de informao, sem mensagem. O
mais tpico que os contedos de qualquer meio nos impeam de ver
a sua natureza36 . Sero a mscara dos meios. Dada esta natureza do
medium, ser que se pode fazer algo com ele, manipular social e politicamente? Mcluhan reflecte sobre o poder manipulador do medium, do
35
36
Ibidem, p. 30.
Ibidem, p. 30.
Livros LabCom
i
i
120
O Paradigma Mediolgico
encantamento, das suas consequncias, das suas aces, dos seus efeitos independentemente do contedo, porque so os meios que agem e
no os contedos37 . Qualquer meio tem o poder de impor os seus prprios supostos, de impor um estado narcisista subliminal, por simples
contacto. O encantamento pode dar-se no acto de ligar-se a televiso,
por exemplo. Gera-se a compulso de uso infindvel. Mcluhan explica
que talvez isso no seja indiferente de um dado primrio sobre todas as
tcnicas: elas so uma extenso dos sentidos e do corpo.
A tcnica submerge o homem debaixo do seu dilvio. Este o
efeito previsvel de toda a tcnica ocidental e que s a velocidade elctrica revelou, confirma38 . E a situao do ocidental nem por isso
melhor que a do beduno escutando rdio em cima do camelo. A impreparao a condio original face tcnica. A operatividade dos
meios no se d a nvel das opinies ou dos conceitos. Mcluhan recusa
esta ideia. De nada servem as reservas culturais e espirituais que um indivduo pode ter relativamente tcnica. De nada serve quele que vive
entre a publicidade convencer-se que no presta ateno aos anncios,
que no o afectam, porque a tradio cr que o relevante a resposta de
cada um, o ponto de vista individual. Mcluhan explica que tal posio
fruto do encantamento tipogrfico, porque o homem de uma sociedade
alfabetizada e homogeneizada deixa de ser sensvel vida das formas.
Precisamente, os meios modificam os ndices sensoriais ou pautas de
percepo regularmente e sem encontrarem resistncia.
No se sai impune da relao com a tcnica, s aquele que consciente do encantamento que ela provoca39 . Em Understanding Media
chama a ateno que a aceitao dcil do impacto dos meios transforma
em prisioneiros os seus utilizadores. Em War and Peace in Global Village escreve que se no nos envolvermos de maneira crtica com as
nossas tcnicas elas transformam-nos em robots40 . Por conseguinte,
37
Ibidem, p.
Ibidem, p.
39
Ibidem, p.
40
Ibidem, p.
38
32
37.
39
41; Idem, Guerra y Paz en la Aldea Global, p. 26.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
121
dizer que a tcnica no boa nem m, e que depende do contedo, revela, aos olhos de Mcluhan, uma completa ignorncia na matria.
a postura embotada do idiota tcnico41 . a voz do actual sonambulismo42 . Equivale a passar por alto a natureza do medium e de adoptar
o estilo narcisista de quem est hipnotizado pela amputao e extenso
do seu ser na forma tecnolgica. Ningum poder resguardar-se da sua
influncia. Os romanos viviam rodeados de escravos. O escravo e a
sua psicologia reinava na Itlia antiga, e os romanos ficaram, involuntariamente, escravos, adita factualmente43 . Se os meios so o ambiente,
contagiam.
A imagem que Mcluhan utiliza para enfraquecer o contedo relativamente ao medium a sua comparao com um apetitoso pedao
de carne que o ladro leva para distrair o co de guarda casa44 . O
efeito do medium, o efeito da forma, no tem relao com o contedo.
A pelcula no tem nada a ver com a histria narrada, as mudanas
ocorridas com o comboio so independentes do que transporta. luz
da teoria mcluhaniana, o efeito das tcnicas, a mudana provocada por
elas, no pede a aprovao ou a desaprovao dos que vivem sob os
seus efeitos. As tcnicas desafiam, simplesmente, tornando intil a
anlise dos programas ou dos contedos. Essa no d, no entender de
Mcluhan, indicao nenhuma da magia dos meios nem da sua carga subliminal. Ironizando sobre o assunto, refere: Deves dirigir-te ao meio,
no ao programador. Falar com o programador como queixares-te
a um vendedor de cachorros quentes acerca do mau jogo que a tua
equipa favorita est a fazer45 . Os meios agem numa matriz cultural
dada, advindo que qualquer um no pode seno ligar-se aos efeitos que
outros j provocaram. O que se obtm decorre de um reprocessamento:
os novos meios reprocessam os existentes, uma linha de fora estruturante veicula-se de uns para outros. Pensamento de teleologia? Tudo o
41
Idem, Comprender los medios, p. 39.
Ibidem, p. 32.
43
Ibidem, p. 42.
44
Ibidem, p. 39.
45
Idem, The Medium is the Massage, p. 142.
42
Livros LabCom
i
i
122
O Paradigma Mediolgico
que Mcluhan nos diz que se est imerso numa ambivalncia de mudana, de sequncia, para a qual no existe causa. As suas palavras
so estas: Nada segue ao seguir, excepto a mudana46 . Prev que se
alguma utopia existe no seu projecto ela tem de conter tambm uma
boa dose de distopia. Sobrevm uma questo fundamental: quem pode
lidar impunemente com a tcnica? Mcluhan responde: O artista srio
o nico47 . Aos olhos de Mcluhan, o artista aparece como um expert
das mudanas na percepo sensorial que os meios causam. Uma nova
tcnica adormece a ateno, fecha as portas de qualquer juzo e percepo. Abre uma ferida que nunca concreta. Parece-se com a sndrome
de inadaptao. O que age, o meio, fere. Quando novo, constitui uma
operao cirrgica praticada no corpo social, com absoluto desprezo
dos antispticos48 . Alastra, na anlise de Mcluhan, infectando todo
o organismo. Por onde se introduz, a designada rea de inciso, no
o stio mais afectado, esse o stio do impacto; ao invs, torna-se
insensvel, o organismo inteiro que se altera. Altera-se a cada novo
impacto, como se altera a vida psquica e social.
A nova forma aparece como um narctico, modifica, alm dos hbitos do quotidiano, os padres de pensamento e valorao. O que buscamos uma forma de controlar as flutuaes sensoriais da perspectiva
psquica e social ou uma maneira de evit-las, de todo, precisa49 . Fica
a fazer falta uma cirurgia contrria, que de modo consciente enxerte a
nova tcnica na mente do grupo. Alcanar a imunidade a meta mais
desejada, sofrer de uma doena sem apresentar os seus sintomas. Nenhuma sociedade ainda o conseguiu, por no saber o bastante acerca
das suas aces para a desenvolver. Com a afirmao: A arte bem poderia proporcionar a imunidade, Mcluhan parece expressar o desejo
de dar de caras com exemplos de um ajuste consciente dos diversos
factores da vida privada e social s novas extenses50 . A histria da
46
Idem, Comprender los medios, p. 33
Ibidem, p. 39.
48
Ibidem, p. 85.
49
Ibidem.
50
Ibidem.
47
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
123
cultura humana um vazio a esse respeito. Os nicos esforos que
Mcluhan regista pertencem a artistas.
De acordo com Mcluhan, os artistas tm sido os nicos capazes de
captar a mensagem do desafio cultural e tcnico muito antes que se
produza o impacto transformador. Os modelos so as arcas de No que
constroem para enfrentar a mudana. Adiantam-se ao tempo, situam-se
no futuro por serem os que tm mais conscincia do presente. Vtima,
por um lado, e artista, por outro, constituem as duas faces da mesma
moeda. Um incapaz de esquivar-se violncia dos meios, o outro tem
a capacidade de ir contra a violncia. O artista, na obra de Mcluhan,
v o seu labor ser reconhecido, abordado como se de um profeta se
tratasse ou um terapeuta da preveno. Antes que uma nova tcnica
desfira o golpe sobre a conscincia e a insensibilize, o artista intervm
e corrige a relao entre os sentidos, providencia para que a insensibilidade no se adiante e tome posio de controlo. O artista dispe
da faculdade de prever e evitar os efeitos dos traumas tcnicos. A arte
experimental visa especificar a violncia cometida contra a psique que
advm da tcnica. que essas partes, ou extenses do ser humano,
se so anti-irritantes, podem fazer pior que o irritante inicial, como a
toxicomania. A considerao pela arte e pelo artista chega to alto
em Mcluhan, neste esmiuar das consequncias psquicas e sociais da
prxima tcnica, que o seu papel devm indispensvel. A anlise e a
compreenso da vida das formas no seria possvel fazer-se, defender.
No limite, a fase elctrica oferece a possibilidade de criar-se um
ambiente como se de uma obra de arte se tratasse, como apresenta
em The Medium is the Massage, o que justificar ainda mais o apreo
manifestado pelo acto criativo51 . Fica provado que os ambientes no
so envolvncias passivas, so antes processos activos, embora invisveis, e que a percepo simples iludida na estrutura difusa. Os
anti-ambientes construdos pelos artistas providenciam modos de os
ver e compreender claramente. a convico de Mcluhan, que adianta, ainda, que quem mais desenvolve comportamentos anti-sociais,
51
Idem, The Medium is the Massage, p. 68.
Livros LabCom
i
i
124
O Paradigma Mediolgico
como o poeta, o artista, quem tem a faculdade de ver os ambientes
como realmente eles so52 . O humor surge neles como o instrumento
mais anti-ambiente. utilizado para alterar percepes na experincia
imediata. Expressa-se atravs dele o cuidado crtico face aos padres
basilares do ambiente53 .
3.3
A mutao em luta processada na Histria em torno da natureza tcnica do Medium.
Uma vez que os novos ambientes causam grande revoluo nos ndices
sensoriais humanos, natural que sejam os bilogos a dar conta disso.
Mcluhan, observando os problemas relacionados com a mudana sensorial, regista a anlise de Otto Lowenstein aos pacientes cegos desde
o nascimento, ao ser-lhes conferida a viso merc de uma interveno
cirrgica. O relato feito enuncia que ao abrirem os olhos os pacientes
fogem da comoo dos novos estmulos, desejam regressar recluso
do seu antigo mundo54 . Os sujeitos, confrontados com novos ambientes, a primeira reaco que experimentam a fuga, a recusa, tendem
a olh-los como ameaadores. As tentaes de Santo Anto, pintadas
por Jernimo Bosch, no sc. XVI, so para Mcluhan reveladoras da
confuso de espaos que resultava da invaso da tcnica de Gutenberg
no mundo tctil da iconografia medieval. O quadro de Bosch exibido
como um retrato fiel da dor e da misria que acompanham a ascenso
de uma nova tcnica, evidencia as sensibilidades que esto orientadas
para ambientes tcnicos diferentes. O rock e os blues preenchero uma
52
Ibidem, p. 88.
Idem, Comprender los medios, p. 88, 91-92.
54
O facto clnico assinalado fiel ao contexto de luz e sombra da Alegoria da
Caverna platnica. Num e noutro caso o corpo todo que est implicado, apesar de
um s sentido, a viso, parecer bastar para definir a situao. Cf. Idem, Guerra y Paz
en la Aldea Global, p. 19-20.
53
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
125
pauta idntica, nascero da ameaa dos novos ambientes criados, respectivamente, pela televiso e pela rdio55 . Contudo, confirma-se que
com o passar do tempo a dor enfraquece e o que antes parecia agredir a sensibilidade passou a revelar qualidades inofensivas56 . O novo
sempre o desafio maior e a nica pessoa que no o recusa o artista,
admite Mcluhan57 . O artista alvoroa-se com as novidades da percepo que a inovao proporciona. Para o homem comum, ao contrrio,
o novo representa a dor. Para o artista, o novo representa a emoo de
descobrir novos confins e territrios para o esprito humano.
O que para a ordem poltica e ordem docente estabelecida, como
para a vida domstica, sinnimo de anarquia e desespero, para o artista coincide com a oportunidade de inventar novas identidades, colectivas e privadas. Com todas as tcnicas ocorrer o mesmo: introduzindose, provocam a experincia de se ter saltado para uma nova forma de
espao, de tempo, de realidade. Pelas razes aduzidas, inicialmente
essa nova forma ser ignorada, em seu lugar cresce a tristeza cultural
e o sentimento de dor, como aquela que experimenta o paciente que
perdeu um membro. O membro no est l, mas est l a impresso
do membro58 . No perodo de inovao de um meio reina a ignorncia,
torna-se visvel quando tende a ser substitudo. O novo funciona como
anti-ambiente do antigo. Mcluhan alerta para o assomo da questo revisionista ao querer contemplar o velho luz do novo, ignorando o novo.
Admitir que nada est mais longe da concepo da vida como readaptao ao que nos rodeia e que essa adaptao arte, arte de estar no
mundo. A posio que veicula tem um forte sentido esttico, inspirado
no taosmo para a vida asitica.
A moda no mundo ocidental desempenha o mesmo papel, irrompe
para preencher o vazio deixado nos sentidos pelas desconstrues tcnicos. Reage sensorialmente ao mundo artificial assente na viso.
55
Ibidem, p. 15.
Ibidem, p. 18.
57
Ibidem, p. 19.
58
Ibidem, p. 21. Mcluhan relata o facto de Thomas Edison, nos ltimos anos de
vida, preferir a leitura pelo sistema Braille leitura pelo sistema visual.
56
Livros LabCom
i
i
126
O Paradigma Mediolgico
anti-ambiental, sendo, tambm, criadora de ambientes. Funciona como
estratgia de oposio ao enfado decorrente do princpio que visa conservar e estabilizar permanentemente o mundo.
Ressurge o tema da dor. A ferida que a tcnica abre afecta a pessoa,
toda a sua identidade posta em perigo. Naturalmente, por conseguinte, que desate em furor de auto-defesa. Diz Mcluhan: Quando a
nossa identidade est em perigo estamos certos de termos recebido um
mandato para irmos guerra. Temos de recuperar a todo o custo a velha imagem59 . Justifica-se a naturalidade do furor da atitude de autodefesa neste contexto. A guerra tem sentido, assim, quando emerge do
mais profundo e se trata da disposio gerada na ameaa da identidade
individual e colectiva ao produzir-se uma inovao tecnolgica60 .
A tcnica nova perturba a imagem da identidade, instala o temor
e a ansiedade, o que origina a busca de outra61 . O que torna entendvel o facto de nunca como na nossa poca haver uma tal agitao
por recolher e recompor os destroos de imagens destrudas. Nunca,
como hoje, se fez sentir tanto o efeito da nostalgia. Olhar para trs
surge quase como uma inovao. Encontramo-nos dominados pelo impulso do retrovisionismo, admite Mcluhan. o espelho claro do estado
de guerra que a sociedade contempornea vive. Sacudida pela grande
quantidade de inovao tecnolgica, que excede todos os impactos gerados pelas inovaes das passadas culturas do mundo, a reaco primria conectar-se com o perodo imediatamente anterior. Buscam-se
imagens familiares e consolidadas para servir de anestsicos.
Porque que a maioria das pessoas se ajusta sempre ao meio precedente? Para Mcluhan, a questo perceptiva. Demonstra-a atravs
59
Ibidem, p. 105.
Para Mcluhan, um equvoco considerar a guerra na ptica da defesa de uma
nao contra o ataque militar de outra, uma maneira de profanar o interesse nacional,
econmico, poltico ou ideolgico, ou ainda uma maneira de manter o poder militar
de uma nao. Se assim fosse, o fim da guerra seria uma questo de procedimento do
que os guies de desarmamento propem. Ibidem, p. 128.
61
Seria interessante saber qual o grau de inovao necessrio para destruir uma
imagem.
60
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
127
da teoria do desenvolvimento perceptivo de Gaardner Murphy que, segundo ele, passa por trs fases: globalidade, diferenciao e integrao.
Na primeira, o mundo apresenta-se indistinto, na segunda surgem as figuras de fundo e s na terceira se formam os padres perceptivos62 .
Neste desenvolvimento o sujeito requer uma certa reorganizao da actividade imaginativa porque a persistncia dos melhores modelos de
percepo retardam a transformao dos modos de conscincia63 .
Porque que o novo no abordvel com facilidade pelo sujeito?
Perante o novo no h domesticao possvel, a vida no est feita,
preciso ser feita. No existe modelo prvio. Assim, o crebro v-se na
contingncia de construir modelos e substituir modelos para nos adaptarmos ao mundo e adaptarmos o mundo a ns. Tudo se passa como
se o estmulo experiencial, interno ou externo, rompesse com a unidade do modelo estabelecido. Neste momento, o crebro escolhe no
estmulo o que nele tende a integrar-se no modelo vigente, de modo a
que as clulas retomem o seu funcionamento sincrnico. No sendo
possvel integrar, o crebro testa uma outra sequncia, compara as percepes com os diversos modelos que resultam da operao at dar com
a unidade. medida que a sesso corre, o crebro cria conexes novas
e novos modelos de aco que por sua vez esto na origem de novas
sequncias64 .
O lobo central exterioriza-se nos media, permitindo observar que
o que existe primeiro o mundo e que ele que guia a percepo. A
necessidade do mundo existe primeiro em Mcluhan, ela que exerce
influncia sobre a forma em que a pessoa percebe o mundo. neste
quadro que se justifica que os meios se substituam, consistindo a consternao ao fazer-se frente a este facto na constatao de que se uns surgem por obra e graa de outros. A revoluo tecnolgica contempornea desencadeada pelo progresso cientfico que se verifica desde o
62
Ibidem, p. 20.
Soluo que evoca a mediao da imaginao transcendental kantiana expressa
na Crtica da Razo Pura entre os conceitos puros e os dados sensveis.
64
Idem, La Galaxie Gutenberg face lre lectronique, les civilisations de lge
oral limprimerie, Paris, ditions Mame, 1967, p. 8-9.
63
Livros LabCom
i
i
128
O Paradigma Mediolgico
sc. XVI, juntamente com a fragmentao em signos do nosso alfabeto.
Alude decadncia da linguagem nos confins da tcnica de Gutenberg
sem os homens da literatura darem por ela. o momento em que a palavra, depsito de informao, cede face mquina. Mcluhan recorda
as redes de informao criadas durante a guerra do Vietname e durante
a guerra fria e o ambiente favorvel que proporcionam para que se efectue um trabalho criptolgico no corpo da linguagem65 . Ao novo meio
dado adaptar-se s antigas tcnicas, interpenetrar-se, misturar-se,
interagir, conforme repete vrias vezes. Verifica, porm, a declarao de uma espcie de guerra civil, resultante das interaces entre
meios, que faz estragos na sociedade e na psique humana. Assinala,
para o provar, o encontro entre o avio supersnico, a mquina de escrever e a informao oral. Tal a velocidade deste encontro que aqueles
que vo aos confins da terra regressam sem ser capazes de soletrar o
nome do lugar onde estiveram como enviados especiais66 .
O momento do encontro de meios o momento hbrido. Para
Mcluhan o momento hbrido tem constituio positiva. O princpio
hbrido uma tcnica de descoberta criativa, essencialmente da obsolescncia do meio velho em confronto com o novo: o livro incitou
os artistas a reduzir ao mximo a forma de expresso no plano descritivo e narrativo. O advento dos meios elctricos libertou as artes dessa
camisa de fora e criou o mundo de Paul Klee, Picasso, Brague, Eisenstein, irmos Marx e James Joyce67 . O paralelismo entre os meios
uma forma ptima de despertar o homem do sentimento narctico
vivido por Narciso que eles impem. Dir-se-ia: uma forma de apaziguar os conflitos acrescentando aco humana. um momento em que
um meio aproveita a energia do outro e passam ambos a ser vistos para
alm da fronteira regular.
Uma vez mais, ao artista que Mcluhan concede a primeiridade na
ordem provisional, de como capacitar um meio a libertar a energia de
65
Idem, Guerra y Paz en la Aldea Global, p. 98-100.
Idem, Comprender los medios, p. 72.
67
Ibidem, p. 75.
66
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
129
outro68 .
3.3.1
A oposio categorial do Medium.
Estabelecida que est a importncia do medium na constituio, tanto
do psiquismo individual quanto social, examinam-se as caractersticas
intrnsecas das diversas tcnicas. McLuhan encontra o critrio da distino na oposio quente e frio, termos que vai buscar linguagem popular americana, que os utiliza para se referir ao jazz quente
de Nova-Orlees, dos anos trinta e quarenta, um jazz de improvisao, e ao jazz frio de Miles Davis, mais subtil. Os termos so ainda
utilizados popularmente para distinguir uma piada quente, diramos
picante, que bastante expressiva, de uma piada menos explcita e mais
sugestiva. Parece ser, portanto, o imediatismo da experincia a informar o critrio do quente e do frio, j que a que o calo encontra a
sua raiz, e no tanto numa teoria69 . Obviamente que as categorias em
apreo saem relativizadas, com o tempo entram em desuso, e o que
hoje pertence a uma categoria amanh pertence a outra70 . A linguagem popular pode tornar-se, assim, como o primeiro indicador de que
qualquer alterao ocorreu ao nvel perceptivo.
68
Mcluhan esclarece que o juzo provisional de que o artista dotado consiste
em concentrar-se nas mudanas, no que decorre, no processo para prever os efeitos. Compara a actividade do artista do psicanalista porque ambos se orientam
pelos contornos dos procedimentos. O juzo da descoberta que acompanhou o cientista moderno, o poeta simblico e o romance policial difere do juzo provisional.
Neste ltimo parte-se do efeito para a origem, passo a passo, e encontrando-a pode
manipular-se, obter-se o efeito desejado. Cf. Idem, La Galaxie Gutenberg, p. 58;
Idem, Comprender los medios, p. 83.
69
Sobre a distino e a perplexidade desta distino deixada aos acadmicos, cf.
Jos Rodrigues dos SANTOS, Comunicao, Lisboa, Difuso Cultural, 1992, p. 75).
70
Quente significou, primeiramente, que as pessoas estavam profundamente envolvidas, por exemplo, ao usar-se argumento quente, e frio para significar algo
de objectivo, por exemplo, atitude fria, que constitua nobreza de carcter. Depois
esta mesma frieza passou a significar falta de envolvimento. Com o termo quente
sucede o mesmo. Porm, o que est em causa indicar o grau de compromisso e
participao nas situaes.
Livros LabCom
i
i
130
O Paradigma Mediolgico
Mcluhan reparte todos os media por estas duas categorias. O princpio bsico de distino adiantado o de que no meio quente um s
sentido domina totalmente a situao. Um nico sentido basta para
comportar grande informao e deixar pouco para completar. Ao invs,
o meio frio especifica um compromisso e participao na experincia
que envolve todas as faculdades humanas. Implicitamente, segue-se a
ideia de que a riqueza em informao varia em sentido inverso da
qualidade da participao71 . Entre o meios quentes figuram a rdio, o
cinema, a fotografia, o alfabeto fontico, a leitura, a imprensa, o livro,
o papel, a atitude urbana, a valsa, por sinal a maioria das tcnicas relacionadas com a idade mecnica. Entre os meios frios contam-se o
telefone, a televiso, a fala, a escrita hieroglfica, a escrita em ideogramas, a conferncia, o dilogo, os meios pesados e pouco moldveis,
como a pedra, a atitude rstica, o twist, por sinal tcnicas afectas a uma
idade elctrica e a uma idade tribal.
O meio quente e a sua ambincia, em termos genricos, est adequado era de foras mecnicas e repetitivas, que engendra a tcnica
especializada. Tome-se o exemplo do material impresso, de padres
uniformes, o mesmo que responsvel socialmente pelas experincias
intensas e que produzem um sentimento de choque contra as estruturas
existentes. Fazem-nas entrar em colapso, como explica, sejam experincias pessoais, por exemplo, a inadaptao da mulher exploso das
tarefas domsticas em lavandarias, padarias e hospitais, sejam experincias colectivas, provocadas pela introduo do dinheiro ou da roda72 .
Qualquer meio especializado fragmenta a estrutura, produz o pnico. A sua entrada em jogo vem produzir um impacto perturbador de
ordem exclusiva, faz-se acompanhar da ideia de atraso, remedivel apenas, nas palavras de Margaret Mead, citadas em Understanding Media,
se se alterar de uma vez s o padro inteiro e o grupo por completo73 .
A mquina impe um movimento que as sociedades tm de imitar. O
71
Marshall MCLUHAN, Comprender los medios, p. 43.
Ibidem, p. 44.
73
Ibidem, p. 48.
72
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
131
desenvolvimento surge explicado como uma alterao uniforme. Tem
sentido, na sequncia, enfrentar o meio por ser programvel, por uma
questo de controlo, sendo a sociedade industrial uma sociedade de
dominao. Mcluhan refere como exemplos a prtica dos clubes britnicos de exclurem dos debates temas polmicos e o facto verificado no
Renascimento com o nascer da influncia da imprensa, tendo cortesos
e cavaleiros adoptado a postura da indiferena. A estrutura mecnica
compacta, configura situaes que podem ser pobres em participao,
mas rigorosas nas suas exigncias.
Os meios frios, contrariamente, caracterizam-se por serem de baixa
definio, ou seja, informam pouco relativamente ao que deixam para
ser completado pelo ouvinte, telespectador ou utilizador. Insistem no
processo, na construo da informao, por isso so inclusivos. Referem o improviso, que por definio de implicao profunda e de
extenso integral. Os meios frios so perspectivados como possuindo
uma estrutura mais dispersa, permitem que a variedade da experincia
humana se expresse. De acordo com Mcluhan, as tcnicas frias ou se
situam na fase tribal da histria humana, aquela onde reina a comunicao oral, onde o homem espontaneamente faz uso da totalidade dos
sentidos, harmoniosamente, ou numa terceira fase, a da electricidade.
Em ambas, o mundo pequeno e supera as divises, vive da coeso.
Explorando a imagem televisiva como meio frio e confrontando-a
com materiais quentes, Mcluhan chega a concluses que a diferenciam
no aspecto tcnico, no tipo de programao que se lhe ajusta e nas
mudanas que realizam. Admite que esta implique em profundidade,
comprometa o telespectador, dado que frente a ela se est ordem de
estmulos sensoriais envolventes e totais. Nenhum sentido fica de fora,
so-lhe entregues todos. Do lado oposto, o material impresso, de padres uniformes e a exigir rpido movimento linear, apenas requer a
faculdade visual. Aqui a totalidade dos sentidos refutada a favor de
uma exclusividade. Mcluhan assinala que com a televiso o espectador
bombardeado com impulsos luminosos que penetram na zona subconsciente da psique humana. A abundncia, no entanto, no sinal
Livros LabCom
i
i
132
O Paradigma Mediolgico
de riqueza de informao, apenas se obtm dela a formao dos contornos das coisa e em descontnuo. Os sentidos no captam os milhes
de pontos por segundo emitidos. Ainda, para o espectador formar uma
impresso ele que efectua a reduo de elementos. Por outras palavras, o telespectador quem detm o controlo tcnico da imagem. E a
ele cabe reconfigurar conscientemente os elementos que lhe so fornecidos em mosaico, sem terceira dimenso. Pormenoriza pouco o que
mostra e fornece pouca informao74 . Deixa muito para fazer a quem
v75 .
A fotografia e a imagem do cinema so mais ricas em informao. A imagem do cinema oferece muitos mais milhes de informaes
por segundo e o espectador no tem de construir a imagem, tem s de
aceit-la76 . Alm disso, a imagem do cinema e da fotografia fomentam
a iluso da terceira dimenso. A participao sensorial em televiso
de natureza convulsiva, tctil e cintica. A rdio pode funcionar como
fundo ou controlo de rudos, mas a televiso no funciona assim, tem
de se entrar nela77 . Um outro dado ressurgido do confronto enfatiza
quanto a imagem da televiso contribui para unificar a vida sensorial e
imaginativa, dilacerada, encontrando-se os sentidos separados e fragmentados pela cultura alfabetizada do ocidente.
74
Esta central falha de percepo por parte da televiso leva Mcluhan a criticar os crticos dos seus contedos, aos quais aqueles acometem grande violncia.
Mcluhan responde: Os porta-vozes das opinies censuradoras so os indivduos
semi-alfabetos do livro, totalmente ignorantes das gramticas dos jornais, da rdio
ou do cinema e que, alm do mais, receiam outro meio que no seja o livro, Ibidem,
p. 320-321.
75
aplicvel a frase de Heinrich Hertz, frequentemente citada por Mcluhan: a
imagem da consequncia a consequncia da imagem. O telespectador da televiso
o ecr, nele que a imagem se projecta. Cf. Idem, Guerra y Paz en la Aldea Global,
p. 24.
76
Da a questo perceptiva se colocar. A percepo um continuum de informao, no apresenta rupturas, por isso no tem de haver interveno do espectador na
ligao das imagens.
77
Os jovens utilizam o som da rdio para estudar, quer dizer, para se rodearem de
intimidade.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
133
partida, uma e outra categoria tcnica incompatibilizam-se. No
entender de Mcluhan, no se l um jornal como se v televiso. A
televiso tem tudo para chocar o indivduo alfabetizado, de pontos de
vista fixos e viso em perspectiva78 . Devm um meio incompreensvel
aos que esto condicionados pelo meio quente do jornal, por exemplo, centrado no confronto de opinies, no tanto na implicao em
profundidade na situao. A televiso, refere Mcluhan, no impe uniformidades, polticas, lingusticas, no incita revoluo. No um
instrumento de aquecimento, de frenesim de sociedades, como o a
rdio nas sociedades africanas, ndias ou chinesas79 .
A televiso, ao contrrio do jornal, no vista como um meio adequado para os temas quentes nem para polmicas definidas. Ela matou
o rigor. Opina Mcluhan que as declaraes no meio frio tendem a ter a
forma de aforismos e alegorias e que a imprensa, por seu turno, expande
a expresso, deletreia os significados. Este meio deixa muito menos trabalho para o leitor. O mesmo, dir Mcluhan, acontece no livro, no qual
as situaes esto completas, excepo dos policiais80 . As mudanas
em televiso paralelizam com as mudanas em pintura, nomeadamente
atravs de Czanne, do movimento Bauhaus, de E.A. Poe, Baudelaire,
Valery, T. E. Eliot, referir Mcluhan, para quem os esforos desenvolvidos, no mbito da arte, captam que a dinmica elctrica implica a
participao e a criatividade do pblico, geradora de preferncias que
se afastam da uniformidade e repetio da alfabetizao81 .
Mcluhan prova a fora subliminar da imagem televisiva ao dissemi78
O uso de meios frios em culturas quentes, como o uso da televiso no mundo
alfabetizado, ou o uso de meios quentes em culturas frias, como por exemplo o uso
da rdio em culturas no alfabetizadas, tm efeitos violentos. Mcluhan diz nesta
anlise que o humor e o jogo, imitando situaes da vida real, podem equilibrar a
tenso que da resulta. Idem, Comprender los medios, p. 50-51.
79
Ibidem, p. 316-317.
80
Ibidem, p. 316; 325.
81
Tal ser inteiramente devida s estruturas no visuais da arte ps-moderna, bem
assim como da Fsica. A pouca objectividade dos resultados destas a prova de que
no se trabalha j na extenso do poder visual. Ibidem, p. 338.
Livros LabCom
i
i
134
O Paradigma Mediolgico
nar por todo o mbito da actividade humana o seu poder. Da maneira
entusiasta como a analisa -se levado a crer ser o meio frio central
por excelncia e o que melhor pode desbloquear as resistncias que o
ambiente mecnico cria ao ambiente elctrico nascente. Da ligao
preferncia por carros pequenos, msica de Schoenberg, Stravinsky
e Bartok, passando pela educao e pela roupa, entre outros, a vertente
corporativa, tctil, o investimento no profundo e simultaneamente no
trivial, tudo se converte em desprezo pelos efeitos visuais das linhas
quentes tipogrficas, fotogrficas e cinematogrficas.
3.3.2
As trs fases de domnio das duas Categorias.
As trs idades especificadas e para que as tcnicas remetem, nelas devindo inteligveis, correspondero a trs paradigmas histricos de processamento da psique humana: o oral, o literrio e o elctrico. Por paradigma entende-se um conjunto de tcnicas de cuja harmonia resulta um
ambiente que influencia a sensibilidade e as relaes humanas. Estas,
para efectivar-se, encontram como elemento mais radical a mediao
tecnolgica.
Em Mcluhan a histria da cultura humana no a histria de um
paradigma somente, mas de trs, alternando em simultneo o poder
dos media quente e o poder dos media frio.
Paradigma Oral
A vida perceptiva do indivduo localizado no paradigma oral sai da considerao de um homem para quem o lugar que habita, a natureza que o
rodeia, os utenslios com que trabalha, est a para o religar ao divino.
Faz parte da conscincia do homem que ele no o dono do que vivo,
que no se pode apoderar do vivo, que o cosmos que o acolhe governado no por si, mas por deuses. A alimentao e a sexualidade no
so vistos como meros processos orgnicos, antes actos sacramentais,
compromissos com o sagrado.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
135
A modalidade de experincia antropolgica, o modo de ser revelada, religiosa. Mundo natural e indivduo constituem um s. O
ambiente, do qual as tcnicas so uma extenso, natural, muito longe
do meio controlado e que surtir efeitos muito diferentes sobre a percepo humana82 . Mcluhan enfatizar o estudo antropolgico das sociedades primitivas, da sua cultura, dos resultados maravilhosos alcanados, nomeadamente, o estudo feito sobre os ndios, cujos meios
apresentam resultados cobiados pelos mais civilizados83 . Aludir
ao forte sentido de esprito de grupo, ao forte sentido dos valores e
mstica. O corporativismo e o comunitarismo constituem, pois, matizes fundadores deste paradigma84 . O conjunto dos elementos que fazem parte dele, nestas condies, interage, numa perspectiva de unio
colaborante, da qual a imagem do jardim clarifica Mcluhan do grau de
unio, bem assim como ajuda a avaliar a harmonia tctil das sociedades
tribais85 . O individual no tem aqui lugar. O indivduo parte insignificante de um todo, do organismo, da famlia ou do cl. No h espao
para a iniciativa pessoal. O acto particular vale, nascena, como acto
total, porque a fragmentao no chega a acontecer, no h conscincia
dela. A situao neste todo comparada do paciente cego de Otto
Lowenstein que vive um ambiente de sonoridades. Os sons, elementos dinmicos, constituem, de certo modo, sinal da presena de outros
elementos dinmicos, como movimentos, acontecimentos e actividades
contra os quais o homem, vulnervel aos perigos do bosque ou da savana, tem de proteger-se. A divisa que adopta ouvir para entender,
coisa que reflecte o ouvido como rgo de recepo por excelncia.
A palavra brota da, dos ecos, dos barulhos da floresta. fora na-
82
Idem, La Galaxie Gutenberg, p. 87-89.
Idem, Guerra y Paz en la Aldea Global, p. 79-80.
84
Idem, La Galaxie Gutenberg, p. 17.
85
Ibidem, p. 22-23. O que se poder perceber que percepo e organizao
humanas fazem uma unidade fascinante, paradisaca. Esta uma ideia que ocorre
frequentemente na obra de Mcluhan a respeito delas, de tal modo que o que vem
depois uma profanao.
83
Livros LabCom
i
i
136
O Paradigma Mediolgico
tural, ressonante, vivente e activa, dir Mcluhan86 . Quando aparece
transporta consigo uma aura, evoca todos os sentimentos, as imagens,
os desejos que esto associados no momento. A palavra altamente
especfica e local, podendo existir uma dzia de palavras para designar o mesmo, aparecendo a subtileza da distino ligada aos aspectos
prticos da vida quotidiana87 . Acentua uma vivncia carregada de significado emocional e pessoal. Todos os sentidos a esto implicados,
o que leva Mcluhan a dizer que proporciona uma experincia violentamente hiperesttica e, essencialmente, da ordem do temporal88 . O
ambiente exterior associado ao ambiente interior, de modo a haver
s um e no dois, o da palavra e o da coisa, o do significado e o do
significante89 .
Ao esprito daquele que escuta a palavra ela impe um sentido, um
contedo, cada entoao e pronunciao reporta-se a diferentes matizes
de emoes e significados. Conforme o rito inicitico do amor pelos kikonyons, referido por Mcluhan, o importante reside em saber quais so
as palavras certas, a ordem de as dizer e a entoao. Gestos e pensamentos acompanham-nos90 . Falar tambm gesticular, vibrar, reagir.
Por outro lado, ao falar fala-se da maneira mais incoerente, como se
se fosse um analfabeto91 . prprio do sujeito que est mergulhado no
rudo no oferecer ao outro um panorama contnuo do mundo ou ser
claro completamente. O rudo provoca a incerteza, a interrogao. Os
rudos no se organizam, contradizem-se, excluem-se.
86
Ibidem, p. 25.
Os Inuit, uma sociedade de esquims, tm uma dzia de palavras para diferentes
tipos de neve: aquela sobre a qual se pode caminhar, aquela em que se afunda, a que
derrete rpido, a que se movimenta, a que seca e fica ressequida, e por a adiante. Cf.
Fred INGLIS, A Teoria dos Media, Lisboa, Vega, 1993, p. 17.
88
MCLUHAN, La Galaxie Gutenberg, p. 25. J. Ellul, debruando-se sobre a
palavra, a sua temporalidade, diz que ela se situa no centro de uma estrela aracndea,
que nunca a mesma. A estrela pe-se em movimento assim que uma outra palavra
seja pronunciada. Cf. Jacques ELLUL, La parole humili, p. 22.
89
Sempre que h brechas, existem razes para intervir o vidente.
90
MCLUHAN, op.cit., p. 25.
91
Idem, Comprender los medios, p. 95-96.
87
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
137
Atravs de Henri Bergson, Mcluhan acordou para o facto de a linguagem, enquanto tcnica, contribuir para um afastamento cada vez
maior entre o indivduo e a ideia inconsciente de que todos partilham o
mesmo mundo92 . O episdio da Torre de Babel o episdio bblico referido que revela a Mcluhan a desintegrao sofrida pela humanidade
aps esta ter sido ampliada pela linguagem. Comparar as diversas
linguagens, os diversos idiomas representantes de diversas formas de
ver, sentir o mundo e actuar nele com os estilos de vestimentas e arte.
Traduzir resulta, nesta acepo, num esforo em vo. Na ordem das
extenses humanas, a palavra para a inteligncia o que lhe permite
desembaraar-se da extensa e complicada realidade, como a roda para
os ps. Com a palavra o homem amplia-se, mas tambm se divide.
O passo lgico seguinte parece ser no traduzir as linguagens seno prescindir delas, admite Mcluhan93 . A integridade residir no
gesto, na condio pr-verbal do homem, no que fica antes de a sua voz
traduzir em som as ondas electromagnticas e seguidamente as modelar
em padres verbais, tais como o grunhido ou o grito. O gesto guardar
o gozo da unio do homem com o inconsciente colectivo. As primeiras
comunidades humanas, nas quais todos participam, so para Mcluhan
a evidncia de que h uma extenso e traduo dos rgos humanos
na estruturao do espao primitivo. Este enfoque biolgico visvel
na primeira forma de sedentarismo, que a aldeia. O agrupamento
desta era j o resultado da acelerao das actividades humanas, representa uma primitiva institucionalizao de uma sociedade que distribui
funes para que todos participem, por exemplo, nos rituais.
Segundo Mcluhan, a aldeia o modelo, o critrio, por excelncia,
para as formas urbanas em qualquer poca e em qualquer lugar. Lembra que durante a maior parte da histria da humanidade os homens
levavam uma vida de participao no bem-estar dos seus semelhantes94 . Mcluhan considera que especialmente a rdio, tcnica da idade
92
Ibidem, p. 97.
Ibidem, p. 98.
94
Ibidem, p. 115. Abre-se o debate sobre a violncia entre os homens, se ela
93
Livros LabCom
i
i
138
O Paradigma Mediolgico
elctrica, reconfigura a experincia da fala, viabiliza a retribalizao
da cultura humana. Com ela recupera-se a hiperestesia comunicativa,
a envolvncia do ouvido e de todos os outros sentidos, e recupera-se
tambm o que a cultura oral implicava comunitariamente.
nos anos trinta, em culturas como a alem, a africana, a chinesa e
a russa, mais mundanas e menos visuais, que a rdio actua como fora
arcaica, como uma ponte no tempo ressoando o passado tribal da psique destes povos. Que Hitler chegue a existir politicamente deve-se
directamente rdio [. . . ]95 . Mcluhan observa que um dos aspectos
imediatos da rdio consiste em converter uma sociedade numa nica
cmara de ressonncia. inerente natureza deste medium agir subliminarmente no mais profundo do indivduo, despert-lo para uma
experincia ntima de implicao. Oferece todo um mundo de comunicao silenciosa96 .
A rdio opera o contrrio da alfabetizao, extremada no individualismo, ressuscita a antiga rede de vnculos familiares. Renova a
ideia de que a vida social inteira uma extenso destes vnculos. Relativamente envolvncia, por igual, de todos os sentidos que a rdio
permite, Mcluhan diz que isso se deve qualidade do ouvido, sentido
que ela explora. O ouvido hiperesttico: Se nos for dado s o som de
uma pea de teatro somos obrigados a convocar todos os sentidos, no
s o da vista, explica97 . Realizamos ns a obra. A isso no estranho,
nota, o facto de que a rdio esteja sintonizada com a primeira extenso
uma consequncia da aquisio cultural, fruto de se ter concedido a cada um o poder
de decidir se quer relacionar-se com os outros ou viver apenas para si. Do ponto de
vista de Mcluhan, a civilizao necessariamente traz violncia, j que ela representa
a ampliao do poder individual. Nas sociedades primitivas mais de trinta indivduos
criam uma situao de sociabilidade insustentvel. S por uma interface que anule o
pnico de sermos muitos pensvel a globalidade mcluhaniana.
95
Ibidem, p. 307.
96
Ibidem. No caso do jovem, a potencialidade da rdio serve-lhe para desenvolver
a partir do ouvido uma espcie de isolamento. Levanta um mundo particular no meio
de uma multido (Ibidem, p. 306). s vezes utiliza o ouvido para encerrar todos os
outros sentidos.
97
Ibidem, p. 310.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
139
do sistema nervoso, a palavra. Mcluhan: O cruzamento destas duas
tcnicas mais ntimas e poderosas no podia deixar de produzir algo de
extraordinrio para a experincia humana98 .
Paradigma Literrio
O paradigma literrio incorrer numa direco oposta do paradigma
oral, constituindo, inclusive, na opinio de Mcluhan, uma revoluo
derrotista para a oralidade em matria mediolgica99 . O paradigma
literrio tem o seu alvor na inveno do alfabeto, uma tcnica que
abstrai das sonoridades certas significaes e as traduz num signo visual100 . A variedade de rudos que os seres humanos fazem passa a ser
estandardizada em poucos signos. A sua inveno vem a ser uma reduo ou traduo num espao nico da interaco complexa e orgnica
de muitos espaos. Em princpio, necessitar-se-iam muitos signos para
a infinidade de dados e operaes da experincia humana e com o alfabeto, em poucas letras, abarca-se essa mesma infinidade. Acelera-se,
portanto, o acesso imediato experincia e o seu arquivamento101 .
Na selva mgica, sonora, os signos eram inumerveis, difceis de
dominar. Esta questo est no programa do alfabeto. Mcluhan explicaa referindo-se ao mito grego do rei Cadmos, introdutor do alfabeto fontico entre os gregos. O rei arrancou os dentes do drago que havia
morto, lanou-os na terra ensopada de sangue e deles nasceu uma raa
de guerreiros que ficaram s suas ordens. Narra o mito que crescidos
e fora dos sulcos os guerreiros atiraram-se uns aos outros numa nsia
de pelejar. Mcluhan compara os dentes com as letras, ambos enfaticamente visuais102 . Como os dentes, as letras testemunham a fora
e a preciso para agarrar e devorar. O mito regista a ligao das le98
Ibidem.
Idem, La Galaxie Gutenberg, p. 14.
100
Ibidem, p. 29.
101
So as problemticas da imediatidade e da prtica arquivista que todas as formas
de mediao escondem a saltar vista.
102
Idem, Comprender los medios, p. 100-101.
99
Livros LabCom
i
i
140
O Paradigma Mediolgico
tras do alfabeto com a viso, funcionam elas como seus agentes, uma
caracterstica extensvel aos alfabetos ideogramticos, hieroglficos ou
pictogrficos. Todos so visuais103 . Porm, nenhum outro, a no ser o
fontico, ameaa a sociedade tribal104 . O facto no tem a ver com o
contedo das palavras transcritas do mundo da palavra tribal, tem a ver
com a separao das experincias auditiva e visual do homem que ele
provocou105 . O alfabeto dividiu a experincia, trocou o ouvido pelo
olho.
Na interpretao de Mcluhan, s a tcnica do alfabeto fontico se
converteu em instrumento criador do homem civilizado. Aps o alfabeto o homem estava preparado para dessacralizar o seu modo de ser,
anuncia na Gutenberg Galaxy106 . Depois de assumir uma existncia
sagrada, que valorizou religiosamente o mundo, o homem prepara-se
para se apoderar do que vivo. A tcnica criada uma tcnica da claridade, supe que o cosmos algo que se clarifica, as suas foras ocultas
ho-de desvelar-se. E a claridade consiste em conhecer as coisas uma
a uma e utilizar um sentido de cada vez. A conscincia moderna elevar potncia esta capacidade iluminadora do alfabeto traduzida na
conscincia racional.
o alfabeto que d a forma (gestalt) e o sentido ao homem ociden107
tal . Estrutur-los- como um sistema linear, sequencial, que se re103
O alfabeto ideogramtico chins tem mais de cinquenta mil caracteres, sistema
que precisa de vinte anos de treino para o seu domnio total. Nos hierglifos egpcios
abundavam os signos para todas as sequncias de vogais e consoantes. Tais alfabetos
deram origem, nas sociedades sumrias, egpcias, babilnicas e semticas a pesadas
estruturas burocrticas. O desvio para o alfabeto fontico, mais fcil de transportar,
surgiu na Grcia. Cf. Fred INGLIS, op.cit., p. 19-20; MCLUHAN, La Galaxie
Gutenberg, p. 64, 65; Idem, Comprender los medios, p. 104.
104
Mcluhan em Understanding Media regista que muitos sculos de emprego de
ideogramas na cultura chinesa no ameaaram a trama tribal, mas que basta apenas
uma gerao alfabetizada em frica para libertar o indivduo da trama tribal. Cf.
Ibidem, p. 101.
105
Ibidem.
106
Ibidem, p. 87.
107
Ibidem, p. 65.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
141
flectir na vida racional, na vida profissional, por exemplo, na cadeia de
montagem que favorece o processo de fabricao e produo. Tambm
se encontra a estruturar a organizao das cidades, o seu ordenamento e
planeamento, a instalao de condutas de saneamento e abastecimento
de gua atravs de tubos. Estrutura a poltica econmica, o sistema de
fixao uniforme de preos. A questo da dominao explicada atravs da decomposio de todo o gnero de experincias em unidades
uniformes para produzir mais rapidamente uma aco e uma alterao
de formas. Os programas industriais sero autnticos programas militares, uns e outros modelizam-se pelo alfabeto. Tornou contnuas e
uniformes, planas, as situaes em geral, explorou as capacidades ligadas vista, sua faculdade de abarcar uma multiplicidade de aspectos.
Mcluhan alude ao esquartejamento dos cinco sentidos apoiado
pela tragdia do Rei Lear e critica o facto de o sentido da vista ser isolado relativamente aos outros, contra o que constitui a essncia mesma
da racionalidade, e que a interaco dos vrios sentidos108 . Esta ausncia de relao e de conflito tida como sinnimo de irracionalidade.
D-se a eroso da riqueza da experincia, expressar109 . Desaparece
a crena nas palavras como foras naturais, vivas, cresce-se num universo em que o som perde significao. Agora a divisa ver para crer.
As relaes espacio-temporais so formuladas visualmente, concebese que a ordem essencial. E este o grande preconceito moderno,
que nem mesmo Kant e Hume detectaram110 .
O alfabeto cria a predominncia de um s sentido, um s age sobre
os outros111 . A sensibilidade humana transformou-se por completo,
108
Ibidem, p. 17.
Idem, Comprender los medios, p. 102.
110
Kant e Hume so apresentados como crticos da lgica sequencial, do dogmatismo que a envolve, contudo no descobriram que a causa oculta dessa lgica era a
tcnica do alfabeto. Hume opor que na conscincia racional no h nada de sequencial e de linear. Demonstrar que a frequncia pela cadeia de inferncias, como se
algumas coisas fossem obra de outras coisas, sua causa, se justifica pelo hbito de
adicionar algo a algo, e que isso no tem nada de racional.
111
A dualizao do pensamento grego, segundo Mcluhan, encontra aqui as suas
109
Livros LabCom
i
i
142
O Paradigma Mediolgico
rompeu-se a relao inter-sensorial, o que equivale a uma espcie de
perda de identidade. Comparando-a com a hiperestesia das culturas
orais-auditivas, dir-se-ia que a percepo dos povos civilizados perdeu finura. Uma palavra j no tem muitas maneiras de se escrever.
O alfabeto joga grande importncia na formao de variadas tcnicas.
Mcluhan aferir que est na origem, entre os gregos, das gramticas e
da cincia, da formao de uma lgica e de uma epistemologia, cujos
primeiros arautos so Plato e Aristteles112 . Tambm na concepo
do espao euclidiano, um espao julgado constante113 . Posteriormente,
no tempo e no espao homogneos, uniformes, contnuos de Descartes e Newton, da descrio do universo como anlogo a uma imensa
mquina susceptvel de ser conhecida com inteira preciso. Seria possvel localizar as suas partes no espao e a sua modificao ao longo
do tempo114 . O princpio mecnico emerge da insistncia num s sentido. Nestas condies, o jardim dissipa-se ou morre porque o jardim
a interaco do conjunto dos sentidos, uma harmonia tctil.
Berkeley ser tambm apontado como crtico desta conscincia.
Refuta Descartes e Newton por haverem completamente subtrado o
sentido da vista aco dos outros sentidos. A sua proposta de teoria defende que, apesar de vermos um espao plano, construmos um
razes. Por um ressentimento da alfabetizao, os gregos entraram em luta contra eles
mesmos, de um lado viram a inteligncia, do outro a emoo. Acentuaram de um
lado a paixo, a religio, a mstica, a tendncia para o alm, do outro a racionalidade,
a intelectualidade, o conhecimento. Aplo e Dionisos eternizam este ressentimento.
112
Os pr-socrticos formam-se ainda na cultura analfabeta e Scrates est na confluncia do mundo oral com a cultura alfabtica e visual.
113
Transcreve-se o quinto postulado da sua obra mais relevante, Elementos (stoixein): Se uma linha recta intersecta duas linhas rectas e forma ngulos internos do
mesmo lado, inferiores a dois ngulos rectos, as duas linhas rectas, se se prolongam
at ao infinito, encontram-se do lado em que ficam os ngulos inferiores a dois rectos. Cf. Euclides de Alexandria, Logos, Vol. 2, Lisboa/So Paulo, Editorial Verbo,
1990.
114
Tempo e espao fazem parte de um quadro perfeitamente rgido e determinado,
que influencia de uma maneira ou de outra as estratgias de mediar o conhecimento
nas teorias da modernidade. neste quadro que todas as sensaes so localizadas.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
143
espao tctil115 . A histria fruto do alfabeto, pressupe-se no tempo
homogneo e caracteriza-se por uma sequncia ininterrupta de acontecimentos onde cada elemento se encontra no seu lugar116 .
Mundo do trabalho e mundo da arte sofrem a forma de organizao
visual. A fragmentao e a especializao irrompem nestes domnios.
O esquema configuracional alastra-se ao plano da vida imaginativa do
indivduo, da vida emocional, da vida sensorial, da concepo das noes abstractas, ao plano das relaes sociais. Dissemina-se por todo o
lado, transformando tudo o que toca. O privilgio do sentido da vista
no deixar desafectadas as grandes querelas da delegao de autoridade que o Rei Lear tematiza e dramatiza. A dimenso nova da fora
e da riqueza a partir da possibilidade do ponto fixo que traz consigo
explorada pelos prncipes renascentistas quando visam o lugar do poder. A centralizao do poder tem aqui o seu bero. A tcnica da
perspectiva tambm responde escolha de uma posio nica e esttica, dominadora o mais possvel. O espao pictrico que cria consiste
precisamente no isolamento deliberado da vista, de uma sua imobilizao. A bidimenso da viso humana normal contrape a iluso de uma
terceira dimenso.
Mcluhan mentaliza-se do grau de irradiao da tcnica do alfabeto
na sociedade ocidental, nas suas implicaes na maneira de pensar, no
estilo cognitivo, na lgica, na observao, na deduo, num conjunto
de procedimentos impossveis de estabelecer sem ela. Primeiro com
materiais slidos como a pedra, depois com materiais facilmente transportveis como o papiro, o manuscrito e, por ltimo, a imprensa. A
escrita parte integrante do mundo visual117 . A simples aco de redigir, linha a linha, altera a vida perceptiva, permite traduzir a cultura
115
MCLUHAN, La Galaxie Gutenberg, p. 67.
Ibidem, pg.73.
117
Embora de maneira diferenciada. Apesar de visual, a cultura do manuscrito medieval mantm a proximidade com os sentidos do ouvido e do tacto. pouco propcia
ao distanciamento do observador, impe a empatia e a participao de todos os sentidos. O mesmo acontece com a cultura egpcia, grega e chinesa antigas. O facto
analisado em La Galaxie Gutenberg, p. 36.
116
Livros LabCom
i
i
144
O Paradigma Mediolgico
que antes era oral em material visual. O que era dinmico passou a
assumir um carcter esttico. O que pertenceu palavra enunciada, de
dirigir-se a uma pessoa especfica, dada escolha, a poder ler-se ou
no. O aparecimento da escrita pe fim a um estado de graa, pe fim
ao envolvimento de todos os sentidos no acto de comunicar. Dividiu
o mundo mgico do ouvido do mundo indiferente e distante da viso.
No mundo da viso tudo devm visvel, logo a magia desaparece. Se
na sociedade oral o pensamento unido aco e algum se reconhece
culpado pelo facto de pensar, na sociedade alfabetizada o pensamento
tido como distinto da aco. Faz-se caso da expresso, do direito de
dizer ou de no dizer certas coisas118 .
A fim de enfatizar o quanto a escrita alfabtica contribui para destribalizar, separar o indivduo do grupo, fundar uma individualidade
assumida, autnoma, Mcluhan relata a histria de um nativo de uma
sociedade pr-alfabtica que sabia ler. Conta que este ao ler uma carta
dirigida a algum dizia sentir-se compelido a tapar os ouvidos com os
dedos para no violentar a intimidade da carta119 .
Mcluhan pretende, atravs da histria, testemunhar o valor da intimidade fomentada pela tenso visual da escrita fontica. Em Gutenberg Galaxy escreve: prolongando numa tcnica material uma parte
do seu ser, o humano v-se obrigado a ter-se s a si120 . Fecha-se. E
o homem obrigado a devir nessa coisa nova, da que nasce a anlise linear, fragmentria e adjectiva, o impiedoso poder de uniformizao121 . A existncia dos membros da sociedade tendem a regular-se
a partir da subjectividade. As metas so buscadas no ostracismo que
o indivduo opera constrangido pela cultura. A cooperao, to caracterstica do mundo tribal, no mundo ocidental traduz-se no oposto, na
competio e rivalidade. Abrem-se carreiras aos talentosos como acon118
Ibidem, p. 26-27. Eis encontrado o princpio da questo da necessidade da liberdade de imprensa.
119
Idem, Comprender los medios, p. 96.
120
Idem, La Galaxie Gutenberg, p. 321.
121
Ibidem.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
145
tecia na repblica romana e na Frana de Napoleo122 .
Mcluhan reconhece que a escrita a extenso preferida pela sociedade alfabetizada com o fim de se manter, de preservar a constncia, o
equilbrio espacial. As vias romanas e o papiro jogaram um papel activo na sociedade ocidental123 . A imprensa de Gutenberg, no entanto,
um dos principais acontecimentos tcnicos, na opinio de Mcluhan,
desde o sc. XI. Intensificou a cultura visual. Representa, contudo, um
salto muito grande desde o alfabeto grego at imprensa por Johann
Gutenberg124 . Para Mcluhan, o advento da imprensa a chave para
compreender a razo moderna. Ao mecanizar a escrita fornece-lhe um
outro cariz. Como observa um nativo de uma sociedade pr-alfabtica,
os signos das pginas dos livros so como palavras presas, s se libertando depois de as decifrar e falando-as125 .
Innis, referido por Mcluhan em Gutenberg Galaxy, atribui imprensa o papel de suscitar o nacionalismo e as economias de mercado.
Estar na origem do mercado comum europeu. Na mesma obra, considera que com Gutenberg a Europa entrou na fase tecnolgica do progresso, uma fase caracterizada pelo facto de a mudana em si mesma se
tornar na primeira norma de vida em sociedade126 . O homem racionalista, alfabetizado, num ponto da sua evoluo ter renunciado viso
para poder manipular a matria. A atitude mecanicista newtoniana e
cartesiana so seus protagonistas127 .
O cinema inclui-se no mundo mecnico como um seu ponto de fuga
relativamente ao estado fragmentado e especializado. De acordo com
122
Idem, Comprender los medios, p. 105.
As sociedades orientais optaram por se prolongarem no tempo ao escreverem em
materiais slidos como a pedra.
124
O alfabeto surge cerca de 600 a.C.
125
Ibidem, p. 99.
126
Idem, La Galaxie Gutenberg, p. 190.
127
A insatisfao face a esta atitude mais tarde gerou teorias na Psicologia, na Sociologia e na Filosofia. Piaget, Maslow e Rogers, na Psicologia, Sorokin na Sociologia.
Em Filosofia, correntes como o Personalismo, Fenomenologia e o Existencialismo
recusam a imagem de um homem visto imagem do robot. O interesse pelo comportamento, pela percepo e criatividade faz irromper uma cincia do homem.
123
Livros LabCom
i
i
146
O Paradigma Mediolgico
Mcluhan, todo o sc. XIX manifestou preferncias por um mundo de
sonho, que representava a porta de entrada para um mundo mais pleno,
mais rico que a vida real. Escreve: Transporta-nos a outro mundo
[. . . ] abre as portas de um harm de formosas vises e de sonhos adolescentes128 . O trabalho do realizador de cinema tomado, nesta ptica, como sendo o de um construtor de fantasias, e o espectador, experimentando o mundo criado pelo cinema, aceita-o subliminarmente
e sem esprito crtico129 . Entre o cinema e o livro Mcluhan aceita que
exista uma estreita relao. Afirma que o cinema est totalmente implicado na cultura do livro130 . A linearidade exigida para a leitura de
um livro tambm se impe na sequncia flmica. O leitor do livro aceita
a imagem feita linha a linha.
O livro uma configurao possibilitada pela tcnica impressa. Na
Gutenberg Galaxy, o novo instrumento mecnico, que, para alguns,
se tornou a maior mudana que o mundo alguma vez observou, por
ter sido o primeiro artigo manufacturado sob as condies da moderna
produo em massa, s serve os idiotas. Esta a posio de Mcluhan
sobre o livro. Dir que se trata de mais um dos instrumentos da idade
mecnica que adormeceu o pblico e que no seno uma questo
de palavras, de palavras e mais palavras131 . Nos efeitos hipnticos
do livro Mcluhan encontra uma fora de homogeneizar e de reduzir
aplicada ao esprito humano. Permite que uma prtica seja repetida
vezes sem conta at penetrar no esprito humano. O livro um poder
ilimitado que os idiotas tm mo para modelar e encher de vaidade a
inteligncia humana132 . Trata-se de uma mquina de imortalizar133 .
Mcluhan termina a anlise do paradigma literrio encarando-o como
uma espcie de pecado original. Culpabiliza o alfabeto e a imprensa
pela quebra da experincia do estado de graa do homem suscitado no
128
Idem, Comprender los medios, p. 295.
Ibidem, p. 294.
130
Ibidem, p. 295.
131
Idem, La Galaxie Gutenberg, p. 309; Fred INGLIS, op.cit., p. 27.
132
MCLUHAN, op.cit., p. 318; 309.
133
Ibidem.
129
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
147
interior da cultura oral.
Paradigma electrnico
Aps o meio natural, ou no controlado, surge outro meio na cultura
humana, controlado, artificial, responsvel por um certo sonambulismo
psquico. A experincia do condicionamento de Pavlov na cultura mecnica exemplo do que o controlo do ambiente depende: da introduo de mecanismos de condicionamento dos meios que constituem
o ambiente. O condicionamento global produzido pelo condicionamento dos meios134 . Os meios so orientados para fins seleccionados. No h meios sem fins, atribuindo-se aos meios uma qualidade
de ser artificial. Quanto aos fins, estes aparecem como que maquinados, merc do engenho da concepo. O prprio homem aparece robotizado, como uma entidade orgnica sumamente especializada, que
recebeu um programa que no lhe foi dado participar na criao.
No novo meio electrnico terminamos com o laboratrio da civilizao mecnica e voltamos a ser primitivos uma vez mais135 . Mcluhan
cr que os novos meios electrnicos vo permitir o regresso da humanidade forma original136 . Tem esta convico comparando a televiso
com o cinema e vendo que no tm nada em comum. Para Mcluhan,
a televiso um meio como o ar, o calor, tem os mesmos atributos
que um meio natural, no qual a criana se nutre e faz o seu caminho. O
cinema, ao invs, to ambiental quanto um livro de contos sobre uma
cidade fantasma, ou seja, falso137 .
Siddartha, de Herman Hesse, o contributo que Mcluhan utiliza
para criticar a alienao da vida do esprito de que dois mil e quinhentos anos de alfabetizao so responsveis. O ascetismo e abnegao
134
Idem, Guerra y Paz en la Aldea Global, p. 73-74.
Ibidem, p. 75.
136
O trabalho mediolgico de Mcluhan desdobra a relao da modernidade com a
projeco da mediao no paradigma elctrico. Cf. Glenn WILLMOTT, Mcluhan or
modernism in Reverse, Toronto, University of Toronto Press, 1963.
137
Ibidem, p. 76-78.
135
Livros LabCom
i
i
148
O Paradigma Mediolgico
relatados na histria so uma forma de descobrir as territorialidades interiores face a um mundo onde as escolas e as cidades parecem no
ter sentido, bem como as normas138 . Julga que a violncia posta por
Siddartha na descoberta da sua identidade fruto da obsesso pelo
progresso evidenciado por Descartes e Newton. Os valores foram colocados de parte e produziu-se uma sociedade em que o humano acabou por ter no corao uma mquina. Uma natureza saiu desvirtuada.
Ora, com a tcnica da electricidade o progresso no tem mais sentido
e interesse139 . Na anlise mcluhaniana o homem foneticamente alfabetizado fechou as portas imaginao, habita num espao racional
ou pictrico que visualmente uniforme, contnuo, conexo. A experincia imediata passada em torno de horrios, servios para cumprir,
pesos e medidas, clculos, subtraces140 . Hoje em dia, este espao da
medida j antigo, e to estranho como um escudo de armas medieval sobre a porta de um laboratrio, diz Mcluhan141 . Mcluhan rende
tributo a quem vem pondo em causa a imagem da cultura mecnica.
No seu entender, Rousseau e os romnticos foram os primeiros a chamar a ateno para a necessidade de recuperar a integridade humana.
Oswald Spengler citado, igualmente, por Mcluhan pela dedicao a
este tema, sem, no entanto, referir um indcio clarificador das causas.
Eliot, Yeats e outros artistas descrevem como o ocidente chegou aos
seus limites. Lindberg ter expressado a sua desiluso pela tcnica mecnica do homem do ocidente, opinando que a melhor maneira de lhe
fugir decidir-se pela natureza142 . A enxurrada de jazz durante e depois da primeira guerra mundial, a msica carregada de tactilidade e de
ritmos, muito prpria do mundo analfabeto, insere-se na crtica143 .
A uma cultura fragmentada Mcluhan ope uma cultura integral que
138
Ibidem, p. 147-155.
Idem, La Galaxie Gutenberg, p. 39.
140
Jos Rodrigues dos SANTOS, op.cit., p. 72-73.
141
MCLUHAN, Guerra y Paz en la Aldea Global, p. 15.
142
Ibidem, p. 105; Idem, Comprender los medios, p. 105.
143
Idem, Guerra y Paz en la Aldea Global, p. 87-88.
139
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
149
no tem como condio a linguagem144 . Na teoria da linguagem de
Humboldt, o homem vive entre os objectos que a linguagem, justamente, lhe deixa perceber. O meu mundo a minha linguagem dir
Wittgenstein mais tarde. A linguagem , transcendentalmente, constitutiva da experincia humana. Para Mcluhan, a linguagem, concretizada numa dada lngua, condiciona o indivduo. Por esta, considera
Mcluhan, so-lhe traados os contornos de um mundo de onde no
pode sair, de onde uma s cultura visvel. Com a tcnica da electricidade, advogar, est-se em condies de viver simultaneamente
variadas culturas, em variados mundos145 . Nesta cultura, a linguagem
e o dilogo tomam a forma de interaco tecnolgica. Rompe-se com
a compartimentao cultural146 .
No domnio do paradigma elctrico no se vive no confim da monocultura tecnolgica. Por outro lado, o espao que habitamos encurtou,
nico e ressoa o som da tribo147 . Porqu? Mcluhan responde que
isso se deve ao facto de se ter recriado electronicamente a simultaneidade da Teoria do Campo de Heisenberg. A nova cultura traz de volta
o fundamento tribal da vida em comunidade, restaura a aura perdida
durante a fase do alfabeto e de Gutenberg. O mundo elctrico institui
um paradigma de multimediao tecnolgica, o que suporta a posio
de que uma era de participao e as pessoas podem ligar-se a muitos planos. O impacto psquico e social das tcnicas do mundo mecnico invertido no mundo elctrico. Aqui, tudo ocorre ao contrrio, o
impacto resultante das novas tcnicas diferente. As tcnicas elctricas criam um novo ambiente. O choque verificado introduz, segundo
Mcluhan, a anarquia e o niilismo. A morte de Deus nietzschiana a
reaco transio das imagens newtonianas s imagens einsteinianas.
Ele repara que a percepo einsteiniana no diz mais que os tomos, os
protes, os electres so peas de que a matria composta, mas que
144
Ibidem, p. 72.
Idem, La Galaxie Gutenberg, p. 39.
146
Idem, Guerra y Paz en la Aldea Global, p. 73.
147
Idem, La Galaxie Gutenberg, p. 38.
145
Livros LabCom
i
i
150
O Paradigma Mediolgico
so energia elctrica148 . Conduz-nos, adita Mcluhan, para um mundo
de vises mticas, onde o inconcebvel concebvel. Contra o intelectualismo grego, que castigou o mito crendo-o falso e irreal, o alcance
dos novos meios como amputaes macroscpicas das nossas prprias
auto-amputaes aparecem a poder proporcionar os comeos de uma
nova cincia do homem e da tcnica149 .
Mcluhan no est muito longe da libertao da mediao por intermdio da tcnica digital. A sua ideia alarga-se ao princpio de que toda
a faceta da vida humana entra nas possibilidades da arte. Dar forma
vida foi um esforo confrontado com leis e princpios de controlo,
mas nunca com a liberdade. Ora, os intentos da binica, uma cincia
surgida j em contexto elctrico, vo nesse sentido150 . Ao conectar o
mundo natural vivo com o mundo tcnico atravs de um interface
que converte o analgico do sistema nervoso num nmero binrio, pretende imitar a natureza nos casos em que desvantajosa151 . Numa das
pginas de Global Village assemelha a sociedade elctrica sociedade
agrria. As duas tm a mesma tendncia, referir, no tm objectivos, nem metas, nem tcnicas152 . sociedade do controlo ope uma
sociedade impossvel de controlar, visto toda a aco estar em relao,
num acelerado processo de relao.
A tcnica da electricidade atribui s organizaes humanas existen148
Idem, Guerra y Paz en la Aldea Global, p. 89-90.
Ibidem, p. 194.
150
Ibidem, p. 64.
151
Os resultados tm sido aplicados essencialmente no homem, relanando a ideia
do homem binico. Visa-se reconciliar, graas a microsistemas elctricos, o centro
de deciso do homem, o crebro, e o seu corpo. Os programas restritos existentes
servem pessoas que perderam os membros inferiores no seguimento de acidentes que
provocaram leso na coluna vertebral. Cf. Atta OCONNI e Christiane HOZHEY,
Rvolution Mdicale, Lhomme bionique arrive!, Science & Vie, no 927, Dcembre, 1994, p. 64-73. Embora a tica no tenha assimilado muitas das obtenes nesta
rea, para Mcluhan esta biologia electrnica supera a biologia mecanicista. A ltima explica as funes orgnicas em termos de mquinas artificiais, isto , explica o
homem como explica um objecto.
152
MCLUHAN, op.cit., p. 19.
149
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
151
tes um carcter de total relatividade. Algo que no acontecia com a
sincronizao de numerosas operaes mecnicas tendentes a produzir um objecto estandardizado153 . As novas mquinas que operam na
rea da automatizao no possuem matriz, mas um dispositivo de processamento verstil, com elas podem fazer-se sucessivamente oitenta
tipos diferentes de tubos de escape como fazer oitenta iguais, concretiza Mcluhan154 . O artigo feito por medida toma o lugar do artigo
produzido em massa. Escreve em The Medium is the Massage: O
pblico, no sentido de um vasto consenso obtido a partir de distintos
pontos de vista, acabou. Agora, a audincia de massa o sucessor do
pblico pode usar-se como uma fora criativa, participante155 . O
mais relevante na lgica elctrica o regresso flexibilidade artesanal prpria das mos, fruto do primado do processo por oposio ao
do produto. Agora a programao inclui um sem fim de alteraes
de programa156 . Incorpora um poder de adaptao inexistente na fase
mecnica157 . O que antes se fazia com vrias mquinas, numa lgica
linear, a simultaneidade, o pr tudo em jogo ao mesmo tempo, inerente tcnica elctrica, permite que se realize apenas com uma, o
computador. Esta a mquina modelo de todas as mquinas, que tem
caractersticas comuns a todas.
Tal modelo leva a que Mcluhan diga que com a antiga mquina se
obtinha o efeito de unidade orgnica, porque vrios elementos isolados
jogavam harmoniosamente, e que com a mquina elctrica comea-se
pela unidade orgnica. Tem-se como realidade imediata a sincronizao perfeita158 . Compreendia que os sistemas elctricos so ambientes
153
Idem, Comprender los medios, p. 356.
Ibidem, p. 360.
155
Idem, The Medium is the Massage, p. 22. O hipertexto pode ser o exemplo actual
que fruto de uma interdependncia criadora.
156
Idem, Comprender los medios, p. 360.
157
O conceito de mquina em evidncia resulta fortemente da influncia da ciberntica de Wiener, conforme anteriormente exposto.
158
Ibidem, p. 361.
154
Livros LabCom
i
i
152
O Paradigma Mediolgico
vivos, no amplo sentido orgnico159 . Alteram os ndices sensoriais
como qualquer tcnica, e com mais acuidade, porque os ambientes de
informao so extenses do sistema nervoso humano, logo guardam
profunda relao com a condio humana, mais que os antigos ambientes naturais. Com as novas tcnicas o sistema nervoso que colocado em funo ambiental, operando uma revoluo na sensibilidade
humana. Esclarece Mcluhan que o ambiente normal hoje o ambiente de extrema tactilidade, e penetrante, em resultado de uma energia
que circula no nosso sistema nervoso sem parar160 . O tacto, como foi
j observado, um sentido integral, pe em relao todos os outros
sentidos, da a estrutura polarizadora da nova mediao161 .
O computador, o mais extraordinrio de todos os vestidos tcnicos
que o homem jamais teve ideia de inventar, nas palavras de Mcluhan,
tornou possvel que se criasse um ambiente artificial volta do planeta 162 . D-nos um mundo no qual a mo do homem jamais pe
um p, diz com humor para enfatizar a revoluo incomparvel que
provoca na percepo e nas organizaes humanas, ao ponto de implicar socialmente o homem163 . Graas a uma mquina que prolonga o
sistema nervoso central, relaciona-se instantaneamente com a globali-
159
Idem, Guerra y Paz en la Aldea Global, p. 44.
Ibidem, p. 84.
161
Com as devidas diferenas, Mcluhan no resiste a encontrar afinidades nos estmulos estticos provocados pelo meio elctrico com aqueles provocados pelo uso
dos alucinogneos. Assim como as drogas criam novos conhecimentos interiores ao
indivduo que as usa, tambm o meio elctrico constitui uma viagem ao interior, mas
sem drogas. A sensao que geram a de se estar conectado, a de se estar envolvido,
com a diferena de que numa se est por um puro acto de engenharia e noutra por
um acto de qumica. Uma e outra atitude so realadas por igual, manifestam para
Mcluhan a revolta contra a cultura mecnica. Adiantar que no o efeito da droga
mas a participao, o repartir droga, que d um sentido de pertena e de identidade.
No o ch, o rito do ch que d dignidade sensao. o carcter tribal que o
apaixona. Cf. Ibidem, p. 90.
162
Ibidem, p. 43.
163
Ibidem.
160
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
153
dade da experincia humana164 . O isolamento da leitura do livro no
consentido por este gnero de mediao. Se se vive num macro ambiente, ento todos os que a esto, todos os humanos, se encontram,
e simultaneamente. Todos se tocam uns aos outros, esto postos perante uma situao na qual se comunicam mediante uma espcie de
gesticulao macroscpica, que no propriamente uma linguagem no
sentido vulgar165 . Corresponder-lhe- o sentimento de estar ligado
a uma escala que irrompe a barreira do espao e tempo determinado
individualmente. O gesto comunicativo de um tem alcance escala
do ambiente macroscpico. A interdependncia total o ponto de
partida, e, conclumos, tambm o ponto de chegada e o percurso166 .
Mcluhan consegue neste paradigma unir a mediao tecnolgica com
efeitos para os registos sensitivos e organizacionais.
3.4
A Utopia mcluhaniana: a Mediao Tcnica como a condio universal de ligao dos homens.
A idade electrnica no sobrevive sem a sua fonte, a electricidade,
esta o princpio da relatividade verificado nos meios electrnicos, a
rdio, a televiso, o computador; facto que se prende, ainda, com a
velocidade de operar. Numa qualquer operao, prescinde da fragmentao do processo em elementos homogneos a favor da inter-relao
instantnea. Dado a energia elctrica no possuir natureza especializada, ser independente da operao produtiva, nela primar o processo,
ser arquivo e ter caracterstica de acelerador, o que transporta, uma
unidade grande ou pequena, entra num rodopio interminvel e incontrolvel. possvel que muitos processos operativos estejam em jogo e
164
a Internet que est no horizonte.
Ibidem, p. 24-25.
166
Idem, Comprender los medios, p. 362.
165
Livros LabCom
i
i
154
O Paradigma Mediolgico
interconectarem-se, de tal modo que podem resultar da mltiplas combinaes167 .
Mcluhan acompanha a lgica elctrica e constata ser esta consentnea com uma evoluo que no uma exploso para fora, mas sim uma
imploso instantnea, a oferecer a possibilidade de uma nova montagem dos elementos168 . Para alm da velha imagem do todo que se separou em partes e criou uma estrutura centro-margem, em razo de uma
extenso que faz perigar o controlo total e se desprende, estabelecendo
novas estruturas de centro-margem, na idade elctrica as velocidades
criam novos centros em todas as partes. As margens desaparecem. As
novas tcnicas, sob o meio elctrico, vem criadas as condies para
realizar a conexo que h muito se passa no sistema nervoso central. O
instantneo abrao inclusivo, tornado possvel mediante a rede elctrica
e realizado em interface maqunico, uma extenso, precisamente, dos
impulsos nervosos. A rede global ou o mundo da aldeia global uma
figura dessa extenso das faculdades humanas ao social. Mas esta no
uma simples rede elctrica, constitui um campo unificado de experincia, sublinha Mcluhan, que assim destri a tendncia para uma
interpretao determinista destes fenmenos e ergue uma interpretao criacionista169 . A dilatao electrnica de todos os sentidos e a
traduo do mundo no computador no indiferente aos homens da teologia, entre eles, Teilhard de Chardin, que, nas palavras de Mcluhan,
revelou de imediato um entusiasmo delirante em relao a estes fenmenos170 . Facto que relana a viso da experincia humana relacionada com a tcnica. Teilhard de Chardin pressente que teologia e
tcnica esto pelo mesmo, ou que a tcnica contribui para o caminhar
da humanidade em direco ao ponto omega, um ponto que representa
um centro transcendente de criao de unificao e personalizao.
A vida vista luz de uma criao que prossegue para alm do ho167
Ibidem, p. 351-352.
Ibidem, p. 120.
169
Ibidem, p. 353.
170
Ibidem.
168
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
155
mem individual, utilizando a humanidade como seu invlucro, na esperana de um futuro de entendimento entre todos, toma-se como realizvel. Tecnicamente, cada indivduo devm co-extensivo terra inteira.
A expectativa que se produza o efeito similar ao produzido devido
proximidade fsica na sociedade de base tribal, em que por se estar no
mesmo espao isso gera troca de influncias entre os indivduos, uma
permuta tanto de elementos de ordem biolgica quanto espiritual. A
sociedade moderna aparece a Mcluhan como um mau exemplo de reencontro de uma unidade de sensibilidade, de sentimentos e de pensamentos. Com os caminhos-de-ferro, o automvel, o avio, a influncia
fsica reduz-se a quilmetros, diz Mcluhan171 . Mcluhan alude possibilidade de encontro simultneo de indivduos sob o meio elctrico
que roa a ideia de formulao mstica do acontecimento. A tcnica
elctrica, diz: promete uma condio de Pentecostes, de compreenso
e unidade universais172 .
A mediao da experincia humana pela linguagem desentendeu os
homens, o que pode ser explicado atravs do episdio da Torre de Babel. E, se assim , a salvao da harmonia e da paz entre todos passar
por adoptar uma nova mediao. O computador a mediao tecnolgica que paira no horizonte pacificador da existncia humana no sentido
particular e no sentido universal. Ora, nada deste gnero se verifica no
quadro traado em The Medium is the Massage sobre a modernidade. O
quadro a delineado muito severo com os grandes ideais que pautaram
a cultura do livro. Representando um olhar volta para ver o que est a
acontecer no confronto do mundo emergente da tcnica elctrica com
o mundo em queda da tcnica mecanicista, The Medium is the Massage passa em revista os dilemas e as principais alteraes, o primeiro
dos quais se regista nas tradicionais ideias de privado, pensamento e
aco individual173 . Padres tradicionais da tcnica mecanicista caem
por terra num sistema dirigido para o universal e instantaneidade da
171
Ibidem, p. 41.
Idem, Comprender los medios, p. 98.
173
Idem, The Medium is the Massage, p. 10.
172
Livros LabCom
i
i
156
O Paradigma Mediolgico
informao174 . O poder destas ideias era conferido pela literacia. O
livro impresso, providenciando a uniformidade repetvel da linha, cmoda viso, bem assim como a facilidade do seu transporte, cultiva o
individualismo. O homem dispe da possibilidade de ler em privado e
isolado de outros. O livro sugeriu o poder crtico do distanciamento e
do no envolvimento175 .
A ideia de privado completa-se com a ideia da propriedade de um
ponto de vista, de um olhar nico sobre a experincia, precisamente por
se estar fora dela, no se estar envolvido com ela. E completa-se com
a ideia do discurso nico. Ningum est no mesmo tempo, no mesmo
espao, tal como as palavras, cada uma no seu lugar, construindo um
mundo prprio, contguo a outro, assim surgindo o efeito de ordem.
O auto-apagamento, por sua vez, legado renascentista, fomentado na
arte. O observador da arte da renascena sistematicamente colocado
no exterior do quadro da experincia, diz Mcluhan176 . A prtica de
existncia seguida consiste em objectivar, j que sempre algo se lana
para diante de quem observa, inclusive o prprio observador. Tudo
prticas de no envolvimento no ambiente de vida. Da a dificuldade
de instituir a responsabilidade tica de cada um pelos outros. Poderia perguntar-se: no absurdo, ento, que irrompa um ponto de vista,
um discurso que vise aplicar-se experincia? Ainda: que valncia
intersubjectiva pode revestir um pensamento em tais circunstncias?
Na anlise de Mcluhan, a inveno da imprensa esgotou o anonimato,
provocou a fama literria e considerou o espao intelectual como propriedade privada. Nasce o copyright, o direito exclusivo de reproduo,
publicao.
A idade elctrica o fim de tudo isso e por uma simples razo: s
altas velocidades da comunicao elctrica os meios visuais de apreender o mundo j no servem, eles so demasiado lentos para serem
174
Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 52.
176
Ibidem, p. 53.
175
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
157
relevantes ou efectivos177 . O tempo e o espao no determinam, servem a estratgia do ponto fixo e deixam de servir um ambiente em que
o indivduo rodeado de som por todo o lado, envolvendo-o como uma
teia de aranha. O mundo do ouvido um mundo de relaes de sintonia178 . No interior da lgica elctrica no h qualquer possibilidade
de criar um ponto de vista, uma ideia pessoal, porque um mundo onde
a informao se joga uma contra a outra, a publicidade se joga contra o discurso poltico, os resultados so chocantes, a busca perene do
envolvimento assume variadas formas179 . o ambiente que foge
comunicao pessoal.
Os ideais modernos, psquicos, sociais, econmicos, polticos, tm
todos a base individual, o que, por conseguinte, de acordo com a tese
de Mcluhan, os torna observaes fragmentrias, que no contemplam
a universalidade da experincia humana. A ligao total no tem lugar
neles. luz das novas mediaes os ideais modernos so intrabalhveis, sem sentido. O que conseguiram foi, manifestamente, abolir o
mistrio; criar a arquitectura e as cidades; fizeram crescer estradas e
foras armadas, burocracia180 . E a ligao a direco dos novos
meios, no o encadeamento.
3.5
Adorno, uma crtica Mediao Tcnica
Moderna.
A exposio de Mcluhan uma crtica da mediao tcnica moderna.
Aproxima-se de Adorno, que interpreta na Escola de Frankfurt o pensamento que caracteriza o Ocidente com directa ligao tcnica. A
aproximao feita aqui para explorar a semelhana de resposta crtica
de Adorno e de Mcluhan relativamente s formas rgidas de raciocnio
177
Ibidem, p.
Ibidem, p.
179
Ibidem, p.
180
Ibidem, p.
178
63.
111.
78.
48.
Livros LabCom
i
i
158
O Paradigma Mediolgico
do paradigma mediolgico moderno, a que o primeiro deu o nome de
dialctica negativa181 .
Criticismo da modernidade. O termo modernidade caracteriza, segundo Habermas, uma abordagem terica que se refere a um feixe de
processos cumulativos que se reforam mutuamente, desde o domnio econmico ao da organizao do trabalho com vista a uma maior
produtividade, passando por questes polticas182 . A modernidade
referida como sendo um processo social que no comporta a ideia de
um estado final, de uma completude e perfeio183 . Implica a ideia
de uma progresso por conta prpria, auto-referencivel, progride
de forma auto-suficiente184 . Contudo, a acelerao dos processos sociais apenas o verso de uma cultura exausta e que se cristalizou. De
acordo com Arnold Gehlen, a cultura moderna esgotou as possibilidades nela contidas, as premissas que a fundamentavam, bem assim como
as possibilidades contrrias e antteses. Culturalmente revelou-se um
conjunto restrito. A histria das ideias est terminada, afirma Gehlen185 . No fim prognostica-se que a modernidade social no conseguir
ir muito mais longe sem o seu lado cultural, que a originou.
Hegel, para Habermas, o filsofo que assume a modernidade
181
Judith Stamps apresenta Mcluhan, a par de Innis, como crtico da modernidade,
pela anlise que efectuou dos pensamentos e hbitos que caracterizam o Ocidente no
seu todo. Considera a reflexo deste de universal importncia, que contribui para a
nossa compreenso da modernidade. Para provar o seu argumento, traz luz o seu
trabalho e confronto com o trabalho de Adorno e Benjamim, dois tericos da escola
de Frankfurt. A comparao pretende mostrar que uma escola fora da Europa est
to envolvida na crtica radical aos pontos de vista predominantes no Ocidente como
uma escola dentro da Europa. Alm disso, pretende explorar as verses diferentes
de dialctica negativa. Cf. Judith STAMPS, Unthinking Modernity, Innis, Mcluhan
and the Frankfurt School, McGill-Queens University Press, Montreal & Kignston,
London, Buffalo, 1995, p. 3-4.
182
Jrgen HABERMAS, O Discuro Filosfico da Modernidade, Lisboa, Publicaes Dom Quixote, 1990, p. 14.
183
Ibidem.
184
Ibidem, p. 15.
185
Cf. Ibidem.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
159
como problema da filosofia e faz a descoberta do seu princpio fundamentador186 . Ser a subjectividade esse princpio em geral do mundo
moderno, sendo a vida religiosa, o Estado e a sociedade, as suas encarnaes. Hegel explicar a subjectividade associando-lhe quatro tarefas: individualismo, autonomia do agir, idealismo e o direito crtica.
Neste contexto, a ideia da crtica uma ideia de referncia do pensamento moderno, um dos pressupostos, validados por Hegel, da
auto-compreenso moderna, frisa Habermas187 . Ser fundamento de
si prpria ainda um produto do iluminismo ao tempo de Hegel, que
suporta a convico de a razo poder constituir uma fora conciliadora
em face da dilacerao da experincia humana. Sero ainda vestgios
dos primrdios do cristianismo e da antiguidade, comenta Habermas.
Nietzsche entra no discurso da modernidade para destituir a dialctica do iluminismo. Diz Habermas: Nesta constelao, Nietzsche
s tem uma alternativa: ou submete mais uma vez a razo centrada no
sujeito a uma crtica imanente ou abandona o programa na sua globalidade. Nietzsche opta pela segunda via renuncia a uma nova reviso
do conceito de razo188 . Deita a razo fora e assenta no mito, com o
argumento expresso de que a origem do esprito moderno tem de voltar
ao mundo da Grcia Antiga, onde tudo era grande, natural e humano.
Esse percurso realiza-o na Origem da Tragdia. Ora, um percurso
inverso atitude utpica que caracteriza a conscincia moderna, que,
na opinio de Habermas, veda toda e qualquer ideia de regresso, de
retorno imediato s origens mticas189 . Trata-se de um incitamento
conservador.
A arte eleita por Nietzsche como sendo o lugar onde o arcaico e o
moderno se une. Assumir o valor de mediadora por excelncia no restauro da misria interior em que o homem moderno vive. Nietzsche ,
portanto, figura chave em todo este processo at aos nossos dias, sobre186
Ibidem, p. 27.
Ibidem, p. 16.
188
Ibidem, p. 91.
189
Ibidem.
187
Livros LabCom
i
i
160
O Paradigma Mediolgico
tudo em Frana, para onde a veemncia crtica se transferiu, conforme
tese de Mark Poster190 . O que se observa, paradoxalmente, que a crtica permitida excedeu-se e refutou, acabou por negar a modernidade
da qual provinha. Voltando-se contra a razo enquanto fundamento da
sua prpria validade, a crtica torna-se total, observa Habermas191 . A
razo abandonou o seu projecto, devm razo instrumental, passa a reclamar o domnio da natureza192 . Por outras palavras, a razo destruiu,
ela prpria, a humanidade que criou.
Eis, brevemente, traado o quadro do percurso que conduz teoria
crtica de Adorno, que, pelas palavras de Habermas, estava plenamente
consciente da contradio da crtica. Este l a dialctica negativa de
Adorno como se fosse uma explicao do motivo porque a modernidade milita na contradio e porque s a dialctica negativa abre uma
perspectiva de rememorao da natureza do sujeito193 . Para Habermas,
a problemtica com que Adorno se v confrontado nos princpios dos
190
Mark POSTER, Critical Theory and Poststructuralism in search of a context,
Ithaca, Cornell University Press, 1989.
191
J. HABERMAS, op.cit., p. 119.
192
Nietzsche explica o fenmeno da seguinte forma: os homens, desapossados dos
seus instintos, entregaram-se sua conscincia, ao aparelho da objectivao e disponibilizao da natureza exterior. Reduziram-se ao pensar, concluir, calcular, combinar de causas e efeitos, estes desgraados. Assim se constituiu a subjectividade.
Cf. Idem, p. 121. Recuando no tempo, aos primrdios do apoderamento filosfico da
razo, esta foi entendida indiferenciada, no que concerne sua relao com as coisas
exteriores ao homem (Theoria) e interiores (Praxis). Um esboo de ruptura no seu
cerne encontra-se, entretanto, em Aristteles, no momento em que este diferencia a
episteme (cincia) da fronesi (prudncia). No ainda a ruptura, j que a prudncia
considerada uma realidade de ordem racional, embora menor. A ciso acontecer
com o Iluminismo, na figura de Kant. Neste h, efectivamente, uma distino de ordem ontolgica na razo, reconhecendo a cada parte distinta um domnio especfico
com regras prprias, e intransponveis razo terica e razo prtica. O que equivale
a olhar dum lado a natureza, doutro a liberdade, dum lado as categorias, doutro as
Ideias, dum lado a actividade cognitiva, doutro a actividade moral, dum lado o entendimento, doutro a razo. Incompatveis. Jean Marc FERRY, Raison thorique et
raison pratique, Archives de philosophie de Droit, Tomo 36 (Droit et Science), Sirey,
1991, p. 11-16.
193
J. HABERMAS, op.cit., p. 120.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
161
anos quarenta, em termos culturais, semelhante de Nietzsche. O
horizonte experiencial , na mesma, insensvel face s formas existentes de dilogo. As encarnaes da subjectividade, a cincia, a moral, a
poltica, so denunciadas como expresso ideolgica de uma vontade
pervertida de poder194 .
No mbito do projecto amplo da Teoria Crtica da Escola de Frankfurt, a casa da atitude adorniana, h a dimenso cultural. por a que
poderemos observar o trao delineado sobre a modernidade, acompanhados do texto de Adorno (escrito em colaborao com Horkheimer),
intitulado: A Indstria Cultural, o esclarecimento como mistificao
de massas195 . A tese principal da reflexo, adiantada nas primeiras
linhas, a de que a cultura contempornea confere a tudo um ar de semelhana196 . O cinema, a rdio e as revistas, exemplos de formas de
expresso cultural, constituiro uma unidade entre elas. O texto especifica que todos os sectores da cultura so coerentes entre si, portanto
a diversidade no existe, apenas aparente. E a coerncia que cada
um manifesta por si dependente da necessria obedincia ao todo.
A uniformidade o padro da cultura contempornea. Ela atesta-se,
inclusive, no esbatimento da diferena dos pases de regime poltico
autoritrio e de regime democrtico. Os prdios administrativos no
se distinguem, afirma-se. Atesta-se, igualmente, no internacionalismo
comercial, em j no haver separao da organizao urbana da organizao rural. Por todo o lado o mesmo que impera.
A unidade evidente do macrocosmos e do microcosmos demonstra
para os homens o modelo da sua cultura: a falsa identidade do universal
e do particular, concluem os autores197 . Os projectos de urbanizao,
outro exemplo, do a ideia de que a independncia do indivduo algo
a perpetuar, o que falso, na medida em que quando so enviados
para os centros, como produtores e consumidores, j os clculos ha194
Ibidem, p. 128.
Trata-se de um ensaio includo em: T. ADORNO e M. HORKHEIMER, Dialctica do Esclarecimento, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1985, p. 113-156.
196
Ibidem, p. 113.
197
Ibidem.
195
Livros LabCom
i
i
162
O Paradigma Mediolgico
bitacionais esto instalados198 . esperada unicamente a colagem do
indivduo, do particular, determinao universal. Na prtica, o indivduo submetido vontade da sociedade. A lgica unitria verificada
consentnea com a lgica do poder absoluto do capital: as manifestaes estticas... entoam o mesmo louvor do ritmo do ao199 . A cultura
uma indstria, regulada pelo princpio regulador da obteno do lucro. O cinema e a rdio evidenciam-no, no passam de um negcio,
esto ao servio de interesses ideolgicos.
O modelo de sociedade pensado por Adorno , claramente, o do
capitalismo monopolista. Diz: Sob o poder do monoplio, toda a cultura de massas idntica200 . Significa que se trata de uma sociedade
onde o capital exerce um domnio integral sobre qualquer manifestao e para o assegurar cria-se a indstria. Exposta a tese principal do
texto, passa-se sua fundamentao, deparando-se com convices assumidas que sero refutadas. A primeira das convices inclina-se a
dar uma explicao tecnolgica da indstria cultural. Esclarece que a
padronizao se torna inevitvel em funo dos milhes de pessoas que
fazem parte da sociedade. Ser a lgica social a conduzir o processo
tcnico inerente indstria cultural. Os termos da refutao vm logo
a seguir: O que no se diz que o terreno no qual a tcnica conquista
seu poder sobre a sociedade o poder que os economicamente mais
fortes exercem sobre a sociedade201 . Por outras palavras, a lgica de
monoplio e a lgica do poder que manipula a cultura. A tcnica est
ao servio da mesma lgica. O que seria neutro, apenas instrumento,
integra a prpria lgica de monoplio. A padronizao, o sacrifcio da
diferena realizada pela tcnica no deve ser atribuda prpria tcnica, a uma qualquer lei evolutiva da tcnica, mas sua funo na
economia202 .
A segunda convico, pressuposta na primeira, inclina-se para a
198
Ibidem.
Ibidem.
200
Ibidem, p. 114.
201
Ibidem.
202
Ibidem.
199
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
163
necessidade da igualdade da satisfao das necessidades por parte de
todas as pessoas porque os padres resultam das necessidades dos consumidores. Ou seja, por uma razo democrtica do consumo do bem
cultural e resposta a uma solicitao espontnea do pblico. O que se
pe em causa a recepo do bem, se os participantes desempenham
o papel de sujeito ou o papel de objecto. A diferena posta entre o
participante ser levado a ter um espao de interveno prprio, nico,
de exerccio de uma subjectividade, e entre o participante ser entregue
a um programa, igual a outro, no qual apenas desenvolve o papel de
passivo ouvinte. No exemplo da rdio, todo o trao de espontaneidade no pblico dirigido e absorvido, numa seleco profissional203 .
O pblico est a para favorecer o sistema da indstria, uma parte
do sistema, no sua desculpa204 . Considera-se que o recurso aos desejos espontneos do pblico torna-se uma desculpa esfarrapada. A
explicao que se aproxima mais da realidade, no entender de Adorno,
que isso parte do mecanismo econmico, o qual nada produz sem
previamente ter feito uma ideia dos consumidores. No final, para todos algo est previsto205 . Ningum escapar ao plano arquitectado,
a todos ser fornecida uma obra equivalente ao nvel antecipadamente
caracterizado, produzido, e produzido em funo de si, do seu tipo. O
produto dado em funo da inteno descoberta do desejo do produto.
Ilude-se a possibilidade de escolha. O facto reportado usurpao do
esquematismo kantiano por parte da lgica da indstria. O que o esquematismo atribua ao sujeito, a saber, referir a multiplicidade sensvel aos conceitos fundamentais, ou seja colocar no sujeito a construo
da experincia sensvel, como tambm da sua forma de apreenso,
tomado pela indstria.
A racionalidade do sujeito passa a ser propriedade do sistema, pelo
que a sociedade permanece irracional, apesar de toda a racionaliza-
203
Ibidem, p. 115.
Ibidem, p. 116.
205
Ibidem.
204
Livros LabCom
i
i
164
O Paradigma Mediolgico
o, segundo a anlise crtica206 . A indstria cultural desenvolve a
ideia de que num produto cultural singular o todo e as partes se harmonizam, o que constitui a terceira convico a refutar. De dentro
da indstria cultural argumenta-se que na constituio, por exemplo,
das obras romnticas e expressionistas, o detalhe tornara-se rebelde,
mantm com o todo uma relao de oposio207 . O que prprio que
as partes venham ao primeiro plano, escondendo o todo. Oblitera-se
o efeito, a finalidade da obra, desconhece-se que meio serve. A tudo
isso deu fim a indstria cultural mediante a totalidade, isto , o que
outrora permanecia no plano da construo, ficava para o fim, ocupa o
primeiro lugar208 . A constituio invertida, fruto do predomnio do
efeito. Nada mais se conhece alm dos efeitos, daquilo a que a obra se
destina. A cultura, claramente, transforma-se em meio de um fim que
a excede, que lhe exterior. As partes, insubordinadas, so submetidas
frmula do todo, surgindo uma obra em que as partes se harmonizam
com o todo. O todo e o detalhe exibem os mesmos traos [. . . ] entre
eles no existe nem oposio nem ligao209 . Trata-se de uma harmonia construda a priori, o que vem a ser um escrnio da harmonia
conquistada, ope Adorno210 .
Avanamos para a quarta ideia defendida pela indstria cultural e
que consiste em identificar o plano do simblico com o da realidade.
Escreve-se no texto: Quanto maior a perfeio com que novas tcnicas
duplicam os objectos empricos, mais fcil se torna hoje obter a iluso
de que o mundo exterior o prolongamento, sem ruptura, do mundo
que se descobre no filme211 . Vida e arte no devem mais distinguir-se,
eis o projecto ao qual a reproduo mecnica se ps ao inteiro servio. O filme, por exemplo, denunciado na medida em que depois de
prender a ateno do espectador o adestra de modo a este se identifi206
Ibidem, p. 117.
Ibidem, p. 118.
208
Ibidem.
209
Ibidem.
210
Ibidem.
211
Ibidem.
207
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
165
car imediatamente com a realidade. A imaginao e a espontaneidade
no so mais exercidas, so atrofiadas, porque os produtos so feitos de
forma que probem a actividade intelectual do espectador212 .
Adorno considera uma violncia apenas ser pedido a ateno, que
tudo o resto decorre automaticamente. Critica que apenas a excitao
dos sentidos seja requisitada, que se desvalorize o raciocnio. O envolvimento , portanto, passivo, o produto exibido no espectculo
a consumir. Nestas condies, o acto de fruio um acto de mistificao. Quem recebe no tem de fazer nada para receber, no tem
de manifestar inteno. um acto de pura ideologizao. Sobrevm,
em seguida, a questo do estilo trabalhado no efeito, mediante tcnica
aperfeioada, a sofisticao tcnica dos produtos exibidos, e o esquema
o que a tradio impe. Ao contrrio da histria da fora criadora do
estilo no ocidente, onde tem sido a ruptura com a tradio a definir o
estilo, aqui coincide, obedece, alis, a uma sua programao, pelo que
o estilo da indstria cultural no tem mais de se pr prova em nenhum material refractrio, ao mesmo tempo a negao do estilo213 .
Refora o poder da tradio. O mesmo mantm-se. Da, o produto
apresentado no poder visar a alterao do espectador, poder visar,
somente, re-incutir o princpio da identidade. O tema encontra-se reificado por natureza, aceitvel antes que se comece a pensar nele.
Imita-se. Nada acontecendo de verdadeiramente novo, apenas se joga
ao nvel dos efeitos. A imitao colocada como algo de absoluto. O
estilo universal, tecnicamente condicionado. Os produtos sofrem de
estilizao, submetem-se a uma certa unidade de estilo, o que Nietzsche denomina de barbrie, degradao da qualidade da obra214 . O que
d substncia ao estilo violado, especificamente, o sofrimento por que
passa o artista aquando da construo da obra e a busca de um lugar do
particular no universal, uma reconciliao entre os dois. A indstria
cultural trai este segredo do estilo.
212
Ibidem, p. 119.
Ibidem, p. 122.
214
Ibidem, p. 121.
213
Livros LabCom
i
i
166
O Paradigma Mediolgico
A anlise no termina sem antes ter reconhecido a dimenso social
do fenmeno exposto. A este respeito, diz-se que a sociedade capitalista sabe muito bem reconhecer os seus, o que significa que uma
sociedade de controlo215 . Utiliza as formas em que se manifesta na
funo dominadora e de perpetuao, sendo a culpa mais grave a de
ser um outsider216 . O que no consegue acompanhar a mentalidade
conformista, que sua norma, assume o trgico. Quem no coopera
ameaado de destruio, incorre no trgico, como se fizesse parte
do seu destino. O que outrora consistia numa resistncia ao carcter
absorvente do todo, portanto se conotava com a emergncia de uma
individualidade, a indstria cultural converteu em punio posta, que
cai sobre os que infringiram as prescries da sociedade e os critrios
de avaliao de integrao ou desintegrao social de um indivduo.
Os bens culturais, naturalmente, so postos ao servio da sociedade,
contribuem para domar os instintos revolucionrios, incorporam a
vertente de aperfeioamento moral do indivduo217 .
A Indstria Cultural de Adorno reflecte, em ltimo lugar, a categoria de indivduo, dito de outro modo, a pseudo-individualidade a
que a mesma categoria reduzida. A individualidade uma iluso,
no apenas por causa da uniformizao da cultura, mas porque descobriu que a individualidade algo que se produz em srie exactamente
como as fechaduras Yale218 . Domina uma falsa individualidade, j
que ao indivduo no lhe reconhecida densidade ontolgica, fruto de
uma questo mal resolvida, desde o incio cheia de contradies. A
individuao, na opinio de Adorno, nunca chegou a realizar-se, nunca
passou do estatuto genrico de vida. O indivduo nunca se viu na unidade, desde sempre se viu entre outros, na luta aguerrida pela sobrevivncia. Passa pela ideia de privado, como oposta a uma actividade
desenvolvida na esfera da comunidade, mas a indstria cultural aloja a
215
Ibidem, p. 140.
Ibidem.
217
Ibidem, p. 143.
218
Ibidem, p. 145.
216
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
167
categoria, definitivamente, no consumo puro e simples. Trabalho, alis,
sobre a inutilidade de um investimento nesse sentido, at ao esquecimento de que j houve uma noo de vida humana219 .
As energias da sociedade canalizam-se na imitao do indivduo, e
nessa perspectiva que vista a heroificao de modelos de individualidades, para reforar a imitao. Nestas circunstncias, o indivduo
sai reificado, no tem de pensar-se. A chave para a compreenso da
influncia que a indstria cultural, em todas as manifestaes, exerce
sobre o indivduo, a ponto de o manipular como a um objecto, para
Adorno est na regresso da audio que o Ocidente vai revelando. A
esta faculdade estar ligada a capacidade de as coisas se perceberem de
maneira rodopiante, como que perpassadas pelo tempo. Para Adorno,
o declnio corresponde contrapartida sensual de um outro declnio, o
do fludo sentido do tempo, por outras palavras, a tolerncia da novidade. Aplicada msica, a anlise adorniana conclui que a inabilidade
da apreciao do seu desenvolvimento musical e a degenerescncia da
sua qualidade na fase da indstria cultural fica a dever-se ao processo
de padronizao e sofisticao que a atinge. O efeito directo a fetichizao da msica e a reificao dos sentidos220 . A msica passou a no
apresentar sons novos e a dirigir-se vida sensitiva do pblico. Passou
a excitar apenas. Alm da msica, a perda da relevncia do sentido
da audio reflecte-se no domnio comunicacional. O velho sentido da
comunicao realizado no dilogo morre. Chega ao fim, no entender
de Adorno, a permuta de ideias genunas, propriedade de indivduos
genunos, que se encontram num espao de abertura-fechamento contnuo, onde o pensamento e os sentimentos fluem221 .
Judith Stamps sintetiza a tese de Adorno da seguinte forma: Onde
no existem reais indivduos a no podem existir ideias originais, e
219
Ibidem, p. 146.
A teoria fetichista marxista o ponto de apoio da anlise de Adorno.
221
Theodor ADORNO, On the Fetish Character of Music and the Regression of
Listening, 1a ed., 1938, Andrew ARATO and Eike GERHARDT (eds.), The Essential Frankfurt School Reader, New York, Urzen Books, 1978, p. 270-279.
220
Livros LabCom
i
i
168
O Paradigma Mediolgico
onde no existem tais ideias tambm nada h para trocar222 . A individuao, conforme j foi dito, unicamente aparente, trata-se de
mero adorno numa sociedade que produz segundo a regra implcita da
uniformizao. Esta funciona como uma fora que domina. A fora
vem-lhe de configurar uma sociedade concentrada223 . A morte do dilogo a morte tambm de um meio interactivo e ao mesmo tempo desobjectivante como o som, ganhando nele o humano e o mundo forma
dinmica.
Perde a audio, mas ganha a viso. A anlise desta vitria confirma que a viso o sentido mais perfeito para a ordem racional da
modernidade, o meio mais apto propenso esttica e identitria de
perceber o mundo. A equivalncia viso/razo efectiva, a ordem do
plano fisiolgico metamorfoseia-se, prolonga-se no plano cognitivo.
Assim como a apreenso do mundo pelo sentido da vista monadolgica, tambm a apreenso do mundo pelo pensamento o . O contedo desta apreenso , depois, trabalhado em termos de lgica linear
e identitria, concluindo-se no quadro de uma Ontologia, um estudo
das formas inalterveis dos seres.
Um outro dado da anlise de Adorno reala que a viso tambm
o sentido que mais se impressiona com as comodidades que o mundo
moderno concebe, portanto, o que com ele mantm maior cumplicidade. Tendendo facilmente a encantar-se com o modo como as mquinas substituem o homem, faz com que o mundo da produo invista
cada vez mais no seu feitio e, consequentemente, na reificao do sujeito. O carcter narcisista da mediao tecnolgica moderna surge
bem vincado em Adorno. audio resta manter viva a noo de que
algo flui. Segundo Adorno, se o tempo se perdesse absolutamente as
mudanas qualitativas da sociedade ficariam incompreendidas224 . A
conaturalidade com a mudana, por parte da msica e do dilogo, serve
222
223
Judith STAMPS, op.cit., p. 31.
Mauro WOLF, Teorias da Comunicao, Lisboa, Editorial Presena, 1991, p.
78.
224
Judith STAMPS, op.cit., p. 31.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
169
a Adorno para estabelecer estas formas como as mais capazes de levar
a bom porto a tarefa de despertar da preguia natural. A fluidez e a
difusibilidade so preponderantes na escolha delas, exibindo-as uma e
outra. O que se encontra na msica encontra-se no dilogo, porm, em
questo de dialctica negativa, o ltimo vem primeiro.
Por conseguinte, a essncia do dilogo no positiva, negativa.
Dialogar entender-se- como sendo a ostentao das diferenas entre sujeitos e entre objectos, precisamente a negao das identidades.
Rejeita-se que o campo do dilogo seja tomado pelos conceitos universalmente definidos ou se use para os alcanar. Em Adorno, a natureza
fluida do dilogo devida ao seu medium, a linguagem natural. Esta
guarda, segundo ele, a ressonncia da fluidez da realidade, o seu carcter indomesticvel. A multi-dimensionalidade e a ambiguidade que a
caracterizam fazem com que nunca possa sujeitar-se ao regime de totalidade da viso. Da que Adorno defenda a sua libertao do colete de
foras em que o discurso lgico a prendeu. Historicamente, no entanto,
a linguagem natural viveu sob o colete de foras posto pela metafsica
da identidade. A tendncia abstraccionista criou a noo de que os conceitos deviam reflectir as qualidades ideais e no as qualidades reais da
vida e dos objectos.
Esta tomada de posio filosfica no sem mcula do ponto de
vista social. Adorno responsabiliza-a por no dar voz activa ao mnimo
da vida, aos pormenores de todos os dias, de todos os indivduos, e aos
acontecimentos particulares da histria. A operao abstraccionista resulta num cavar das distncias entre as diferenas reais. O projecto da
dialctica negativa, que proclama s ser amiga da metafsica no momento da sua queda, pr a claro o que fica nas margens dos objectos
depois de terem sido definidos, que para alertar a sociedade, a sua
organizao, das falhas e contradies que lhe so inerentes225 . sua
maneira, Adorno prope responder ao problema da mediao da relao dos indivduos com a Histria, como que o fragmentado no
anulvel sob o peso do universal.
225
Theodor ADORNO, Dialectique Negative, Paris, ditions Payot, 1992, p. 316.
Livros LabCom
i
i
170
O Paradigma Mediolgico
Chegados a este ponto, evidente a diferena da anlise de Mcluhan
e a da Teoria Crtica de Adorno acerca da mediao tecnolgica moderna. Esta ltima anlise procura os motivos para alm da aparncia das coisas, mais, refuta os conceitos e as explicaes que detm
a funo de a no fazer pensar e tendem a transformar-se em ideologia. Desenvolve-se, por isso, num terreno mais terico. A anlise de
Mcluhan, por sua vez, relaciona no horizonte histrico aspectos materiais da mediao e os da cultura. mais concreta na sua abordagem.
Mas tanto para Adorno quanto para Mcluhan a modernidade insensvel s formas de entendimento, dessacralizou as formas mediolgicas
da experincia e, atravs da dessacralizao, destruiu os laos sociais
originais, cujo reatamento passa pela concesso de primeiridade experincia individual, o que a tradio esqueceu. a que o dilogo de
Adorno se ancora, nas diferenas de posies, na averiguao de que
nem todas as posies so iguais.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Concluso
Experincia, Cultura e Liberdade.
De acordo com o apresentado, mediao e imediao ligam-se e so
recprocas. A mediao fica a dever o seu ser imediao, do mesmo
modo, a imediao sofre a mediao para ganhar o estatuto de ser.
Numa formulao geral do problema, entre uma e outra supe-se existir uma relao. Porm, pelo que a histria da cultura nos revela,
constatvel o contrrio. Com efeito, o mundo contemporneo deseja
viver como se no existisse fronteiras quer espaciais quer temporais.
O desejo de imediatidade, tornado visvel na actualidade pelo ciberespao, um espao universal suportado tecnicamente, onde todos
os espaos particulares se fundem, realiza o sonho do pensamento teolgico cristo de criar uma comunidade unida, assim como o sonho
do pensamento filosfico idealista de dialecticamente aceder figura
racional da Totalidade. graas ao pensamento moderno, tcnicocientfico, que a tcnica potencia o desgnio de imediao, paradoxalmente afastando-nos cada vez mais da natureza. Ainda que a mesma
tcnica tivesse posto em causa, progressivamente, a funo medial da
palavra, e com ela o sistema da representao e do simblico. O que
outrora fora baseado na separao do referente e do signo, com a lgica
a fazer a ponte, passa a ser trabalhado mecanicamente, com a particularidade de se produzir a coisa, precisamente, no momento de a enunciar.
A estratgia de controlo do referente pelo signo, correspondendo
este ltimo a uma miniaturizao do primeiro, essncia da metafsica
171
i
i
172
O Paradigma Mediolgico
ocidental, entra em crise. A mquina parece absorver alm da tarefa
criadora tambm a tarefa reflexiva. Tudo ela parece substituir. Todavia
a euforia conduziu disforia. Os regimes artsticos, morais, polticos
contemporneos so pejados de propostas de mediao. Nos seus limites interpem-se um sem nmero de mediaes.
Eis-nos a ter de voltar a privilegiar a experincia, como adverte
Adorno226 . A experincia o lugar onde o homem radica e de onde
parte qualquer sua reflexo. a ela que tem de ser concedida primeiridade na ordem ontolgica. Morar ao lado das coisas a condio que
resta, porque o que o homem tem feito trabalhar especulativamente
a experincia de maneira a desaparecer nela227 . Por isso, a sociedade
do espectculo de Guy Debord ainda no se esgotou, mudou de lugar,
e a expresso de Adorno tambm ainda no perdeu fora, porquanto o
humano continua a oprimir a natureza aos seus fins, a devir, portanto,
parte do que ele julga domar, mas a sucumbir228 .
A cultura o grande espelho do que o humano realiza no plano das
mediaes, vista como o palco onde a falncia e a promessa das mediaes acontece ao longo do tempo. Porque as mediaes sucedem-se,
sem desaparecerem, acumulam-se, e as mais recentes acordam o sentido das mais antigas, tornando-se estas as mais novas. As criaes culturais tm sido organizadas em torno de determinadas figuras, certo,
que assumem o papel de figuras chave na orientao. Ilusrias, dando a
sensao de ter tudo sob o seu domnio. Olhamos para a cultura como
sendo o devir do agir livre do homem. Na cultura ele no se experimenta submergido, antes emergente. O que cria possibilidade da sua
liberdade. Mas, conhecido o fascnio que qualquer bem cultural pode
exercer sobre o sujeito, a liberdade tem de ser tambm expurgao do
carcter fixista, contnuo e dj-vu narcotizante que os referidos bens
transportam.
A actualidade mediolgica traz liberdade novos confrontos, resul226
Ibidem, p. 39.
Ibidem, p. 150.
228
Ibidem, p. 144.
227
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
173
tantes do apoderamento mgico por parte da tcnica. O aparecimento
de instrumentos que acompanham o comportamento da vida para com
ela interagir, levanta, pelo menos, duas questes: uma, a falta de distanciamento necessrio para a consciencializao do acontecimento;
outra, a tenuidade da fronteira entre a vivncia virtual e a vivncia natural, ao ponto extremo de algum preferir a virtualidade do seu existir
e o dos outros. Os artistas, hoje, comprometidos com as novas tcnicas, tm um papel interventor nessa rea. Assim como Paul Klee,
Mondrian, Duchamp, Malevitch, entre outros, utilizavam a arte para
dar forma visvel a fenmenos invisveis, tambm os artistas envolvidos em projectos com as tcnicas mais avanadas, designadamente
os computadores e os satlites, procuram agitar os participantes, acordando neles uma atitude de desassossego, de perturbao a diversos nveis, tais como saberes, ambientes, novos modos de conhecer, de agir
e de sobreviver. Frank Popper diz que as relaes entre a cultura e as
novas tcnicas tm a inteno precisa de fazer nascer um propsito
cultural original e com sentido, sem que a incontornvel tecnocincia
tomasse a frente da cena229 . A arte busca, na poca governada pelas
novas tcnicas, contribuir para a descodificao e utilizao das novas mensagens. Considera Frank Popper que o artista tem no final do
sc. XX uma funo primordial: deve pensar e apreender as aplicaes dessas descobertas no quotidiano muito mais que um cientista230 .
Se muito mais livre de aplicar a sua imaginao que qualquer outro,
isso impe-lhe a responsabilidade da lucidez. A interpelao do artista
vem-lhe de, primeiro, todas as zonas da vida social serem invadidas
pelas novas tcnicas, segundo, pelo facto de no se poder encontrar em
experincias anteriores a soluo maneira como enfrentar esses objectos novos. A esttica, estando ligada a novas experincias, pode ter
um contributo decisivo no encarar as novas tcnicas no dia-a-dia.
229
Frank POPPER, As Imagens Artsticas e a Tecnocincia (1967-1987), Andr
Parente (org.), Imagem Mquina, Editora 34, p. 207.
230
Ibidem, p. 209.
Livros LabCom
i
i
174
O Paradigma Mediolgico
A questo do Paradigma Mediolgico de Debray.
A formulao de um paradigma sobre um dado fenmeno funciona
como quadro reflexivo desse fenmeno, uma segunda dobra dele.
uma maneira de trabalhar o fenmeno ao nvel do seu significado.
Obtm-se um paradigma de compreenso quando possvel constituir,
segundo Fernando Gil, um resultado de desenvolvimentos diversos,
se for possvel traduzir num acordo generalizado no que respeita aos
critrios de racionalidade das hipteses e aos procedimentos que verificam a sua validade231 . O quadro reflexivo cumulativo. Alm de
ser obtido por mediao lingustica: A compreenso num todo M de
cada um dos objectos distintos m no mais do que o nome, diz Giorgio Agamben. Para Giorgio Agamben, o quadro verifica uma ligao
entre conhecimentos e sequncia temporal dos objectos que no tem
origem na contingncia dos mesmos232 . Nestes termos, o desenvolvimento de paradigmas similar ao desenvolvimento das problemticas.
As situaes problemticas so focos de questes afins a outras situaes igualmente geradoras de questes e entre elas que se procura
estabelecer a coerncia. De modo que o regime de apoderamento lingustico de remediao e no de mediao, dada a natureza evasiva
dos objectos. Por isso, uma teoria da cultura obsta a que previamente se
disponha de procedimentos ideais de avaliao. Ou seja, ao constituirse um paradigma o que se interpreta no o objecto. O paradigma tem
todavia a vantagem de limitar as questes e de investir na acumulao
de sentido.
Da anlise do paradigma mediolgico mcluhaniano resulta a necessidade da constituio de um quadro deste gnero que evolua no sentido
de um programa de investigao. O Mcluhan Program in Culture and
Technology um centro onde confluem peritos das mais variadas reas,
231
Fernando GIL, Mimesis e Negao, p. 22.
Giorgio AGAMBEN, A Comunidade que vem, Lisboa, Editorial Presena, 1993,
p. 15.
232
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
175
desde tericos da comunicao a artistas, passando por cientistas, estudantes e homens de negcio. Os contributos so muito heterclitos. O
programa assenta na convico de que as mais importantes descobertas
devm da troca de saberes e experincias. , essencialmente, um programa transdisciplinar que procura combinar o conhecimento prtico
com a especulao233 .
A proposta do paradigma mediolgico de Debray evolui no sentido
de se constituir em cincia. A anlise deste paradigma dever ocupar
um lugar particular no estudo das questes da mediao. Na abertura de
Cours de Mdiologie Gnrale, Debray reivindica a autonomia de uma
disciplina que manifeste os factos de transmisso, que torne racional as
bases materiais do universo simblico. Defende que a criao de um
neologismo como o de mediologia cristalizar a tomada de conscincia
de um novo objecto de investigao num universo para o qual outras
reas disciplinares existentes no esto vocacionadas, casos da Histria
das Ideias, Cincia Poltica e Sociologia da Cultura234 . No v a mediologia como se fosse o ltimo suspiro da filosofia, mas sim como a
tentativa de preencher algumas lacunas no domnio do conhecimento,
designadamente na interpretao dos substratos tcnicos dos factos da
cultura apagados pelo idealismo e pelos paradigmas lingusticos.
mediologia interessa-lhe o utenslio na medida em que ele transforma
por completo o que o rodeia, programando o seu programador.
Na explicao da composio do termo mediologia, medio vale
pelo conjunto dos meios de transmisso e circulao simblicos235 .
Conjunto que, esclarece o autor, comeou antes da imprensa, rdio,
televiso, cinema, publicidade, antes dos designados mass-media, ou
meios de difuso de massas. Uma mesa de jantar, uma sala de biblioteca, um tinteiro, uma mquina de escrever, um circuito integrado, um
cabar, um parlamento, no so mass-media, mas enquanto lugares e
pontos de partida de difuso, enquanto cargas de sensibilidade e coor233
Derrick de KERCKHOVE, The Skin of Culture, p. XVI-XVII; XXII.
Rgis DEBRAY, Cours de Mdiologie Gnrale, p. 13.
235
Ibidem, p. 15.
234
Livros LabCom
i
i
176
O Paradigma Mediolgico
denadas sociais, pertencem ao campo mediolgico236 . Esto na origem
de uma dada forma de sociedade. O termo logia afirma o sistema,
o ponto de vista de conjunto, um ponto de vista generoso para com
as margens, os interstcios, as dissidncias237 . O pressuposto lgico
que aqui assiste o de que a inteligncia das singularidades acontece
quando se postula a ideia geral. E esse o maior respeito que Debray
evidencia para com o ideal moderno da condio de constituio de
uma cincia. o sentido forte de cumulatividade que assoma. Ter
como fundamento de procedimento a analogia, uma forma de raciocnio que relaciona variveis fenomenais distantes umas das outras,
atendo-se, unicamente, s semelhanas formais238 . A mediologia sofre
de hipermetropia, s v bem o que se encontra distncia239 . Da viso
do prximo, a mediologia da actualidade encontra-se impedida, visto
que a actualidade meditica se expe ao efeito imediato, ao indiscernvel.
No que concerne a fronteira da mediologia, Debray coloca-a entre
duas histrias, duas realidades e dois regimes lgicos. As histrias so:
a histria da relao do homem com o homem e a histria da relao
do homem com as coisas. Uma prende-se com a ordem dos factos, do
acontecer das coisas, outra com a ordem do valor, da posio sobre o
facto. Na primeira das histrias, a que pertence a arte, a religio, a mitologia e a poltica, no h tempo, cada homem contemporneo dos
seus antepassados240 . As mudanas que ocorrem no so reportadas
como progresso, so metamorfoses. Na segunda das histrias h inveno e descoberta, e dela faz parte a cincia e a tcnica. H progresso.
Se numa as coisas medeiam a relao dos homens uns com os outros,
na outra o oposto, a relao de cada um com as coisas mediada por
um outro homem. Formaliza Debray: A mediologia tem por funo
relacionar o universo tcnico com o universo mtico, o que est sem236
Ibidem.
Ibidem, p. 16.
238
Idem, Chemin Faisant, p. 58.
239
Ibidem, p. 59.
240
Idem, Cours de Mdiologie Gnrale, p. 39.
237
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
177
pre a mudar com o que permanece inaltervel241 . As realidades so as
realidades do certum e do verum. A primeira regida por crenas inverificveis e manifesta-se no universo intersubjectivo, sustentada pela
relao sujeito/sujeito. Refere-se ao que do domnio do mito, da tese,
da opinio, da doutrina. Nela no possvel ir alm da certeza. A
segunda realidade a da verdade cientfica e tcnica, a de um saber
objectivo concretizado em leis, em demonstraes. sustentada pela
relao sujeito/objecto.
As incurses da mediologia podem fazer-se num e noutro domnio,
no entanto, Debray cr que o rendimento da mediologia decresce na
ordem da razo inversa ao grau de cientificidade. H mais interesse em
investigar, por exemplo, como se pde crer e se cr ainda hoje na astrologia, na alquimia e na alma. O confronto imediato travado com o que
tido como polmico e retrico. Reporta a mediologia, o trabalho que
efectua sobre as mediaes, a um perfeito exerccio crtico. Adianta,
como exemplo, que o estudo das mediaes na investigao tcnicocientfica serviu para desmistificar a transcendncia do verdadeiro. Os
dois regimes lgicos citados so afectos s mensagens e aos enunciados. De especfico, as mensagens procuram a adequatio intellectus et
intellectus, os enunciados procuram a adequatio rei et intellectus.
As mensagens entram no campo de batalha das ideias, da guerra das
imagens e sofrem a oposio das enunciaes. Cr-se que o positivo
possa fazer recuar o mtico como a luz elctrica esvai os fantasmas de
uma casa assombrada242 . Debray no cr no fim da crena e encontra o fundamento na impossibilidade de uma auto-fundao do social
por ele mesmo, sem a necessidade intrnseca do absurdo. Defende, ao
contrrio, que uma utopia positiva que pode desaparecer numa utopia
mtica, como foi o caso do comunismo na Rssia, que desapareceu em
benefcio do mito da converso.
Repetindo Paul Valry, Debray admite que a nota obtm o valor do
241
242
Ibidem, p. 40.
Ibidem, p. 42.
Livros LabCom
i
i
178
O Paradigma Mediolgico
crdito que ns lhe atribumos243 . O juzo qualitativo da crena que
o valida como suporte, no o juzo quantitativo do facto. A crena
o suporte da economia, mas tambm o da convivncia social, da ordem jurdica, da ordem poltica, de tudo o que constitui mundo mtico.
Governar fazer crer, comeou por dizer Hobbes e de seguida Churchill244 . Todavia, no se cr em tudo da mesma maneira, no se cr
na parbola bblica como se cr numa doutrina filosfica. Crer fazer
crer, e fazer crer fazer fazer aos sujeitos da crena o que devem fazer245 . Coloca-se o problema do papel que a comunicao de um sinal
pode ter, a importncia de um homem informar outro homem porque
transmitir agir. A importncia devm sobre o instrumento que se utiliza para fazer crer. A importncia devm sobre a questo do medium.
que tambm a comunicao no produz os mesmos efeitos sempre,
diferente escutar a voz de algum que fala em pblico, de escutar a
voz de algum que l um texto sagrado na igreja. Debray defende, a
este respeito, que, articulando as modalidades de crena com os diferentes meios de difuso, a epocalidade mediolgica pode ajudar a fazer
a histria dos elos colectivos.
No centro da mediologia incrusta-se a doutrina, a crena que se fechou sobre um corpo, com estranhos que ficam de fora, convencidos
que ficam dentro, iniciados e guardies246 . A mediologia para se constituir em disciplina tem de tomar por objecto a histria das doutrinas,
s quais pertence o sufixo ismo: budismo, cristianismo, comunismo,
etc. O projecto fundar uma histria racional do que no verdadeiramente racional, mas que foi importante no teatro do mundo. Observa a
ideia que devm mito, que sofre o processo da ideologizao.
Para a mediologia no h erros a assinalar, existem pistas, percursos a referir: uma narrativa, um discurso. O programa vasto, vai
da tagarelice religio e do mexerico construo dos mais altos ide243
Ibidem, p. 43.
Ibidem, p. 44.
245
Ibidem.
246
Ibidem, p. 45.
244
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
179
ais da humanidade, passando pelo rumor, pelo pr a correr a nova de
uma descoberta cientfica247 . As cobaias vo do charlato ao Messias,
do mdico que passa por curandeiro ao guru meditico. Examina-se
a forma como evolui a credulidade pblica, omitindo parecer sobre a
validade racional deste ou daquele acto. S faz o reconhecimento dos
conhecimentos e dos efeitos da ressonncia. No seu propsito, como
enuncia Debray, inventariar as razes de um discurso, do que ele produto, mas o que que ele produz, que deslocamentos, que fechos,
rupturas, massacres, novas hierarquias, e activa248 . Inventaria as consequncias da enunciao relacionando-a com as modalidades tcnicas
usadas para que o discurso engendre contextos sociais de recepo e
efectuao. Seja uma doutrina ou religio, a validade esperada fora,
enquanto as tcnicas visam modificar comportamentos, originar escolhas249 . Nesta perspectiva, o que interessa ao medilogo no saber o
que S. Paulo escreveu, mas se o que foi escrito por ele produziu ou no
cristos.
A inquietao principal da mediologia de Debray incide sobre o
conjunto dos meios que so postos em prtica para que haja uma aco
eficaz a partir de uma ideia. Sob a sua ateno est a estrutura mediolgica da mensagem. Pergunta: 1) De que campo estratgico este discurso parte e contra o que que ele dirige os seus golpes?; 2) que corpo
de autoridade, que instituio, torna este discurso importante, digno de
ser escutado, registado e reproduzido?; 3) Qual o seu suporte?250
A estrutura mediolgica desenhada por Debray cabe dentro destas trs
perguntas. Uma ideia forte causa de qualquer coisa, coisa que de
outra ordem que o pensamento. Entretanto, ocorre uma transformao,
e a est o medilogo, como um bom co, a fungar pelos cantos251 .
Segue o rasto que as ideias deixam no movimento de fecundarem.
Debray chama a ateno para a importncia da mediologia como
247
Ibidem, p.
Ibidem.
249
Ibidem, p.
250
Ibidem, p.
251
Ibidem, p.
47.
248
49.
50.
61.
Livros LabCom
i
i
180
O Paradigma Mediolgico
campo disciplinar autnomo, por conseguinte, suscita a reflexo formal da articulao da cultura com os meios que a constituem. Tal concepo encena todavia o caminho em direco do disciplinar, o fechamento do paradigma aberto por Mcluhan. A importncia de encontrar
categorias mediolgicas, de proceder com os fenmenos segundo uma
estrutura orientada, leva a que o paradigma seja um corpo doutrinrio
sistemtico. A proposta de Debray , nessa medida, um voltar tentao de assimilar o real ao racional. Equivale a voltar a pensar como as
grandes filosofias pensam, imobilizando o real no tempo e no espao
do pensamento. Para qu pensar se o que se pensa no o que vive?252
por isso que julgamos que a reorganizao que, por exemplo, Baudrillard e Virilio operam do paradigma mcluhaniano mais til. O
conceito de cultura simulacral e o conceito de dromologia configuram
melhor a permanente mutao que afecta, na actualidade, homens e
coisas, o facto de homens e coisas j no poderem ser pensados em
termos radicais absolutos. As suas reflexes parecem-nos apresentar
conceitos para agir no interior do paradigma mediolgico e no para o
fechar.
252
Gilles DELEUZE e Flix GUATTARI, Quest-ce que la Philosophie?, Paris, Ed.
Minuit, 1991, p. 38-43.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Referncias
Textos
AAVV, Bblia Sagrada, Lisboa, Difusora Bblica, 1991.
AAVV, Mediao, Mediador, Dicionrio Bblico, So Paulo, Edies
Paulinas, 1984.
Theodor ADORNO, Dialectique Ngative, Paris, Payot, 1992.
______ On the Fetish Character of Music and the Regression of Listening, 1a ed., 1938, in Andrew ARATO and Eike GERHARDT,
(eds.), The Essential Frankfurt School Reader, New York, Urzen
Books, 1978, p. 270-279.
Theodor ADORNO e Max HORKHEIMER, Dialctica do Esclarecimento, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1985.
Giorgio AGAMBEN, A Comunidade que vem, Lisboa, Editorial Presena, 1993.
______ Moyens sans fins, Paris, ditions Payot & Rivages, 1995.
Ren ALLEAU, A Cincia dos Smbolos, Lisboa, Edies 70, 1982.
M. ANTUNES, Euclides de Alexandria, Logos, Vol.2, Lisboa/So
Paulo, Editorial Verbo, 1990.
181
i
i
182
O Paradigma Mediolgico
ARISTTELES, Categorias, Trad., introd., coment. Ricardo Santos,
Porto, Porto Editora, 1995.
______ De La Gnration et de la Corruption (De Generatione et
Corruptione), Trad. Nouvelle et notes par J.Tricot, 2o ed., Paris,
J.Vrin, 1951.
______ De lme, Trad. Nouvelle et notes par J.Tricot, Paris, Vrin,
1959.
______ Physique,Trad. Henri Charteron, Paris, Les Belles Lettres,
1973.
______ Histoire des Animaux, Trad. Nouvelle, avec introd., notes et
index par J.Tricot, Paris, J.Vrin, 1957, 2Vol.
______ Metaphysique, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1981, 2T.
______ Secondes Analytiques, Organon IV, Trad. J.Tricot, Paris,
Vrin, 1962
Giuseppe BARBAGLIO, Imagen, Diccionario Teologico Interdisciplinar III, Salamanca, Ediciones Sigueme, 1982, p. 131-145.
Roland BARTHES, Elementos de Semiologia, Lisboa, Edies 70, 1989.
______ Mitologias, Lisboa, Ed.70, 1988.
Jean BAUDRILLARD, A iluso do fim ou a greve dos acontecimentos,
Lisboa, Terramar, 1995.
______ As estratgias fatais, Lisboa, Editorial Estampa, 1991.
______ Le crime parfait, Paris, Galile, 1995.
Giuseppe BEDESCHI, Servo/Senhor, Einaudi, Vol.5 (Anthropos-Homem),
Vila da Maia, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
183
Fernando BELO, Linguagem e Filosofia, algumas questes para hoje,
Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1987.
Michael BENEDIKT, Ciberespacio, los primeros pasos, Consejo Nacional de Ciencia y Tcnica, Equipo Sirius Mexicana, Mexico,
1993.
Ernst CASSIRER, Ensaio sobre o Homem, So Paulo, Martins Fontes,
1994.
______ Linguagem, Mito e Religio, Porto, Edies Rs, 1976.
Michel de CERTEAU, La prise de parole, Paris, ditions du Seuil,
1994.
Eduardo Prado COELHO, Os Universos da Crtica, Lisboa, Edies
70, 1987.
J. M. CORTEZ e H. S. MAMEDE, Introduo s tcnicas de programao, Lisboa, Editorial Presena.
Georges COTTIER, LAthisme du jeune Marx: ses origines hgliennes, Paris, Vrin, 1959.
Maria T. CRUZ, Cultura Tcnica e Mediao, Maria Teresa CRUZ
(conc. e coord.), Inter@ctividades, Lisboa, Centro de Estudos
de Comunicao e Linguagens/FCSH-UNL, Cmara Municipal
de Lisboa-Departamento de Cultura, 1997, p. 10-14.
Ceslas CSPICQ, Mdiation, Dictionnaire de la Bible, (Supplment),
Tome V, Paris, Librairie Letauveeya et An, 1957, p. 984-1083.
Guy DEBORD, A Sociedade do Espectculo, Trad. Francisco Alves e
Afonso Monteiro, Lisboa, mobilis in mobile, 1991.
Rgis DEBRAY, Chemin Faisant, Le Dbat, no 85, Paris, ditions
Gallimard, mai-aut 95, p. 53-61.
Livros LabCom
i
i
184
O Paradigma Mediolgico
______ Cours de Mdiologie Gnrale, Paris, ditions Gallimard, 1991.
______ Manifestes Mdiologiques, Paris, ditions Gallimard, 1994.
______ Vie et Mort de lImage, Paris, ditions Gallimard, 1992.
Gilles DELEUZE e Flix GUATTARI, Quest ce que la Philosophie?,
Paris, Ed.Minuit, 1991.
Jacques DERRIDA, De la Grammatologie, Paris, Les ditions de Minuit, 1967.
______ Khra, Paris, ditions Galile, 1993.
Ren DESCARTES, Discurso do Mtodo, Porto, Porto Editora, 1989.
______ Regras para a direco do Esprito, 2a ed., Lisboa, Ed.Estampa,
1977.
Flix DUQUE, El mundo por de dentro, ontotcnica de la vida cotidiana, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1995.
Umberto ECO, O Signo, Lisboa, Editorial Presena, 1989.
______ Signo, Einaudi, 2 (Linguagem Enunciao), Vila da Maia,
Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1984.
Jacques ELLUL, La parole humilie, Paris, ditions du Seuil, 1891.
Antnio FIDALGO, Semitica, a lgica da comunicao, Covilh,
Universidade da Beira Interior, 1995.
Jean Marc FERRY, Raison thorique et raison pratique, Archives de
philosophie de Droit, Tomo 36 (Droit et Science), Sirey, 1991, p
11-16.
Dominique FOLSCHEID, Mdiation, Encyclopdie Philosophique
Universelle (Philosophie Occidentale), Paris, PUF, 1990, p. 15841585.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
185
Michel FOUCAULT, As Palavras e as coisas, uma arqueologia das
cincias humanas, Lisboa, Edies 70, 1991.
______ Surveiller et Punir, Paris, Gallimard, 1979.
Gustavo de FRAGA, Bacon (Francis), Logos, Vol.1, Lisboa/So Paulo,
Editorial Verbo, 1989.
Manuel B. Costa FREITAS, Representao, Logos, Vol.4, Lisboa/So
Paulo, Editorial Verbo, 1992.
Hans G. GADAMER, Cultura e Media, Maria Teresa CRUZ (conc.
e coord.), Inter@ctividades, Lisboa, Centro de Estudos de Comunicao e Linguagens/FCSH-UNL, Cmara Municipal de LisboaDepartamento de Cultura, 1997, p. 22-35.
Jean-Gabriel GANASCIA, Lme-machine, les enjeux de lintelligence
artificielle, Paris, ditions du Seuil, s/d.
Anthony GIDDENS, Modernity and Self-Identity, Cambridge, Polity
Press, 1991.
Fernando GIL, Mimesis e Negao, Lisboa, Imprensa Nacional/Casa
da Moeda, 1984.
Alex GILLIS, The Internet Gestalt: Prolegomenon to a Descriptive
Political Economy of the Electronic Subject, Retirado de
http://www.carleton.ca/jweston/papers/gillis.94 em Dezembro de
1997.
Carlo GINZBURG, Reprsentation: le mot, lide, la chose, Annales,
No 6, Novembre-Dcembre 1991, p. 1219-1234.
Jrgen HABERMAS, O Discurso Filosfico da Modernidade, Lisboa,
Publicaes Dom Quixote, 1990.
Livros LabCom
i
i
186
O Paradigma Mediolgico
Paul HEYER, Empire, history and communications viewed from the
margins: the legacies of Gordon Childe and Harold Innis, Retirado de http://kali.murdoch.edu.au/cntiuum/7.1/Heyer.html em
Fevereiro de 1998.
Martin HEIDEGGER, Acheminements vers la parole, Trad. Jean Beaufret, Wofgang Brokmeier et Franois Fdier, Paris, Gallimard,
1976.
______ Sobre a essncia da verdade, Trad. de Carlos Morujo, Porto,
Porto Editora, 1995.
______ The Question Concerning Technology and other essays, Translated and with an introd. by William Lovitt, New York, Harper
Torchbooks, 1977.
Fritz HEINEMAN, A Filosofia no sc. XX, Lisboa, Fundao Calouste
Gulbenkian, 1983.
HEGEL, Fenomenologia del Espritu, Trad. Xavier Zubiri, Madrid,
Revista de Occidente, 1935.
______ Enciclopdia das Cincias Filosficas em Eptome, Trad. Artur Moro, Lisboa, Edies 70, Vol.1, 1988, Vol.2, 1989, Vol. 3,
1992.
Hans HOFSTATTER, A Arte Moderna, Lisboa, Verbo, 1984.
Dennis HUISMAN, A Esttica, Lisboa, Ed.70, 1995.
Fred INGLIS, A Teoria dos Media, Lisboa, Vega, 1993.
JANKLVITCH, Le pur et limpur, Paris, Flammarion-Champs, 1979.
KIERKEGAARD, Post-Scriptum aux Miettes Philosophiques, Trad.
de D. Lepetit, Paris, Gallimard, 1949.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
187
KIRK e RAVEN, Os Filsofos Pr-Socrticos, Trad. de Carlos Fonseca, Beatriz Barbosa e Maria Pegado, 2a ed., Lisboa, Fundao
Calouste Gulbenkian, 1982.
Derrick KERCKHOVE, The skin of culture, investigating the new electronic reality, Toronto, Somerville House Publishing, 1995.
Pierre-Jean LABARRIRE, Le discours de laltrit: une logique de
lexprience, Paris, PUF, 1983.
Jean-Franois LYOTARD, O Inumano, consideraes sobre o tempo,
Lisboa, Editorial Estampa, 1990.
B. MAGGIONI, Cristianismo, su trascendencia y sus pretensiones de
absoluto, Diccionario Teolgico Interdisciplinar II, Salamanca,
Ediciones Sigueme, 1982, p. 181-191.
Karl MARX, Contribution la critique de la Philosophie du Droit de
Hegel, Trad. M. Simon, Paris, Aubier-Montaigne, 1971.
Marshall MCLUHAN, Comprender los medios de comunicacin. Las
extensiones del ser humano, Barcelona, Paids, 1996.
______ La Galaxie Gutenberg face lre lectronique, les civilisations de lge oral limprimerie, Paris, ditions Mame, 1967.
Marshall MCLUHAN e Quentin FIORE, Guerra y Paz en la Aldea
Global, Jerome AGEL (coord.), Barcelona, Ediciones Martinez,
1971.
______ The Medium is the Massage, Jerome AGEL (coord.), s/l, Penguin Books, 1967.
Maurice MERLEAU-PONTY, Phnomnologie de la perception, Paris,
Gallimard, 1945.
Pierre MESNARD, Kierkegaard, Lisboa, Edies 70, 1986.
Livros LabCom
i
i
188
O Paradigma Mediolgico
Jos A. Bragana de MIRANDA, Analtica da Actualidade, Lisboa,
Vega Universidade, 1994.
______ Espao pblico, poltica e mediao, Revista de Comunicao e Linguagens, 21-22, Lisboa, Edies Cosmos, 1995, p. 129148.
______ Notas para uma abordagem crtica da cultura (Texto policopiado).
Nicholas MIRZOEFF, Bodyscape, art, modernity and ideal figure, London, Routledge, 1995.
J. MOLLER, Mediacin, Conceptos Fundamentales de la Teologia,
Tomo II, Madrid, Ediciones Cristandad, 1966.
Alexandre F. MORUJO, Boehme (Jacob), Logos, Vol.1, Lisboa/So
Paulo, Editorial Verbo, 1989.
Hans MORAVEC, Homens e robots, Lisboa, Gradiva, 1992.
F. NIETZSCHE, Genealogia da Moral, Trad. C. J. Menezes, 6a ed.,
Lisboa, Guimares Editores, 1992.
______ Para alm do bem e do mal, Trad. H. Pluger, Lisboa, Guimares Editores, 1978.
A. OCONNI e C. HOZHEY, Rvolution Mdicale, Lhomme bionique
arrive!, Science & Vie, no 927, Dcembre,1994, p. 64-73.
Antnio PAIM, Marx (Karl), Logos, Vol.3, Lisboa/So Paulo, Editorial Verbo, 1991.
Blaise PASCAL, Penses, Prface et introd. de L. Brunschvicg, Paris,
Librairie Gnrale Franaise, 1972.
Miguel B. PEREIRA, Comunicao e Mistrio, Cenculo, XXXV,
136, 1995/96, p. 163-182.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
189
______ Filosofia e comunicao hoje (Texto policopiado).
Charles S. PEIRCE, Semitica, So Paulo, Editora Perspectiva, 1977.
Francisco V. PIRES, Dialctica, Logos, Vol.1, Lisboa/So Paulo, Editorial Verbo, 1989.
PLATO, O Banquete, Trad., int. e notas de M.T.Schiappa, Lisboa,
Edies 70, 1990.
______ Fdon, Trad. Maria T. Schiappa, Coimbra, Instituto Nacional
de Investigao Cientfica, 1983.
______ O Fedro, Trad. Pinharanda Gomes, Lisboa, Guimares Ed.,
1986.
______ Philbe, Oeuvres Compltes, texte tabli et trad. para A.Vis,
Paris, Les Belles Lettres, 1941.
______ Les Lois, Oeuvres Compltes, Trad. Edouard des Places et
Auguste Dis, Paris, Les Belles Lettres,
______ Politique, Oeuvres Compltes, Trad. Auguste Dis, Paris,
Les Belles Lettres, 1960.
______ Protagoras, Oeuvres Compltes, Trad. Louis Bodin, Paris,
Les Belles Lettres, 1966.
______ Repblica, Trad. Maria H. R. Vieira, Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1983.
______ O Sofista, Trad. e notas de Jos C. Sousa, Jorge Paleikat e Joo
C. Costa, Col. Os Pensadores, So Paulo, Ed. Nova Cultural,
1991.
______ O Timeu, Prefcio, verso e notas de M. Pinto, Porto, Imprensa
Moderna, 1952.
Livros LabCom
i
i
190
O Paradigma Mediolgico
PLOTINO, Enneades, Texte tabli et traduit par E. Brehier, Paris, Les
Belles Lettres, 1o T, 1954, 2o T, 1956, 3o T, 1956, 4o T, 1927, 5o T,
1956, 6o T, 1954.
Frank POPPER, A Arte cintica e a Op Art in Histria da Arte,
Edices Alfa, Vol. 10.
______ As Imagens Artsticas e a Tecnocincia (1967-1987), Andr
PARENTE (org.), Imagem Mquina, Editora 34.
______ Visualization, Cultural Mediation and Dual Creativity. Retirado de http://www.leonardo.info/isast/articles/popper.html em
Janeiro de 1998.
Mark POSTER, Critical Theory and Poststruturalism in search of a
context, Ithaca, Cornell University Press, 1989.
Philippe QUAU, Metaxu, thorie de lart intermdiaire, Seyssel, Champ
Vallon, 1989.
Enrico RAMBALDI, Mediao, Einaudi, (Dialctica), Vol. 10, Porto,
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1988, p. 143-174.
Keith READER, Rgis Debray, a critical introduction, London, Pluto
Press, 1995.
Michel RENAUD, A essncia da tcnica segundo Heidegger, Revista
Portuguesa de Filosofia, 45, 1989, p. 349-378.
______ Categoria, Logos, Vol. 1, Lisboa/So Paulo, Editorial Verbo,
1989.
Paul RICOEUR, O conflito das interpretaes, Porto, Ed. Rs, 1988.
Adriano D. RODRIGUES, Comunicao e Cultura, Lisboa, Editorial
Presena, 1994.
______ Introduo Semitica, Lisboa, Ed. Presena, 1991.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
191
Jos R. SANTOS, Comunicao, Lisboa, Difuso Cultural, 1992.
M. SANTOS e LIMA, O saber e as mscaras, Porto, Porto Editora,
1988.
Leo SCHEERER, La dmocratie virtuelle, Paris, Flammarion, 1994.
FRANZ J. SCHIERSE, Mediador, Conceptos Fundamentales de la
Teologia, Tome II, Madrid, Ediciones Cristandad, 1966.
SCHOPENHAUER, Esboo de Histria da Teoria do Ideal e do Real,
(Dos Parerga e Paralipomena), Trad., pref. e notas, Vieira de Almeida, 2a edio, Biblioteca Filosfica, Coimbra, Atlntida, 1966.
J. Alberto SOGGIN, Ad immagine et somiglianza di Dio, AAVV, Atti
del simposio per il XXV dellABI, Brescia, 1975.
Judith STAMPS, Unthinking Modernity, Innis, Mcluhan and the Frankfurt School, McGill-Queens University Press, Montreal & Kingston, London, Buffalo, 1995.
Bernard STIEGLER, Philosophie et mdias, Travail mdiologique,
no 1, Juillet 1996. Retirado de
http://www.mediologie.org/travaux.htm em Maro de 1998.
______ La croyance de Rgis Debray, Le Dbat, no 85, Paris, ditions Gallimard, mai-aot 1995, p. 44-52.
Eduardo SUBIRATS, La Cultura como Espectculo, Madrid, Fondo de
Cultura Economica, 1988.
Serge TISSERON, Le mythe de la reprsentation. Retirado de
http://www.mediologie.org/travaux.htm em Maro de 1998.
Paul VIRILIO, La vitesse de libration, Paris, Galile, 1995.
Jean WAHL, tudes kierkegaardiennes, Paris, Vrin, 1967.
Livros LabCom
i
i
192
O Paradigma Mediolgico
Glenn WILLMOTT, Mcluhan, or Modernism in Reverse, Toronto, University of Toronto Press, 1963.
WITTGENSTEIN, Tratado Lgico-Filosfico, Trad. M. S. Loureno,
Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1987.
Mauro WOLF, Teorias da Comunicao, Lisboa, Editorial Presena,
1991.
Benjamin WOOLEY, Virtual Worlds, Oxford, Basil Blackwell, 1992.
Jean-Jacques WUNENBURGER, A Razo Contraditria, Cincias e
Filosofia Modernas: o pensamento complexo, Lisboa, Instituto
Piaget, 1995.
Web Sites
Maastricht Mcluhan Institute
http://www.mmi.unimaas.nl
Mcluhan Global Research Network
http://www.mcluhan.org/
Mcluhan Studies Journal
http://www.epas.utoronto.ca/mcluhan-studies/mstudies.htm
The Marshall Mcluhan Center on Global Communications
http://www.mcluhanmedia.com/
The Mcluhan Program in Culture and Technology
http://www.mcluhan.utoronto.ca
http://www.chass.utoronto.ca/mcluhan-studies/
Le site de la mdiologie
http://www.mediologie.org/
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
Jos Antnio Domingues
193
Rgis Debray
http://www.regisdebray.com/
Stelarc
http://www.culture.com.au/metabody/
Livros LabCom
i
i
Você também pode gostar
- O Princípio Responsabilidade - Hans JonasDocumento181 páginasO Princípio Responsabilidade - Hans JonasJosé Carlos Moreira100% (1)
- Indústria 4.0: impactos sociais e profissionaisNo EverandIndústria 4.0: impactos sociais e profissionaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Davydov Tradução Problems of Developmental Teaching (Livro)Documento263 páginasDavydov Tradução Problems of Developmental Teaching (Livro)Rafael MonteiroAinda não há avaliações
- A Inteligência Da Complexidade - Edgar MorinDocumento263 páginasA Inteligência Da Complexidade - Edgar MorinTiago Lacerda100% (3)
- 20131209-Americo Pereira 2013 Obras 1 Estudos Sobre A Filosofia de Louis LavelleDocumento157 páginas20131209-Americo Pereira 2013 Obras 1 Estudos Sobre A Filosofia de Louis LavelleMarjorie ChenedeziAinda não há avaliações
- O Homem Egípcio PDFDocumento137 páginasO Homem Egípcio PDFNelson Neto100% (1)
- ANTOINE, André - Diálogos Sobre A Encenação PDFDocumento32 páginasANTOINE, André - Diálogos Sobre A Encenação PDFCássiaAinda não há avaliações
- Livro Pra Ver Quimica OrganicaDocumento16 páginasLivro Pra Ver Quimica Organicasbabarros100% (1)
- 20110819-Morais Susana ComunicacaoDocumento165 páginas20110819-Morais Susana ComunicacaomobcranbAinda não há avaliações
- 20190514-Amaral Margarida 2019 Ecos SilencioDocumento15 páginas20190514-Amaral Margarida 2019 Ecos SilencioRui PiresAinda não há avaliações
- Carmelo Luis Comunicacao Profetica Codificacao OrtodoxiaDocumento122 páginasCarmelo Luis Comunicacao Profetica Codificacao OrtodoxiaChristofferyuriAinda não há avaliações
- Goepfert emDocumento514 páginasGoepfert emIri IrinaAinda não há avaliações
- Anabela Gradim - Teoria Do Sinal em João de São TomásDocumento137 páginasAnabela Gradim - Teoria Do Sinal em João de São Tomásbrcosta.contabilidadeAinda não há avaliações
- Américo Pereira - Alegorias - Do - Bem - Politeia - Platao PDFDocumento65 páginasAmérico Pereira - Alegorias - Do - Bem - Politeia - Platao PDFtomascbAinda não há avaliações
- Serra Paulo o Devir e Os Limites Da CienciaDocumento13 páginasSerra Paulo o Devir e Os Limites Da CienciaGiulia CaselatoAinda não há avaliações
- Análise Semiótica Do Corpo PDFDocumento274 páginasAnálise Semiótica Do Corpo PDFhesaviAinda não há avaliações
- Paul Ricoeur o Perdao Pode CurarDocumento10 páginasPaul Ricoeur o Perdao Pode Curarheloisaalmeida113Ainda não há avaliações
- Elias Herlander A Galaxia de AnimeDocumento371 páginasElias Herlander A Galaxia de AnimeRPAinda não há avaliações
- Dialética Das Consciências (Vicente Ferreira Da Silva)Documento401 páginasDialética Das Consciências (Vicente Ferreira Da Silva)estudosdoleandro sobretomismo100% (1)
- Arquitectura AutonomiaDocumento238 páginasArquitectura AutonomiaAmana FaresAinda não há avaliações
- Alex Florian HeilmairDocumento147 páginasAlex Florian HeilmairPéricles MendesAinda não há avaliações
- A. de Sá. HEIDEGGER E A ESSÊNCIA DA UNIVERSIDADE PDFDocumento48 páginasA. de Sá. HEIDEGGER E A ESSÊNCIA DA UNIVERSIDADE PDFBruno GianezAinda não há avaliações
- AcompanhamentoDocumento226 páginasAcompanhamentoHugo SilvaAinda não há avaliações
- Husserl Conferencias de ParisDocumento44 páginasHusserl Conferencias de ParisJuan Juan67% (3)
- Domingues Jose Diferendo Comunicacao LyotardDocumento15 páginasDomingues Jose Diferendo Comunicacao LyotardBreno GuimarãesAinda não há avaliações
- 15 10 23 Monografia DeulateuDocumento40 páginas15 10 23 Monografia DeulateuCelestino NhoelaAinda não há avaliações
- A Viragem Da Filosofia - Moritz SchlickDocumento14 páginasA Viragem Da Filosofia - Moritz SchlickAndréiaBorbaChiesAinda não há avaliações
- DILTHEY. Os Tipos de Concepção de MundoDocumento59 páginasDILTHEY. Os Tipos de Concepção de MundoFracisco Francijési Firmino100% (1)
- Repensar Portugal, A Europa e A GlobalizaçãoDocumento1.204 páginasRepensar Portugal, A Europa e A GlobalizaçãoLuiz Eduardo OliveiraAinda não há avaliações
- Homo ConsuptorDocumento232 páginasHomo ConsuptorBárbara G. FerreiraAinda não há avaliações
- Vitrine e Vidraça PDFDocumento20 páginasVitrine e Vidraça PDFJoão Marciano NetoAinda não há avaliações
- Ajup Texto 4Documento134 páginasAjup Texto 4bvaladaresAinda não há avaliações
- Capa Deulateu - CópiaaaaaaDocumento38 páginasCapa Deulateu - CópiaaaaaaCelestino NhoelaAinda não há avaliações
- 256 - Lucio Alvaro MarquesDocumento436 páginas256 - Lucio Alvaro MarquesFredericoAinda não há avaliações
- Serra Paulo Manual Teoria ComunicacaoDocumento214 páginasSerra Paulo Manual Teoria ComunicacaoMelissa MedroniAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Humano Social Unidade 4Documento22 páginasDesenvolvimento Humano Social Unidade 4kevinbreakerAinda não há avaliações
- Livro - Novos Media Novos PúblicosDocumento171 páginasLivro - Novos Media Novos PúblicosKamila de Mesquita CamposAinda não há avaliações
- RigacciJunior Germano DDocumento159 páginasRigacciJunior Germano DDaniely RamosAinda não há avaliações
- Rene Girard - O Bode Expiatorio e DeusDocumento22 páginasRene Girard - O Bode Expiatorio e DeusdiogoAinda não há avaliações
- Barreiras ComunicacaoDocumento46 páginasBarreiras ComunicacaoPatrícia Esteves100% (1)
- Mendes: VitorDocumento136 páginasMendes: VitorAlt Correia de LucasAinda não há avaliações
- Mito e Metafísicaintrodução À Filosofia by Georges GusdorfDocumento311 páginasMito e Metafísicaintrodução À Filosofia by Georges GusdorfEduardo Oliveira100% (2)
- Kant o Iluminismo 1784Documento12 páginasKant o Iluminismo 1784Gelson Luiz MikuszkaAinda não há avaliações
- 1º Ano. 9º Etapa. Prova FilosofiaDocumento1 página1º Ano. 9º Etapa. Prova FilosofiaMatheus MaquinéAinda não há avaliações
- Vânia Bambirra - A Teoria Marxista Da Transição e A Prática Socialista-Editora Universidade de Brasília (1993)Documento309 páginasVânia Bambirra - A Teoria Marxista Da Transição e A Prática Socialista-Editora Universidade de Brasília (1993)fotografia_Ainda não há avaliações
- CHARTIER, R (2002) À Beira Da Falésia LOWDocumento142 páginasCHARTIER, R (2002) À Beira Da Falésia LOWInaldo Jr100% (3)
- CaminhantesNo EverandCaminhantesAinda não há avaliações
- Um caminho transdisciplinar: Experiências e compreensõesNo EverandUm caminho transdisciplinar: Experiências e compreensõesAinda não há avaliações
- Ensino de filosofia e hiper-realidade: Jean Baudrillard na sala de aulaNo EverandEnsino de filosofia e hiper-realidade: Jean Baudrillard na sala de aulaAinda não há avaliações
- O Theatrum Mundi pós-moderno: o jogo da vida, a vida como jogoNo EverandO Theatrum Mundi pós-moderno: o jogo da vida, a vida como jogoAinda não há avaliações
- Escola da complexidade, escola da diversidade: Pedagogia da comunicaçãoNo EverandEscola da complexidade, escola da diversidade: Pedagogia da comunicaçãoAinda não há avaliações
- Wikilivro - 50 Artigos: PsicopedagogiaNo EverandWikilivro - 50 Artigos: PsicopedagogiaAinda não há avaliações
- Trajetória – Filosofia, Sociologia, Antropologia, Comunicação E EducaçãoNo EverandTrajetória – Filosofia, Sociologia, Antropologia, Comunicação E EducaçãoAinda não há avaliações
- 19 Estevao Martins Historia Consciencia HistoricaDocumento16 páginas19 Estevao Martins Historia Consciencia HistoricaFernando RodriguesAinda não há avaliações
- Construaçao Com Vidro Gente e SucataDocumento260 páginasConstruaçao Com Vidro Gente e SucataandreiaffariaAinda não há avaliações
- Apostila para Prova 3º Semestre UFSM 1Documento56 páginasApostila para Prova 3º Semestre UFSM 1Joacir Godinho Correia100% (1)
- O Que Sao Armas Taser PDFDocumento16 páginasO Que Sao Armas Taser PDFFranklyn Rocha100% (1)
- CETESB - 6300 - Amostragem de Solo PDFDocumento44 páginasCETESB - 6300 - Amostragem de Solo PDFDudu Eumemo80% (5)
- Relatorio Estagio Supervisionado Iii Parfor NalvaDocumento16 páginasRelatorio Estagio Supervisionado Iii Parfor NalvanalvabogoAinda não há avaliações
- Fisica (Introdução)Documento11 páginasFisica (Introdução)mcsantana2710Ainda não há avaliações
- 10 Passos para A Certificação CCBA e CBAP - Análise de NegóciosDocumento4 páginas10 Passos para A Certificação CCBA e CBAP - Análise de NegóciosblslouzadaAinda não há avaliações
- Design e Arte: Campo MinadoDocumento255 páginasDesign e Arte: Campo MinadoGustavoAugusVidrihAinda não há avaliações
- NCR Modulo 2Documento40 páginasNCR Modulo 2Marcos SantosAinda não há avaliações
- Análise Crítica Do Artigo Estatística Aplicada À QuímicaDocumento3 páginasAnálise Crítica Do Artigo Estatística Aplicada À QuímicaAnonymous wF76zljbwn100% (1)
- Keli Cristina de Lara CAMPOS - Construcao de Uma Escala de EmpregabilidadeDocumento11 páginasKeli Cristina de Lara CAMPOS - Construcao de Uma Escala de EmpregabilidadekkerotiAinda não há avaliações
- Texto - Um Forasteiro Na Cidade - A Errancia Como PR Tica de PesquisaDocumento12 páginasTexto - Um Forasteiro Na Cidade - A Errancia Como PR Tica de PesquisaJúlio CésarAinda não há avaliações
- Analise Comparativa de Duas Teorias ExplicativasDocumento22 páginasAnalise Comparativa de Duas Teorias ExplicativasBeatriz MendonçaAinda não há avaliações
- 10 Dicas Responder Aos Comentários Do Revisor e Do EditorDocumento5 páginas10 Dicas Responder Aos Comentários Do Revisor e Do Editortiago_henrique_3Ainda não há avaliações
- ALBERTI Verena O Riso e o Risivel Na Historia Do PensamentoDocumento206 páginasALBERTI Verena O Riso e o Risivel Na Historia Do PensamentoZoraia R. Dos SantosAinda não há avaliações
- Treino Da Tomada de DecisãoDocumento346 páginasTreino Da Tomada de DecisãoPedro Miguel Silva100% (1)
- CANTEIRO DE OBRAS - Fase Criativa PDFDocumento31 páginasCANTEIRO DE OBRAS - Fase Criativa PDFMaiara TAinda não há avaliações
- Texto 4 - Experimentar Sem Medo de ErrarDocumento16 páginasTexto 4 - Experimentar Sem Medo de ErrarJonas MendonçaAinda não há avaliações
- H.P Lovecraft - Herbert West Re-AnimatorDocumento24 páginasH.P Lovecraft - Herbert West Re-AnimatorSarah Ramos80% (5)
- Fases Do GangStalking - En.ptDocumento9 páginasFases Do GangStalking - En.ptPaul MorpheuAinda não há avaliações
- 2017 05 Preparacao Do Regente Coral 94 PDFDocumento18 páginas2017 05 Preparacao Do Regente Coral 94 PDFGueri de GueriAinda não há avaliações
- A Fenomenologia Jean Francois LyotardDocumento73 páginasA Fenomenologia Jean Francois LyotardAdam ReyesAinda não há avaliações
- Fichamento Capítulo 1: Lévi-Strauss, 2008 - Antropologia EstruturalDocumento8 páginasFichamento Capítulo 1: Lévi-Strauss, 2008 - Antropologia EstruturalGabriel Cabral BernardoAinda não há avaliações
- Rudolf Steiner Cronica AkashaDocumento91 páginasRudolf Steiner Cronica AkashaIsaias Andres Yañez100% (6)
- Centro de Estudos Da Guiné PortuguesaDocumento50 páginasCentro de Estudos Da Guiné Portuguesaanon_350040580100% (1)
- O Mestre Ignorante-Livro PDFDocumento72 páginasO Mestre Ignorante-Livro PDFMarcelo Mari100% (1)