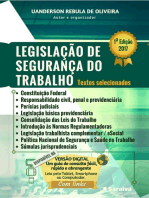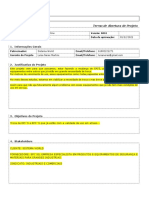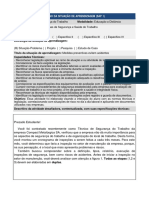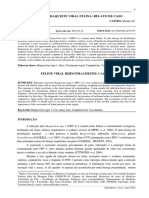Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Acidente Com Empilhadeira - TCC Utfpr
Acidente Com Empilhadeira - TCC Utfpr
Enviado por
AntonioBertoldoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Acidente Com Empilhadeira - TCC Utfpr
Acidente Com Empilhadeira - TCC Utfpr
Enviado por
AntonioBertoldoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE TECNOLGICA FEDERAL DO PARAN
DEPARTAMENTO ACADMICO DE CONSTRUO CIVIL
ESPECIALIZAO EM ENGENHARIA DE SEGURANA DO TRABALHO
VIVIAN PEREIRA DE GOIS
ANLISE DE UM ACIDENTE COM EMPILHADEIRA E DA APLICAO DA NR-11
DENTRO DE UMA EMPRESA NO RAMO DE ALIMENTOS
MONOGRAFIA DE ESPECIALIZAO
CURITIBA
2013
VIVIAN PEREIRA DE GOIS
ANLISE DE UM ACIDENTE COM EMPILHADEIRA E DA APLICAO DANR11 DENTRO DE UMA EMPRESA NO RAMO DE ALIMENTOS
Monografia apresentada como requisito
parcial para obteno do ttulo de Especialista
em Engenharia de Segurana do Trabalho,
pela Universidade Tecnolgica Federal do
Paran UTFPR.
Orientador: Prof. M. Eng.Roberto Serta
CURITIBA
2013
VIVIAN PEREIRA DE GOIS
ANLISE DE UM ACIDENTE COM EMPILHADEIRA E DA APLICAO DANR11 DENTRO DE UMA EMPRESA NO RAMO DE ALIMENTOS
Monografia aprovada como requisito parcial para obteno do ttulo de Especialista no Curso
de Ps-graduao em Engenharia de Segurana do Trabalho, Departamento Acadmico de
construo Civil, Universidade Tecnolgica Federal UTFPR, pela comisso formada pelos
professores:
Orientador:
_____________________________________________
Prof. Esp. Roberto Serta
Professor do XXV CEEST, UTFPR Cmpus Curitiba.
Banca:
_____________________________________________
Prof. Dr. Rodrigo Eduardo Catai
Departamento Acadmico de Construo Civil, UTFPR Cmpus Curitiba.
________________________________________
Prof. Dr. Adalberto Matoski
Departamento Acadmico de Construo Civil, UTFPR Cmpus Curitiba.
_______________________________________
Prof. Msc. Massayuki Mrio Hara
Departamento Acadmico de Construo Civil, UTFPR Cmpus Curitiba.
CURITIBA
2013
O termo de aprovao assinado encontra-se na Coordenao do Curso
Dedico este trabalho a famlia que sempre me
incentivou e me apoiou em minhas decises
profissionais e pessoais. A Deus por estar
presente em todos os momentos da minha
vida.
Agradecimento a todos os professores da PsGraduao em Engenharia de Segurana do
Trabalho em especial ao prestativo Professor
orientador Roberto Serta, pelo apoio e carinho
prestados.
As amizades realizadas durante este curso em
especial aos colegas Rachel, Gustavo, Marcelo
e Glauber que estiveram ao meu lado em
momentos to agradveis.
RESUMO
O presente trabalho trata de uma avaliao de um estudo de caso relacionando
possveis causas de um acidente de trabalho envolvendo um veiculo de transporte de
cargas,empilhadeira em uma indstria de alimentos.Acidentes com empilhadeiras no
ocorrem devido a uma simples fatalidade, aes de carter preventivo, asseguram a
identificao, eliminao, ou reduo dos riscos de acidentes, desde que sejam bem
planejadas e executadas, alm da responsabilidade de seguir uma srie de normas especificas
para que a operao seja segura e livre de acidentes com danos aos trabalhadores e prejuzos
materiais.Para o presente estudo, utilizou- se a sistemtica do Diagrama de Ishikawa, tambm
conhecido como Diagrama de Causa e Efeito, onde o mesmo agrupa as causas fundamentais
do problema a ser estudado e aplicou-se juntamente neste estudo um checklist da Norma
Regulamentadora11 Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de
Materiais.Chegou-se a duas causas mais provveis para o ocorrido: falta de ateno por
ambos os funcionrios (operador da empilhadeira e o funcionrio ferido) e falta de
cumprimento dos procedimentos quanto
a operacionalizao da maquina
empilhadeira.Sugeriu-se uma serie de recomendaes levando em conta as caractersticas
construtivas e tcnicas das empilhadeiras, a maneira segura operao, importncia de
manutenes peridicas e preventivas, treinamentos para operadores epessoas envolvidas no
processo, investimento em equipamento de proteo individual e coletiva, entre outros.
Palavras-chaves: Acidente. Empilhadeira. Segurana.
ABSTRACT
This paper is a review of a case study related possible causes of an accident at work
involving a vehicle carrying loads, forklift in a food industry.Accidents involving forklifts do
not occur due to a single fatality, preventive actions, ensure the identification, elimination or
reduction of risks of accidents, provided they are well planned and executed, and the
responsibility of following a series of specific standards for the operation is safe and free from
accidents with injury to workers and damage to property.For the present study, we used a
systematic Ishikawa Diagram, also known as Cause and Effect Diagram, where the same
groups the fundamental causes of the problem to be studied and applied in this study together
a checklist of regulatory standard 11 - Transport, Handling, Storage and Material Handling.It
reached two most likely causes for the incident: lack of attention by both employees (forklift
operator and employee injured) and lack of compliance with procedures regarding the
operation of the machine forklift.It was suggested a series of recommendations taking into
account the constructive characteristics and techniques of forklifts, the operation safely,
importance of preventive and periodic maintenance, training for operators and people
involved in the process, equipment investment of individual and collective protection, among
others.
Keywords: Accident.Forklift.Security.
LISTA DE FIGURAS
Figura 01 Casos de Acidente com Empilhadeira Estados Unidos......................................... 14
Figura 02 Aplicao NR 11 sinal luminoso e guarda corpo. ........................................... 34
Figura 03 Aplicao NR 11 faixa de pedestre. ................................................................ 35
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CLT Consolidao das Leis Trabalhistas
CIPA Comisso Interna de Preveno de Acidentes
DSS Dilogo de Segurana Semanal
EPI Equipamento de Proteo Individual
EPC Equipamento de Proteo Coletiva
MTE Ministrio do Trabalho e Emprego
NR Norma Regulamentadora
OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series
SESI Servio Social da Indstria
SUMRIO
1 INTRODUO ................................................................................................................... 13
1.1 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 16
1.1.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................ 16
1.1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS .......................................................................................... 16
1.2 JUSTIFICATIVAS ............................................................................................................. 16
2 REVISO BIBLIOGRFICA ........................................................................................... 18
2.1 NORMA REGULAMENTADORA - 11 ........................................................................... 18
2.2 EMPILHADEIRA .............................................................................................................. 21
2.2.1 CLASSIFICAO .......................................................................................................... 22
2.2.2 COMPONENTES............................................................................................................ 22
2.2.3PRINCPIOS DE FUNCIONAMENTO .......................................................................... 24
2.2.4 OUTROS SISTEMAS DE MOVIMENTAO DE CARGAS..................................... 24
2.3 NORMA REGULAMENTADORA - 12 ........................................................................... 24
2.4 DIAGRAMA DE ISHIKAWA........................................................................................... 27
2.5 CHECK LIST ...................................................................................................................... 29
3 MATERIAIS E MTODOS ............................................................................................... 30
3.1 MATERIAIS ...................................................................................................................... 30
3.1.1PROCESSO ...................................................................................................................... 30
3.1.2 DESCRIO DO ACIDENTE ....................................................................................... 30
3.2.METODOS ......................................................................................................................... 31
3.2.1 ENTREVISTAS .............................................................................................................. 31
3.2.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA........................................................................................ 32
3.2.3 CHECK LIST NR 11....................................................................................................... 32
4 RESULTADOS E DISCUSSES ...................................................................................... 33
4.1 ENTREVISTAS ................................................................................................................. 33
4.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA........................................................................................... 33
4.3 CHECK LIST NR 11 .......................................................................................................... 34
4.4 RECOMENDAES......................................................................................................... 35
4.4.1 RECOMENDAES PARA OPERADORES DE EMPILHADEIRAS ....................... 35
4.4.2 RECOMENDAES PARA PEDESTRES ................................................................... 37
5 CONCLUSO...................................................................................................................... 39
REFERNCIAS ..................................................................................................................... 40
ANEXOS ................................................................................................................................. 42
13
1 INTRODUO
Presentes em boa parte dos locais de trabalho, os veculos industriais so de grande
utilidade no desenvolvimento de muitas atividades. So tambm, no entanto bastante
perigosos especialmente quando usados em condies inadequadas e/ou de forma incorreta
(ANTONIO, 2010).
As formas de transporte so ditadas no s pelo tamanho ou dimenses das cargas,
como tambm seus pesos, urgncias no deslocamento das mesmas ou necessidades outras
como a de conexo entre seus vrios componentes. Em atividades industriais h uma natural
tendncia de que as partes a serem movimentadas sejam produzidas e aplicadas em paralelo,
reduzindo assim os cronogramas finais de produo, ou seja, o produto final fabricado em
partes, simultaneamente, em uma mesma fbrica ou fbricas distintas (NAVARRO,2012).
A indstria moderna est cada vez mais dependente dos movimentos rpidos e
eficientes de todo o tipo de materiais inerentes aos locais de produo, distribuio,armazenagem. Est tambm dependente do sistema de transportes macro relativo frota rodoviria,
area, naval e ferroviria. Tambm o sistema de transportes micro, relativo ao movimento de
materiais dentro das instalaes se torna essencial nesta longa cadeia logstica de
movimentao de materiais. Existem empilhadeiras, nas mais variadas formas, capacidades e
pesos. Podem ter menos de 1 (uma) tonelada (movimentando pequenos paletes) e ir at 80
toneladas (movimentando contentores porturios) (ANTONIO, 2011).
O transporte de uma carga representado pelo deslocamento da mesma seguindo um
roteiro e uma rota com um objetivo especfico (NAVARRO, 2012).
As empilhadeiras foram evoluindo de modo a adaptarem-se s vrias necessidades
impostas pela indstria e assim variam radicalmente de um ramo de indstria para outro. A
sua versatilidade enorme, visto haver um vasto conjunto de implementos especiais que
transformam a empilhadeira num mecanismo que se adapta a enormes rolos de papel,
contentores, lingotes etc (ANTONIO, 2011).
As empilhadeiras so por inerentes perigosas. Tem uma massa enorme, uma estrutura
rgida e resistente e operam tipicamente junto a outros trabalhadores. Adicionalmente, as
cargas so movimentadas simplesmente suportadas nos garfos de modo que no esto presas
ao veculo-dependendo assim de efeitos de gravidade e estabilidade (ANTONIO, 2011).
Desde o advento da mecanizao, particularmente depois da II Guerra Mundial, o
trabalho manual referente elevao e transporte de cargas foi sendo gradualmente
14
substitudo por mquinas. A mais corrente e bem sucedida mquina de trabalho tem sido a
empilhadeira (ANTONIO, 2011).
Os riscos associados ao transporte de cargas podem significar perdas s prprias
cargas transportadas, a pessoas ou a bens patrimoniais (NAVARRO, 2012).
Com esta mudana no modo como se elevam e transportam as cargas veio tambm
uma mudana no padro das leses ocorridas no trabalho, reduziram-se s leses associadas
movimentao manual e aumentaram as associadas com o uso de equipamento mecanizado
(ANTONIO, 2011).
Internacionalmente, ao longo das ltimas dcadas, tm sido identificados como
grandes contribuintes para a lista de acidentes graves e fatais. Na maioria dos casos, as leses
no envolveram os operadores das empilhadeiras, mas em presena dos trabalhadores
adjacentes (ANTONIO, 2011).
Numa vasta anlise aos acidentes graves ocorridos entre 1984 e 1991 nos EUA, a
partir dos relatrios de investigao dos acidentes com empilhadeiras, a OSHA
(OccupationalSafetyand Health Administration) conseguiu determinar as causas apontadas
para que os acidentes tenham ocorrido (ANTONIO, 2011).
Causa do Acidente
Desateno do operador
Capotagem, tombamento
Carga Instvel
Operador atingido por carga
Empregados elevados
Falta de Formao
Excesso de peso, uso inapropriado
Acidente durante a manuteno
Equipamento Inapropriado
Viso obstruda
Queda de uma plaforma ou cais
Acidente no relacionados com empilhadeiras
Transporte passageiro em excesso
Outro empregado atingido por garga
Queda da empilhadeira
Veculo engatado
Excesso de velocidade
Total
Figura 1: Casos de acidente com empilhadeira Estados Unidos
Fonte: ANTONIO, 2010
Nmero
59
53
45
37
26
19
15
14
10
10
9
9
8
8
6
6
5
339
15
Todo e qualquer empresa, do ponto de vista de logstica tem como necessidade bsica
o transporte e o iamento de cargas. Para isto preciso profissionais muito bem treinados, que
conheam as tcnicas relativas a este processo e que trabalhem com o mximo de eficincia e
segurana. A movimentao de mquinas e o iamento de cargas no permitem erros
Aprender sobre o ocorre e sobre o que pode ocorrer em um sistema produtivo
essencial para a preveno e efetuarboas anlises de eventos adversos possibilita compreender
os riscos, solucionar problemas e proteger pessoas(BRASIL, 2010).
As informaes sobre acidentes e incidentes de trabalho permitem que se aperfeioem:
1. As normas de segurana e sade no trabalho;
2. As concepes e os projetos de mquinas, equipamentos e produtos;
3. Os sistemas de gesto das empresas;
4. O desenvolvimento tecnolgico;
5. As condies de trabalho;
6. A confiabilidade dos sistemas (BRASIL 2010).
16
1.1 OBJETIVOS
1.1.1 OBJETIVO GERAL
Este trabalho tem como principal objetivo analisar um acidente de trabalho com
empilhadeira em uma indstria de alimentos.
1.1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
Avaliar atravs da ferramenta de qualidade diagrama de Ishikawa as causas do
problema acidente de trabalho com empilhadeira;
Verificar o atendimento da NR 11atravs da aplicao de ferramenta
checklist;
Apresentar recomendaes, melhorias no processo de transporte de produtos
para evitar novos acidentes.
1.2 JUSTIFICATIVAS
Quarenta por cento dos acidentes ocorridos no Brasil so provocados na
movimentao de materiais (transporte manual, ponte rolantes, talhas, transportadores de
esteiras, empilhadeiras, etc) (SESI, 2008)
A empilhadeira tem considervel participao neste alto ndice de acidentes, inclusive
quanto gravidade, seja de leso ou de grandes perdas.
Esta afirmativa pode ser verificada se relacionarmos este veculo com os conceitos de
acidentes, que reproduzimos a seguir. (ISQUERRO, 2012)
Conceito Legal
O artigo 131 do Decreto Lei 2171 de 05/03/97 estabelece:
Acidente do trabalho o que ocorre pelo exerccio do trabalho a servio da empresa
ou pelo exerccio do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta Lei
(exemplo: autnomos em geral), provocando leso corporal ou perturbao funcional que
17
cause a morte ou perda ou reduo, permanente ou temporria, da capacidade para o
trabalho.
Considerando ainda o que preconiza a constituio brasileira, onde afirma que a sade
e segurana no ambiente de trabalho um direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais,
ao longo de sua redao, porm com especial nfase em seu prembulo e em seu artigo 7
(BRASIL, 1988).
18
2 REVISO BIBLIOGRFICA
A Declarao Universal dos Direitos do Homem, adotada pela Organizao das
Naes unidas, ainda em 1948, j dizia que toda pessoa tem direito vida, liberdade e
segurana pessoal. Mais adiante, o documento deixava claro que todos tm direito livre
escolha de emprego, a condies justas e favorveis de trabalho e proteo contra o
desemprego. Mas foi somente quatro dcadas depois, com a Criao da Constituio Federal,
que surgiram conceitos relacionados a reduo dos riscos inerentes s mais diferentes funes,
por meios de normas de sade, higiene e segurana. Com o MTE (Ministrio do Trabalho e
Emprego), foram fundamentadas as NRs (Normas Regulamentadoras), relativas a estas
questes importantes e de observncia obrigatria pelas empresas pblicas e privadas que
possuem empregados regidos pela CLT (Consolidao das Leis Trabalhistas) (FAUTH,
2010).
A seguir comenta-se quais NRs so pertinentes ao assunto tratado neste trabalho.
2.1 NORMA REGULAMENTADORA-11
Presentes em boa parte dos locais de trabalho, os veculos industriais so de grande
utilidade no desenvolvimento de muitas atividades. So tambm, no entanto, bastante
perigosos especialmente quando usados em condies inadequadas e/ou de forma incorreta. A
movimentao de materiais responsvel por aproximadamente 22% das leses ocorridas na
indstria. Na verdade, por detrs do uso dos veculos industriais se oculta uma srie de riscos
que muitas vezes passam sem ser notados nas atividades cotidianas. Em muitos casos,
providncias s vo ser tomadas aps a ocorrncia de um acidente, quase sempre muito grave.
Prensagem, entorse, fraturas e contuses so os danos costumeiros. So causados
primariamente por prticas inseguras de trabalho como: elevao inadequada transporte de
cargas alm do limite permissvel, falta de uso de equipamentos adequados. (MESQUITA,
2012).
A Norma Regulamentadora 11 Transporte, Movimentao, Armazenagem e
Manuseio de Materiaisdevem sertomados como referencia para a elaborao de qualquer
atividade preventiva ao uso de veculos industriais, mas tal como todas as demais normas
19
regulamentadoras no esgota de forma alguma o assunto havendo necessidade da atuao do
profissional especializado para o desenvolvimento e detalhamento de um programa
especifico. Obviamente isso ir variar conforme o tamanho da empresa, sua atividade e
especialmente quantidade e variedade de veculos em uso (JUNIOR 2011).
Itens 11.1.1 e 11.1.2, se referem aos poos de elevadores e monta-cargas, que devero
ser cercados e isolados com material resistente; as suas portas de acesso devero conter
sistema de bloqueio de abertura nos vrios pavimentos a fim de evitar que algum funcionrio
abra a mesma quando na ausncia deste elevador no pavimento em questo, evitando assim a
ocorrncia de acidentes (MESQUITA, 2012).
O item 11.1.3 da NR 11 deixa definido que os equipamentos utilizados na
movimentao de materiais sero calculados e construdos de maneira que ofeream as
necessrias garantias de resistncia e segurana e conservados em perfeitas condies de
trabalho (MESQUITA, 2012). Importante salientar, que materiais como cabos de ao, cordas,
correntes, roldanas e ganchos devem ser periodicamente inspecionados e substitudos suas
partes defeituosas. As manutenes preventivas nos maquinrios so sempre importantes, e o
acompanhamento, monitoramento e documentao dos mesmos e muito importantes por parte
dos profissionais responsveis pela indstria e pelo SESMT.
tem 11.1.3.2 diz respeito obrigatoriedade de indicar em local visvel em todos os
equipamentos deste tipo a carga mxima de trabalho permitida.
Carros manuais para transporte devem possuir protetores para as mos.
A NR - 11 descreve as condies relativas ao Operador, iniciando no item 11.1.5,
quando menciona que o operador dever receber um treinamento especfico que o habilitar
nesta funo. Neste ponto importante estarmos atentos para alguns detalhes que podem fazer
muita diferena, seja na preveno de acidentes, seja diante de possveis problemas causados
por um acidente. O primeiro diz respeito a pr-seleo do operador, o que passa
obrigatoriamente por conhecimentos e requisitos prprios da NR 7 - Programa de Controle
Mdico de Sade Ocupacional. Portanto, antes de tudo, o operador de veculo industrial deve
ser uma pessoa apta do ponto de vista mdico para exercer e realizar este tipo de trabalho.
Isso pode dizer muita coisa, por exemplo, necessidade de acuidade visual (MESQUITA,
2012).
O tem 11.1.6 cita que os operadores de equipamentos de transporte motorizado
devero ser habilitados e s podero dirigir em horrio de trabalho se portarem um carto de
20
identificao, com nome e fotografia, em local visvel, esta pratica muitas vezes no
utilizada no dia a dia de operao.
Importante que seja cumprida o item 11.1.6.1, o carto ter validade de 1 (um) ano,
salvo imprevisto, e, para revalidao, o empregado dever passar por exame de sade
completo por conta do empregador.
Os equipamentos de transporte motorizados devem conter sinais de advertncia
sonoro, importante que tambm contenham sinal sonoro de marcha r, e como um todo, seja
passado sempre por uma inspeo de rotina, que pode ser verificado atravs de checklist.
Ateno especial deve ser dada ao item 11.1.8 que define a substituio imediata de
peas defeituosas. Toda manuteno deve ser feita sempre a apenas por profissionais
capacitados para esta finalidade e devem gerar evidncias documentais nas quais entre outras
coisas seja possvel em caso de necessidade identificar o responsvel pela verificao e
reparos; Por fim, recomenda-se ainda que seja definida uma sistemtica de verificao a ser
feita pelo prprio operador ou seja algo como um checklist bsico a ser observado antes das
operaes pelo usurio do veculo (MESQUITA, 2012).
Avaliao do local de circulao das maquinas transportadoras: ambientes fechados
pouca ventilao, a emisso de gases deve ser controlada, para evitar concentraes acima dos
permitidos. Ambientes fechados e sem ventilao, proibido a utilizao de maquinas
transportadora, movida a motores de combusto interna, salvo se providas a dispositivos
neutralizadores de emisses gasosas, devendo ser dada a preferncia por motores movidos a
GLP ou gs natural.
A NR-11 tambm regulariza normas de segurana para trabalhos em atividades de
transporte de sacas.
Denomina-se, para fins de aplicao da presente regulamentao, a expresso
Transporte manual de sacos toda atividade realizada de maneira continua ou descontinua,
essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso de carga suportado, integralmente,
por um s trabalhador, compreendendo tambm o levantamento e sua deposio
(MESQUITA, 2012).
A norma estabelece distncia mxima para transporte manual de um saco, uso de
mecanismos que auxiliem o trabalhador no transporte de sacarias, probe o transporte atravs
de pranchas sobre vos superiores a 1,00 metro, operaes manuais devem ser auxiliadas por
um ajudante, pilhas de saco devem ser armazenadas de acordo com estrutura do armazm
(altura, resistncia, piso, tipo amarrao, embalagem, etc), pode ser por processo mecanizado,
21
quando no mecanizado, admite-se processo manual, mediante utilizao de escada removvel
de madeira, com caractersticas pr-definidas nas normas como: lance nico de degrau,
largura mnima, reforada nas laterais, e verticalmente, e em perfeitas condies de
estabilidade e segurana, devera possuir corrimo ou guarda corpo. O piso deve ser de
material no escorregadio, em perfeito estado de conservao, deve-se evitar transporte
manual de sacarias em pisos molhados, a empresa dever providenciar cobertura apropriada
dos locais de carga e descarga de materiais, armazenamento de materiais, peso de material
devera ser de acorde com piso, material no devera obstruir passagens de emergncia,
equipamentos de incndio, etc, devera ficar afastado de estruturas laterais de prdios (paredes)
pelo menos 50 centmetros, carga no devera obstruir, dificultar transito, iluminao, acesso
sadas de emergncia, cada tipo de material devera obedecer a requisitos de segurana para
seu armazenamento.
2.2 EMPILHADEIRAS
A empilhadeira um veculo automotor utilizado para movimentao horizontal e
vertical de materiais. dotada de garfos ou dispositivos especficos para realizar atividades de
empilhamento, transporte e descarregamento de cargas (CLARK, 2008).
um veculo de grande utilidade, que substitui com vantagens, talhas, pontes rolantes,
mono vias e tambm o prprio home, pois realiza tarefas que ocupariam vrias pessoas.
2.2.1. CLASSIFICAO
As empilhadeiras so segregadas por classes. Classes 1, 2 e 3 so eltricas, classes 4 e
5 movidas a motor a combusto diferindo apenas pela especificao de pneus.(CLARK,
2008).
Eltricas: so equipamentos prprios para serem operados em lugares fechados, tais
como depsitos, armazns e cmaras frigorficas. Geralmente compactos, para que possam
realizar tarefas em corredores estreitos, normalmente possuem uma torre de elevao com
grande altura aumentando consideravelmente a capacidade de armazenagem e estocagem em
prateleiras. Somovidas a eletricidade, sendo sua principal fonte de energia naterias. Operam
22
silenciosamente, fator de grande importncia em qualquer ambiente produtivo diminuindo
consideravelmente rudos operacionais. Possuem alto grau de giro possibilitando manobras
em seu prprio eixo (CLARK, 2008).
Combusto: as empilhadeiras a combusto GLP e Diesel so utilizadas mais
comumentemente em ptios, docas, portos, etc. so mais robustas e possuem capacidades que
podem chegar a at 70 toneladas, e altura de elevao at 6,5 metros. Alm destas
caractersticas, so disponibilizados tambm vrios acessrios que podem aumentar a
capacidade, automotiva e adequao a trabalhos especficos (CLARK, 2008).
2.2.2. COMPONENTES
Carcaa ou Chassi: a estrutura metlica, geralmente de ferro fundido, que serve de
contrapeso para a carga e de proteo para vrios componentes de empilhadeira.
Torre de Elevao ou Coluna: um dispositivo empregado na movimentao de
materiais no sentido vertical. Pode ser inclinada para frente e para trs.
Garfos ou Forquilha: So dispositivos utilizados para carregar, transportar e empilhar
materiais. Podem ser deslocados manualmente no sentido horizontal e verticalmente pelos
controles das empilhadeiras.
Contrapeso: Carga situada na parte traseira, que serve para equilibrar o veculo quando
carregado, e que faz parte da prpria carcaa.
Volante: dispositivo de controle de direo do veculo. Pode ser girado tanto para a
direita como para a esquerda. As empilhadeiras que tem trs rodas podem dar uma volta
completa sem sair do lugar. O volante deve ser mantido limpo, evitando-se choques que
possam danific-lo bem como trao desnecessria, como, por exemplo; utiliz-lo como apoio
para subir na empilhadeira.
Pedais: so dispositivos que auxiliam o comando do veculo para movimentar, trocar
de marcha, diminuir velocidade e parar. Sempre que pisar no freio, aconselha-se pisar na
embreagem. A empilhadeira eltrica no tem pedal de embreagem e, nesse caso, deve-se
deixar a alavanca de mudana em neutra, quando for parar.
Alavanca de Freio de Estacionamento: deve ser usada para estacionar a empilhadeira
ou para substituir o pedal de freio em caso de uma eventual falha no sistema de frenagem.
Pneus: Componentes sobre os quais se movimenta o veculo podendo ser macios ou
pneumticos (com cmaras de ar).
23
Alavancas de Comando da Torre ou Coluna: As operaes de elevao e inclinao da
torre so controladas por alavancas de at quatro posies, que comandam a ao telescpica
dos cilindros de elevao e inclinao, munidas de vlvulas de controle colocadas no circulo
hidrulico principal da mquina. As alavancas de comando da coluna encontram-se situadas
ao lado direito do operador e altura da borda superior da chapa-suporte do assento ou do
painel de instrumento.
Alavanca de Cmbio: Dispositivo que serve para mudanas de velocidades e sentido
de direo do veculo. conveniente no dirigir com velocidade mxima, levando carga
perigosa no veculo ou quando tiver que fazer curvas bruscas e rpidas. As direes em que a
alavanca de ser mudada sempre constam em plaquetas fixadas na empilhadeira.
Motor: Conjunto de fora motriz do veculo que tambm movimenta as bombas
hidrulicas e o cmbio ou hidramtico.
Sistema Eltrico: o conjunto formado pelo gerador, bateria, velas, platinado, alguns
instrumentos do painel, lmpadas, etc. Qualquer avaria nesse sistema indicado pelos
instrumentos de controle do painel.
Sistema Hidrulico: o sistema movimentado pela presso de leo hidrulico,
proporcionando movimentos aos cilindros de elevao, inclinao e direo do equipamento.
Sistema de Alimentao: o conjunto de peas que serve para fornecer e dosar o
combustvel utilizado na alimentao do motor exploso. A gua e o leo so elementos
indispensveis para o bom funcionamento do motor.
Diferencial: o conjunto de engrenagens que faz as rodas girarem e conserva o
veculo em equilbrio nas curvas, permitindo que as rodas traseiras movimentem-se com
velocidades diferentes uma da outra. No caso das empilhadeiras, esses movimentos so
realizados pelas rodas dianteiras (rodas de trao).
Caixa de Cmbio: Conjunto de engrenagens, que serve para mudar as velocidades e o
sentido de movimento do veculo, a partir do posicionamento que se d a alavanca de cmbio.
Transmisso Automtica: o conjunto que permite a mudana automtica das
marchas de velocidade.
Filtro de ar: Efetua a filtragem do ar utilizado no motor. No filtro, o ar purificado
para depois ser enviado para o carburador. O motor nunca deve trabalhar sem mangueira do
filtro de ar ou sem o filtro (CLARK, 2008).
24
2.2.3. PRINCPIO DE FUNCIONAMENTO
constituda sob o princpio da gangorra, onde a carga colocada nos garfos
equilibrada pelo peso da mquina. O centro de rotao ou o apoio da gangorra o centro das
rodas dianteiras. (SILVA, 2009).
O contrapeso formado pela prpria estrutura do veiculo (combusto) ou pela bateria
(eltrica) (SILVA, 2009).
A base da empilhadeira feita em trs pontos e em forma de um tringulo, chamado
comumentemente de tringulo de estabilidade que a rea formada pelos trs pontos de
suspenso da mquina: pino de articulao do eixo traseiro e cada uma das rodas dianteiras.
2.2.4. OUTROS SISTEMAS DE MOVIMENTAO DE CARGA
Existem outros tipos de sistemas de levantamento e movimentao de cargas, os quais
so utilizados dependendo da velocidade do movimento, peso da carga, tipo da carga,
automao de sistema, meio ambiente, etc.
A seguir cita-se outros tipos de sistemas de movimentao de cargas:
Transportadores Hidrulicos;
Guindaste;
Ponte Rolante;
Prtico e Semiprtico;
Talhas;
Plataforma Elevatria.
2.3NORMA REGULAMENTADORA - 12
O item 12.1 da NR12 define a norma como: Esta NormaRegulamentadorae
seusanexosdefinemrefernciastcnicas,princpiosfundamentaisemedidasde
proteoparagarantirasadeeaintegridadefsicadostrabalhadoreseestabelecerequisitosmnimosp
araapreveno
deacidentesedoenasdotrabalhonasfasesdeprojeto,
edeutilizaodemquinaseequipamentosde
aindasuafabricao,importao,comercializao,exposioecessoa
instalao,
todosostipos,e
25
qualquerttulo,emtodasasatividades econmicas, sem prejuzo da observncia do disposto nas
demais Normas Regulamentadoras NR aprovadas pela portaria no3.214, de 8 de julho de
1978, nas normas tcnicas oficiais e, na ausncia ou omisso destas, nas normas
internacionais aplicveis.
O empregador deve garantir condies e medidas seguras de trabalho, como: proteo
coletiva e individual, administrao e organizao do trabalho.
A concepo da maquina deve atender ao principio da falha segura, em caso de falha a
maquina deve trabalhar de um modo seguro.
A NR 12 dita normas para os arranjos fsicos e as instalaes da empresa, nos locais
de instalaes de maquinas e equipamentos, as reas de circulao devem ser devidamente
demarcadas de acordo com as normas oficiais, as reas de circulao devem ser mantidas
desobstrudas.
Proteo define-se como elemento especificamente utilizado para prover segurana
por meio de barreira fsica, pode-se haver dois tipos:
Proteo fixa: mantida sua posio de maneira permanente, que so permitam
sua remoo ou abertura por meio de ferramentas especificas;
Proteo mvel: pode ser aberta sem o uso de ferramentas, deve-se associar a
dispositivos de intertravamento. Deve ser usada quando a zona de perigo for
requerida uma ou mais vez no tuno de trabalho, observando-se que a proteo
dever ser associada a um dispositivo de intertravamento quando sua abertura
no possibilitar o acesso a zona de perigo antes da eliminao do risco ou a
proteo deve ser associada a um dispositivo de segurana com bloqueio
quando sua abertura possibilitar o acesso a zona de perigo antes da eleiminao
do risco.
Os dispositivos de segurana, segundo a NR - 12, so componentes que, por si s ou
interligados, reduzem os riscos de acidentes. So classificados em:
Comandos eltricos ou interfaces de segurana que realizam o monitoramento,
verificam a interligao, posio e funcionamento de outros dispositivos do
sistema e impedem a ocorrncia de falha ex.: CLP de segurana;
Dispositivos de intertravamento, impedem o funcionamento da maquina sob
condies especificas atravs de chaves de segurana eletromecnicas com
ao de ruptura;
26
Sensores de segurana, dispositivos detectores de presena, os quais enviam
sinal para interromper ou impedir o inicio de funes perigosas, ex.: cortina de
luz;
Vlvulas e blocos de segurana ou sistemas pneumticos de mesma eficcia;
Dispositivos mecnicos;
Dispositivos de validao, quando aplicados de modo permanente, habilitam o
dispositivo de acionamento, como chaves seletoras bloqueveis e dispositivos
bloqueveis.
Os componentes relacionados aos sistemas de segurana devem garantir a manuteno
do estado seguro levando em considerao flutuaes de energia.
A funo parada de emergncia no deve prejudicar eficincia dos sistemas de
segurana do maquinrio, no dificultar o resgate de pessoas acidentadas e no gerar riscos
acidentais.
Nos transportadores de materiais, os movimentos perigosos dos transportadores
contnuos de materiais, como esteiras, correias, etc, devem ser protegidos, especialmente nos
pontos de esmagamento agarramento e aprisionamento.
As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instruo fornecido pelo
fabricante, com informaes sobre segurana. Quando inexistente, o empregador devera
providencia-lo, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.
A NR12 enfatiza em todos seus pargrafos a capacitao, frisando que as intervenes
em maquinas e equipamentos devem ser efetuadas por profissionais habilitados, qualificados,
capacitados ou autorizados para este fim.
A NR 12 complementa suas especificaes em relaes as Normas de Segurana no
Trabalho em Maquinas e Equipamentos com seus anexos.
H exigncia da capacitao dos trabalhadores e para peculiaridades de diferentes
equipamentos e setores: I Motosserras; II Mquinas para panificao e confeitaria; III
Mquinas para aougue e mercearia; IV- Prensas e similares; V Injetoras de materiais
plsticos; VI Mquinas para calados e afins; VII Mquinas e implementos para uso
agrcola e florestal (NR-12, 2013).
27
2.4DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Diagrama de Ishikawa uma ferramenta grfica utilizada pela Administrao para o
gerenciamento e o Controle da Qualidade em diversos processos, e tambm conhecido como
"Diagrama de Causa e Efeito", "Diagrama Espinha-de-peixe" ou "Diagrama 6M". O
Diagrama foi originalmente proposto pelo engenheiro qumico Kaoru Ishikawa, no ano de
1943.(KAOLU, 2008).
O efeito ou incidente que est sendo investigado aparece na ponta de uma flexa
horizontal. As causas potenciais so mostradas como setas identificadas que se prolongam at
a seta da causa principal. Cada seta pode ter outras secundrias, conforme os fatores ou causas
principais sejam reduzidos as suas subcausas e subsubcausas, por brainstorming(OAKLAND,
1994).
Brainstorming uma tcnica usada para gerar ideias rapidamente e em quantidade e
pode ser empregada em vrias situaes. Os membros de um grupo, cada um por sua vez,
podem ser convidados a apresentar ideias relativas a um problema que esteja sendo
considerado. Todas as ideias apresentadas so registradas para anlise subsequente. O
processo continua ate que todas as causas concebveis tenham sido includas a proporo de
resultados no conformes atribuvel a cada causa ento medida ou avaliada, e atravs de
anlise
identifica-se
as
causas
que
merecem
mais
urgente
prioridade
de
investigao.(OAKLAND, 1994).
Ele desenhado para ilustrar claramente as vrias causas que afetam um processo por
classificao e relao das causas. Para cada efeito existem seguramente, inmeras categorias
de causas. As causas principais podem ser agrupadas sob seis categorias conhecidas como os
"6 M": Mtodo, Mo-de-obra, Material, Meio Ambiente, Medida e Mquina (KAOLU, 2008).
Mtodo: toda a causa envolvendo o mtodo que estava sendo executado o
trabalho;
Matria-prima: toda causa que envolve o material que estava sendo utilizado
no trabalho;
Mo-de-obra: toda causa que envolve uma atitude do colaborador (ex:
procedimento inadequado, pressa, imprudncia, ato inseguro, etc.)
Mquinas: toda causa envolvendo mquina que estava sendo operada;
Medida: toda causa que envolve uma medida tomada anteriormente para
modificar o processo, etc;
28
Meio ambiente; toda causa que envolve o meio ambiente em si ( poluio,
calor, poeira, etc.)e o ambiente de trabalho (layout, falta de espao, dimensionamento
inadequado dos equipamentos, etc(KAOLU, 2008).
Este diagrama, originalmente proposto por Kaoru Ishikawa na dcada de 60, j foi
bastante utilizado em ambientes industriais para a localizao de causas de disperso de
qualidade no produto e no processo de produo. Ele uma ferramenta grfica utilizada para
explorar e representar opinies a respeito de fontes de variaes em qualidade de processo,
mas que pode perfeitamente ser utilizada para a anlise de problemas organizacionais
genricos (KAOLU, 2008).
Como fazer um diagrama de Ishikawa?
Antes de comear a desenhar o diagrama, os seguintes passos devem ser cumpridos:
1.
Determine o problema que ser analisado no diagrama e o objetivo que se
espera alcanar;
2.
Junte informao a respeito do problema em questo;
3.
Rena um grupo que possa ajudar na criao do diagrama, e depois de
apresentar as devidas informaes, promova uma sesso de brainstormingsobre o problema;
4.
Ordene todas as informaes de forma sucinta, aponte as principais causas e
elimine informao dispensvel;
5.
Desenhe o diagrama tendo em conta as causas que devem estar de acordo com
os 6 Ms (mquina, mtodo, mo de obra, matria prima, meio ambiente, medio);
6.
Elabore um plano de anlise das causas: com o intuito de verificar quais so as
causas mais influentes no processo, estabelece-se um plano de coleta e anlise de dados
(VILAA, 2010).
Um diagrama de Ishikawa deve conter os seguintes componentes:
Cabealho: Ttulo, autor (es), data;
Efeito: Deve conter o indicador de qualidade e o problema a ser analisado. O
efeito normalmente ocupa o lado direito da folha;
Eixo central: Representado por uma flecha horizontal, aponta para o efeito e
uma linha horizontal no meio da folha;
Categoria: indica os os grupos de fatores mais importantes relacionados com o
efeito. Neste caso as flechas partem do eixo central e so inclinadas;
29
Causa: Causa potencial, pertencente a uma categoria que pode colaborar com o
efeito. As flechas contituem linhas horizontais, que apontam para a flecha da
categoria;
Sub-causa: Causa potencial que pode contribuir com uma causa especfica. So
derivaes de uma causa(VILAA, 2010).
2.5CHECK LIST
Umchecklist uma lista de verificao que varia conforme o setor no qual utilizado.
Pode ser elaborado para verificar as atividades j efetuadas a ainda a serem feitas
(REBOUAS, 2013).
Frequentemente usado em indstrias em procedimentos de operaes, para verificar a
conformidade de processos, padronizao de tarefas, preveno de erros, entre outros.
O procedimento utilizado para definir tarefas de curto, mdio e longo prazo
relacionados ao desenvolvimento de um projeto. Ochecklist deve ser resumido, no deve ser
redigida como relatrio, deve ir diretamente a cada ponto pertencente a um processo em
questo (REBOUAS, 2013).
30
3 MATERIAIS E MTODOS
3.1 MATERIAIS
3.1.1 PROCESSO
Para o presente estudo importante descrever o processo de produo da empresa em
questo.
A empresa possui 11 linhas de produo, divididas em duas sees denominadas
fabrica 1: produo de sachs e fbrica 2: produo de vidros. As fbricas se encontram num
mesmo galpo, porm h um corredor que as separa para o transporte do produto final at o
setor de expedio e logstica e passagem at a manuteno. Neste corredor h um fluxo de
veculos de transporte motorizado, manual, carros e movimentao de pessoas.
Os produtos so envasados em embalagens de polietileno (sachs) ou em vidros que
variam de 100 g a 500g, so acondicionados em caixas de papelo que possuem peso varivel
entre 4,2kg a9,84kg, e colocados em pallets de madeira para transporte e armazenamento,
com peso final varivel de 454kg a 650kg.
As linhas de produo se encontram em galpo independente do setor de expedio e
logstica, a distncia entre estes setores de aproximadamente 200m, onde h grande fluxo de
pessoas, transporte de materiais e desembarque de mercadorias matrias primas para o
processo industrial, etc.
So transportados aproximadamente 120 pallets por dia entre produo e expedio.
3.1.2 DESCRIO DO ACIDENTE
A funcionria A estava saindo para o horrio do almoo da fbrica 1 produo de
sachs ao abrir a porta que da acesso ao corredor foi atingida por uma empilhadeira. O
operador B da empilhadeira, no obtinha visibilidade devido altura do pallet -neste local
quando a empilhadeira carregada o operador deveria estar transitando de r procedimento no
realizado no momento - escutou um barulho, mas no parou, somente aps o alerta de colegas
o mesmo parou.
31
A funcionria A foi atingida no calcanhar direito levando a fratura e foi arrastada por
alguns metros causando queimadura na coxa direita.
Logo aps o ocorrido, a tcnica de segurana do trabalho C e um cipeiro D
compareceram ao local, e o procedimento de emergncia adotado foi o acionamento do SIAT
que a encaminhou para o hospital mais prximo.
3.2 MTODOS
3.2.1 ENTREVISTAS
Inicialmente foi-se selecionado um grupo de pessoas de diferentes nveis hierrquicos
da empresa para anlise do acidente.
Os participantes do grupo so:
Supervisor da Manuteno;
Tcnico de segurana do trabalho;
Supervisor de Produo;
Gerente de Produo;
Auxiliar de Controle de Qualidade;
Auxiliar de Produo.
Reuniu-se o grupo e foi-se at a linha de produo onde se fez uma conversa com as
pessoas que presenciaram o acidente, obtendo-se informaes sobre as condies que levaram
ao acidente o evento.
Buscou-se responder as seguintes questes:
1.
O que e como aconteceu o evento?
2.
Como a organizao do trabalho contribui para o evento?
3.
Manuteno e limpeza eram suficientes?
4.
As pessoas envolvidas eram capacitadas?
5.
O layout do local de trabalho influenciou no evento?
6.
Outras condies influenciaram o evento?
32
3.2.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Aps entrevista no local do acidente, o grupo de estudo reuniu-se em sala de reunies
com a coleta de dados obtida na entrevista anterior e iniciou-se uma conversa onde todos
apontaram quais possveis causas do acidente com a funcionria da qualidade A.
Um dos participantes anotou as possveis causas em quadro negro, uma a uma, aps a
finalizao da conversa, o mesmo agrupou as possveis causas e transportou-as para o
Diagrama de Ishikawa.
3.2.3 CHECK LIST NR 11
Aplicou-se CheckList com itens da NR - 11 a fim de verificar se a empresa atende os
dispostos da mesma em relao aos itens relacionados ao transportes de cargas.
O questionrio foi elaborado com base na NR 11 contendo 37 perguntas.
33
4 RESULTADOS E DISCUSSES
4.1ENTREVISTAS
O resultado da entrevista serviu como base para a equipe conhecer o processo e obter
informaes relevantes sobre o acidente.
Com as respostas da entrevista em questo, a equipe pode ter subsdios para discusso
e levantamento de hipteses, realizao de um Brainstorming, para utilizao da ferramenta
Diagrama de Ishikawa.
No momento da entrevista um ponto que ficou evidente que uma condio que pode
ter contribudo para a falta de ateno de ambos operadores o horrio do evento em questo,
sada para o almoo, neste horrio os colaboradores costumam sair apressados do local de
trabalho para se dirigirem ao refeitrio.
4.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Atravs de reunio com equipe chegou-se as seguintes causas possveis do acidente e
agrupou-se abaixo na figura:
GERENCIAMENTO
- Falta de treinamento ou
treinamento inadequado ao condutor
- Falta de curso de reciclagem
p/ condutores
MO DE OBRA
- No cumprimento de
procedimentos
- Excesso de velocidade
- Ritmo de trabalho
- Desateno
- Stress do condutor devido as condies
- Desateno de pedestres
- Falta de exames clinicos como exames de
acuidade visual e auditiva
MTODOS
- Falta de procedimento p/ trafegar
com empilhadeira
- Falta de procedimento p/ trafegar a p
EFEITO
ATROPELAMENTO
- Falta de sinalizao nas vias de pedestres
- Falta sensor na porta ao abrir
- Falta de sinalizao nas vias
- Falta de guarda corpo na sada
de pedestres
- Falta de visibilidade
- Iluminao inadequada
- Resduos no piso que dificultam
- Ausncia de sinalizao visual
- Ausncia de sinalizao sonora
- Problemas de freio
- Pontos cegos na
empilhadeira
- Viso obstruda pela carga
frenagem
MEIO AMBIENTE
MQUINA
MATERIAL
34
O grupo aps utilizao da ferramenta Diagrama de Ishikawa apontou a seguintes
causas fundamentais do acidente: falta de ateno por parte da funcionria ao sair do local de
trabalho, falta de ateno do operador de empilhadeira, no atendimento dos procedimentos
quanto visualizao obstruda pela carga, pois no momento do acidente o operador
transitava de frente com elevao do pallets impedindo total visualizao do local.
4.3 CHECK LIST NR 11
O resultado foi que a empresa atende todos os requisitos da mesma quanto ao
transporte de cargas, a mesma se preocupa com o treinamento anual dos operadores
contratando empresa especializada para realizao de tal, a CIPA realiza checklist dos
equipamentos mensalmente e os documenta, manutenes preventivas so realizadas de
acordo com programa de manuteno preventiva da manuteno, peas quando avariadas so
trocadas e substitudas imediatamente, entre outros.
Figura 2: Aplicao NR -11 - sinal luminoso e guarda corpo.
Fonte: do autor, 2013.
35
Figura 3: Aplicao NR -11 - faixa de pedestre.
Fonte: do autor, 2013.
4.4RECOMENDAES
4.4.1 RECOMENDAES PARA OPERADORES DE EMPILHADEIRAS
As principais recomendaes para os operadores so:
Ao se aproximar de um cruzamento ou passagem de pedestres, diminuir a
velocidade e acionar a buzina;
Atentar ao sinal luminoso e diminuir a velocidade prxima s portas de acesso
aos galpes onde h transito de pedestres;
No caso de pouca iluminao, manter os faris dianteiros acessos;
A velocidade deve ser compatvel com a rea de visibilidade do operador, no
caso do acidente citado o operador deve transitar em marcha r;
36
Diminua a marcha em superfcies molhadas ou escorregadias;
Ao dirigir em espao limitado, observar se o caminho est livre de pessoas e
obstculos, caso necessrio, pedir auxlio;
Antes de colocar a empilhadeira em marcha r, certificar-se de que no h
pessoas a sua volta;
Parar a mquina imediatamente ao constatar qualquer anormalidade em sua
operao;
Manuteno preventiva nos veculos de transporte;
Manuteno corretiva e troca de peas imediatamente quando necessrio;
Treinamento anual com empresa especializada segundo recomendaes da
Orientao de equipe para transitar somente em faixa de pedestres;
No usar pallets com defeito ou danificados, no armazene pallets com ripas
NR11;
soltas ou mal fixadas;
Remover obstculos antes de seguir viagem;
Os garfos devem ser sempre bem colocados sob a carga, de preferencia no
comprimento total deles. Ao andar, a parte de trs da carga deve estar firmemente localizada o
guarda-corpo e o mastro inclinado para trs;
Certificar-se que h espao suficiente para levantar e manobrar a carga;
Verificar se a carga esta segura;
No passar a carga por cima de pessoas e no permitir que as pessoas passem
sob os garfos ou permaneam nas proximidades;
Cuidado ao elevar ou posicionar carga muito prxima a empilhamentos, a fim
de evitar batidas e tombamentos;
Verificar peso da carga se compatvel com o equipamento;
No levantar cargas instveis;
No arrastar cargas sobre o piso, nem as empurre;
Evitar carregar material solto, este dever ser transportado em recipiente
prprio ou plataforma com proteo lateral;
No movimentar cargas em excesso ou acrescentar mais contrapeso
empilhadeira;
Cuidado ao frenar, pois empilhadeira carregada pode tombar;
37
No obstruir passagem de pessoas, sadas de emergncia, incndio e
equipamentos;
No realizar curvas em alta velocidade;
No permitir passageiros nos garfos ou em qualquer outra parte da
empilhadeira;
Obedecer todos os sinais e demarcaes, dirigir devagar e acionar a buzina
sempre que necessrio;
No brincar com pedestres;
No andar com garfos elevados;
Uniforme e calados em condies adequadas de higiene e em boa
conservao;
No arrancar de forma brusca ou parar nestas condies;
Quando na operao da empilhadeira, o operador deve ficar alerta, olhar em
direo ao percurso e manter a viso clara do caminho frente;
Olhar nos espelhos quando for cruzar numa esquina na fabrica;
No usar fone de ouvido ou falar ao telefone celular quando estiver
movimentando cargas;
4.4.2 RECOMENDAES PARA PEDESTRES
As principais recomendaes para os pedestres so:
Na integrao de funcionrios, aplicar ordem de servio explicando riscos da
funo a ser exercida;
Aplicao de DSS com toda a equipe;
Ateno ao transito interno de carrinhos hidrulicos e empilhadeiras;
No correr;
No passar e nem permanecer sob carga suspensa;
Usar os retrovisores ao cruzar as esquinas da fabrica;
No passar na frente ou atrs da empilhadeira quando ela estiver em operao;
Transitar somente nas faixas de segurana;
No ultrapassar reas isoladas ou sinalizadas;
38
Evitar transitar em reas externas onde h grande circulao de carga e
descarga;
Manter portas sempre fechadas;
Ao abrir as portas olhar para os dois lados e verificar se h o transito de
empilhadeiras;
No usar fones de ouvido ou falar ao telefone em locais de grande
movimentao de carga e descarga;
Prestar ateno sinalizao luminosa e sonora dos locais.
39
5 CONCLUSO
Com base no estudo do acidente ocorrido utilizando a Ferramenta Diagrama de
Ishikawa, alinhado com o checklist da NR 11 chegou-se a duas causas mais provveis: falta
de ateno por ambos operadores e falta de atendimento de procedimentos para
operacionalizao de empilhadeiras.
Podem-se identificar alguns fatores de risco na atividade.
O local do acidente de grande circulao de pessoas, assim necessita-se de intensiva
sinalizao de segurana e ateno por parte dos operadores.
Observa-se que a empresa investe em equipamentos de proteo individual e coletiva,
a mesma possui sinalizadores nas portas de acesso das fabricas, faixas de pedestres e guarda
corpo. Treinamentos anuais com operadores de empilhadeiras so realizados com empresas
especializadas, manutenes preventivas e corretivas so realizadas e documentadas. A CIPA
acompanha atravs de checklist a conservao das empilhadeiras mensalmente.
Operadores de empilhadeira so orientados quando a visibilidade do operador, se
necessrio os mesmos transitam em marcha r, pedestres esto atentos ao transito de
maquinas e alertas sonoros, em cruzamento de portas atentam-se aos espelhos retrovisores,
ordem de servio so emitidas no primeiro dia de trabalho, orientando novos colaboradores
sobre riscos existentes.
Conclui-se que na atividade de transporte, movimentao de materiais necessrio
seguir as normas regulamentadoras, trabalho intensivo de treinamento e orientao de
colaboradores, quanto ao conhecimento de normas e procedimentos, tomada de ateno ao
transitar em vias de circulao de equipamentos de transporte e investimento em equipamento
de proteo coletiva.
40
REFERNCIAS
ANTONIO, M,.Riscos na operao de empilhadeira elaborado em 2010. Disponvel em
<http://zonaderisco.blogspot.com.br/2010/06/riscos-na-operacao-de-empilhadeiras.htm>
acessado em 19/03/2013.
BRANCO, R. Dicas de Segurana em Plataforma Elevatrias elaborado em 2010.
Disponvel
em
<http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/2998-dicas-de-
seguranca-em-plataformas-elevatorias/> acessado em 19/03/2013.
BRASIL. Ministrio do Trabalho e Emprego. Guia de Anlise acidentes de Trabalho
elaborado
em
2010.
Disponvel
em
<http://www.mte.gov.br/seg_sau/guia_analise_acidente.pdf>. Acessado em 10/03/2012.
CLARK EMPILHADEIRAS. Manual de Garantia e Revises 2008.
DIRIGIR COM SEGURANA, Curso Bsico de Operador de Empilhadeira elaborado em
2010.
Disponvel
em
<http://www.masspepsicosaf.com/pdf/programa_ventas/capacitacion/EMPILHADEIRA_PO
RT.pdf> acessado em 18/03/2013.
FAUTH, M. Cenrio Complexo. Revista Proteo, pg. 38, Outubro 2010.
ISQUERRO, A. Manual de Preveno de Acidentes em Empilhadeira elaborado em 2012.
Disponvel
em
<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA_P8AA/manual-prevencao-
acidentes-empilhadeiras?part=7> acessado em 15/03/2013.
JUNIOR, C. P. M,.A Segurana no uso de de veculos Industriais elaborado em 2011.
Disponvel
em
<http://www.cpsol.com.br/website/artigo.asp?cod=1872&idi=1&id=4117>
acessado em 20/03/2013.
KAOLU, F. Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa elaborado em 2008. disponvel em <
http://www.administradores.com.br/artigos/administracao-e-negocios/diagrama-de-causa-eefeito-de-ishikawa/26783/ > acessado em 18/03/2013.
41
NAVARRO, A, F. Riscos Associados ao transporte de Cargas elaborado em 2012.
Disponvel
em
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfRDMAA/riscos-associados-ao-
transporte-cargas> acessado em 19/03/2013.
NR11.
Disponvel
em
<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEF1FA6256B00/nr_11.pdf>Ace
ssado em 01/03/2013.
NR12. Disponvel em <http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr12.htm> Acessado
em 01/03/2013.
MESQUITA,
S,
S,
M.
NR
11
elaborado
em
2012.
Disponvel
em
<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAu_sAL/nr-11>acessado em 15/03/2013.
OAKLAND. J. S. Gerenciamento da Qualidade Total. Traduo Adalberto Guedes Pereira.
So Paulo: Nobel, 1994
REBOUAS.
F.
Checklist.
Disponvel
em
<http://www.infoescola.com/curiosidades/checklist> acessado em 05/06/2013.
SILVA,
E.
E.
Segurana
no
Uso
de
Empilhadeira.
Disponvel
em
<www.segurancaetrabalho.com.br/download/empilhadeira-edson.ppt> acessado em
01/05/13.
VILAA, B. S. P., NALASCO L. F., DOMINGUES, R. G. L. B., Cartilha Ferramentas de
Gesto
elaborada
em
2010.
Disponvel
em
<http://www.dpe.ma.gov.br/dpema/documentos/gespublica/FERRAMENTAS_DE_GESTAO
.pdf>acessado em 18/03/2013.
42
APNDICE
CheckList NR 11 Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de
Materiais.
DADOS DA INSPEO:
LOCAL:
INSPETOR:
DATA:
SIM
1
3
4
5
Os poos de elevadores e montacargas so cercados,
solidamente em toda sua altura, com exceo das portas e
cancelas existentes nos pavimentos?
Quando a cabine do elevador no se posiciona ao nvel do
pavimento, a abertura protegida por corrimo ou outra
estrutura?
Os equipamentos utilizados na movimentao de materiais
esto em perfeitas condies de trabalho?
Os acessrios para movimentao de cargas so
inspecionados?
Existe controle por escrito?
Os equipamentos utilizados na movimentao de matrias
possuem indicao em lugar visvel de da carga mxima de
trabalho permitida?
7 Os carros manuais para transporte possuem protetores para as
mos?
8 Os operadores de transporte com fora motriz prpria
possuem treinamento especfico dado pela empresa?
9 Os operadores de equipamentos possuem carto de
identificao?
10 Os operadores de equipamentos possuem carteira de CNH?
11 No carto possuem o prazo de validade de 1 ano?
12 Para a revalidao do carto o operador se submete a exame
de sade completo?
13 Os equipamentos de transporte motorizado possuem buzina?
14 Os equipamentos de transporte motorizado sofrem
manuteno preventiva?
15 As peas defeituosas so substitudas imediatamente?
16 Nos locais fechados ou com pouca ventilao, a emisso de
gases txicos controlada pela empresa?
17 Em locais fechados e sem ventilao, os veculos de transporte
no so de combusto interna?
NO
NA
43
18 A distncia para transporte manual de um saco de no
mximo 60m?
19 O transporte de descarga realizado mediante impulso de
veculo de trao mecanizada?
20 realizado o transporte manual de sacos, atravs de pranchas,
sobre vos inferiores a 1,00m (um metro)?
21 As pranchas citadas acima tem larguma mnima de 0,50m
(cinquenta centmetros)?
22 Na operao manual de carga e descarga de caminho ou
vago, o operador tem ajuda de um ajudante?
23 As pilhas de saco no armazm tem altura mxima limitada ao
nvel de resistncia do piso, a forma de resistncia dos
materiais de embalagem estabilidade, baseada na geometria,
tipo de amarrao, e inclinao das pilhas?
24 No processo de empilhamento mecanizado h o uso de
esteiras rolantes, dadas ou empilhadeiras?
25 Escada removvel de madeira para empilhamento manual
possui lance nico de degrau com acesso a um patamar final?
26 Escada removvel de madeira para empilhamento manual
possui largura mnima de 1,00m (um metro) e patamar nas
dimenses mnimas de 1,00mX1,00m (um metro X um metro) e
altura mxima, em relao ao solo, de 2,25m (dois metros e
vinte e cinco centmetros) ?
27 Escada removvel de madeira para empilhamento manual
guardada entre o piso e o espelho dos degraus, sendo o
espelho com altura inferior a 0,15m (quinze centmetros) e piso
com largura superior a 0,25m (vinte e cinco centmetros)?
28 Escada removvel de madeira para empilhamento manual
reforada na lateral e na vertical com estrutura metlica ou de
madeira que assegura sua estabilidade?
29 Escada removvel de madeira para empilhamento manual
possui corrimo ou guarda corpo na altura de 1,00 (um metro)
em toda sua extenso?
30 Escada removvel de madeira para empilhamento manual esta
em perfeita condies de estabilidade e segurana?
31 Escada removvel de madeira para empilhamento manual
quando detectada qualquer anomalia substituda
imediatamente?
32 O piso do armazm constitudo de material no escorregadio,
sem aspereza, e mantido em bom estado de conservao?
33 A empresa possui cobertura apropriada dos locais de carga e
descarga da sacaria?
34 O peso do material armazenado no excede a capacidade de
carga calculada para o piso?
35 O material armazenado disposto de forma a no obstruir
postas, equipamentos contra incndio, sadas de emergncia,
etc..?
36 A disposio da carga no dificulta o transito, a iluminao, e o
acesso a sada de emergncias?
37 O armazenamento obedece aos requisitos de segurana
especiais a cada tipo de material?
44
COMENTRIOS:
45
VIVIAN PEREIRA DE GOIS
ANLISE DE UM ACIDENTE COM EMPILHADEIRA E DA
APLICAO DA NR-11 DENTRO DE UMA EMPRESA NO RAMO DE
ALIMENTOS
Monografia aprovada como requisito parcial para obteno do ttulo de Especialista no Curso
de Ps-Graduao em Engenharia de Segurana do Trabalho, Universidade Tecnolgica
Federal do Paran UTFPR, pela comisso formada pelos professores:
Orientador:
_____________________________________________
Prof. M.Eng. Roberto Serta
Professor do XXV CEEST, UTFPR Cmpus Curitiba.
Banca:
_____________________________________________
Prof. Dr. Rodrigo Eduardo Catai
Departamento Acadmico de Construo Civil, UTFPR Cmpus Curitiba.
________________________________________
Prof. Dr. Adalberto Matoski
Departamento Acadmico de Construo Civil, UTFPR Cmpus Curitiba.
_______________________________________
Prof. Msc. Massayuki Mrio Hara
Departamento Acadmico de Construo Civil, UTFPR Cmpus Curitiba.
Curitiba
2013
O termo de aprovao assinado encontra-se na Coordenao do Curso
Você também pode gostar
- Prova-1 Mecanismo de Agressão e DefesaDocumento32 páginasProva-1 Mecanismo de Agressão e DefesaVanderleia Bernardo100% (2)
- Vigas Gerber e Quadros Planos 5.3Documento28 páginasVigas Gerber e Quadros Planos 5.3Barbara BittencourtAinda não há avaliações
- Sa7 PDFDocumento8 páginasSa7 PDFAMANDA BONET80% (5)
- PDCA - PGR Modificado 3Documento12 páginasPDCA - PGR Modificado 3Franciele Saija75% (4)
- Proposta Comercial ST - CAIO CUNHADocumento4 páginasProposta Comercial ST - CAIO CUNHAJadson Cunha100% (2)
- Trabalho SA 1 UC8Documento9 páginasTrabalho SA 1 UC8Vitoria Aquino100% (3)
- Luisa Neres Martins Sa1Documento5 páginasLuisa Neres Martins Sa1Luísa Martins50% (2)
- Trabalho SA2 UC6Documento7 páginasTrabalho SA2 UC6Vitoria Aquino100% (1)
- Levantamento-de-Aspectos-e-Impactos-Ambientais LaiaDocumento2 páginasLevantamento-de-Aspectos-e-Impactos-Ambientais LaiaShirley100% (3)
- Recuperação - Anexo 12 - Questionário Exigido Pelo Diretor Da Empresa Têxtil Roupas LtdaDocumento2 páginasRecuperação - Anexo 12 - Questionário Exigido Pelo Diretor Da Empresa Têxtil Roupas Ltdamayla araujoAinda não há avaliações
- Sap 1Documento1 páginaSap 1Computer Network100% (2)
- Sa 1 Uc5Documento4 páginasSa 1 Uc5Edson T de Jesus100% (2)
- Gestão de PessoasDocumento3 páginasGestão de PessoasGlaucia Lima100% (1)
- Semana 1Documento61 páginasSemana 1Nelson WalterAinda não há avaliações
- Sit Aprend 7 AlunoDocumento10 páginasSit Aprend 7 AlunoMaria DiasAinda não há avaliações
- Sit Aprend 1Documento10 páginasSit Aprend 1Evandro Xavier100% (3)
- Relatório Técnico - 3Documento11 páginasRelatório Técnico - 3Diego Zwang100% (2)
- Aro - Analize de Riscos OperacionaisDocumento2 páginasAro - Analize de Riscos Operacionaispedro guiçherme100% (1)
- Ppra - FarmaciaDocumento15 páginasPpra - FarmaciaShirleyAinda não há avaliações
- Evoluçao Do Homem e o RiscoDocumento1 páginaEvoluçao Do Homem e o RiscoShirley100% (1)
- Exercicio - Ozark FarmsDocumento2 páginasExercicio - Ozark FarmsShirley100% (4)
- Exercício - Cálculo IbutgDocumento6 páginasExercício - Cálculo IbutgShirley100% (1)
- ApontamentosDocumento44 páginasApontamentosPaula De Oliveira PintoAinda não há avaliações
- Clima de Segurança do Trabalho: a percepção do colaborador de forma válida e confiávelNo EverandClima de Segurança do Trabalho: a percepção do colaborador de forma válida e confiávelAinda não há avaliações
- Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho: Biomelhoramento ContínuoNo EverandGestão de Segurança e Saúde no Trabalho: Biomelhoramento ContínuoAinda não há avaliações
- A influência do Clima de Segurança sobre a Confiança do empregado na Organização e o Bem-Estar no Trabalho: Psicologia do Trabalho e OrganizacionalNo EverandA influência do Clima de Segurança sobre a Confiança do empregado na Organização e o Bem-Estar no Trabalho: Psicologia do Trabalho e OrganizacionalAinda não há avaliações
- Legislação De Segurança Do Trabalho: Textos SelecionadosNo EverandLegislação De Segurança Do Trabalho: Textos SelecionadosAinda não há avaliações
- Sap 2Documento2 páginasSap 2Junior Martins0% (1)
- Oxido de Ferro FispqDocumento6 páginasOxido de Ferro FispqFernando Menino100% (1)
- Anexo 13 e 14 Imagem Aérea Do Parque Fabril e Orientações para A Elaboração Do Plano de EmergênciasDocumento13 páginasAnexo 13 e 14 Imagem Aérea Do Parque Fabril e Orientações para A Elaboração Do Plano de EmergênciasJuliana Gonçalves100% (2)
- Sa05 Modelo de Relatório de AtribuiçõesDocumento1 páginaSa05 Modelo de Relatório de AtribuiçõesRosinaldo rps100% (1)
- Sap 1Documento3 páginasSap 1Ademar Vasconcelos100% (2)
- Sa 1.1 Check-List de Inspeção de Segurança AlunoDocumento2 páginasSa 1.1 Check-List de Inspeção de Segurança AlunoGuilherme Messias LimaAinda não há avaliações
- Plano de EmergênciaDocumento4 páginasPlano de EmergênciaJanielly FerreiraAinda não há avaliações
- Atividade de Treinamento - Planejamento Vazio-1Documento2 páginasAtividade de Treinamento - Planejamento Vazio-1聖人 ロクサーヌ0% (1)
- 6 Dimensionamento SESMT Nr4Documento8 páginas6 Dimensionamento SESMT Nr4Paulla CavallcanteAinda não há avaliações
- SAP 01etapa 02 - Esboço Gráfico e Parecer TécnicoDocumento2 páginasSAP 01etapa 02 - Esboço Gráfico e Parecer TécnicoÍcaro Silva100% (1)
- Empresa PapirotecDocumento3 páginasEmpresa PapirotecGraci Lemos100% (1)
- SA5 Unid.07Documento11 páginasSA5 Unid.07Ismael Jose NonesAinda não há avaliações
- Anexo Atividade 02 - Ficha de Avaliacao de TreinamentoDocumento2 páginasAnexo Atividade 02 - Ficha de Avaliacao de TreinamentoTHALITA SILVA COSTAAinda não há avaliações
- Sit Aprend 4Documento11 páginasSit Aprend 4Evandro Xavier50% (2)
- Sa 1Documento2 páginasSa 1Anna BagnaraAinda não há avaliações
- Anexo 5 - Planilha de Registro Das CapacitacoesDocumento4 páginasAnexo 5 - Planilha de Registro Das CapacitacoesFabiane100% (2)
- SA 3 - 15-07 FrioDocumento11 páginasSA 3 - 15-07 FrioAndrew Geisi BarrosAinda não há avaliações
- Prática 4 - RSSTDocumento1 páginaPrática 4 - RSSTMaria ClaraAinda não há avaliações
- Sap 02Documento2 páginasSap 02Fernanda Souza100% (1)
- Uc6 Sa4Documento2 páginasUc6 Sa4Talita Matos Souza100% (1)
- 75 - Atividade - Situação de Aprendizagem - 9 - Seg. TrabalhoDocumento4 páginas75 - Atividade - Situação de Aprendizagem - 9 - Seg. TrabalhoJoão Vitor100% (2)
- Anexo 2 - Modelo de Planejamento de TreinamentoDocumento2 páginasAnexo 2 - Modelo de Planejamento de TreinamentoTHALITA SILVA COSTA50% (2)
- UC 6 - SAP - 03 Higiêne OcupacionalDocumento2 páginasUC 6 - SAP - 03 Higiêne OcupacionalNaisson lima de sousa100% (1)
- UC6 - SA9.1 - FormulárioDocumento3 páginasUC6 - SA9.1 - Formuláriosaul saul100% (3)
- SA 1 - Rotinas de Sáude e Segurança No Trabalho 6 de Outubro de 2021Documento5 páginasSA 1 - Rotinas de Sáude e Segurança No Trabalho 6 de Outubro de 2021Maria Lilian Giunti100% (2)
- Luísa Neres - Sa1 MetodologiaDocumento6 páginasLuísa Neres - Sa1 MetodologiaLuísa Martins100% (1)
- Sap 01 - Uc 08Documento2 páginasSap 01 - Uc 08Pamella Santos100% (1)
- Sap 1Documento3 páginasSap 1Erique Oliveira50% (2)
- Anexo 14 Orientações para A Elaboração Do Plano de EmergênciasDocumento2 páginasAnexo 14 Orientações para A Elaboração Do Plano de EmergênciasJanielly Ferreira0% (1)
- Ucr9 - Sa1Documento3 páginasUcr9 - Sa1João Vitor Da Silveira100% (2)
- Relatório Sa4uc5Documento2 páginasRelatório Sa4uc5Vitoria AquinoAinda não há avaliações
- SA 5.2 - Modelo de Plano de Emergência - RICARDOMOTADocumento1 páginaSA 5.2 - Modelo de Plano de Emergência - RICARDOMOTARicardo Mota100% (1)
- Plano de Emergencia LiliDocumento12 páginasPlano de Emergencia LiliShirleyAinda não há avaliações
- Questões de Adm FinDocumento5 páginasQuestões de Adm FinShirleyAinda não há avaliações
- Capitalismo InformacionalDocumento2 páginasCapitalismo InformacionalShirleyAinda não há avaliações
- Apostila de Gerenciamento de Riscos UFF Pós GradDocumento121 páginasApostila de Gerenciamento de Riscos UFF Pós GradShirleyAinda não há avaliações
- Rinotraqueite Viral Felina Relato de CasoDocumento6 páginasRinotraqueite Viral Felina Relato de CasoShirleyAinda não há avaliações
- Segurança Transporte e Armazenamento PetroleoDocumento3 páginasSegurança Transporte e Armazenamento PetroleoShirleyAinda não há avaliações
- NBR 14280Documento3 páginasNBR 14280ShirleyAinda não há avaliações
- Brastemp Micro Ondas Bms46ab Manual Versao Digital 1Documento10 páginasBrastemp Micro Ondas Bms46ab Manual Versao Digital 1Leti De RezendeAinda não há avaliações
- Calendario AgrícolaDocumento3 páginasCalendario AgrícolaRui MorêdaAinda não há avaliações
- Agroecologia e Agricultura Organica 1462969754Documento40 páginasAgroecologia e Agricultura Organica 1462969754Fatima PrudencioAinda não há avaliações
- Fossa Septica Economica PDFDocumento2 páginasFossa Septica Economica PDFFernando Nogueira0% (1)
- Topicos de Fisica Geral Experimental 02Documento12 páginasTopicos de Fisica Geral Experimental 02Henrique BotaziniAinda não há avaliações
- Modelo Resultado Completo GOPC Orientação ProfissionalDocumento8 páginasModelo Resultado Completo GOPC Orientação ProfissionalpsicologajheniferstorckAinda não há avaliações
- O Poderoso Círculo de VitóriaDocumento10 páginasO Poderoso Círculo de VitóriaLuricyAinda não há avaliações
- Ageu 2 - Mensagem - CompletoDocumento5 páginasAgeu 2 - Mensagem - CompletoLucas Rogério100% (1)
- Flechas Douradas de Osun KarêDocumento8 páginasFlechas Douradas de Osun KarêDandamBorbaAinda não há avaliações
- BuscaRealidadeExperiencia Silva 2007Documento281 páginasBuscaRealidadeExperiencia Silva 2007Eloi MagalhãesAinda não há avaliações
- Avaliação - Atendimento Pré-Hospitalar, Transporte e Classificação de RiscosDocumento2 páginasAvaliação - Atendimento Pré-Hospitalar, Transporte e Classificação de RiscosAdiene Manso100% (1)
- Mapeamento de Áreas de Risco A Inundações Com ImagensDocumento17 páginasMapeamento de Áreas de Risco A Inundações Com ImagensISABELA CRISTINA RIBEIRO SOUZAAinda não há avaliações
- Tei 2023Documento2 páginasTei 2023flavinhotche83Ainda não há avaliações
- Documento de Registro de Veiculo NovoDocumento1 páginaDocumento de Registro de Veiculo NovoTomas NaveAinda não há avaliações
- Propagação Vegetativa e Sexuada de Plantas PDFDocumento107 páginasPropagação Vegetativa e Sexuada de Plantas PDFLucas SilvaAinda não há avaliações
- Caderno 2007Documento12 páginasCaderno 2007eduardo.espaconamaste9676Ainda não há avaliações
- Literatura Apostila I 5Documento28 páginasLiteratura Apostila I 5ayeskmachado100% (1)
- COSPE - Trinta Arvores e Arbustos Do Miombo Angolano-Guia de Campo para A IdentificacaoDocumento84 páginasCOSPE - Trinta Arvores e Arbustos Do Miombo Angolano-Guia de Campo para A IdentificacaoNelastaBandeiraAinda não há avaliações
- Empadinha e Torta de Frango Com Massa de IogurteDocumento3 páginasEmpadinha e Torta de Frango Com Massa de Iogurteapi-20000654Ainda não há avaliações
- Módulos Digitais Compact 5000 I/O: Manual Do UsuárioDocumento294 páginasMódulos Digitais Compact 5000 I/O: Manual Do Usuáriomauricio pachecoAinda não há avaliações
- Vulcanização Borracha NaturalDocumento12 páginasVulcanização Borracha NaturalordamAinda não há avaliações
- 8 - JESUS, Filho de DaviDocumento8 páginas8 - JESUS, Filho de DaviWilliams FerreiraAinda não há avaliações
- Ifba SDocumento3 páginasIfba Sjunior santa ritaAinda não há avaliações
- Pré-Banca - AnacDocumento10 páginasPré-Banca - Anacrfwt8q7ng9Ainda não há avaliações
- Tipos de Parafusos TransportadoresDocumento11 páginasTipos de Parafusos TransportadoresdesetekAinda não há avaliações
- Trabalho de Teoria de Correlacao e RegressaoDocumento9 páginasTrabalho de Teoria de Correlacao e RegressaoZuculaAinda não há avaliações