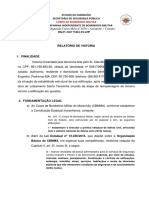Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Bom Selvagem e A Utopia Da Plenitude Humana
Enviado por
Valéria Moura VenturellaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Bom Selvagem e A Utopia Da Plenitude Humana
Enviado por
Valéria Moura VenturellaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O BOM SELVAGEM E A UTOPIA DA PLENITUDE HUMANA1
Valéria Moura Venturella2
Este trabalho realiza uma leitura das obras História da Província Santa Cruz a que
vulgarmente chamamos Brasil, Ubirajara, A Expedição Montaigne e Coisas de Índio,
buscando identificar e definir as diferentes representações do povo nativo brasileiro em suas
semelhanças e diferenças ao longo das obras. O trabalho também busca confrontar essas
representações com a concepção de “bom selvagem”, conforme expressa por Jean-Jacques
Rousseau em Discurso sobre as Ciências e as Artes, Emílio e Do Contrato Social.
O suíço Jean-Jacques Rousseau, pensador de grande influência na filosofia, na
política, na literatura e na educação (ARBOUSSE-BASTIDE; MACHADO, 1978), produziu
sua obra na Europa do século XVIII, um contexto em que as pequenas comunidades
extratoras tradicionais rapidamente davam lugar a centros urbanos em que tanto a
população quanto a riqueza cresciam, sendo que a última se distribuía de maneira
marcadamente desigual entre as pessoas (JOHNSTON, 1999). Ao vivenciar essa realidade
e refletir sobre esse contexto, o autor percebeu uma contradição fundamental entre o estado
de natureza e a sociedade civilizada, e atribuiu a degenerescência da humanidade à sua
trajetória do estado natural primitivo às sociedades modernas.
O fio de sentido que percorre o trabalho de Rousseau, presente já em seu primeiro
ensaio, publicado em 1750, Discurso sobre as Ciências e as Artes (ROUSSEAU, 1978a), é
a idéia de que o ser humano é essencialmente bom e feliz quando em seu estado natural –
anterior à criação da civilização e da sociedade – mas, submetido à influência corruptora
das sociedades artificiais, marcadas pela interdependência, pela hierarquia e pela
desigualdade, ele se torna insatisfeito consigo mesmo, mesquinho e invejoso, ou seja, mau
e infeliz. “O luxo, a dissolução e a escravidão foram, em todos os tempos, o castigo dos
esforços orgulhosos que fizemos para sair da ignorância feliz na qual nos colocara a
sabedoria eterna” (op. cit., p. 341), afirma o autor para sustentar sua tese.
Para Rousseau, uma das mais gritantes evidências da falha das sociedades em
promover o bem comum é a presença das desigualdades, não as individuais – dadas pelas
características marcantes que diferem os seres humanos uns dos outros – mas as sociais,
que não apenas permitem que alguns possuam mais que outros, mas também – e em
1 Texto produzido como pré-requisito para a aprovação na disciplina Tópicos de Narrativa,
ministrada pela Profa. Dra. Regina Zilbermann no Doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Teoria da Literatura da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – de
março a julho de 2005.
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Teoria da Literatura da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre e professora dos cursos de Pedagogia e Letras da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Campus Uruguaiana.
função dessas posses – atribuem importâncias e valores distintos a diferentes pessoas na
organização social. “Na ordem natural, sendo os homens (sic) todos iguais, sua vocação
comum é a condição de homem (sic) (ROUSSEAU, 1999, p. 14).
Ao longo de sua obra, Rousseau cultiva a representação idealizada de um ser
humano nobre e virtuoso por natureza, perfeito quando não submetido a coações sociais e
não exposto às maldades e aos vícios que emergem das relações civis. Essa representação
entrou para a tradição filosófica como “o bom selvagem”. É interessante observar que,
embora a mera menção do nome do pensador suíço nos remeta à concepção do “bom
selvagem”, Rousseau não chegou a usar essa expressão em seus escritos. O bom
selvagem – the noble savage nos termos originais – é uma criação do escritor inglês John
Dryden que, em sua obra dramática The Conquest of Granada, de 1670, assim descreve o
herói Almanzor, que luta pelos mouros contra os espanhóis que tentam conquistar Granada
(ROGERS, 2001).
Rousseau, em 1762, publicou simultaneamente Emílio, ou da Educação e Do
Contrato Social. Podemos considerar as duas obras como complementares, uma vez que
ambas advogam a retomada de valores essenciais que, em última instância, poderia
reconduzir os seres humanos à felicidade perdida no interior das sociedades, a primeira por
meio da educação dos jovens, e a segunda por meio da reorganização social.
Rousseau abre Emílio – um tratado minucioso que prescreve, passo a passo, a
formação de um jovem órfão desde seu nascimento até os 25 anos, idade em que é
considerado maduro para a vida em sociedade – afirmando que “tudo está bem quando sai
das mãos do autor das coisas, tudo degenera entre as mãos do homem (sic)” (ROUSSEAU,
1999, p. 7). Para que sua degeneração seja evitada, seu desenvolvimento é tutorado por um
sempre presente preceptor que se esforça para proporcionar ao menino um ambiente
natural, protegido das restrições sociais, e organizado de modo a fazer emergir suas mais
nobres inclinações inatas e a fazer de cada momento de sua vida um evento educativo.
Apesar de a proposta educacional presente em Emílio ser extremamente artificial,
cuidadosamente planejada e monitorada por um tutor atento a cada movimento de seu
discípulo, seu objetivo é, em última instância, autonomizante. Ao pregar um exercício
constante de auto-conhecimento – mesmo que não por meio da razão, mas da emoção e de
um envolvimento sensorial pleno com a natureza – Rousseau defende a maturação do ser
humano no sentido de atingir a crença de que a razão é seu melhor guia. A moralidade de
um ser humano educado nesses moldes, segundo o autor, não emana de leis e regras
exteriores, mas de sua consciência de si como um ser responsável por suas próprias ações,
embora colocado a conviver com outros em um grupo social. “Viver é o ofício que quero
ensinar-lhe” (op. cit., p. 14), diz o preceptor a Emílio.
Do Contrato Social inicia com a conhecida frase: “O homem nasce livre, e por toda a
parte encontra-se a ferros” (ROUSSEAU, 1978b, p. 22). Com esse trabalho, Rousseau
pretendia, mais do que denunciar o estado de escravidão a que os seres humanos se
submetem em suas relações sociais, estabelecer fundamentos para que a humanidade
pudesse readquirir, legitimamente, no próprio seio da sociedade, a liberdade natural perdida.
Segundo o pensador, essa reconquista se tornaria possível através do
reconhecimento de uma vontade geral, de um interesse coletivo pelo bem comum, ou seja,
de um contrato social do qual todos participariam, com o qual todos se comprometeriam e
ao qual todos se submeteriam, mesmo que por ele tivessem que sacrificar suas ambições
pessoais. Esse modo de vida poderia, assim, promover a liberdade e a igualdade entre os
seres humanos. Rousseau propõe, desse modo, um pacto fundamental que, “em lugar de
destituir a igualdade natural, pelo contrário substitui por uma igualdade moral e legítima
aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens, que, podendo
ser desiguais na força ou no gênio, todos se tornam iguais por convenção e direito” (op. cit.,
p. 39).
Rousseau legou à história do pensamento humano a noção de que a sociedade –
com suas relações artificializadas e luxos supérfluos – corrompe a bondade e a felicidade
inatas de todo ser humano, e que devemos lutar, individual e socialmente, para reconquistar
a liberdade e a nobreza que nos foi tirada pelo progresso da civilização. É sob essa ótica
que as obras a seguir – e as diferentes representações do ser humano não-civilizado nelas
apresentadas – serão estudadas.
A História da Província Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil, escrita por
Pero Magalhães de Gandavo em 1575, é considerada o primeiro relato impresso em
português sobre o Brasil. Possivelmente com o objetivo de divulgar as belezas e as riquezas
da terra para possíveis colonizadores, Gandavo, ao relatar suas experiências nas terras
brasileiras, buscou oferecer uma descrição ampla e geral do Brasil – o clima, a fauna e a
flora, a gente e as oportunidades de enriquecimento – em uma linguagem acessível às
camadas populares do Portugal de então. “[...] nam busquei epitetos exquisitos, nem outra
fermosura de vocabulos de que os eloquentes Oradores costumão usar pera com artificio de
palavras engrandecerem suas obras” (GANDAVO, 1924, p. 76), adverte ele já no início do
texto.
Nessa obra, é possível percebermos o assombro europeu diante de um mundo novo,
exótico, incompreensível a seus olhos. Gandavo, apesar de reconhecer a diversidade de
nações e de línguas tradicionais ao longo da costa e de parte do sertão, tende a considerar
os nativos como um único povo indistinto: “ainda que estejam divisos, e haja entre elles
diversos nomes de nações, todavia na semelhança, condição, costumes, e ritos gentílicos,
todos sam huns: e se nalguma maneira differem nesta parte, he tam pouco, que se nam
pode fazer caso disso” (op. cit., p. 124). E é desse modo generalizante que o autor descreve
o aspecto físico, os traços de personalidade, as habitações, os ornamentos que
confeccionam e portam, os rituais e os costumes, e essas descrições são carregadas de um
evidente tom de desaprovação e desprezo.
Os povos naturais brasileiros são representados como seres selvagens, muito
próximos aos animais, tanto que as palavras “macho” e “fêmea” são usadas no lugar de
“homem” e “mulher”. Ao contrário do que Rousseau viria a afirmar dois séculos mais tarde,
para o historiador português os nativos são impressionáveis, inconstantes, preguiçosos e
desonestos, além de dados aos vícios. Seu destemor se deve mais à impulsividade que à
bravura, e suas guerras – sem sentido aparente – mais parecem brincadeiras de crianças
em que muitos se ferem, outros tantos morrem e nenhum conflito é superado. Os nativos
são também desumanos e vingativos, e também praticantes cruéis e sanguinários de
canibalismo. É possível acreditar que a visão expressa pelo viajante português fosse
dominante entre os europeus que exploravam o novo mundo. Essa avaliação negativa, no
entanto, não impediu que os brancos estabelecessem relações – diplomáticas, comerciais,
de dominação, e até mesmo pessoais e sexuais – com os nativos.
Gandavo narra também a hospitalidade com que muitos povos recebiam os
portugueses, a estima que pareciam lhes dedicar e sua receptividade em relação aos
costumes e rituais religiosos do povo europeu. Quando a expedição de Cabral realizou sua
primeira missa cantada, por exemplo, os nativos a observaram com quietude, chegando a
acompanhar os portugueses nos gestos da cerimônia. O autor acredita que essa abertura
aos novos ritos se devia à falta de outra profissão de fé. “gente que nam tinha impedimento
de ídolos nem professava outra lei alguma que podesse contradizer a esta nossa” (op. cit.,
p. 78).
O cronista português revela também o valor econômico que os europeus viam nos
povos da terra, ao afirmar que eles podiam ser mantidos nas fazendas como escravos, o
que auxiliava os colonizadores na construção de sua fortuna na nova terra. Os que se
rebelavam contra a privação de liberdade e o trabalho forçado eram considerados hostis, e
combatidos impiedosamente. Já apenas 75 anos após o descobrimento do Brasil, Gandavo
relata a destruição de muitos nativos, mortos pelos portugueses “porque os mesmos Índios
se levantavão contra elles e lhes fazião muitas treições” (op. cit., p. 85). Os nativos rebeldes
que não sucumbiram nas lutas acabavam por ter de abandonar suas terras na costa para se
refugiar no sertão.
Ainda assim, ele revela admirar alguns aspectos do estilo de vida dos nativos, como
seus hábitos de higiene, sua solidez e a força de sua saúde, a harmonia em que vivem e o
respeito que cada nação dedica a seu líder, a quem o povo “obedece por vontade e nam por
força” (op. cit., p. 125).
Rousseau, em Do Contrato Social, afirma que “se se impõe obedecer pela força, não
se tem necessidade de obedecer por dever, e, se não se for mais forçado a obedecer, já
não se estará mais obrigado a fazê-lo” (ROUSSEAU, 1978b, p. 26). O pensador suíço
acredita que o único arranjo social sustentável se dá pela concordância voluntária de todos
os membros da sociedade com as normas que regem seu comportamento e com a liderança
exercida pelo cabeça do grupo. Por sua vez, Daniel Munduruku, em Coisas de Índio, explica
porque o uso da força é desnecessário nas organizações sociais tradicionais. Um líder,
nesse tipo de sociedade, é respeitado por seus membros por possuir qualidades tais como a
disposição para o trabalho, a generosidade e o conhecimento profundo das tradições do
povo. Mesmo assim, afirma o autor, a autoridade do líder é limitada. Ele não tem poder
sobre as vidas individuais de seus liderados, e muitas das disputas entre pessoas ou entre
famílias não passam por seu crivo, cabendo às partes em conflito resolver o problema e
determinar a punição dos faltosos.
Enquanto Gandavo rotula essas resoluções entre partes como sede de vingança,
Johnston (1999), na conferência Introduction to Rousseau’s Emile, explica que as
comunidades primitivas geralmente encontram nas tradições preservadas nos rituais
coletivos seus modos próprios de lidar com os conflitos que emergem das relações entre
seus membros, sem necessitarem recorrer a um juiz imparcial. O autor afirma que isso se
deve ao sentimento de pertença e à compreensão mútua que une seus membros e mantém
a sociedade coesa. Essas sociedades, embora não contem com leis codificadas, educação
formal ou noções de direitos individuais, parecem garantir a normatização da vida em grupo.
Ao final de Ubirajara, o romancista brasileiro José de Alencar interpreta a visão de
Gandavo, assim como a de outros cronistas portugueses da mesma época, do seguinte
modo: “Homens cultos, filhos de uma sociedade velha e curtida por longo trato de séculos,
queriam esses forasteiros achar os indígenas (sic) de um mundo novo e segregado da
civilização universal uma perfeita conformidade de idéias e costumes” (ALENCAR, 1969, p.
145). Alencar critica, desse modo, a percepção estreita e preconceituosa expressa por
Gandavo, atribuindo-a, mais do que à estranheza, à falta de esforço, por parte dos
europeus, para tentar se deslocar de seu ponto de vista para compreender e valorizar os
povos nativos. “As coisas mais poéticas, os traços mais generosos e cavalheirescos do
caráter dos selvagens, os sentimentos mais nobres desses filhos da natureza, são
deturpados por uma linguagem imprópria”, afirma o autor (op. cit., p. 146), em pleno acordo
com o ideal de ser humano intrinsecamente bom pregado por Rousseau.
Alencar é considerado o escritor brasileiro que deu uma roupagem nacional ao
romantismo ao produzir as obras de sua chamada fase indianista O Guarani, Iracema e
Ubirajara (VERÍSSIMO, 1998). Mais do que oferecer uma visão idílica da vida que os nativos
levavam antes da chegada dos portugueses ao Brasil, o autor procurou, nesses romances
fundados no lirismo, promover não só um resgate da nobreza de nossos povos naturais,
mas a consolidação de uma identidade puramente brasileira, que Alencar acreditava estar
não nas áreas em rápido processo de urbanização da época, mas no passado histórico dos
povos originais.
Ubirajara, uma história que se passa antes da chegada dos europeus ao novo
mundo, narra a saga de Jaguarê, um jovem caçador araguaia, que parte de sua taba em
busca de um adversário que, ao ser derrotado, possa lhe conferir o título e o prestígio de um
grande guerreiro. Ao combater e vencer Pojucã, um valoroso membro da nação Tocantim,
Jaguarê adota o nome Ubirajara – o senhor da lança.
Ubirajara, porém, não elimina Pojucã no combate, mas o captura e o leva para sua
taba como prova de seu triunfo e de sua capacidade de liderar seu povo. Ao descrever o
tratamento oferecido pelos araguaias a Pojucã após sua captura, Alencar nos oferece uma
visão alternativa à de Gandavo em História da Província Santa Cruz. Onde os olhos
europeus de Gandavo enxergavam apenas insensatez e crueldade, o romancista procura o
valor dos rituais em que se celebram e afirmam a coragem e a honra não só do vencedor,
mas especialmente do vencido.
Outro valor afirmado em Ubirajara é o amor sincero, que resiste aos percalços e à
decepção. Embora em sua tribo de origem estivesse prometido a Jandira, em sua busca por
um adversário à sua altura Jaguarê encontra Araci – a grande estrela do dia – e por ela se
apaixona. Araci, porém, é filha do líder tocantim Iraquê, e irmã de Pojucã. Está estabelecido
aqui o grande percalço que o herói Ubirajara deverá superar para chegar a seu apogeu.
Protegido pela “lei da hospitalidade” e pelo nome falso de Jurandir, Ubirajara é
recebido pelos tocantins. Escondendo o fato de que venceu e capturou Pojucã, ele é aceito
como servo do pai de Araci e se submete aos rituais de seleção do jovem que desposará a
filha do líder. Ao vencer o combate nupcial, Ubirajara se torna o esposo da jovem, e é então
chegado o momento de revelar à nação tocantim a verdade sobre a captura do irmão de
Araci, o que desencadeia a guerra entre as etnias Araguaia e Tocantim.
Ubirajara retorna, então, à sua tribo para anunciar o conflito e preparar seus
guerreiros. Ao chegar lá, porém, é informado de que os tocantins estão em guerra com os
tapuias. Quando Iraquê é cegado por um menino tapuia, os tocantins se vêem sem
liderança. Nesse momento, o herói demonstra novamente as qualidades de um grande
guerreiro, ao ser o único capaz de dobrar o arco de Iraquê, e se torna o novo líder tocantim.
A união entre os povos Araguaia e Tocantim, sob a liderança do jovem Ubirajara e de
suas duas esposas Jandira e Araci, originam a grande nação Ubirajara, que habitava a
nascente do Rio São Francisco quando da chegada dos europeus.
Representado por Alencar como um grande herói romântico – jovem, forte, corajoso
e bonito – Ubirajara é um personagem não histórico, mas lendário. “Chamei-lhe lenda”,
afirma o autor na “Advertência” ao final de Ubirajara. “Nenhum título responde melhor pela
propriedade, como pela modéstia, às tradições da pátria indígena” (ALENCAR, 1969, p.
145). Essa representação idealizada do nativo brasileiro, e de sua cultura original, alicerça
nosso nacionalismo romântico ao ressaltar valores como pureza de espírito, honra, bravura,
determinação, lealdade às tradições e espírito de comunidade, que Alencar afirmava
estarem no âmago do caráter nativo.
Em seu crescimento, ao longo da narrativa, de um impetuoso caçador araguaia a um
sensato guerreiro e líder de dois povos, Ubirajara é um personagem utópico – mas que, na
visão de Alencar, poderia ser real – que encontra perfeitamente o “bom selvagem” de
Rousseau em todas as suas características. “Como admitir que bárbaros, quais nos
pintaram os indígenas, brutos e canibais, antes feras que homens fossem suscetíveis
desses brios nativos que realçam a dignidade do rei da criação?” (op. cit., p. 145), desafia o
escritor, em seu esforço para solidificar essa bela representação idealizada dos povos
naturais de nossa terra e, por conseguinte, de nossa própria essência.
É contra essa idealização que Antonio Callado parece, à primeira vista, se erguer
com sua obra iconoclasta, A Expedição Montaigne. Escrita em 1980, essa é uma narrativa
naturalista ácida, permeada pelo humor negro, das ridículas peripécias de Paiap, um
adolescente camaiurá resgatado do Crenaque – um arruinado reformatório para nativos
infratores localizado em Resplendor, Minas Gerais – pelo decadente e delirante jornalista
Vicentino Beirão, com o objetivo de realizar uma expedição de resgate, pelos nativos
remanescentes no solo brasileiro, das posses perdidas dos proprietários originais terra,
restabelecendo, “depois do breve intervalo de cinco séculos, o equilíbrio rompido”
(CALLADO, 1982, p. 11).
O personagem Paiap, de Callado, é um nativo que “não queria por nada deste
mundo voltar a ser índio” (op. cit., p. 13). Ele despreza o estilo de vida, os costumes, as
instituições, a arte e a sabedoria dos povos tradicionais, demonstrando admiração por tudo
o que é “dos brancos”, desde o papel higiênico até a cerveja, passando pelos apartamentos
e pelas calças de tergal. Desde menino, Paiap queria viver entre os brancos, pois acreditava
que “só fica lá no meio dos bichos e do mato quem não quer progredir na vida” (op. cit., p.
15).
Sua oportunidade surgiu quando, infectado pela tuberculose, foi levado a um
hospital, de onde fugiu – ainda doente – para a cidade. Após cometer uma série de
pequenos delitos, foi levado ao Crenaque, onde nada lhe faltava, seu lar. Ao chegar no
presídio, Paiap falava muito sobre Ipavu, a lagoa às margens da qual seu povo se
estabeleceu. Então, “[...] os brancos tinham trocado o nome dele pelo da lagoa” (op. cit., p.
13). Ipavu era seu novo nome, escolhido por seus novos companheiros brancos, em um
rebatismo e um reinício que Paiap aceitou de bom grado.
Durante sua estadia no “educandário”, a formação de Ipavu foi tutorada por Seu
Vivaldo, – uma espécie de avesso do tutor rousseauniano – que se encarregou de lhe
ensinar a se expressar em português, a apreciar cerveja, a trapacear, a roubar e,
principalmente, a odiar profundamente a condição dos nativos brasileiros, “o próprio estrume
da terra” (op. cit., p. 19). Seu Vivaldo, no entanto, havia percebido que “se a gente pegasse
índio bravo mas ainda meninote – e estava aí Ipavu, que não deixava ele mentir – a primeira
coisa que índio descobria era que ser índio era uma merda de fazer gosto” (op. cit., p. 19).
Foi essa crença que inspirou Seu Vivaldo a se dedicar à formação de Ipavu.
Quando Vicentino Beirão invadiu o Crenaque, Ipavu concordou em segui-lo na
Expedição Montaigne na esperança de obter dinheiro com a venda das terras que
retomariam, o que lhe permitiria viver na cidade, usar roupas, freqüentar o cinema e os
botequins. Além disso, Ipavu sonhava em raptar Uiruçu – um gavião real domesticado desde
filhote e criado na aldeia como animal de estimação e como auxiliar de caça – o único
habitante de sua aldeia de quem sentia saudades.
Ao seguir viagem com Vicentino Beirão, Ipavu nunca pensa em sua família ou seus
companheiros camaiurás. Inicialmente feliz com a companhia do jornalista e fascinado com
as estradas e cidades, ele parece ter esquecido de todos, exceto de Ieropé, o pajé da
aldeia, que merece seu mais profundo desprezo. O menino o considera “um pajé muito
bunda mole e atrasadão, fumando aquele charuto de folha para soprar nos doentes e
secando umas merdas dumas ervas do mato, que tanto serviam para dor de dente como
para extrema-unção” (op. cit., p. 33).
Em Coisas de Índio, Munduruku descreve o pajé – ou xamã – como um prestigiado
líder religioso, o membro da comunidade que tem poderes de cura e de comunicação com o
sobrenatural. O xamã é preparado desde jovem para conhecer os segredos da natureza e
dos espíritos e para cuidar da saúde física e espiritual de seu povo. O pajé representado por
Callado, ao contrário, é um homem desgastado, decaído e já perdendo o juízo. Vencido
pelas tentações oferecidas pela medicina moderna – penicilina, aspirina, aralém e “elixir
paregó”, entre outros – Ieropé vem perdendo o respeito e a fé de seu povo, não consegue
preparar um aprendiz e vive atormentado pelo remorso de ter-se rendido à medicina
alopática quando se viu acuado pela morte, mesmo depois de ter veementemente negado o
mesmo tratamento a uma nativa que agonizava com uma infecção.
Sua surpreendente recuperação, no entanto, chega no momento em que, finalmente
chegando à aldeia camaiurá no meio da noite, arrastando Vicentino Beirão, esgotado mas
ainda lúcido – após longas caminhadas quase sem rumo, quase sem comida e regadas a
cachaça – Ipavu abre a gaiola de Uiruçu, retira dali a ave e em seu lugar coloca o jornalista,
inconsciente e ardendo em febre devido à malária. Ao acordar no meio da noite, Ieropé se
depara com aquele branco semi-morto, balbuciando palavras incompreensíveis dentro da
gaiola, e conclui que o gavião real havia se transformado em ser humano.
“Acorda, cambada camaiurá, acorda e obedece de novo a Ieropé, pajé de todos” (op.
cit., p. 114), grita o xamã, exibindo Vicentino a seu povo. Como que em transe, os
camaiurás montam uma fogueira e nela ritualisticamente queimam o branco para celebrar o
retorno dos poderes de seu pajé, e a recuperação de seu orgulho e de sua identidade.
Ipavu, após capturar Uiruçu, embarca com ele em uma canoa para fugir para a
cidade, mas morre enquanto eles ainda se encontram na margem do rio. Gandavo, em
História da Província Santa Cruz, explica que algumas águias são tiradas de seus ninhos
quando ainda são pequenas e criadas para que os nativos possam fazer uso de suas penas
na confecção de adornos. Para Ipavu, porém, o gavião real é mais do que uma fonte de
penas para enfeites. A imagem de Uiruçu é como um refúgio, um elo espiritual com uma
vida mais confortável, mais saudável, mais feliz, ao qual ele recorre quando as dores no
peito não o deixam dormir, ou quando, ao longo da caminhada, sua coragem e suas forças
ameaçam o abandonar.
Esta conexão entre Ipavu e Uiruçu responde pela bela cena de fechamento da
narrativa, quando o gavião parece conduzir a canoa em que jaz o corpo morto do menino ao
Morená, o local de descanso das almas camaiurás já desprendidas de seu corpo. O lirismo
e a ironia deste final são surpreendentes. Acima do desprezo que sentia por sua própria
condição, Ipavu guardava o amor que toda criança tem por seu animal de estimação, seu
companheiro de jogos e brincadeiras infantis, seu amigo. E foi esse amigo que se
encarregou de conduzir a alma de Ipavu ao local a que sempre pertenceu.
Ipavu é representado por Callado como um anti-herói: doente, fraco, alcoólatra,
amoral, anômico. Ignorante tanto a respeito das tradições e dos costumes nativos quanto do
modo de vida nas cidades, o menino vive em um limbo, fora de sua própria condição e
também à margem da sociedade organizada, que não o reconhece como um igual e não se
interessa por seu destino. Rousseau descreve com precisão a condição em que Ipavu se
encontra. “No estado em que agora as coisas estão, um homem abandonado a si mesmo
desde o nascimento entre os outros seria o mais desfigurado de todos. Os preconceitos, a
autoridade, a necessidade, o exemplo, todas as instituições sociais em que estamos
submersos abafariam nele a natureza, e nada poriam em seu lugar” (ROUSSEAU, 1999, p.
7), explica o autor a respeito de um selvagem abandonado à própria sorte no mundo
civilizado. Qualquer resquício de sua bondade e felicidade inatas seria asfixiado pelas
pressões externas, impedindo que sua boa natureza emergisse e se manifestasse.
Permeando a obra de Callado, para além do humor e da ironia, é possível perceber
uma penetrante denúncia do modo de vida a que os povos nativos estão submetidos nos
tempos modernos. Divididos entre o tradicional e o moderno, seduzidos pelos apelos da vida
urbana, eles passam a questionar – e até mesmo a desprezar – seu modo de vida, suas
tradições, seus valores e sua identidade sem, no entanto, terem o que colocar em seu lugar.
É um equilíbrio entre esses dois mundos – o tradicional e o civilizado – que Daniel
Munduruku parece buscar com seu trabalho.
Munduruku é um filósofo, professor e escritor que viveu entre seu povo – a nação
paraense de quem ele herda o sobrenome – até os 15 anos, antes de se mudar para a zona
urbana (MUNDURUKU, 2002), e que se dedica a preservar e difundir a cultura dos povos
tradicionais brasileiros. É com esse objetivo que dá entrevistas e palestras, mantém um
domínio na worldwide web e produz obras literárias para os públicos infanto-juvenil e adulto,
entre as quais está Coisas de Índio.
Munduruku declara, na apresentação de Coisas de Índio, que realizou esse trabalho
com o propósito de “oferecer algum tipo de material para crianças e jovens que queiram
conhecer um pouco mais sobre os povos indígenas do Brasil” (MUNDURUKU, 2004, p. 7).
Reconhecendo que as riquezas culturais nativas necessitam e merecem investigações mais
profundas, o autor se esforça para oferecer aos leitores um panorama atraente e acessível
do modo de vida, da arte, da tecnologia, da medicina, das tradições e das crenças dos
nativos brasileiros, pontuando seu livro com exemplos de manifestações artísticas e mitos
tradicionais, e cuidadosamente passando ao largo de temas mais polêmicos como a
violência, os conflitos, o tratamento de prisioneiros de guerra, o canibalismo e a poligamia.
Por acreditar que o compartilhamento de tradições pode promover a compreensão
entre os diferentes grupos de uma sociedade complexa como a brasileira, e auxiliar o
combate à discriminação e aos preconceitos, Munduruku prega que não há cultura que seja
inferior ou superior às outras. Elas são apenas diferentes. E essas diferenças devem ser
não apenas respeitadas, mas valorizadas.
Munduruku representa o nativo brasileiro como um ente dotado de um conjunto de
características culturais distintivas e particularizantes.”[...] ser índio é ter uma identidade, um
estilo de vida” (op. cit., p. 8). O autor argumenta que a palavra “índio” é pouco adequada
para designar nossos povos tradicionais, uma vez que, historicamente, marca a inferioridade
desses povos em relação aos imigrantes europeus e também por ser excessivamente geral
e não comportar a diversidade existente entre as diversas nações do território brasileiro.
Apesar de usar o termo “índio” repetidas vezes ao longo de seu livro, Munduruku propõe
que as diversas etnias sejam referidas por seus nomes, tais como Guarani, Yanomami e Ma
Kuxi.
Na representação do autor, o nativo é essencialmente amoroso, justo, honesto,
verdadeiro e desprendido de bens materiais, capaz de “olhar as coisas com o coração e não
com os olhos da ganância e da exploração” (op. cit., p. 8), e para quem a terra é um
elemento de fundamental importância, não por seu valor material, mas por assegurar a
sobrevivência física, cultural e espiritual. Para os povos nativos, a terra não é apenas um
recurso, mas também um guardião sagrado, o lugar que abriga a cultura do povo e seus
antepassados.
Em vivo contraste com o Ipavu de Callado, o nativo representado por Munduruku é
consciente e cioso de sua cultura,”o que faz com que as pessoas de um povo, de uma
sociedade, olhem e pensem o mundo e as coisas de uma determinada maneira, sempre
muito própria. A partir da cultura, as pessoas estabelecem o seu modo de agir e de se
relacionar com o mundo, com outras pessoas e com as coisas” (op. cit., p. 51).
Munduruku afirma que a cultura de um povo é “uma construção coletiva e
compartilhada. [...] Cada pessoa pertence a uma determinada cultura, e isso lhe dá
identidade. O orgulho desse ‘pertencimento’ é o que faz com que cada um defenda sua
própria cultura e queira que ela sobreviva” (op. cit., p. 34). Pode-se depreender daí que a
sobrevivência do próprio povo se conecta à sobrevivência de sua cultura. À voz de
Munduruku se une a de Johnston (1999) que afirma que as pequenas e primitivas
comunidades agrícolas e extratoras são mantidas agregadas pelos rituais compartilhados
por seus membros. Esses rituais, cerimônias vivenciadas coletivamente e consideradas
essenciais pelos membros desses grupos, conferem à sociedade uma identidade e a cada
membro um sentimento de pertença, consolidados e transmitidos através das gerações.
Munduruku não deixa de reivindicar o cumprimento da legislação que protege os
povos nativos “exatamente por eles serem diferentes” (MUNDURUKU, 2004, p. 28), e um
maior apoio da sociedade brasileira às nações que hoje sofrem as mazelas da pobreza, da
fome e da doença, causadas pela perda de suas terras e de suas tradições e pelo contato
maléfico com os colonizadores da terra. Ele também denuncia a violenta repressão cultural
sofrida pelos povos tradicionais a partir do descobrimento do Brasil, que causou a extinção
de grande parte da diversidade de línguas e de tradições culturais. O autor nativo, no
entanto, afirma que mesmo as nações que tiveram sua língua, suas narrativas orais, suas
tradições e seus rituais – e, por conseguinte, sua identidade – extintos pelo processo de
aculturação sofrido ao longo dos séculos devem ser considerados parte dos povos
tradicionais brasileiros, mesmo que pouco ou nada lhes reste. Segundo o autor, eles “são as
testemunhas vivas de um processo que nunca foi justo com os indígenas brasileiros” (op.
cit., p. 71).
Esse é o outro lado do processo descrito por Gandavo como o trabalho de
catequização dos incivilizados brasileiros realizado pelos dedicados religiosos cristãos
europeus. Em diversos outros aspectos, tais como a descrição das aldeias, da arquitetura
das moradias, da dieta, da ornamentação dos corpos para as cerimônias, dos rituais de
união entre homens e mulheres, e da organização política dos povos nativos, o relato de
Munduruku se aproxima do de Gandavo, embora os ângulos pelos quais esses elementos
são apreciados sejam diametralmente opostos.
Enquanto Gandavo desaprova o modo como observa os nativos educarem suas
crianças, “viciosamente, sem nenhuma maneira de castigo” (GANDAVO, 1924, p. 129),
afirmando que os adultos oferecem às crianças apenas “aquella criação em que a natureza
foi universal a todos os autros animaes que nam participam de razão” (op. cit., p. 129),
Munduruku descreve a educação das crianças nativas de modo bastante semelhante ao
pregado por Rousseau em Emílio. Os pequenos nativos ocupam um espaço privilegiado na
sociedade, são ouvidos e amados pelos mais velhos, acalentados quando choram e jamais
punidos fisicamente. Crescem em liberdade, sem imposições ou restrições, aprendendo
enquanto brincam em contato direto com o ambiente natural e também observando e
ouvindo as histórias dos adultos. À medida que crescem, passam a colaborar na vida
produtiva e a participar da vida social da comunidade. São geralmente bem comportadas, e
se tornam adultos responsáveis por si e merecedores da própria vida.
Uma das características da vida dos nativos que mais espanta Gandavo é seu
desapego em relação às riquezas materiais, e a ausência de noção de propriedade privada,
o que leva as pessoas a viverem descansadamente, “á custa de pouco trabalho”
(GANDAVO, 1924, p. 129) e a compartilharem o pouco que se satisfazem em possuir.
Munduruku explica que a economia das sociedades nativas é fundamentada na satisfação
das necessidades básicas. Como não há propriedade individual ou acumulação de riquezas
– uma vez que os recursos pertencem a todos e estão sempre disponíveis – a produção se
volta para o consumo imediato. O que Gandavo vê como preguiça, Munduruku explica como
sabedoria. Uma vez cumpridas as tarefas necessárias, os adultos dedicam tempo para a
socialização. “Brincam com os filhos, conversam com os amigos, contam a história de sua
caçada, confeccionam enfeites ou artigos utilitários, dançam, cantam, enfim, divertem-se”
(MUNDURUKU, 2004, p. 89). Embora exista uma divisão entre as tarefas que cabem aos
homens e às mulheres, todos sabem produzir os objetos de que necessitam em seu dia-a-
dia. Os materiais são encontrados no meio, e não há trabalho especializado.
Segundo Rousseau (1999), a natureza nos faz livres e independentes, uma vez que,
no estado natural, nossos desejos encontram nossa própria habilidade de satisfazê-los. As
crianças devem ser educadas, segundo o autor, para não desejarem mais do que podem
obter a partir de seu ambiente. O preceptor de Emílio preferia que ele construísse seus
próprios brinquedos e utensílios em vez de usar objetos feitos por outros. Seu objetivo, com
isso, era tornar o jovem autônomo, capaz de suprir suas necessidades e prosperar mesmo
na ausência dos confortos da civilização. Além disso, o pensador suíço pregava que os
jovens deveriam ser protegidos das tentações corruptoras oferecidas pelo mundo moderno,
que incluíam os livros. O único texto permitido ao jovem Emílio era Robinson Crusoe, de
Daniel Defoe, que narra o esforço empreendido por um homem civilizado para se adaptar e
sobreviver no ambiente natural.
As modernas sociedades, no entanto, com seus padrões artificiais de riqueza, geram
nas pessoas o desejo por bens desnecessários e o sentido de competitividade em relação a
nossos semelhantes. A civilização nos bombardeia com objetos, nos ensina a necessitá-los
e a atribuir a eles não apenas valor, mas também a capacidade de nos trazer felicidade.
Nesse processo, a importância atribuída a esses bens nos desconecta das qualidades que
nos definem como humanos: a liberdade e a autonomia (ROUSSEAU, 1999). Munduruku
ilustra essa idéia ao afirmar, em Coisas de Índio, que a chegada dos europeus aos territórios
tradicionais gera “um aumento imediato das necessidades em função do contato”
(MUNDURUKU, 2004, p. 56), necessidade essa de bens que os próprios nativos não podem
produzir.
Reconhecendo, como Rousseau, que não há retorno possível para sociedades que
saíram de sua condição natural para uma organização artificial, Munduruku propõe que os
grupos nativos, para preservar sua identidade, sua cultura e sua própria existência, se
organizem em cooperativas e associações que podem ser vistas como uma leitura
contemporânea da proposta feita pelo pensador suíço em Do Contrato Social. “Encontrar
uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com
toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si
mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes” (ROUSSEAU, 1978b, p. 32).
Liberdade, para Rousseau, não significa a realização de todos os nossos impulsos e
vontades ou a aquisição de tudo o que julgamos necessitar, mas uma conquista progressiva
– partindo da afetividade em direção à racionalidade – de auto-consciência e da consciência
de nosso papel no mundo. Desde o nascimento, segundo o autor, devemos aprender a
merecer a vida, a assumir responsabilidade por nós mesmos e pelo quanto apreciamos
nossa existência. “Viver não é respirar, mas agir; é fazer uso de nossos órgãos, de nossos
sentidos, de nossas faculdades, de todas as partes de nós mesmos que nos dão o
sentimento de nossa existência. O homem que mais viveu não é o que contou maior número
de anos, mas aquele que mais sentiu a vida” (ROUSSEAU, 1999, p. 15).
Já do ponto de vista da organização social, é a conquista de um acordo, a busca de
uma coincidência entre o bem individual e o bem coletivo, que origina um conjunto de regras
impostas por cada indivíduo a si mesmo, com o objetivo de garantir esse bem. Nesse
sentido, as vantagens de um estado natural seriam aliadas às vantagens de uma vida social,
potencializando os benefícios de ambas à conquista da felicidade humana (ROUSSEAU,
1978c).
Rousseau não era, portanto, ingênuo a ponto de pregar um retorno da humanidade a
um estado natural, e não pretendia, em sua obra, negar os avanços propiciados pela
civilização. O que ele buscava era chamar a atenção de uma sociedade cada vez mais
fascinada por seus progressos e suas conquistas para o lado negativo de seu
desenvolvimento. O que ele afirmava é que, embora a sociedade seja perversora, e faça
emergir nas pessoas suas características mais negativas, é necessário encontrar um modo
de neutralizar seus efeitos, uma maneira de combater seu potencial desumanizador no
interior da própria sociedade.
O bom selvagem deve, então, ser entendido como uma idealização teórica, um
conceito utópico de um ser humano ainda não civilizado que representa a virtude, a nobreza
e a bondade que poderíamos portar se vivêssemos em um estado natural e não fôssemos
influenciados pelas pressões negativas da civilização. No entanto, mesmo utópico, o bom
selvagem representa uma proposta: embora não possamos retornar a um estado de
natureza, podemos ao menos buscar uma vida em sociedade baseada em valores mais
essenciais e menos superficiais, procurar vivenciar uma noção de liberdade mais espiritual e
menos material. “Renunciar à [esse tipo de] liberdade é renunciar à qualidade de homem,
aos direitos da humanidade, e até aos próprios deveres. [...] destituir-se voluntariamente de
qualquer liberdade equivale a excluir a moralidade de suas ações” (ROUSSEAU, 1978b, p.
49).
Ao final de Ubirajara, Alencar nos convoca a ter olhos críticos para com os escritos
sobre os povos nativos produzidos pelos relatores portugueses do período do
descobrimento. “Os historiadores, cronistas e viajantes da primeira época, se não de todo o
período colonial, devem ser lidos à luz de uma crítica severa. É indispensável sobretudo
escoimar os fatos comprovados, das fábulas a que serviam de mote, e das apreciações a
que os sujeitavam espíritos acanhados, por demais imbuídos de uma intolerância ríspida”
(ALENCAR, 1969, p. 145). Na tentativa de elaboração de uma representação das nações
tradicionais brasileiras ao longo de nossa história, essa é uma boa recomendação, não só
para a leitura dos antigos relatores, como para a leitura de qualquer trabalho sobre o tema.
Assim como ocorre em qualquer outro grupo humano em nosso planeta, nossas
diversas etnias nativas não são constituídas por bárbaros desprovidos de características
humanas – como descreve Gandavo – do mesmo modo como não são entes sublimes livres
de imperfeições – como querem Alencar e Munduruku. São simplesmente seres humanos,
em cujo interior – tanto do ponto de vista individual como social – convivem contradições,
características boas e ruins, independentemente do conjunto de valores a partir do qual nos
disponhamos a avaliá-los. Considerando que a construção de qualquer representação da
identidade nativa deve contemplar essa realidade, essa se torna uma tarefa virtualmente
impossível.
O filósofo espanhol Fernando Savater, em O Valor de Educar, elabora uma metáfora
para descrever a unidade e a diversidade humanas a partir da botânica. Para ele, o que os
vegetais têm de mais semelhante são suas raízes, ao passo que suas diferenças residem
na anatomia de seus caules, folhas e flores. Tanto as raízes similares quanto as diversas
manifestações externas das plantas garantem sua sobrevivência e a riqueza e o equilíbrio
da flora de qualquer região. O mesmo, segundo o pensador, ocorre com os seres humanos.
Independentemente de nossa etnia, somos , em nossas profundezas, formados por “aquilo
que nos torna semelhantes, que nunca está ausente onde há homens (sic), o que nenhum
grupo, cultura ou indivíduo pode reclamar como exclusivo ou exclusivamente seu, o que
temos em comum” (SAVATER, 2000, p. 187), como o uso das linguagens, a disposição para
a racionalidade, as noções de passado, presente e futuro, a consciência da morte. Todo o
resto – as mais diversas expressões culturais, os modos de organização das comunidades,
as realizações artísticas e científicas, a educação dos jovens – isso são os diversos modos
próprios que cada grupo assume para revelar suas raízes humanas comuns a todos os
outros grupos.
Savater afirma que “o bem principal que devemos produzir e aumentar é a
humanidade compartilhada, semelhante no que é fundamental, a despeito das tribos e
privilégios com que, também muito humanamente, nos identificamos” (op. cit., p. 180).
Nesse sentido, uma representação da identidade dos povos nativos brasileiros deve
contemplar suas características específicas – o trabalho a que Munduruku se dedica – ao
mesmo tempo em que reforça a noção de que todos os seres humanos compartilham os
traços que lhes tornam humanos, entre os quais o direito à liberdade e à busca de
felicidade, em um esforço que prima não pela afirmação da distinção, mas da similitude.
Nesse ponto, podemos retornar a Rousseau, que descreve a plenitude humana do
seguinte modo:
“um estado em que a alma pode encontrar um abrigo seguro o
suficiente para ali se estabelecer e concentrar seu ser inteiro, sem a
necessidade de lembrar o passado ou ansiar pelo futuro, em que o
tempo lhe é nada, onde o presente decorre indefinidamente embora
essa duração não seja percebida, sem sinal da passagem do tempo,
e sem qualquer sentimento de privação ou contentamento, prazer ou
dor, desejo ou medo, que o simples sentimento de existir, um
sentimento que preenche inteiramente nossa alma, pelo tempo em
que os estado dura, podemos nos considerar felizes, não com uma
felicidade pobre, incompleta ou relativa como a que encontramos nos
prazeres da vida, mas com uma felicidade suficiente, completa e
perfeita que não deixa vazios a serem preenchidos na alma”
(ROUSSEAU, 1979, p. 88-89).
Do mesmo modo que a noção do “bom selvagem”, esse estado de plenitude é
utópico, possível – pelo menos em nossas sociedades civilizadas contemporâneas –
somente no plano teórico. O menino Paiap, de Callado, só pode encontrá-la ao morrer e ser
carregado por Uiruçu ao local de repouso das almas camaiurás. A maior parte de nós, seres
humanos, jamais a alcançará.
O traço quimérico dessa plenitude, porém, assim como a utopia do Contrato Social
de Rousseau, não impede que busquemos viver e nos relacionar com os outros segundo
valores mais radicais – como quer Savater – ou seja, essencialmente humanos. A busca de
nosso enraizamento, nessa perspectiva, passa pelo reconhecimento de que compartilhamos
nossa verdadeira identidade, e que devemos buscar uma autonomia pessoal que contemple
o bem coletivo, global, de todos os povos. Não seremos verdadeiramente plenos, livres e
felizes enquanto não atingirmos esse ideal.
REFERÊNCIAS:
ALENCAR, José de. Ubirajara: lenda Tupy. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1969.
ARBOUSSE-BASTIDE, Paulo; MACHADO, Lourival Gomes. Rousseau: vida e obra. In: Os
pensadores: Rousseau. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
CALLADO, Antonio. A expedição Montaigne. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.
Daniel Munduruku. 2002. [On line]. Disponível em: <www.danielmunduruku.com.br>. Acesso
em: jul. 2005.
GANDAVO, Pero de Magalhães de. História da Província Santa Cruz a que vulgarmente
chamamos Brasil. Rio de Janeiro: Annuário do Brasil, 1924.
JOHNSTON, Ian. Introduction to Rousseau’s Emile. Conferência proferida na Malaspina
University-College, Nanaimo, Canadá, 1999. [On line]. Disponível em:
«http://www.mala.bc.ca/~johnstoi/introser/rousseau.htm». Acesso em: jul. 2005.
MUNDURUKU, Daniel. Coisas de índio. São Paulo: Callis, 2003.
ROGERS, Pat. The Oxford illustrated history of English literature. Oxford: Oxford University
Press, 2001.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre as ciências e as artes. In: Os pensadores:
Rousseau. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978a.
_____. Do contrato social. In: Os pensadores: Rousseau. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural,
1978b.
_____. Emílio: ou, da educação. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
_____. Reveries of the solitary walker. London: Penguin, 1979.
SAVATER, Fernando. O valor de educar. São Paulo, Martins Fontes,2000.
VERÍSSIMO, José. História da literatura brasileira de Bento Teixeira (1601) a Machado de
Assis (1908). 5. ed. Brasília: UnB, 1998.
Você também pode gostar
- A Educação Segundo Humberto MaturanaDocumento5 páginasA Educação Segundo Humberto MaturanaValéria Moura Venturella100% (5)
- O Canto I Da Ilíada À Luz Da PoéticaDocumento8 páginasO Canto I Da Ilíada À Luz Da PoéticaValéria Moura VenturellaAinda não há avaliações
- CASOS PRÁTICOS ARBITRAGEM - EnunciadoDocumento2 páginasCASOS PRÁTICOS ARBITRAGEM - EnunciadodiogoAinda não há avaliações
- X Relatorio de Vistoria - Loteamento Santa Teresinha - FinalDocumento5 páginasX Relatorio de Vistoria - Loteamento Santa Teresinha - Finaljose humberto bulhaoAinda não há avaliações
- Enfrentamento de Si e Propriedade - Heidegger e Cecília MeirelesDocumento18 páginasEnfrentamento de Si e Propriedade - Heidegger e Cecília MeirelesValéria Moura VenturellaAinda não há avaliações
- Terry Eagleton - Sobre Leitura, Interpretação e SociedadeDocumento6 páginasTerry Eagleton - Sobre Leitura, Interpretação e SociedadeValéria Moura VenturellaAinda não há avaliações
- Enfrentamento de Si e Propriedade - Heidegger e Cecília MeirelesDocumento18 páginasEnfrentamento de Si e Propriedade - Heidegger e Cecília MeirelesValéria Moura VenturellaAinda não há avaliações
- Rumo A Uma Abordagem Transdisciplinar para Os Processos de Ensino e de Aprendizagem de Língua Inglesa em Sala de AulaDocumento178 páginasRumo A Uma Abordagem Transdisciplinar para Os Processos de Ensino e de Aprendizagem de Língua Inglesa em Sala de AulaValéria Moura Venturella100% (1)
- Voltaire e A Critica Da Razao OtimistaDocumento8 páginasVoltaire e A Critica Da Razao OtimistaValéria Moura Venturella100% (1)
- O Desafio de Ensinar CriançasDocumento5 páginasO Desafio de Ensinar CriançasValéria Moura VenturellaAinda não há avaliações
- Histórias Da Literatura em Cursos de Literatura Brasileira para o Ensino MédioDocumento9 páginasHistórias Da Literatura em Cursos de Literatura Brasileira para o Ensino MédioValéria Moura VenturellaAinda não há avaliações
- Terceira Idade e EspiritualidadeDocumento8 páginasTerceira Idade e EspiritualidadeValéria Moura Venturella100% (1)
- Peugeot 206 Na ÍndiaDocumento11 páginasPeugeot 206 Na ÍndiaValéria Moura VenturellaAinda não há avaliações
- A Possibilidade de Uma Abordagem Transdisciplinar Na EducaçãoDocumento17 páginasA Possibilidade de Uma Abordagem Transdisciplinar Na EducaçãoValéria Moura Venturella100% (1)
- A Busca Da Essência Do Trágico em As Coéforas e The HuntedDocumento17 páginasA Busca Da Essência Do Trágico em As Coéforas e The HuntedValéria Moura VenturellaAinda não há avaliações
- Uma Breve História Do Ensino de Línguas EstrangeirasDocumento15 páginasUma Breve História Do Ensino de Línguas EstrangeirasValéria Moura Venturella100% (5)
- Educar Pela PesquisaDocumento11 páginasEducar Pela PesquisaValéria Moura Venturella100% (2)
- A Influência Da Mídia Na Formação Da Criança HojeDocumento13 páginasA Influência Da Mídia Na Formação Da Criança HojeValéria Moura Venturella75% (4)
- O Que Falta para Você Desenhar AssimDocumento72 páginasO Que Falta para Você Desenhar AssimTCHARLLES100% (2)
- Que Horas Ela Volta FinalDocumento7 páginasQue Horas Ela Volta FinalDario Rocha Damasceno100% (1)
- OBF 2013 F1 NivelI V2Documento5 páginasOBF 2013 F1 NivelI V2Juliana FrancoAinda não há avaliações
- AdjuntosDocumento7 páginasAdjuntosJefferson TavaresAinda não há avaliações
- Tabela de Codigos OBD2Documento29 páginasTabela de Codigos OBD2Andre SantosAinda não há avaliações
- Comunicação FuncionalDocumento102 páginasComunicação Funcionaljhebeta100% (1)
- Trabalho Matematica DiscretaDocumento8 páginasTrabalho Matematica DiscretaDenilson D. MouraAinda não há avaliações
- Politicas de Preservação Do Acervo Bibliográfico - UNIDADE IDocumento189 páginasPoliticas de Preservação Do Acervo Bibliográfico - UNIDADE Icoelhopatricia9012Ainda não há avaliações
- John Dewey e o PragmatismoDocumento19 páginasJohn Dewey e o PragmatismoPróto Di FenixAinda não há avaliações
- Controle de MicrorganismosDocumento47 páginasControle de MicrorganismosClara AbegãoAinda não há avaliações
- MAC Anna Bella GeigerDocumento33 páginasMAC Anna Bella GeigerDomi ValansiAinda não há avaliações
- Módulo 1 - Saloneiro e TaifeiroDocumento28 páginasMódulo 1 - Saloneiro e Taifeirojose marcosAinda não há avaliações
- Treinamento Intensivo BB - Conhecimentos Bancários - 11.08 - Cid RobertoDocumento54 páginasTreinamento Intensivo BB - Conhecimentos Bancários - 11.08 - Cid RobertoRaquel Macedo100% (1)
- NEVES, Rodrigo Santos - O Principio Da Intangibilidade Do Capital SocialDocumento18 páginasNEVES, Rodrigo Santos - O Principio Da Intangibilidade Do Capital Socialbrunolima140703Ainda não há avaliações
- Catalogo de ProdutosDocumento52 páginasCatalogo de ProdutosGeovany Silva100% (1)
- Rogetech - Guia Codigo de Barras-Final PDFDocumento13 páginasRogetech - Guia Codigo de Barras-Final PDFBruno Rodrigues KibernaAinda não há avaliações
- História Da Educação 4Documento22 páginasHistória Da Educação 4Luana MarquesAinda não há avaliações
- Gestão Financeira de Prefeituras pdf-RETIFICAÇÃO DA PAGINA 2020 PDFDocumento105 páginasGestão Financeira de Prefeituras pdf-RETIFICAÇÃO DA PAGINA 2020 PDFSecretaria Municipal de Finanças e PlanejamentoAinda não há avaliações
- Manual Fotocelula F30 Plus Rev0Documento2 páginasManual Fotocelula F30 Plus Rev0Doug SantosAinda não há avaliações
- 1 - Avaliação - Módulo 8Documento5 páginas1 - Avaliação - Módulo 8Gabriela De FreitasAinda não há avaliações
- A Questão Do Método Na FilosofiaDocumento66 páginasA Questão Do Método Na Filosofiar_manuAinda não há avaliações
- ArquivoDocumento3 páginasArquivodo862464Ainda não há avaliações
- REBECA ARNAUD DO NASCIMENTO LOPES TCCDocumento58 páginasREBECA ARNAUD DO NASCIMENTO LOPES TCCAngelo Vinicius Rocha SantosAinda não há avaliações
- Bicos Injetores Delphi (Ponteiras) para Aplicações BoschDocumento3 páginasBicos Injetores Delphi (Ponteiras) para Aplicações BoschRenatoAinda não há avaliações
- Edital SEDEST PDFDocumento15 páginasEdital SEDEST PDFCatarinaCardosoAinda não há avaliações
- Revista Reencarnação - 450 - O Amanhecer de Uma Nova Era PDFDocumento80 páginasRevista Reencarnação - 450 - O Amanhecer de Uma Nova Era PDFamensetAinda não há avaliações
- Apostila Capacitaco ATGDocumento232 páginasApostila Capacitaco ATGJenner Patrick Lopes BrasilAinda não há avaliações
- Questões Sobre A Independência Dos Estados Unidos - TestesDocumento2 páginasQuestões Sobre A Independência Dos Estados Unidos - TestesrailmasantosAinda não há avaliações