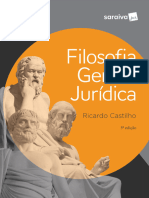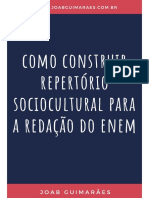Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Direito Agrário - Janaina
Direito Agrário - Janaina
Enviado por
Bruno SousaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Direito Agrário - Janaina
Direito Agrário - Janaina
Enviado por
Bruno SousaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pgina 2 / 73
S936c
STURZA, Janana Machado
Caderno de Direito Agrrio Dom Alberto / Janana Machado Sturza.
Santa Cruz do Sul: Faculdade Dom Alberto, 2010.
Inclui bibliografia.
1. Direito Teoria 2. Direito Agrrio Teoria I. STURZA, Janana
Machado II. Faculdade Dom Alberto III. Coordenao de Direito IV.
Ttulo
CDU 340.12(072)
Catalogao na publicao: Roberto Carlos Cardoso Bibliotecrio CRB10 010/10
Pgina 3 / 73
APRESENTAO
O Curso de Direito da Faculdade Dom Alberto teve sua semente
lanada no ano de 2002. Iniciamos nossa caminhada acadmica em 2006,
aps a construo de um projeto sustentado nos valores da qualidade,
seriedade e acessibilidade. E so estes valores, que prezam pelo acesso livre
a todos os cidados, tratam com seriedade todos processos, atividades e
aes que envolvem o servio educacional e viabilizam a qualidade acadmica
e pedaggica que geram efetivo aprendizado que permitem consolidar um
projeto de curso de Direito.
Cinco anos se passaram e um ciclo se encerra. A fase de
crescimento, de amadurecimento e de consolidao alcana seu pice com a
formatura de nossa primeira turma, com a concluso do primeiro movimento
completo do projeto pedaggico.
Entendemos ser este o momento de no apenas celebrar, mas de
devolver, sob a forma de publicao, o produto do trabalho intelectual,
pedaggico e instrutivo desenvolvido por nossos professores durante este
perodo. Este material servir de guia e de apoio para o estudo atento e srio,
para a organizao da pesquisa e para o contato inicial de qualidade com as
disciplinas que estruturam o curso de Direito.
Felicitamos a todos os nossos professores que com competncia
nos brindam com os Cadernos Dom Alberto, veculo de publicao oficial da
produo didtico-pedaggica do corpo docente da Faculdade Dom Alberto.
Lucas Aurlio Jost Assis
Diretor Geral
Pgina 4 / 73
PREFCIO
Toda ao humana est condicionada a uma estrutura prpria, a
uma natureza especfica que a descreve, a explica e ao mesmo tempo a
constitui. Mais ainda, toda ao humana aquela praticada por um indivduo,
no limite de sua identidade e, preponderantemente, no exerccio de sua
conscincia. Outra caracterstica da ao humana sua estrutura formal
permanente. Existe um agente titular da ao (aquele que inicia, que executa a
ao), um caminho (a ao propriamente dita), um resultado (a finalidade da
ao praticada) e um destinatrio (aquele que recebe os efeitos da ao
praticada). Existem aes humanas que, ao serem executadas, geram um
resultado e este resultado observado exclusivamente na esfera do prprio
indivduo que agiu. Ou seja, nas aes internas, titular e destinatrio da ao
so a mesma pessoa. O conhecimento, por excelncia, uma ao interna.
Como bem descreve Olavo de Carvalho, somente a conscincia individual do
agente d testemunho dos atos sem testemunha, e no h ato mais desprovido
de testemunha externa que o ato de conhecer. Por outro lado, existem aes
humanas que, uma vez executadas, atingem potencialmente a esfera de
outrem, isto , os resultados sero observados em pessoas distintas daquele
que agiu. Titular e destinatrio da ao so distintos.
Qualquer ao, desde o ato de estudar, de conhecer, de sentir medo
ou alegria, temor ou abandono, satisfao ou decepo, at os atos de
trabalhar, comprar, vender, rezar ou votar so sempre aes humanas e com
tal esto sujeitas estrutura acima identificada. No acidental que a
linguagem humana, e toda a sua gramtica, destinem aos verbos a funo de
indicar a ao. Sempre que existir uma ao, teremos como identificar seu
titular, sua natureza, seus fins e seus destinatrios.
Consciente disto, o mdico e psiclogo Viktor E. Frankl, que no
curso de uma carreira brilhante (trocava correspondncias com o Dr. Freud
desde os seus dezessete anos e deste recebia elogios em diversas
publicaes) desenvolvia tcnicas de compreenso da ao humana e,
consequentemente, mecanismos e instrumentos de diagnstico e cura para os
eventuais problemas detectados, destacou-se como um dos principais
estudiosos da sanidade humana, do equilbrio fsico-mental e da medicina
como cincia do homem em sua dimenso integral, no apenas fsico-corporal.
Com o advento da Segunda Grande Guerra, Viktor Frankl e toda a sua famlia
foram capturados e aprisionados em campos de concentrao do regime
nacional-socialista de Hitler. Durante anos sofreu todos os flagelos que eram
ininterruptamente aplicados em campos de concentrao espalhados por todo
territrio ocupado. Foi neste ambiente, sob estas circunstncias, em que a vida
sente sua fragilidade extrema e enxerga seus limites com uma claridade nica,
Pgina 5 / 73
que Frankl consegue, ao olhar seu semelhante, identificar aquilo que nos faz
diferentes, que nos faz livres.
Durante todo o perodo de confinamento em campos de
concentrao (inclusive Auschwitz) Frankl observou que os indivduos
confinados respondiam aos castigos, s privaes, de forma distinta. Alguns,
perante a menor restrio, desmoronavam interiormente, perdiam o controle,
sucumbiam frente dura realidade e no conseguiam suportar a dificuldade da
vida. Outros, porm, experimentando a mesma realidade externa dos castigos
e das privaes, reagiam de forma absolutamente contrria. Mantinham-se
ntegros em sua estrutura interna, entregavam-se como que em sacrifcio,
esperavam e precisavam viver, resistiam e mantinham a vida.
Observando isto, Frankl percebe que a diferena entre o primeiro
tipo de indivduo, aquele que no suporta a dureza de seu ambiente, e o
segundo tipo, que se mantm interiormente forte, que supera a dureza do
ambiente, est no fato de que os primeiros j no tm razo para viver, nada
os toca, desistiram. Ou segundos, por sua vez, trazem consigo uma vontade de
viver que os mantm acima do sofrimento, trazem consigo um sentido para sua
vida. Ao atribuir um sentido para sua vida, o indivduo supera-se a si mesmo,
transcende sua prpria existncia, conquista sua autonomia, torna-se livre.
Ao sair do campo de concentrao, com o fim do regime nacionalsocialista, Frankl, imediatamente e sob a forma de reconstruo narrativa de
sua experincia, publica um livreto com o ttulo Em busca de sentido: um
psiclogo no campo de concentrao, descrevendo sua vida e a de seus
companheiros, identificando uma constante que permitiu que no apenas ele,
mas muitos outros, suportassem o terror dos campos de concentrao sem
sucumbir ou desistir, todos eles tinham um sentido para a vida.
Neste mesmo momento, Frankl apresenta os fundamentos daquilo
que viria a se tornar a terceira escola de Viena, a Anlise Existencial, a
psicologia clnica de maior xito at hoje aplicada. Nenhum mtodo ou teoria foi
capaz de conseguir o nmero de resultados positivos atingidos pela psicologia
de Frankl, pela anlise que apresenta ao indivduo a estrutura prpria de sua
ao e que consegue com isto explicitar a necessidade constitutiva do sentido
(da finalidade) para toda e qualquer ao humana.
Sentido de vida aquilo que somente o indivduo pode fazer e
ningum mais. Aquilo que se no for feito pelo indivduo no ser feito sob
hiptese alguma. Aquilo que somente a conscincia de cada indivduo
conhece. Aquilo que a realidade de cada um apresenta e exige uma tomada de
deciso.
Pgina 6 / 73
No existe nenhuma educao se no for para ensinar a superar-se
a si mesmo, a transcender-se, a descobrir o sentido da vida. Tudo o mais
morno, sem luz, , literalmente, desumano.
Educar , pois, descobrir o sentido, viv-lo, aceit-lo, execut-lo.
Educar no treinar habilidades, no condicionar comportamentos, no
alcanar tcnicas, no impor uma profisso. Educar ensinar a viver, a no
desistir, a descobrir o sentido e, descobrindo-o, realiz-lo. Numa palavra,
educar ensinar a ser livre.
O Direito um dos caminhos que o ser humano desenvolve para
garantir esta liberdade. Que os Cadernos Dom Alberto sejam veculos de
expresso desta prtica diria do corpo docente, que fazem da vida um
exemplo e do exemplo sua maior lio.
Felicitaes so devidas a Faculdade Dom Alberto, pelo apoio na
publicao e pela adoo desta metodologia sria e de qualidade.
Cumprimentos festivos aos professores, autores deste belo trabalho.
Homenagens aos leitores, estudantes desta arte da Justia, o Direito.
.
Luiz Vergilio Dalla-Rosa
Coordenador Titular do Curso de Direito
Pgina 7 / 73
Sumrio
Apresentao.......................................................................................................... 3
Prefcio................................................................................................................... 4
Plano de Ensino...................................................................................................... 8
Aula 1
Direito Agrrio, seu Conceito e Abrangncia......................................................... 12
Aula 2
Estatuto da Terra................................................................................................... 21
Aula 3
O Mdulo Rural: sua importncia na Distribuio e Aproveitamento
da Terra................................................................................................................. 27
Aula 4 e 5
A Funo Social da Propriedade........................................................................... 42
Aula 6
A Reforma Agrria no Brasil.................................................................................. 52
Aula 7
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITL).............................................. 63
Pgina 8 / 73
Centro de Ensino Superior Dom Alberto
Plano de Ensino
Identificao
Curso: Direito
Disciplina: Direito Agrrio
Carga Horria (h/a): 72
Crditos: 4
Semestre: 10
Ementa
A reforma agrria no contexto jurdico constitucional brasileiro: definio, conceito e histria. Terra rural e
terra urbana. Funo social da propriedade. Direito Agrrio brasileiro. Estatuto da terra. Mdulo rural.
Contratos Agrrios. Noes de cooperativismo.
Objetivos
Gerais:
Conhecer, identificar, interpretar e aplicar, de forma crtica e autnoma, os princpios e regras do Direito
Agrrio na soluo de problemas hipotticos e concretos.
Especficos:
- Refletir criticamente sobre as atuais condies de explorao da terra, com vistas ao direito de acesso
universal alimentao como condio bsica de vida digna para todas as pessoas.
- Relacionar as causas da fome no pas e a sua correspondncia com as atuais formas jurdicas de acesso
e explorao da terra.
- Aplicar os fundamentos basilares do Direito Agrrio nas mais diversas e novas situaes que lhe sejam
apresentadas.
Inter-relao da Disciplina
Horizontal: Direito Constitucional I e II, Direito Econmico, Direito Tributrio, Direito Financeiro e Direito
Individual do Trabalho.
Vertical: Direito Constitucional I e II, Direito Econmico, Direito Tributrio, Direito Financeiro e Direito
Individual do Trabalho.
Competncias Gerais
- leitura, compreenso e elaborao de textos, atos e documentos jurdicos ou normativos, com a devida
utilizao das normas tcnico-jurdicas;
- interpretao e aplicao do Direito;
- pesquisa e utilizao da legislao, da jurisprudncia, da doutrina e de outras fontes do Direito;
- adequada atuao tcnico-jurdica, em diferentes instncias, administrativas ou judiciais, com a devida
utilizao de processos, atos e procedimentos;
- correta utilizao da terminologia jurdica ou da Cincia do Direito;
- utilizao de raciocnio jurdico, de argumentao, de persuaso e de reflexo crtica;
- julgamento e tomada de decises;
- domnio de tecnologias e mtodos para permanente compreenso e aplicao do Direito.
Misso: "Oferecer oportunidades de educao, contribuindo para a formao de profissionais conscientes e competentes,
comprometidos com o comportamento tico e visando ao desenvolvimento regional.
Pgina 9 / 73
Competncias Especficas
- leitura, compreenso e elaborao de textos, atos e documentos jurdicos ou normativos, com a devida
utilizao das normas tcnico-jurdicas na busca da satisfao dos direitos sociais;
- interpretao e aplicao dos direitos sociais, adequados ao caso concreto;
- pesquisa e utilizao da legislao, da jurisprudncia, da doutrina e de outras fontes do Direito, atentando
para o acompanhamento constante da legislao previdenciria;
- adequada atuao tcnico-jurdica na instncia previdenciria administrativa e judicial, com a devida
utilizao de processos, atos e procedimentos;
- utilizao de raciocnio jurdico, de argumentao, de persuaso e de reflexo crtica no que se refere s
polticas de proteo social, em especial no Brasil e Amrica Latina;
- julgamento e tomada de decises de acordo com o regramento previdencirio atual.
Habilidades Gerais
- desenvolver a capacidade de leitura, compreenso e elaborao de textos, atos e documentos jurdicos ou
normativos, com a devida utilizao das normas tcnico-jurdicas;
- desenvolver a capacidade de interpretao e aplicao do Direito;
- incentivar a pesquisa e utilizao da legislao, da jurisprudncia, da doutrina e de outras fontes do
Direito;
- desenvolver a capacidade de atuao tcnico-jurdica adequada, em diferentes instncias, administrativas
ou judiciais, com a devida utilizao de processos, atos e procedimentos;
- utilizar adequada terminologia jurdica ou da Cincia do Direito;
- desenvolver a capacidade de raciocnio jurdico, de argumentao, de persuaso e de reflexo crtica;
- desenvolver a capacidade de julgamento e tomada de decises;
- dominar tecnologias e mtodos para permanente compreenso e aplicao do Direito.
Habilidades Especficas
- conhecer os instrumentos tcnico-jurdicos Direito da seguridade social;
- interpretar os textos previdencirio, legais e jurisprudenciais;
- contextualizar o Direito Previdencirio no universo das outras disciplinas, bem como as outras cincias;
- operacionalizar a interdisciplinaridade no Direito Previdencirio.
Contedo Programtico
Estratgias de Ensino e Aprendizagem (metodologias de sala de aula)
Aulas expositivas dialgico-dialticas. Trabalhos individuais e em grupo e preparao de seminrios.
Avaliao do Processo de Ensino e Aprendizagem
A avaliao do processo de ensino e aprendizagem deve ser realizada de forma contnua, cumulativa e
sistemtica com o objetivo de diagnosticar a situao da aprendizagem de cada aluno, em relao
programao curricular. Funes bsicas: informar sobre o domnio da aprendizagem, indicar os efeitos da
metodologia utilizada, revelar conseqncias da atuao docente, informar sobre a adequabilidade de
currculos e programas, realizar feedback dos objetivos e planejamentos elaborados, etc.
Para cada avaliao o professor determinar a(s) formas de avaliao podendo ser de duas formas:
1 uma prova com peso 10,0 (dez) ou uma prova de peso 8,0 e um trabalho de peso 2,0
2 uma prova com peso 10,0 (dez) ou uma prova de peso 8,0 e um trabalho de peso 2,0
Avaliao Somativa
A aferio do rendimento escolar de cada disciplina feita atravs de notas inteiras de zero a dez,
permitindo-se a frao de 5 dcimos.
O aproveitamento escolar avaliado pelo acompanhamento contnuo do aluno e dos resultados por ele
obtidos nas provas, trabalhos, exerccios escolares e outros, e caso necessrio, nas provas substitutivas.
Dentre os trabalhos escolares de aplicao, h pelo menos uma avaliao escrita em cada disciplina no
bimestre.
Misso: "Oferecer oportunidades de educao, contribuindo para a formao de profissionais conscientes e competentes,
comprometidos com o comportamento tico e visando ao desenvolvimento regional.
Pgina 10 / 73
O professor pode submeter os alunos a diversas formas de avaliaes, tais como: projetos, seminrios,
pesquisas bibliogrficas e de campo, relatrios, cujos resultados podem culminar com atribuio de uma
nota representativa de cada avaliao bimestral.
Em qualquer disciplina, os alunos que obtiverem mdia semestral de aprovao igual ou superior a sete
(7,0) e freqncia igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%) so considerados aprovados.
Aps cada semestre, e nos termos do calendrio escolar, o aluno poder requerer junto Secretaria-Geral,
no prazo fixado e a ttulo de recuperao, a realizao de uma prova substitutiva, por disciplina, a fim de
substituir uma das mdias mensais anteriores, ou a que no tenha sido avaliado, e no qual obtiverem como
mdia final de aprovao igual ou superior a cinco (5,0).
Sistema de Acompanhamento para a Recuperao da Aprendizagem
Sero utilizados como Sistema de Acompanhamento e Nivelamento da turma os Plantes Tira-Dvidas que
so realizados sempre antes de iniciar a disciplina, das 18h00min s 18h50min, na sala de aula.
Recursos Necessrios
Humanos
Professor.
Fsicos
Laboratrios, visitas tcnicas, etc.
Materiais
Recursos Multimdia.
Bibliografia
Bsica
BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Agrrio. Vol.I Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Agrrio. Vol.II. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
OPTIZ, Oswaldo; OPTIZ, Silvia C.B..Curso Complento de Direito Agrrio. So Paulo: Saraiva, 2007.
SILVA, Leandro Ribeiro da. Propriedade Rural. Rio de Janeiro: 2008.
PEREIRA, Lutero de Paiva. Crdito Rural-Limites da Legalidade. So Paulo: Juru Editora, 1998.
Complementar
BARROSO, Lucas Abreu. Direito Agrrio na Constituio. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
ROCHA, Olavo Acyr de Lima. Desapropriao no Direito Agrrio. So Paulo: Atlas, 1992.
BORGES, Antonio Moura. Curso Completo de Direito Agrrio. So Paulo: EDIJUR, 2007.
OLESKOVICK, Carlos Henrique. Direito Agrrio. So Paulo: Fortium, 2008.
MARQUESI, Roberto Wagner. Direitos Reais Agrrios e Funo Social. So Paulo: Juru.
Peridicos
Jornais: Zero Hora, Folha de So Paulo, Gazeta do Sul, entre outros. Jornais eletrnicos: Clarn (Argentina);
El Pas (Espanha); El Pas (Uruguai); Le Monde (Frana); Le Monde Diplomatique (Frana). Revistas:
Revistas: Magister, Revista dos Tribunais, Revista do Conselho Federal de Justia.
Sites para Consulta
www.tjrs.jus.br
WWW.cnj.jus.br
WWW.cjf.jus.br
www.trf4.gov.br
www.senado.gov.br
www.stf.gov.br
www.stj.gov.br
www.ihj.org.br
www.oab-rs.org.br
Misso: "Oferecer oportunidades de educao, contribuindo para a formao de profissionais conscientes e competentes,
comprometidos com o comportamento tico e visando ao desenvolvimento regional.
Pgina 11 / 73
Outras Informaes
Endereo eletrnico de acesso pgina do PHL para consulta ao acervo da biblioteca:
http://192.168.1.201/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl.xis&cipar=phl8.cip&lang=por
Cronograma de Atividades
Aula
Consolidao
Avaliao
Contedo
Procedimentos
Recursos
1
2
3
4
5
6
7
1
1
8
9
10
11
12
13
2
2
3
Legenda
Procedimentos
Cdigo
AE
TG
TI
SE
Recursos
Descrio
Aula expositiva
Trabalho
em
grupo
Trabalho
individual
Seminrio
Procedimentos
Cdigo
AE
TG
Recursos
Descrio
Aula expositiva
Trabalho em grupo
Procedimentos
Cdigo
AE
TG
Recursos
Descrio
Aula expositiva
Trabalho em grupo
TI
Trabalho individual
TI
Trabalho individual
SE
Seminrio
SE
Seminrio
Misso: "Oferecer oportunidades de educao, contribuindo para a formao de profissionais conscientes e competentes,
comprometidos com o comportamento tico e visando ao desenvolvimento regional.
Pgina 12 / 73
DIREITO AGRRIO
Profa. Janana Machado Sturza
2010/02
DIREITO AGRRIO, SEU CONCEITO E ABRANGNCIA
Antecedentes histricos: O direito agrrio, como ramo da cincia jurdica, de
estudo recente no Brasil. Seu nascimento, com autonomia prpria, tem um marco
inicial dentro do direito positivado: a Emenda Constitucional n 10, de 10.11.64 que
outorgou a competncia Unio para legislar sobre a matria ao acrescentar ao art. 5,
inciso XV, letra a, da Constituio de 1946, a palavra agrrio. Assim, entre outras
competncias, a Unio tambm passou a legislar sobre direito agrrio. O exerccio
legislativo dessa competncia ocorreu 20 dias aps, ou seja, em 30.11.64, quando foi
promulgada a Lei n 4.504, denominada Estatuto da Terra.
O surgimento desse sistema jurdico diferenciado no ocorreu por acaso. A
presso poltica, social e econmica dominante naquela poca foraram a edio de
seu aparecimento, at como forma de justificao ao movimento armado que eclodira
poucos meses antes e que teve como estopim o impedimento a um outro movimento
que pretendia, especificamente no universo fundirio, eliminar a propriedade como
direito individual. Dessa forma, toda a idia desse novo direito, embora de origem
poltico institucional revolucionria, tem contornos nitidamente sociais, pois seus
dispositivos claramente visam a proteger o homem do campo em detrimento do
proprietrio rural. A sua proposta, portanto, lastreou-se no reconhecimento de que
havia uma desigualdade enorme entre o homem que trabalhava a terra e aquele que a
detinha na condio de proprietrio ou possuidor permanente.
Antes de seu surgimento, as relaes e os conflitos agrrios eram estudados e
dirimidos pela tica do direito civil, que todo embasado no sistema de igualdade de
vontades. O trabalhador rural, por essa tica, tinha tanto direito quanto o homem
proprietrio das terras onde trabalhava.
Denominao: A denominao do novo ramo do direito como agrrio tem
vinculao etimolgica com a palavra ager, que em latim significa campo, mas com a
particularidade de tambm abranger tudo aquilo suscetvel de produo nessa rea.
Como a pretenso do novo direito era de reestruturar toda a atividade no campo, com
nfase tambm nas mudanas de produtividade, a palavra ager surgiu como mais
adequada nova sistemtica jurdica.
Pgina 13 / 73
certo que a palavra rus, tambm latina, significa campo, de onde resultante o
termo rural, mas tem o significado daquilo que no urbano. Assim, em decorrncia de
sua generalidade, deixou ela de ser utilizada para denominar o novo direito.
Conceito: Em decorrncia da forte estrutura legislativa existente e da
complexidade de atribuies que ela pretende abranger, quase impossvel a
pretenso de se conceituar direito agrrio. Por isso, de forma concisa, Direito Agrrio
pode ser conceituado como o ramo do direito positivo que regula as relaes jurdicas
do homem com a terra. Ou ainda, Direito Agrrio o conjunto de normas imperativas e
supletivas e princpios jurdicos de produtividade e justia social de direito pblico e de
direito privado, que tem como finalidade, disciplinar as relaes emergentes da
atividade do homem sobre a terra (atividade rural), tendo em vista o progresso social e
econmico do rurcola e o enriquecimento da comunidade com base na funo social.
Objeto das atividades agrrias: O objeto do direito agrrio toda ao humana
no sentido da produo orientada, no qual h a participao ativa da natureza, visando
conservao das fontes produtivas naturais, pois a atividade agrria o resultado da
atuao humana sobre a natureza com participao funcional do processo produtivo e
tem trs aspectos fundamentais, que so:
- Exploraes rurais tpicas: que compreendem a lavoura (lavoura temporria:
arroz, feijo e milho e lavoura permanente: caf, cacau, laranja etc.), o extrativismo
animal e vegetal, a pecuria de pequeno, mdio e grande porte e a hortigranjearia
(hortalias, ovos etc.);
- Explorao rural atpica ou beneficiamento ou transformao dos produtos
rsticos (matria-prima): que compreende a agroindstria, que so os processos
industrializantes desenvolvidos no limite territorial da produo (produo de farinha,
beneficiamento de arroz etc.);
- Atividade complementar da explorao agrcola, ou seja, e a atividade final do
processo produtivista: que compreende o transporte e a comercializao dos produtos.
No qual se situa no setor tercirio da economia, sendo a primeira considerada como
prestao de servios de servios e a segunda, como comercializao, atividade
tipicamente mercantil (comercial).
Caractersticas: O Direito Agrrio tem duas caractersticas essenciais. A primeira
delas a imperatividade de suas regras. Isso significa dizer que existe uma forte
interveno do Estado nas relaes agrrias. Os sujeitos dessas relaes quase no
Pgina 14 / 73
tm disponibilidade de vontade, porque tudo j est previsto em lei, cuja aplicao
obrigatria. O legislador, assim, estabeleceu o comando; quem diz o que se deve
fazer depois do que se resolveu fazer. Toda essa estrutura legal est voltada para o
entendimento de que as relaes humanas no campo so naturalmente desiguais pelo
forte poder de quem tem a terra, solapando o homem que apenas nela trabalha. A
cogncia, a imperatividade desse direito, portanto, se impe porque suas regras seriam
nitidamente protetivas ao homem trabalhador. Tm-se, dessa forma, regras fortes para
a proprietrio da terra. O estabelecimento da imperatividade seria resultante da nomodificao do que foi regrado. A segunda caracterstica do direito agrrio de que
suas regras so sociais. Aqui reside o ponto que diferencia as regras do direito agrrio
daquelas de direito civil. Enquanto estas buscam sempre manter o equilbrio entre as
partes, voltando-se para o predomnio da autonomia de vontades, as regras de direito
agrrio carregam com nitidez uma forte proteo social. Como os homens que
trabalham no campo constituem quase a universalidade na aplicao das regras
agrrias, em contrapartida ao pequeno nmero de proprietrios rurais, o legislador
procurou dar queles uma forte proteo jurdica, social.
Fontes do direito agrrio: Constituem-se fontes do Direito Agrrio, alm da
Constituio Federal, as normas infra-constitucionais constantes da lei, dos decretos,
portarias e normas regulamentadoras da atividade agrria, bem como os costumes,
como fonte consuetudinria, e a jurisprudncia dos tribunais, da poderemos
sistematiz-las da seguinte forma:
a)- a Constituio Federal;
b)- o direito legislado federal;
c)- o costume;
d)- a jurisprudncia.
Como fonte constitucional de Direito Agrrio, a Constituio Federal vigente
possui, dentre outros, os seguintes dispositivos regradores:
a)- Garantia do direito de propriedade, cf. inciso XXII, art. 5;
b)- A funo social como princpio basilar inciso XXIII, art. 5;
c)- A desapropriao por interesse social para fins de reforma agrria inciso
XXIV, art. 5;
d)- Proteo pequena propriedade rural contra dbitos decorrentes de sua
atividade produtiva inciso XXVI, art. 5;
e)- Capacidade da Unio para legislar sobre direito agrrio art. 22, inciso I;
Pgina 15 / 73
f)- Competncia comum da Unio, Estados e Distrito Federal de proteger o meio
ambiente e combater a poluio em qualquer de suas formas (inc. VI, art. 23);
preservar as florestas, a fauna e a flora (inc. VII, art. 23) e fomentar a produo
agropecuria e organizar o abastecimento alimentar (inc. VIII, art. 23, CF);
g)- Competncia da Unio para desapropriar imveis rurais, por interesse social,
para fins de reforma agrria, promovendo a poltica agrcola e fundiria e a reforma
agrria (Captulo III, da Constituio Federal).
Registre-se, por oportuno, que a fonte primria, tambm chamada de fonte de
criao, comum a todos os ramos do direito privado, a vontade das partes, que
vamos encontrar embutida nos usos e costumes que fizeram nascer, antes mesmo do
surgimento do contrato, o vnculo obrigacional entre os sujeitos da relao jurdica
agrria. Digamos que ainda hoje essa fonte prevalente, porquanto a partir do
surgimento da vontade de contratar que nasce o instrumento regrador do vnculo
obrigacional, o contrato. Este, por sua vez, ter que se ajustar aos ditames da
legislao, constitucional e infra-constitucional. Portanto, o costume, ainda que no se
constitua em fonte imperativa guarda relevante importncia histrica.
A Constituio, pois, a mais importante fonte formal de produo estatal do
Direito Agrrio, trazendo para o mundo do direito os princpios fundamentais,
assegurados
superiormente
merc
dos
obstculos
ao
processo
de
reviso
constitucional, o que lhes empresta o slo da imodificabilidade.
Princpios fundamentais: O que devemos entender por princpios fundamentais
de Direito Agrrio ontologicamente? Essa a primeira indagao que se h de impor
para delimitao do campo de nosso estudo. Segundo o sistema, temos que princpios
fundamentais de um determinado ramo da Cincia do Direito so aqueles sobre os
quais o sistema jurdico pode fazer opo, considerando aspectos polticos e
ideolgicos. Partindo dessa premissa, teremos que considerar que, por isso mesmo,
so princpios que admitem oposio frente a outros, de contedo diverso, tudo
dependendo da tolerncia do sistema em que se encontrem inseridos. Diferem,
portanto, dos chamados princpios informativos, que so verdadeiros postulados
irremovveis do sistema, por no admitirem oposio, tais como os chamados
princpios a)- lgico, b)- jurdico, c)- poltico e, d)- econmico, de franca aplicabilidade
no sistema processual, a que o Direito Agrrio ter que se vincular no instante em que
passar a dispor, como os demais ramos do sistema, de um direito processual agrrio.
Os princpios informativos, pois, so comuns a todos os ramos da Cincia do
Direito. J os princpios fundamentais, diversamente, so aqueles que se podem
Pgina 16 / 73
moldar, ou seja, podem se ajustar ocasio, da o poderem se opor um a outro que
seja mais adequado ao fato e ao direito em discusso. Eis porque conveniente
denominarmos tais princpios de princpios peculiares ao Direito Agrrio, exatamente
porque guardam caractersticas de princpios prprios, no axiomticos, exatamente
porque tm necessidade de caractersticas ideolgicas e admitem, portanto,
antagonismo.
Assim entendido poderemos afirmar que se constituem princpios fundamentais
de Direito Agrrio, porque lhe so peculiares, prprios, dentre outros:
a)- a funo social da propriedade;
b)- o progresso econmico e social do rurcola;
c)- o combate sistemtico ao minifndio e ao latifndio;
d)- o imposto territorial rural.
Para o agrarista Paulo Torminn Borges, esses princpios fundamentais se
elastecem num rol de quatorze tpicos, apontando ele como tais:
a)- a funo social da propriedade;
b)- o progresso econmico do rurcola;
c)- o progresso social do rurcola;
d)- fortalecimento da economia nacional, pelo aumento da produtividade;
e)- o desenvolvimento do sentimento de liberdade (pela propriedade) e de
igualdade (pela oferta de oportunidades concretas);
f)- implantao da justia distributiva;
g)- eliminao das injustias sociais no campo;
h)- povoamento da zona rural, de maneira ordenada;
i)- combate ao minifndio;
j)- combate ao latifndio;
l)- combate a qualquer tipo de propriedade rural ociosa, sendo aproveitvel e
cultivvel;
m)- combate explorao predatria ou incorreta da terra;
n)- combate aos mercenrios da terra.
Esses princpios sero estudados separadamente, ainda que eles apaream aqui,
to-somente, como indicadores de sua existncia e integrantes de um arcabouo
sistemtico. Preferimos, assim, para melhor disciplinamento didtico, nos atermos ao
rol que indicamos, ainda que a classificao do mestre goiano no merea ser
desprezada, prestando-se, sem dvida, para aprofundamentos futuros.
Pgina 17 / 73
Natureza jurdica: Existe um dualismo jurdico, ou seja, o Direito Agrrio
pblico quando se trata do tema de desapropriao por interesse social, para fins de
reforma agrria; e privado quando se estuda a estrutura dos contratos de
arrendamentos e parcerias.
Autonomia: O debate em torno da autonomia de um ramo do Direito precisa ser
sempre considerado dentro de sua relatividade, eis que, na prtica, de maneira mais ou
menos
intensa,
existe
uma
certa
dependncia
entre
todos
os
ramos.
De qualquer sorte, o estudo da autonomia do Direito Agrrio vem sendo tratado pelos
doutrinadores brasileiros, a partir da anlise de quatro aspectos, tal como o fazem
alguns agraristas dos pases vizinhos, Uruguai e Argentina:
a) autonomia legislativa
b) autonomia didtica
c) autonomia cientfica
d) autonomia judiciria
A autonomia legislativa, no Brasil, tem seu certificado de nascimento com a
promulgao da Emenda Constitucional n 10, de 9 de novembro de 1964, que alterou
a Constituio vigente (art. 5, inciso XV, letra a), para incluir o Direito Agrrio entre
os
ramos
do
Direito
de
competncia
legislativa
exclusiva
da
Unio.
Segue-se E.C. n 10/64, a promulgao do Estatuto da Terra (Lei n 4.504), em 30 de
novembro de 1964, constituindo-se, desde ento, no documento legislativo mais
importante em matria de Direito Agrrio.
Em termos legislativos, cabe registrar, ainda, que a Constituio Federal vigente,
em seu artigo 22, inciso I, reafirma a competncia exclusiva da Unio para legislar
sobre Direito Agrrio.
A autonomia didtica comea a esboar-se em 1972, quando o Conselho
Federal de Educao publica, inicialmente, a Resoluo n 3, de 25.02.72, e, logo
aps, a Deliberao n 162, incluindo a disciplina Direito Agrrio, como opcional ou
eletiva, no Curso de Direito.
Atualmente, o Direito Agrrio disciplina obrigatria em muitos Cursos de Direito,
no apenas no Brasil, mas, igualmente, em todos os pases do Mercosul, em diversos
outros da Amrica Latina, na Itlia, Espanha, Frana (onde adotou a denominao
Droit Rural) e outros.
A autonomia cientfica vem evidenciada, desde logo, pela reconhecida
existncia de princpios gerais prprios, distintos dos princpios gerais do Direito. Tem o
Direito Agrrio, tambm, estrutura geral prpria, devidamente esquematizada a partir
Pgina 18 / 73
do Estatuto da Terra (institutos bsicos), com normas especializadas e diferenciadas.
De outra parte, a bibliografia especfica sobre Direito Agrrio vem crescendo, ano a
ano, tanto em quantidade como em qualidade e, mais recentemente, at mesmo, com
obras abordando temas especficos dos diversos pases do Mercosul.
Ainda em termos cientficos, destaque-se a realizao de inmeros Congressos,
Simpsios e Encontros de Direito Agrrio, registrando-se, em 1998, na cidade de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, o Congresso Mundial de Direito Agrrio, organizado pela
Unio Mundial de Agraristas Universitrios, alm da participao bastante expressiva
de agraristas brasileiros em muitos eventos internacionais, levados a efeito nos mais
diversos lugares do mundo.
Por fim, a autonomia judiciria, que se manifesta, de modo especial, em dois
aspectos: primeiro, atravs do disposto no artigo 126 da Constituio Federal, abrindo
caminho para a criao de uma Justia Agrria Especializada, a exemplo do que j
existe em outros pases; segundo, pela existncia de uma ampla jurisprudncia
eminentemente agrria, notadamente nos Tribunais, de Alada ou de Justia, dos
Estados onde a atividade agropastoril bastante desenvolvida.
Relao do direito agrrio com outros ramos do direito: Existem vrios ramos
jurdicos que se relacionam, mas todos vm de um tronco comum que o direito. O
direito um fenmeno humano e social, pois onde h sociedade, h direito. As normas
jurdicas surgiram com os povos antigos. Devido complexidade das relaes sociais e
o conflito de interesses entre Estado e cidados, as normas jurdicas receberam
tratamento especial. O direito evoluiu, conforme a sociedade foi evoluindo, formando-se
assim, os diversos ramos do Direito.
Existe um inter-relacionamento entre os diversos ramos do direito. O direito
agrrio se relaciona com vrios ramos do direito, pois a sociedade surgiu ligada ao
agro, sendo necessrio a normatizao das relaes agrrias nos dias atuais.
Sero citadas significantes relaes do direito agrrio com outros ramos do
direito, no qual veremos agora.
Direito Internacional Pblico: Procura definir os interesses comuns entre os
Estados, com o objetivo de melhorara a convivncia entre todos os povos da terra.
Cabe, portanto, a Organizao das Naes Unidas ONU- coordenar entre os diversos
pases, convenes e tratados internacionais, no qual obriga todos os pases cumprir o
que foi determinado. A relao com o direito agrrio, se d, principalmente atravs de
rgos como a FAO, ligada ONU, que trata de assuntos pertinentes alimentao e
agricultura. Esta relao se torna evidente frente as terras agricultveis existentes no
Pgina 19 / 73
mundo e a necessidade de sua conservao para melhor produzir alimentos
civilizao.
Direito Constitucional: O direito constitucional define a poltica agrria de um
pas, em relao propriedade da terra rural. Garante o direito da propriedade, com a
repartio de terras e diretrizes para o desenvolvimento agrrio de um determinado
pas.
Direito Comercial: Sua relao se d pela comercializao da produo agrria,
armazenamento dos produtos agrcola, crdito rural e seguro agrcola, pois h
empreendimentos agrrios e implantao de agroindstrias.
Direito Internacional Privado: Seu objetivo regular as relaes entre as
pessoas e seus interesses, em funo do deslocamento de um pas para outro.
Envolve, portanto, pessoas fsicas, jurdicas ou estrangeiras, no qual o direito agrrio
se beneficia com venda de imvel rural e comercializao de imigrantes estrangeiros.
Direito do Trabalho: Sua relao se d pelo trabalho rural. Os doutrinadores se
dividem em relao ao trabalhador rural, no que concerne sua regulamentao, se o
direito do trabalho ou o direito agrrio. Existe o Direito Sindical para o trabalhador rural,
que regula as entidades representativas dos trabalhadores rurais.
Direito Administrativo: O direito administrativo instrumentaliza a poltica agrria
que se pretende implantar, regulando a organizao e a atividade agrria. Vrios
rgos da administrao pblica que cuidam da reforma agrria.
Direito Financeiro e Tributrio: Existem impostos sobre a propriedade territorial
rural, no qual o direito financeiro e tributrio regula e aplica os tributos e contribuies
fiscais e parafiscais, taxas e multas, portanto, para isso necessrio poltica agrria.
Direito Civil: O direito civil o que mais se relaciona com o direito agrrio, pois
no direito das obrigaes h relao com os contratos agrrios; no direito das coisas h
relao com o imvel rural; no direito das sucesses h formao de cadeias
sucessrias de imveis rurais.
Direito Penal: Sua relao se d com a danificao de prdios rurais , usurpao
das guas, alterao das marcas dos animais, furto e roubo de animais e produtos
agrcolas e vrias outras infraes penais.
Pgina 20 / 73
Referncias:
BSICA:
BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Agrrio. Vol.I e II. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2007.
OPTIZ, Oswaldo; OPTIZ, Silvia C.B..Curso Complento de Direito Agrrio. So Paulo:
Saraiva, 2007.
SILVA, Leandro Ribeiro da. Propriedade Rural. Rio de Janeiro: 2008.
PEREIRA, Lutero de Paiva. Crdito Rural-Limites da Legalidade. So Paulo: Juru
Editora, 1998.
BARROSO, Lucas Abreu. Direito Agrrio na Constituio. Rio de Janeiro: Forense,
2006.
COMPLEMENTAR:
ROCHA, Olavo Acyr de Lima. Desapropriao no Direito Agrrio. So Paulo: Atlas,
1992.
GALDINO, Dirceu. Manual do direito do trabalhador rural. Federao da Agricultura do
Estado do Paran. So Paulo: Ltr, 1995.
OLESKOVICK, Carlos Henrique. Direito Agrrio. So Paulo: Fortium, 2008.
TOURINHO NETO, Fernando. Introduo Crtica ao Direito Agrrio. Sao Paulo: IMESP,
2003.
BORGES, Antonio Moura. Curso Completo de Direito Agrrio. So Paulo: EDIJUR,
2007.
Pgina 21 / 73
DIREITO AGRRIO
Profa. Janana Machado Sturza
2010/02
ESTATUTO DA TERRA
LEI N 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964.
Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L4504.htm
Acesso em: 08/08/2010
Generalidades:
O Estatuto da Terra foi criado pela lei 4.504, de 30-11-1964, sendo portanto uma
obra do regime militar que acabava de ser instalado no pas atravs do golpe militar de
31-3-1964.
Sua criao estar intimamente ligada ao clima de insatisfao reinante no meio
rural brasileiro e ao temor do governo e da elite conservadora pela ecloso de uma
revoluo camponesa. Afinal, os espectros da Revoluo Cubana (1959) e da
implantao de reformas agrrias em vrios pases da Amrica Latina (Mxico, Bolvia,
etc.) estavam presentes e bem vivos na memria dos governantes e das elites.
As lutas camponesas no Brasil comearam a se organizar desde a dcada de
1950, com o surgimento de organizaes e ligas camponesas, de sindicatos rurais e
com atuao da Igreja Catlica e do Partido Comunista Brasileiro. O movimento em
prol de maior justia social no campo e da reforma agrria generalizou-se no meio rural
do pas e assumiu grandes propores no incio da dcada de 1960.
No entanto, esse movimento foi praticamente aniquilado pelo regime militar
instalado em 1964. A criao do Estatuto da Terra e a promessa de uma reforma
agrria foi a estratgia utilizada pelos governantes para apaziguar, os camponeses e
tranqilizar os grandes proprietrios de terra.
As metas estabelecidas pelo Estatuto da Terra eram basicamente duas: a
execuo de uma reforma agrria e o desenvolvimento da agricultura. Trs dcadas
depois, podemos constatar que a primeira meta ficou apenas no papel, enquanto a
Pgina 22 / 73
segunda recebeu grande ateno do governo, principalmente no que diz respeito ao
desenvolvimento capitalista ou empresarial da agricultura.
Particularidades:
O Cdigo Agrrio Brasileiro, Estatuto da Terra (lei n 4.504/64) examina em
muitos artigos o problema da reforma agrria e da poltica fundiria, adotando o mtodo
liberal e democrata de soluo da matria.
Considera como reforma agrria o conjunto de medidas que visem a promover a
melhor distribuio da terra, mediante modificaes no regime de sua posse e uso, a
fim de atender aos princpios de justia social e aumento de produtividade (Estatuto da
Terra, art. 1, 1).
No se deve confundir a reforma agrria com poltica agrria, entendida esta
como conjunto de providncias de amparo propriedade da terra que se destinem a
orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecurias, seja no sentido
de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmoniz-las com o processo de
industrializao do pas (Estatuto da Terra, art. 1, 2, e 47; e o Decreto n
55.891/65).
No contexto atual de transformao gradativa da estrutura agrria brasileira, se
apresenta como medida indispensvel, o aproveitamento e uma melhor distribuio das
terras pblicas e particulares, visando a descentralizao da propriedade rural e
valorao do trabalhador do campo com um melhoramento das suas condies de
vida, expandindo assim, o setor industrial e econmico do pas.
Essa utilizao justa e equilibrada das propriedades rurais, vir naturalmente
diminuir a tenso agrria e contribuir para soluo do problema agrrio, muito embora,
tal aproveitamento e distribuio, por si mesmos, no sejam os nicos processos a
serem adotados.
O Estatuto da Terra (Lei n 4.504/64) prev trs tipos de propriedade: a
propriedade familiar, o minifndio e o latifndio. J a Constituio Federal vigente
(CF/88) alude pequena e mdia propriedade, bem como a propriedade produtiva.
E a lei n 8.629/93, que regulamenta e que disciplina as disposies relativas
Pgina 23 / 73
reforma agrria previstas no captulo III, Ttulo VII, da Constituio federal de 1988,
conceituando, assim a pequena e mdia propriedade (artigo 4, II e III), alm da
propriedade produtiva (art. 6), que aquela que, explorada econmica e racionalmente,
atinge, simultaneamente, graus de utilizao da terra e de eficincia na explorao,
segundo ndices fixados pelo rgo federal competente (INCRA).
E dentro do problema agrrio, onde a reforma agrria deve ser objetivamente
planejada, a fim de compatibilizar tal rota com a poltica agrcola e fundiria, bem como,
com a destinao de terras pblicas e particulares, visando promover uma melhor
distribuio e aproveitamento da terra, surge um conceito importante, na conceituao
do regime de propriedade, qual seja o do mdulo rural.
O
MDULO
RURAL:
SUA
IMPORTNCIA
NA
DISTRIBUIO
APROVEITAMENTO DA TERRA
A palavra "mdulo" j existe de longa data no vernculo, com o significado de
quantidade equivalente a uma unidade de qualquer medida. Definem Funk e
Wignalls (1959:818): "module. A standard or unit of measurement". No direito norteamericano, h as chamadas land measures.
A expresso "mdulo rural", por sua vez, usada em nosso direito agrrio desde
o Estatuto da Terra (lei n 4504/64). Mdulo rural a quantidade mnima de terras
prevista no imvel rural para que no se transforme em minifndio; a unidade
fundamental da terra. rea inferior ao mdulo chama-se minifndio; a rea superior
chamada de latifndio.
O mdulo rural equivale rea da propriedade familiar, varivel no somente de
regio para regio, como tambm de acordo com o modo de explorao da gleba.
No fundo, como afirma Pinto Ferreira (1995:209): "o mdulo rural confunde-se
com a prpria rea da propriedade familiar".
Conforme o art. 65 do Estatuto da Terra, o imvel rural no passvel de diviso
em reas de dimenso inferior do mdulo da propriedade rural, a fim de impedir a
fragmentao dos imveis rurais e a constituio de novos minifndios.
Pgina 24 / 73
A idia de mdulo rural provm, sobretudo, do Estatuto da Terra e de um projeto
apresentado pelo ex-deputado federal por So Paulo, Coutinho Cavalcanti; o projeto n
4.389/54.
O mdulo aparece assim, como um paradigma ou modelo de apreciao, tendo
em vista a rea e a dupla funo que ele contm: estabilidade econmica e bem-estar
do agricultor.
Os mdulos rurais e fiscais so qualificados atravs de hectares, variando de
acordo com as diversas regies do pas.
O mdulo rural destarte uma unidade agrria familiar para cada regio do Pas e
para cada forma de explorao. Como bem definiu Csar Cantanhede (Misso Fao,
RJ, IBRA, 1968):
" uma unidade de medida varivel em funo da regio em que se situe o
imvel e o tipo de explorao predominante".
Em conseqncia, o mdulo rural no direito agrrio brasileiro tem as seguintes
caractersticas: 1) uma medida de rea; 2) a rea fixada para a propriedade
familiar; 3) varia de conformidade com o tipo de explorao; 4) varia tambm de acordo
com a regio do pas em que se acha localizado o imvel rural; 5) implica um mnimo
de renda, que deve ser identificada pelo menos com um salrio mnimo; 6) a renda
deve assegurar ao agricultor e a sua famlia no somente a subsistncia, porm deve
propiciar o progresso social e econmico; 7) uma unidade de medida agrria que
limita o direito de propriedade da terra rural.
Conforme a legislao agrria dominante (Estatuto da Terra - Lei n 4504/64, e
Dec. Lei 57/66), a propriedade familiar consagrada no mdulo rural e no pode ser
dividida. Esta a orientao atual do Egrgio Supremo Tribunal Federal (STF).
A propriedade familiar est bem definida no Estatuto da Terra (art.4, II c/c o art.
6, I) e no Decreto 55.891/65 (arts. 11 a 23):
"Propriedade familiar, o imvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo
agricultor e sua famlia, lhe absorva toda a fora de trabalho, garantindo-lhes a
Pgina 25 / 73
subsistncia e o progresso social e econmico, com rea mxima fixada para cada
regio e tipo de explorao, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros".
Outro requisito da propriedade familiar que sua rea tenha o tamanho do
mdulo, porm varivel conforme determinados fatores, como a situao geogrfica, o
clima, as condies de aproveitamento da terra, etc.
Define Paulo Torminn Borges (apud Ferreira, 1995:213): "Em outras palavras,
mdulo rural a rea de terra que, trabalhada direta e pessoalmente por uma famlia
de composio mdia, com auxlio apenas eventual de terceiro, se revela necessria
para a subsistncia e ao mesmo tempo suficiente como sustentculo ao progresso
social e econmico da referida famlia".
A forma para se achar o mdulo se fundamenta na declarao para
cadastramento, sendo individualizado no Certificado de Cadastro expedido pelo
INCRA.
Para efeito tributrio (ITR), o mdulo de propriedade foi substitudo pelo mdulo
fiscal (Lei n 6.746/79; Dec. n 84.685/80). O mdulo fiscal est regulado pelo art. 50 da
Estatuto da Terra (lei n 4.504/64), que serve para clculo do Imposto Territorial Rural.
Admitem-se os seguintes tipo de mdulos, nominados conforme a atividade rural:
a) explorao hortigranjeira; b) lavoura permanente; c) lavoura temporria; d)
explorao pecuria de mdio ou grande porte, visto que a explorao pecuria de
pequeno porte qualificada como hortigranjeira; e) explorao florestal.
J o minifndio uma rea rural menor que a da propriedade familiar e tido
como nocivo funo social da terra. "um imvel rural de rea e possibilidade
inferiores s da propriedade familiar" (Estatuto da Terra, art. 4, IV).
Em suma, o minifndio o imvel rural de rea inferior unidade econmica
bsica para determinada regio e tipo de explorao.
E o latifndio pode ser definido, no direito agrrio brasileiro, como o imvel rural
de rea igual ou superior ao mdulo (rural) que, mantida inexplorada ou com a
explorao incorreta, ou, ainda, de dimenso incompatvel com a razovel e justa
Pgina 26 / 73
repartio da terra. H dois tipos de latifndio: o latifndio por extenso e o latifndio
por explorao, falta de explorao ou explorao incorreta.
Referncias:
BSICA:
BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Agrrio. Vol.I e II. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2007.
OPTIZ, Oswaldo; OPTIZ, Silvia C.B..Curso Complento de Direito Agrrio. So Paulo:
Saraiva, 2007.
SILVA, Leandro Ribeiro da. Propriedade Rural. Rio de Janeiro: 2008.
PEREIRA, Lutero de Paiva. Crdito Rural-Limites da Legalidade. So Paulo: Juru
Editora, 1998.
BARROSO, Lucas Abreu. Direito Agrrio na Constituio. Rio de Janeiro: Forense,
2006.
COMPLEMENTAR:
ROCHA, Olavo Acyr de Lima. Desapropriao no Direito Agrrio. So Paulo: Atlas,
1992.
GALDINO, Dirceu. Manual do direito do trabalhador rural. Federao da Agricultura do
Estado do Paran. So Paulo: Ltr, 1995.
OLESKOVICK, Carlos Henrique. Direito Agrrio. So Paulo: Fortium, 2008.
TOURINHO NETO, Fernando. Introduo Crtica ao Direito Agrrio. Sao Paulo: IMESP,
2003.
BORGES, Antonio Moura. Curso Completo de Direito Agrrio. So Paulo: EDIJUR,
2007.
Pgina 27 / 73
Direito Agrrio
Profa. Janana Sturza
O MDULO RURAL: SUA IMPORTNCIA NA DISTRIBUIO E
APROVEITAMENTO DA TERRA
A palavra "mdulo" j existe de longa data no vernculo, com o significado de
quantidade equivalente a uma unidade de qualquer medida.
Definem Funk e Wignalls (1959:818): "module. A standard or unit of
measurement". No direito norte-americano, h as chamadas land measures.
A expresso "mdulo rural", por sua vez, usada em nosso direito agrrio
desde o Estatuto da Terra (lei n 4504/64). Mdulo rural a quantidade mnima de
terras prevista no imvel rural para que no se transforme em minifndio; a
unidade fundamental da terra. rea inferior ao mdulo chama-se minifndio; a
rea superior chamada de latifndio.
O mdulo rural equivale rea da propriedade familiar, varivel no somente
de regio para regio, como tambm de acordo com o modo de explorao da
gleba.
No fundo, como afirma Pinto Ferreira (1995:209): "o mdulo rural confunde-se
com a prpria rea da propriedade familiar".
Conforme o art. 65 do Estatuto da Terra, o imvel rural no passvel de
diviso em reas de dimenso inferior do mdulo da propriedade rural, a fim de
impedir a fragmentao dos imveis rurais e a constituio de novos minifndios.
A idia de mdulo rural provm, sobretudo, do Estatuto da Terra e de um
projeto apresentado pelo ex-deputado federal por So Paulo, Coutinho Cavalcanti; o
projeto n 4.389/54.
O mdulo aparece assim, como um paradigma ou modelo de apreciao,
tendo em vista a rea e a dupla funo que ele contm: estabilidade econmica e
bem-estar do agricultor.
Os mdulos rurais e fiscais so qualificados atravs de hectares, variando de
acordo com as diversas regies do pas.
Pgina 28 / 73
O mdulo rural destarte uma unidade agrria familiar para cada regio do
Pas e para cada forma de explorao. Como bem definiu Csar Cantanhede
(Misso Fao, RJ, IBRA, 1968):
" uma unidade de medida varivel em funo da regio em que se situe o
imvel e o tipo de explorao predominante".
Em conseqncia, o mdulo rural no direito agrrio brasileiro tem as
seguintes caractersticas: 1) uma medida de rea; 2) a rea fixada para a
propriedade familiar; 3) varia de conformidade com o tipo de explorao; 4) varia
tambm de acordo com a regio do pas em que se acha localizado o imvel rural; 5)
implica um mnimo de renda, que deve ser identificada pelo menos com um salrio
mnimo; 6) a renda deve assegurar ao agricultor e a sua famlia no somente a
subsistncia, porm deve propiciar o progresso social e econmico; 7) uma
unidade de medida agrria que limita o direito de propriedade da terra rural.
Conforme a legislao agrria dominante (Estatuto da Terra - Lei n 4504/64,
e Dec. Lei 57/66), a propriedade familiar consagrada no mdulo rural e no pode
ser dividida. Esta a orientao atual do Egrgio Supremo Tribunal Federal (STF).
A propriedade familiar est bem definida no Estatuto da Terra (art.4, II c/c o
art. 6, I) e no Decreto 55.891/65 (arts. 11 a 23):
"Propriedade familiar, o imvel rural que, direta e pessoalmente explorado
pelo agricultor e sua famlia, lhe absorva toda a fora de trabalho, garantindo-lhes a
subsistncia e o progresso social e econmico, com rea mxima fixada para cada
regio e tipo de explorao, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros".
Outro requisito da propriedade familiar que sua rea tenha o tamanho do
mdulo, porm varivel conforme determinados fatores, como a situao geogrfica,
o clima, as condies de aproveitamento da terra, etc.
Define Paulo Torminn Borges (apud Ferreira, 1995:213): "Em outras palavras,
mdulo rural a rea de terra que, trabalhada direta e pessoalmente por uma famlia
de composio mdia, com auxlio apenas eventual de terceiro, se revela necessria
para a subsistncia e ao mesmo tempo suficiente como sustentculo ao progresso
social e econmico da referida famlia".
A forma para se achar o mdulo se fundamenta na declarao para
cadastramento, sendo individualizado no Certificado de Cadastro expedido pelo
INCRA.
Pgina 29 / 73
Para efeito tributrio (ITR), o mdulo de propriedade foi substitudo pelo
mdulo fiscal (Lei n 6.746/79; Dec. n 84.685/80). O mdulo fiscal est regulado
pelo art. 50 da Estatuto da Terra (lei n 4.504/64), que serve para clculo do Imposto
Territorial Rural.
Admitem-se os seguintes tipo de mdulos, nominados conforme a atividade
rural: a) explorao hortigranjeira; b) lavoura permanente; c) lavoura temporria; d)
explorao pecuria de mdio ou grande porte, visto que a explorao pecuria de
pequeno porte qualificada como hortigranjeira; e) explorao florestal.
J o minifndio uma rea rural menor que a da propriedade familiar e tido
como nocivo funo social da terra. "um imvel rural de rea e possibilidade
inferiores s da propriedade familiar" (Estatuto da Terra, art. 4, IV).
Em suma, o minifndio o imvel rural de rea inferior unidade econmica
bsica para determinada regio e tipo de explorao.
E o latifndio pode ser definido, no direito agrrio brasileiro, como o imvel
rural de rea igual ou superior ao mdulo (rural) que, mantida inexplorada ou com a
explorao incorreta, ou, ainda, de dimenso incompatvel com a razovel e justa
repartio da terra.
H dois tipos de latifndio: o latifndio por extenso e o latifndio por
explorao, falta de explorao ou explorao incorreta.
REFERNCIAS
BSICA:
BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Agrrio. Vol.I e II. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2007.
OPTIZ, Oswaldo; OPTIZ, Silvia C.B..Curso Complento de Direito Agrrio. So Paulo: Saraiva, 2007.
SILVA, Leandro Ribeiro da. Propriedade Rural. Rio de Janeiro: 2008.
PEREIRA, Lutero de Paiva. Crdito Rural-Limites da Legalidade. So Paulo: Juru Editora, 1998.
BARROSO, Lucas Abreu. Direito Agrrio na Constituio. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
COMPLEMENTAR:
ROCHA, Olavo Acyr de Lima. Desapropriao no Direito Agrrio. So Paulo: Atlas, 1992.
GALDINO, Dirceu. Manual do direito do trabalhador rural. Federao da Agricultura do Estado do
Paran. So Paulo: Ltr, 1995.
OLESKOVICK, Carlos Henrique. Direito Agrrio. So Paulo: Fortium, 2008.
TOURINHO NETO, Fernando. Introduo Crtica ao Direito Agrrio. Sao Paulo: IMESP, 2003.
BORGES, Antonio Moura. Curso Completo de Direito Agrrio. So Paulo: EDIJUR, 2007.
Pgina 30 / 73
DESCRIO E ANLISE DO CASO PRTICO
O caso em exame retrata um imvel urbano pertencente ao proprietrio "A",
que totaliza uma rea de 10.000 m (dez mil metros quadrados). Contgua a esse
terreno h uma rea rural com rea total de 15.000 m (quinze mil metros
quadrados), cuja posse foi adquirida tambm por A, em uma cesso de direitos
hereditrios, h cerca de 8 anos. O proprietrio A intenta registrar em seu nome a
rea rural para, em seguida, unificar os imveis sob uma nica matrcula,
espelhando nos dados registrais uma unidade ftica j existente, o que permitir
uma segurana jurdica necessria explorao econmica da propriedade.
Contudo, alguns problemas se impem quando da tentativa de registro do
imvel rural, obstaculizando a subseqente unificao de matrculas:
a) O ttulo de aquisio da rea rural no tem a higidez necessria ao registro:
a cesso de direitos hereditrios no atende aos requisitos de especialidade
objetiva, uma vez que, antes da formalizao da partilha, no h como se individuar
o imvel;
b) A rea rural em questo seria inferior ao mdulo rural para a regio, de
acordo com a Instruo Normativa 50, de 26 de agosto de 1997 do INCRA de
30.000 m (trinta mil metros quadrados), ou 3 (trs) hectares o que inviabiliza o seu
ingresso registral sob matrcula autnoma. E, mesmo h hiptese de sua aglutinao
ao terreno urbano, a rea somada de 25.000 m (vinte e cinco mil metros
quadrados), ou 2,5 (dois e meio) hectares continuaria sendo inferior ao mdulo
rural;
c) A lei veda a considerao de um imvel como parcialmente rural e urbano, o
que enseja a necessidade, no caso de unificao de matrculas, de se optar
forosamente por uma ou outra qualificao;
Como se ver, a ausncia de registro da rea rural ocasiona uma insegurana
jurdica que impede que lhe seja dada uma destinao econmica que efetive a
realizao de sua funo social, pois mostra-se temerrio qualquer investimento
enquanto a rea continuar a integrar o esplio de seu falecido proprietrio.
Aquisio das reas
A aquisio da frao urbana se deu em 1990, atravs de uma compra e
venda de 5 lotes, de 2.000 m (dois mil metros quadrados), cada. Nessa ocasio,
Pgina 31 / 73
operou-se a reunio de matrculas, pois se tratava de imveis limtrofes, nos termos
do artigo 234, da Lei Federal n 6.015, de 31 de dezembro de 1973 Lei de
Registros Pblicos (LRP).
J a parte rural, de 15.000 m (quinze mil metros quadrados), foi negociada
com todos os herdeiros do antigo proprietrio, atravs de uma cesso de direitos
hereditrios. A despeito do longo tempo de realizao do negcio, quase 8 anos,
no se deu qualquer andamento formalizao da partilha, o que est a impedir a
tentativa de A no sentido de viabilizar o registro do terreno em seu nome.
Ttulo de aquisio da rea rural
A cesso de direitos hereditrios, como se sabe, ttulo inapto ao registro. Na
lio histrica de Afrnio de Carvalho, desde que entrou em vigor o Cdigo Civil de
1916,
repontou por toda parte a tentativa de, para garantia do cessionrio contra
dupla venda, obter a transcrio da venda ou cesso de herana sob o fundamento
de ser considerado imvel o direito sucesso aberta (Cd. Civ., art. 44, III). A
tentativa falhou por no ser a herana um imvel corpreo, mas uma universitas
juris, composta de direitos e obrigaes, mveis e imveis. Se o prprio tronco, de
onde deriva a cesso, o direito sucesso aberta, est isento de transcrio, por ser
a sucesso um modo autnomo de adquirir a propriedade (Cd. Civ., arts. 530, IV, e
1.572), com mais forte razo h-de estar a sua derivao, que, no formalismo
registral, teria posio tambm dependente daquela (CARVALHO, 1977, p. 49).
O direito registral tem como premissa a necessidade de uma pormenorizada
descrio do imvel, de modo a permitir a sua precisa individuao. Ademais, uma
das funes precpuas do Registro Imobilirio permitir que o Estado conhea a
exata condio jurdica de seu territrio. Nessa perspectiva que se veda, e.g., o
registro de fraes ideais.
Por essa razo, a idia do registro de uma cesso hereditria fere um dos
princpios mais caros ao Direito Registral Imobilirio: o da Especialidade.
O Princpio da Especialidade consiste no fato de que
toda inscrio deve recair sobre um objeto precisamente individuado. Esse
princpio, consubstancial ao registro, desdobra o seu significado para abranger a
individualizao obrigatria de (...) todo imvel que seja objeto de direito real, a
Pgina 32 / 73
comear pelo de propriedade, pois a inscrio no pode versar sobre todo o
patrimnio ou sobre um nmero indefinido de imveis. (CARVALHO, 1977, p. 219).
Desse modo, cedio que, quando se opera a partilha de um patrimnio pelo
falecimento de seu titular,
essa partilha, conforme for o monte-mor, tanto poder atribuir a cada um dos
herdeiros imveis, a serem individuados posteriormente. No primeiro caso, a partilha
esgotar tudo quanto interessa aos herdeiros obter e ao registro inscrever, ao passo
que, no segundo, ela ficar em meio de uma operao, que s se completar com a
diviso e demarcao dos imveis. Portanto, a partilha, conquanto se inclua entre os
juzos divisrios, nem sempre o de modo pleno, pois costuma transformar apenas
uma indiviso absoluta, em que o direito de cada interessado se acha difuso no
monte-mor, numa indiviso relativa, em que esse direito se radica em certos imveis,
mas em partes aritmticas, de modo que, a rigor, pode desdobrar-se deveras nestas
duas alternativas: a. divisria, quando o pagamento de cada um dos herdeiros
composto de imveis inteiros, o que faz cessar desde logo a indiviso hereditria; b.
semidivisria, quando o pagamento de cada um dos herdeiros formado de partes
de imveis, o que no faz cessar desde logo a indiviso hereditria, exigindo ainda o
juzo da diviso e demarcao (...). No obstante, tanto obrigatria a inscrio do
formal de partilha quando o imvel cabe por inteiro no quinho do herdeiro, como
quando apenas parte dele a caiba por haver ele sido atribudo em condomnio a
mais de um herdeiro." (CARVALHO, 1977, p. 228)
No sem razo, pois, o artigo 167, I, 25, da Lei de Registros Pblicos,
estabelece o registro do formal de partilha e, diversamente, no prev a
possibilidade de registro da cesso de direitos hereditrios.
Sendo vedado o registro de tal ttulo aquisitivo, o proprietrio A teria duas
possibilidades de atuao: a) requerer a partilha, nos termos em que lhe faculta o
artigo 2.013 do Cdigo Civil, j que se encontra na qualidade de cessionrio; ou b)
aguardar o prazo de 10 anos (dos quais 8 anos j se passaram) para o perfazimento
da prescrio aquisitiva da propriedade por usucapio ordinrio (j que A
proprietrio de outros imveis, rurais e urbanos), nos termos do artigo 1.242, do
Cdigo Civil, valendo a cesso de direitos hereditrios como justo ttulo.
Qualquer das duas vias ir lhe proporcionar a obteno de um ttulo apto ao
ingresso registral: o formal de partilha, previsto no artigo 167, I, 25, da Lei de
Pgina 33 / 73
Registros Pblicos; e a sentena de usucapio, cujo registro previsto no art. 167, I,
28, da mesma LRP.
Utilizao efetiva dos terrenos
A rea urbana sob domnio de A tem sido utilizada para a permanente moradia
do proprietrio, nela tendo sido construda ampla casa, com rea de churrasqueira e
recreao, piscina, quadra poliesportiva, campo de futebol, canil, depsito de
ferramentas, garagem coberta para automveis, casa de caseiro, pomar e um
criadouro de galinceos, sendo o restante ocupado por significativa rea ajardinada.
J a rea rural, fisicamente ligada urbana por uma pequena ponte construda a
mando do proprietrio A, tem sido ordinariamente destinada ao plantio de gros,
alternando-se cultivos de pouca expresso econmica, tais como milho e feijo, o
que feito apenas para ocupar o terreno, sem qualquer pretenso lucrativa de
realce.
Ausncia de registro, insegurana jurdica e impossibilidade de utilizao
econmica
No intuito de agregar valor terra e dela auferir renda a longo prazo, o
proprietrio comeou a estudar as possibilidades econmicas do terreno, tendo
optado por ali desenvolver, ainda que em escala reduzida, um projeto de
florestamento comercial, para futura extrao de madeiras nobres.
Como se sabe, o comrcio de madeiras nobres das atividades mais antigas
exploradas em nosso pas, fato que se retrata no prprio nome dado a nosso
Estado, em uma referncia histrica explorao do Pau-Brasil (Caesalpinia
echinata) no incio de nossa colonizao europia.
Atualmente, o comrcio de madeiras vem sofrendo uma crescente presso
para adequao s normas ambientais vigentes, coibindo-se a explorao predatria
com sanes inclusive na seara criminal.
Nesse sentido, mostra-se de vital importncia a iniciativa de proprietrios de
reas rurais de promover o plantio de espcies de rvores de alto valor comercial,
para suprirem a demanda existente, sem que seja necessria a derrubada de
nossas matas nativas.
E o valor agregado com tal explorao pode ultrapassar a casa dos milhes de
reais a cada poucos hectares plantados com madeiras como mogno, guanandi, teka,
Pgina 34 / 73
e muitas outras, em um prazo de cultivo no superior a 20 anos. Isso gera uma
potencializao sem precedentes na utilizao da terra e, sobretudo, da pequena
propriedade rural, haja vista a incrvel correlao "lucro X metro quadrado" que dela
exsurge. Soma-se a isso o enorme apelo ambiental da iniciativa, com reflexos,
inclusive, na comercializao mundial dos chamados crditos-carbono.
No entanto, essa atividade requer um investimento inicial, cuja implementao
no pode prescindir de uma segurana jurdica advinda da certeza do domnio sobre
o imvel. No caso em exame, a ausncia de registro tendo sido um importante bice,
e a realizao de investimentos de maior vulto tem-se mostrado temerria, uma vez
que sequer possvel o cadastramento do plantio, para posterior corte, junto aos
rgos ambientais responsveis pelo licenciamento.
Diante desse imbrglio jurdico, que tem impedido qualquer ao do
proprietrio no sentido de buscar a regularizao dos dados registrais do imvel,
passamos a analisar os conceitos legais de imvel urbano e imvel rural, a fim de
podermos qualificar as reas em exame.
Conceito de imvel rural
De acordo com o Estatuto da Terra, em seu artigo 4, I, considera-se imvel
rural o prdio rstico, de rea contnua, qualquer que seja a sua localizao, que se
destina explorao extrativa agrcola, pecuria ou agro-industrial, quer atravs de
planos pblicos de valorizao, quer atravs de iniciativa privada.
A Lei Federal n 5.868, de 12 de dezembro de 1972, que criou o Sistema
Nacional de Cadastro Rural, definiu o imvel rural, para fins de incidncia do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural, na esteira do Estatuto da Terra, apenas
acrescentando a necessidade de a rea do imvel ser superior a 1 hectare.
Posteriormente, e tambm para fins de incidncia de ITR, o artigo 1 da Lei
Federal n 9.393, de 19 de dezembro de 1996 passou a considerar rural o imvel
localizado fora da zona urbana do municpio, adotando o critrio de localizao por
excluso: o que no estiver inserido em rea urbana considerado imvel rural.
Desse modo, o ordenamento ptrio apresenta um duplo critrio para a
qualificao de um imvel como rural: a) o da destinao econmica do imvel,
previsto no Estatuto da Terra e tambm na Lei 5.868/72, que acrescentou apenas o
limite mnimo de rea total de 1 hectare; e b) o da localizao do imvel.
Pgina 35 / 73
Em nosso trabalho, no nos dedicaremos a analisar a preponderncia de um
ou outro critrio, mas nos ocuparemos apenas de delinear as conseqncias, para o
caso prtico, da adoo de cada um deles.
Conceito de mdulo rural
De acordo com os incisos II e III, do art. 4, do Estatuto da Terra, mdulo rural
a rea mnima necessria subsistncia e ao progresso social e econmico do
agricultor e de sua famlia, mediante a explorao direta e pessoal dos mesmos,
com a absoro de toda a fora de trabalho, eventualmente com a ajuda de
terceiros. A determinao de sua rea mxima fixada para cada regio e tipo de
explorao.
A definio legal nos proporciona, atravs de uma exegese teleolgica, a
concluso de que o mdulo rural corresponde rea mnima necessria para que o
pequeno proprietrio rural d terra sua funo social.
Sobre a interpretao finalstica, vale aqui ressaltar, na lio de Carlos
Maximiliano, que o Direito encerra
uma cincia primariamente normativa ou finalstica; por isso mesmo a sua
interpretao h de ser, na essncia, teleolgica. O hermeneuta sempre ter em
vista o fim da lei, o resultado que a mesma precisa atingir em sua atuao prtica. A
norma enfeixa um conjunto de providncias, protetoras, julgadas necessrias para
satisfazer a certas exigncias econmicas e sociais; ser interpretada de modo que
melhor corresponda quela finalidade e assegura plenamente a tutela de interesse
para a qual foi regida (MAXIMILIANO, 1988, p. 151).
O intrprete do Direito deve buscar sempre o escopo da Lei, a chamada mens
legis, de modo, inclusive, a situar hierarquicamente os princpios e regras jurdicos.
O Estatuto da Terra, que uma lei ordinria, gerou uma regra jurdica, que consiste
na criao de uma frao mnima de terra capaz de prover sustento entidade
familiar que a explora com seu trabalho. E o escopo de tal regra de dar efetividade
ao princpio da funo social da propriedade, de sede constitucional.
parte a noo da finalidade de instituio do mdulo rural por regio,
lembramos ainda que tal definio legal de mdulo rural serve de referncia para: a)
limitao da aquisio de imvel rural por pessoa natural ou jurdica estrangeira; b)
aferio da Frao Mnima de Parcelamento - FMP, definida para a explorao da
Pgina 36 / 73
Zona Tpica de Mdulo - ZTM municipal; c) definio dos beneficirios do chamado
"Banco da Terra"; d) enquadramento Sindical Rural dos detentores.
A fixao do mdulo rural por regio estabelecida atravs de Instruo
Normativa do INCRA, sendo atualmente vigente a IN n 50, de 26 de agosto de
1997.
Conceito de Imvel Urbano
O Cdigo Tributrio Nacional (CTN), Lei Federal 5.172, de 25 de outubro de
1966, para fins de incidncia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU, considera urbano o bem imvel por natureza ou por acesso fsica o
assim definido na lei civil, localizado na zona urbana do Municpio (art. 32).
Entende-se como zona urbana (art. 32, 1, do CTN) a definida em lei
municipal, observado o requisito mnimo da existncia de melhoramentos indicados
em pelo menos 2 (dois) dos seguintes requisitos, construdos ou mantidos pelo
Poder Pblico: a) meio-fio ou calamento, com canalizao de guas pluviais; b)
abastecimento de gua; c) sistema de esgotos sanitrios; d) rede de iluminao
pblica, com ou sem posteamento para distribuio domiciliar; e) escola primria ou
posto de sade a uma distncia mxima de 3 (trs) quilmetros do imvel
considerado.
Enquadramento inicial das reas descritas no caso prtico
Na situao em exame, a rea adquirida por cesso hereditria est situada
fora da rea urbana definida pela Lei Municipal, o que a faz ser qualificada, por
excluso, como imvel rural, pelo critrio da localizao. Alm disso, ela no perfaz
os requisitos mnimos estabelecidos no art. 32, 1, do CTN, no se enquadrando
em zona urbana.
Por outro lado, a rea em comento tem tido uma destinao que se pode
seguramente qualificar como rural, j que nela so regularmente plantadas culturas
de gros. Desse modo, deve ela ser reputada rural sob ambos os critrios legais.
J com relao ao imvel registrado em nome do proprietrio A, trata-se de
rea inserida dentre os limites definidos como urbanos pela lei municipal, e que
conta com a infra-estrutura mnima elencada no 1 do art. 32 do CTN, o que lhe
enseja uma inequvoca qualificao de imvel urbano.
Pgina 37 / 73
V-se, portanto, que no caso de "A" pretender uma unificao de matrculas,
as alternativas que se lhe apresentam so a) pleitear a excluso da rea urbana dos
limites municipais, dando-lhe uma conformao de aproveitamento agrrio; ou,
diversamente, b) pleitear a insero da rea rural dentre os limites fixados pela
norma municipal como de ocupao urbana.
Certo que, para qualquer das duas solues, ser imperiosa a consulta ao
Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria INCRA e Prefeitura do
Municpio em questo.
Para que se delineie uma ou outra opo, no entanto, faz-se necessria uma
imerso nas normas constitucionais que definem a relao de dominialidade
imobiliria, e passamos a faz-lo buscando evidenciar a relao existente entre o
direito de propriedade e a expresso de sua funo social.
Limites do direito de propriedade
A propriedade e, por conseguinte, os direitos que lhe so correlatos, vem
sofrendo progressivas restries em razo da crescente percepo de que se deve
adequ-la aos interesses de toda a sociedade, em eventual detrimento dos de seu
titular.
Doutrinariamente, podemos classificar os limites do direito de propriedade em
internos ou externos, sendo ambos ditados pela necessidade de se resguardar ora
os interesses do proprietrio, individualmente visto, ora os da coletividade.
Limites externos
Tais limites no dizem respeito ao momento de constituio do direito de
propriedade, sendo posteriores sua formao. Nos dizeres de Antonio Herman
Benjamin, "pressupem uma dominialidade que opera em sua plenitude, totalmente
consolidada por respeitar os limites primordiais" (BENJAMIN, 1998).
Limites internos
Como bem ressalta Bandeira de Mello, no se est, aqui, a tratar propriamente
de restries ao "direito de propriedade", mas de limitaes propriedade em si, ou
seja, concernentes prpria definio do instituto (BANDEIRA DE MELLO, 1986).
Assim, no se est a tolher o exerccio de um direito, mas a definir os
contornos que pautam sua insero e proteo em nosso ordenamento. Tais limites
so, pois, intrnsecos e contemporneos formao da dominialidade, constituindo
pressupostos garantia que se confere ao direito em questo.
Pgina 38 / 73
Os elementos internos so como que pressupostos de validade do direito de
propriedade, j que eles respeitam aos parmetros dentro dos quais a propriedade
reconhecida e protegida em nosso ordenamento.
Princpio da Funo Social da Propriedade
A relao de propriedade no meramente um direito subjetivo de contedo
fixo e unitrio, mas uma relao jurdica dinmica e complexa. Nessa relao jurdica
de propriedade, o titular deve observar a disposio constitucional contida no artigo
5, XXIII, de obedincia ao princpio da funo social, j que, se a ligao de uma
coisa utilidade individual protegida, antes de tudo por causa da utilidade social
que resulta desta relao. Nos dizeres de Paulo Afonso Leme Machado, a
propriedade no um direito individual que exista para opor-se sociedade. um
direito que se afirma na comunho com a sociedade (MACHADO, 2003, p. 703).
Na lio de Jos Afonso da Silva, "a funo social da propriedade no se
confunde com os sistemas de limitao da propriedade. Estes dizem respeito ao
exerccio do direito ao proprietrio, aquela estrutura do direito mesmo,
propriedade". (SILVA, 2005, p. 282)
No atendimento funo social da propriedade no basta a absteno do uso
anti-social, mas, sobretudo, que se aja positivamente no sentido de fazer aflorarem
os valores sociais potenciais especficos nela presentes.
A verificao pontual do atendimento da funo social em uma dada relao
de propriedade faz com que ela sirva de critrio de valorao da atuao do
proprietrio, permitindo inferir quando e em que medida este est realizando seu
direito.
certo que o ordenamento jurdico deve estabelecer critrios objetivos de
aproveitamento da propriedade, para a aferio de sua adequao funo social.
Contudo, como tal princpio dinmico, admite anlise caso a caso, de modo que,
em situaes especiais, faz-se necessria uma flexibilizao de padres legais, para
que tais critrios no inviabilizem, por sua peremptoriedade fria, a implementao de
uma adequada explorao econmica da propriedade que permita, ela sim, o
afloramento de sua funo social.
Quanto aplicabilidade do princpio constitucional da funo social da
propriedade, estamos convictos de sua eficcia plena, pois ele
Pgina 39 / 73
interfere com a estrutura e o conceito da propriedade, valendo como regra que
fundamenta um novo regime jurdico desta, transformando-a numa instituio de
Direito Pblico, especialmente, ainda que nem a doutrina nem a jurisprudncia
tenham percebido o seu alcance, nem lhe dado aplicao adequada, como se nada
tivesse mudado (SILVA, 2005, p. 281).
A Funo Social da Propriedade Rural
A Constituio Federal, em seu artigo 186, estabelece importantes nortes para
a verificao do atendimento ao princpio da funo social da propriedade rural:
Art. 186. A funo social cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critrios e graus de exigncia estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilizao adequada dos recursos naturais disponveis e preservao do
meio ambiente;
III - observncia das disposies que regulam as relaes de trabalho;
IV - explorao que favorea o bem-estar dos proprietrios e dos
trabalhadores.
A idia do mdulo rural surgiu exatamente para se fixar um mnimo de rea
aproveitvel para o sustento da entidade familiar que vive da explorao da terra,
permitindo a realizao de sua funo social.
E os requisitos ditados pela Constituio Federal para o atendimento da funo
social da propriedade, como visto so: a) racionalizao e adequao do
aproveitamento do imvel; b) utilizao adequada dos recursos naturais e
preservao do meio ambiente; c) observncia das normas que regulam a relao
de trabalho; e d) explorao que favorea o bem estar dos proprietrios e
trabalhadores.
certo que o Estatuto da Terra Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964
(recepcionado pelo sistema constitucional inaugurado em 1988), cumpre uma funo
normativa prevista no prprio artigo 186, da C.F., ao especificar parmetros mnimos
aplicveis s macro-regies brasileiras. No entanto, salientamos que a cogncia do
princpio da funo social da propriedade exige uma anlise da situao de
explorao econmica efetiva de cada imvel, no devendo se ater a limites frios e
regidos por uma generalidade insensvel dinmica da realidade.
Pgina 40 / 73
Dinmica essa que, nos mais de 40 anos de vigncia do Estatuto da Terra,
permitiu inclusive a racionalizao da utilizao da propriedade rural, pelo advento
de novas tcnicas agrcolas, e pela abertura de novas frentes de explorao
econmica.
Com isso, estamos a afirmar que a funo social da propriedade um princpio
que requer ateno especial para a aferio sua efetividade em uma dada relao
de propriedade especfica, e que no pode ser engessado de maneira nefasta sob
um pretenso movimento de regulamentao, que descura das evolues
tecnolgicas, e das prprias dinmicas sociais e econmicas de nosso tempo.
Assistimos, em verdade, ao seguinte fato: sob o pretexto de dar cumprimento a
um princpio constitucional, estabelece-se uma rea mnima explorvel e, com isso,
no se permite a matrcula de rea inferior ao mdulo. No entanto, surgem novas
tcnicas de explorao, e sobretudo novas demandas scio-econmicas, que
passam a permitir uma explorao consentnea com a prpria definio de
atendimento funo social da propriedade, em uma rea aqum do mnimo
estabelecido na legislao infra-constitucional. Mas, por entender-se tal norma
ordinria como a tradutora fiel e indefectvel do princpio constitucional do qual
deriva, no se permite a explorao que fira a regra jurdica, e se faz perecer toda a
dinmica scio-econmica que poderia dar pleno vigor funo social da
propriedade. Ento, na verdade, presenciamos a prevalncia da regra sobre o
princpio que um dia a informou, entendimento esse desprovido de qualquer anlise
hierrquica, que dizer teleolgica das normas em questo.
No se pretende aqui criar uma desregulamentao completa. Clara est a
importncia da fixao de um mnimo-padro, que valha para a quase-totalidade
maioria de propriedades rurais. Alis, o emprego de tcnicas arcaicas de
aproveitamento da terra ainda comumente utilizado em nosso pas, e a idia aqui
esposada no se presta a legitimar a flexibilizao do mdulo rural em tais
situaes.
Mas se novas tcnicas e aproveitamentos existem, porque no contemplar
essas honrosas excees, que esto a dar efetividade no somente ao princpio da
funo social da propriedade, mas tambm ao princpio do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, tambm de sede constitucional?
No se pode esquecer do real motivo de se fixar um mnimo, e da
artificialidade do mesmo frente densidade da realidade ftica que ora
Pgina 41 / 73
experimentamos. Lamentavelmente, no raro entre ns, a formalidade se reveste de
contedo e contra ele se choca, por vezes preponderando.
Mas a funo social da propriedade , como visto, elemento intrnseco e
definidor da prpria relao de propriedade, e no pode se curvar diante de normas
ordinrias que a fossilizem de maneira desprovida de qualquer anlise de
finalidades.
CONCLUSES
Como visto, o proprietrio A ainda no conta com ttulo hbil ao registro. Deve
ele, para tanto, a) requerer a partilha, habilitando a cesso de direitos hereditrios
que o tornou possuidor da rea rural de 15.000 m, ou, diversamente, b) aguardar o
perfazimento do prazo legal de 10 anos para a aquisio da propriedade pelo
usucapio ordinrio.
Ultrapassada a questo do ttulo aquisitivo, deve o proprietrio A pleitear a
unificao de matrculas da rea rural e urbana, totalizando uma rea de 25.000 m.
O registrador de imveis est adstrito anlise do cumprimento dos requisitos
legais, de modo que ele est impedido de proceder ao ato registral de unificao de
matrculas, por inobservncia do mdulo rural.
Dever o registrador, portanto, a pedido do proprietrio A, suscitar a dvida
registrria, nos termos do art. 198, da Lei de Registros Pblicos - LRP. O exame
judicial em ao prpria sempre possvel, no se adstringindo o interessado ao
resultado da dvida.
Como vedada a matrcula de imvel parcialmente rural e urbano, dever o
proprietrio propugnar pela qualificao de um ou outro. Quer nos parecer, por todo
o exposto, que se mostra justa a obteno da qualificao de rural para o imvel
resultante da fuso das reas, j que a sua destinao plantio de rvores para
posterior corte e comrcio de madeiras nobres rural por excelncia. Alm disso,
a parte hoje tida como urbana continuar tendo a funo de abrigar a moradia de
seu proprietrio, ambas compondo uma unidade orgnica imobiliria j hoje
experimentada.
O fundamento para o pleito de unificao , como salientado ao longo do
trabalho, a efetiva observncia e implementao prtica do princpio da funo social
da propriedade, que goza de eficcia plena, e deve, pois, prevalecer forosamente
sobre a regra legal do mdulo rural.
Pgina 42 / 73
DIREITO AGRRIO
Profa. Janana Machado Sturza
2010/02
A FUNO SOCIAL DA PROPRIEDADE
Grosso modo, podemos simplificadamente conceituar a funo social da
propriedade como a submisso do direito de propriedade, essencialmente excludente e
absoluto pela natureza que se lhe conferiu modernamente, a um interesse coletivo.
Duguit j afirmava que: "O proprietrio, dizer, o possuidor de uma riqueza tem, pelo
fato de possuir esta riqueza uma ''funo social'' a cumprir; enquanto cumpre essa
misso, seus atos de propriedade esto protegidos. Se no os cumpre, ou deixa
arruinar-se sua casa, a interveno dos governantes legtima para obrigar-lhe a
cumprir sua funo social de proprietrio, que consiste em assegurar o emprego das
riquezas que possui conforme seu destino" . Vivanco, citado por Paulo Torminn Borges,
define a funo social da propriedade afirmando que: "La funcin social es ni ms ni
menos que el reconocimiento de todo o titular del domnio, de que por ser um miembro
de la comunidad tiene derechos y obligaciones com relacin a los dems miembros de
ella, de manera que si l ha podido elegar a ser titular del domnio, tiene la obligacion
de cumplir com el derecho de los dems sujeitos, que consiste en no realizar acto
alguno que pueda impedir u obstaculizar el bien de dichos sujetos, o sea, la
comunidad" . Jos Cretella Jnior, ao tratar da funo social da propriedade conclui
que: "... o direito de propriedade, outrora absoluto, est sujeito em nossos dias a
numerosas restries, fundamentadas no interesse pblico e tambm no prprio
interesse privado de tal sorte que o trao nitidamente individualista, de que se revestia,
cedeu lugar a concepo bastante diversa, de contedo social, mas do mbito do
direito pblico". Luiz Ernani Bonesso de Arajo afirma, quanto propriedade luz da
funo social, que "antes de se pensa-la a partir dos interesses individuais, ela deve
ser pensada pelo interesse da coletividade, da sociedade" e adiante segue: "Em outros
termos, da exigncia de que a propriedade rural cumpra sua funo social, passa-se a
v-la como ela sendo a prpria funo social, determinada pelo exerccio do direito
terra, como forma de alcance da justia social no campo" . Luciano de Souza Godoy de
sua parte apostila que: "A propriedade privada, como um direito individual e
funcionalizado, isto , que tem presente uma funo social, apresenta um conceito no
absoluto de propriedade pela funo social que lhe inerente. Essa frmula
Pgina 43 / 73
adotada em grande parte dos pases, como conceito de propriedade juridicamente
correto". No obstante alguma doutrina, escassa, e alguns sistemas legislativos ainda
neguem a funo social da propriedade, hoje ela uma realidade, um principio adotado
e defendido por doutrinadores de escol, conforme nos d conta Rafael Augusto de
Mendona Lima.
FUNO SOCIAL NO DIREITO COMPARADO
Antes de tudo necessrio que uma ressalva que fundamental, e que diz
respeito ao Direito Ambiental. Destarte o Direito Ambiental uma das faces da funo
social da propriedade na medida em que a proteo ambiental toma em conta
interesses da coletividade quando da atividade agrria.
No que diz respeito a funo social da propriedade podemos afirmar que teve
acolhida bastante favorvel na maioria dos ordenamentos ocidentais. Precursoramente
a Constituio Mexicana de 1917, art. 27, e Weimar (Alemanha, 1919), art. 153,
seguidas, depois, pela Constituio italiana de 1947, art. 42. Vista a proteo ambiental
como face da funo social, podemos observar a Constituio da Espanha (1978), arts.
148 e 149, a Constituio Alem de 1949, reformada em 1972 (art. 74, n. 24) e a lei
italiana n. 394 de 1986 (art. 5, 3). Tambm a lei francesa n 76-673 de 1976 e a Lei de
Controle de Poluio inglesa de 1974.
Na Amrica Latina so expressivos os exemplos de adoo da funo social da
propriedade. Fora do mbito do Mercosul, podemos coligir dois exemplos segundo
Graciela Beatriz Rojas Rojas. O primeiro refere-se ao Peru, cuja Constituio de 1993
dispe que: "El derecho de propriedad s inviolable. El Estado o garantiza. Se exerce
com armoniz com el bien comum y dentro de los limites de liy", texto muito
assemelhado ao art. 153 da Constituio Weimar. O segundo refere-se Colmbia,
cujo art. 58 da Constituio de 1993 dispe que: "Se garantizar la propriedad privada y
los dems derechos adquiridos com arregalo a los leyes civiles" e segue: "Cuando de
la aplicacion de uma ley expedida por motivo de utilidad publica o inters social,
resultam em conflito los derechos de los particulares por la necessidad por ella
reconocida, el inters privado deber ceder al interes publico o social".
J no mbito do Mercosul, a Constituio Argentina de 1994 nenhuma
referncia funo social fez, mantendo, em seu art. 17, a base da Constituio de
1853, que agasalha um princpio de inviolabilidade mais rgido. No entanto, conforme
assinala Fernando P. Brebbia, o art. 41 do texto constitucional argentino consagra
princpios de proteo ambiental e uso racional o que no deixa de ser um aspecto da
Pgina 44 / 73
funo social da propriedade. Diz o art. 41: Todos los habitantes gozam derecho a um
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
produtivas satisfagam las necessidades presentes sim comprometer las de las
geraciones futuras: y tiene el deber de preservalo. El dao ambiental generar
prioritariamente la obligacin de recomponer, seguin lo estabeleza la ley. Las
autoridades provern a la protecion de este derecho, a la utulizacin racional de los
recursos naturales, a la preservacin del patrimonio nacional y cultural y de diversidad
biologica y la informacin y educacin ambiental...". Na doutrina daquele pas Vivanco
elenca como fins essenciais da Poltica Agrria a conservao dos recursos naturais
renovveis, o incremento racional da produo agrria e a segurana e bem estar
social. V-se que inobstante no haver o texto constitucional tratado expressamente
nem por isso se pode firmar ausente a funo social da propriedade no Direito
Argentino o que se refora em outra passagem do mesmo Vivanco, quando afirma que:
"El derecho del titular implica el poder de usar libremente la cosa; pero a la vez supone
el deber de utilizarla de manera que no se desnaturalice. Ello em razn de que su
capacidad produtiva interessa por igual a todos lo sujeitos de la comunidad y de que los
elementos essenciales para la vida humana como la alimentacin provienem de cosas
agrarias como la tierra o los animales".
No Paraguai, a Constituio de 1992 em seu artigo 109, aps referir-se
inviolabilidade da propriedade, permite a despropriao por utilidade pblica ou
interesse social. Graciela Beatriz Rojas Rojas ao referir-se ao dispositivo afirma que "la
norma constitucional citada como pode advertirse suspedita el contenido y limites de la
propriedad privada a la ley, atendiendo su funcin econmica y social y a fin de hacerla
accesible para todos". Segundo a autora, o Estatuto Agrrio de 1963 estaria revogado,
pois se referia a um sistema em que as desapropriaes se faziam por decreto do
executivo. A lei n 854/63 considerava que o imvel rural cumpria funo scioeconmica mediante a explorao eficiente da terra, aproveitamento racional e
observncia das disposies sobre conservao e reposio de recursos naturais
renovveis.
A doutrina uruguaia no fica indiferente funo social da propriedade. Ao
tratar das "idias-fora" do direito agrrio, Adolfo Gelsi Bidart pronunciou-se no
seguinte sentido: "Otra de las ms transitadas em los ltimos tiempos, es la funcin
social de la propriedad, subsayando que la titularidad de sta impone no la
exclusividad; sino de la apertura; no la mezquindad, sino la utilizacin de la misma de
modo refleje em si la orientacin social y, adems, em su explotacin, transcienda el
Pgina 45 / 73
solo critrio individual del proprietrio y se incorporou a la orientacin general de interes
comum".
V-se que, tenham ou no os ordenamentos recepcionado-a expressamente a
funo social da propriedade, encontra acolhida na esmagadora maioria dos
ordenamentos de inspirao romano-cannica, ainda que seja em sede doutrinria ou
jurisprudencial. Visto isto, estamos habilitados a penetrar no ordenamento nacional.
A FUNO SOCIAL NO DIREITO BRASILEIRO
At a independncia regeu-se o Brasil pela legislao portuguesa corporificada
nas Ordenaes Manoelinas, Afonsinas e Filipinas. A primeira legislao ptria
independente surge em 1824 com a Constituio Imperial, outorgada por D. Pedro I.
Em seu artigo 179, inc. XXII, sob inspirao liberal, consagrava que " garantido o
direito de propriedade em toda a sua plenitude". Embora se permitisse a
desapropriao por bem pblico, no se pode inferir que se houvesse a contemplado
qualquer homenagem uma funo social. A Constituio de 1891 acrescentou como
causas para a desapropriao a necessidade ou utilidade pblica, mas conforme nos
faz ver Paulo Torminn Borges "a primeira Constituio Republicana, em 1891, estava
dominada pelo mesmo fervor individualista na concepo do direito de propriedade". O
mesmo Autor destaca que emenda constitucional de 1926 consistiu a primeira limitao
ao direito de propriedade. A esta limitao, que se referia minas e jazidas minerais, a
Constituio de 1934 somou a concernente s quedas dgua e ainda ressalvou, em
seu artigo 113, n. 17, que o exerccio do direito de propriedade no se poderia fazer
contra o interesse social ou coletivo. Os mesmos princpios foram mantidos no texto de
1937, art. 122, n. 14, e 143, e na Lei Constitucional n. 5, de 1942. A Constituio de
1946, francamente voltada a contrariar o anterior perodo de exceo, procurou
condicionar o exerccio da propriedade ao bem estar social e a preconizar a justa
distribuio da propriedade com igualdade de oportunidades para todos (art. 141, 16
e 147).
As Constituies de 1967 e 1969 deve-se insero da funo social da
propriedade, e como condicionante da propriedade. Na primeira art. 150, 22 e 157 e
pargrafos, e na segunda, art. 153, 22, e 161. A Constituio de 1988 dedicou
diversos dispositivos disciplina da propriedade. Jos Afonso da Silva enumera os
seguintes arts. 5, in XXIV a XXX, 170, II e III, 176, 177, 178, 182, 182, 183, 184, 185,
186, 191 e 222. Na verdade, o art. 5 nos incisos XXII e XXIII traz os princpios
basilares da propriedade, o primeiro garantindo-a., o segundo atrelando-a a funo
Pgina 46 / 73
social. Nos interessam especialmente o art. 5, inc. XXII e XIII, 170, II e III e 186. O
inciso XXII do art. 5 afirma que: " garantido o direito da propriedade". O inc. XXIII
afirma que "a propriedade atender sua funo social". O art. 170, dando incio ao
captulo I, do Ttulo VII, Da Ordem Social e econmica prescreve: "art. 170 A ordem
econmica, fundada na valorizao do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existncia digna, conforme os ditames da justia social, observados
os seguintes princpios:II propriedade privada, III funo social da propriedade". O
art. 186, por seu turno, dentro do Captulo III, Da Poltica Agrcola e Fundiria e Da
Reforma Agrria, elenca os requisitos da funo social da propriedade rural de forma
clara, verbis: "art. 186 A Funo Social cumprida quando a propriedade rural
atende, simultaneamente, segundo critrios e graus de exigncia estabelecidos em lei,
aos seguintes requisitos:
- Aproveitamento racional adequado.
- Utilizao adequada dos recursos naturais disponveis e preservao do meio
ambiente.
- Observncia das disposies que regulam as relaes de trabalho.
- Explorao que favorea o bem estar dos proprietarios e dos trabalhadores".
Em primeiro plano de invocar o magistrio de Jos Afonso da Silva acerca da
natureza
pblica
da
funo
social
da
propriedade.
Segundo
eminente
constitucionalista "os juristas brasileiros, privatistas e publicistas concebem o regime
jurdico da propriedade privada como subordinado ao Direito Civil, considerado direito
real fundamental" e emenda que "essa uma perspectiva dominada pela atmosfera
civilista, que no levou em conta as profundas transformaes impostas s relaes de
propriedade privada, sujeita, hoje, estreita disciplina do Direito Pblico, que tem sua
sede fundamental nas normas constitucionais" . Em outra passagem, o mesmo autor ao
referir-se insero do princpio da funo social na ordem economica diz "j
destacamos antes a importncia desse fato, porque, ento embora tambm prevista
entre os direitos individuais, ela no mais poder ser considerada puro direito
individual, relativizando-se seu conceito e significado, especialmente porque os
princpios da ordem economica so preordenados vista da realizao de seu fim:
assegurar a todos existncia digna, conforme os ditames da justia social" .
Alm do carter publicistico, nota-se uma conjugao complexa de requesitos
na construo da funo social da propriedade, de tal modo que a definio do art. 186
valeu de Ismael Marinho Falco do seguinte comentrio: "Diante de tal conceituao
resta evidente que pelo trabalho e no pelo simples fato do ttulo que o homem
conquistar o direito de propriedade sobre a terra". Conforme o Prof. Ernani Bonesso
Pgina 47 / 73
de Arajo "a propriedade passa, ento, a ser vista como um elemento de
transformao social".
A lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1995 veio regulamentar o art. 186 da CF. Os
arts. 6 e 9, especialmente discorrem acerca da regulamentao dos incisos do artigo
constitucional, que vm repetidos no art. 9. O pargrafo 1, que trata do
aproveitamento racional remete aos pargrafos 1 a 7 do art. 6 da lei. O pargrafo 2
condiciona a utilizao da terra sua vocao natural, resguardando-se a continuidade
do potencial produtivo. O pargrafo 3 trata da preservao ao meio ambiente. O
pargrafo 5 do artigo 9 trata do bem estar social de proprietrios e trabalhadores,
afirmando que a explorao deve atender s necessidades bsicas dos que labutam na
terra, observando-se as normas de segurana do trabalho e a no provocao de
conflitos e tenes sociais. O art. 6 define a propriedade produtiva e estabelece
critrios para sua configurao.
importante observar que no se est negando o direito de propriedade,
apenas se est introduzindo um interesse preponderante, que corresponde ao
interesse da coletividade, em busca de que a propriedade seja um mecanismo de
justia social. Busca-se assim a conciliao do modelo economico capitalista com uma
poltica social que almeje a reduzir desigualdades e promover a dignidade humana,
enquanto princpios e fins da Constituio e norteadores da ao estatal. Conforme
lembra Paulo Tormim Borges preciso um "proprietrio que faa a terra produzir como
me dadivosa, mas sem exaurir, sem esgotar, porque as geraes futuras tambm
querem t-la produtiva".
FUNO SOCIAL NO ESTATUTO DA TERRA
A Emenda Constitucional n. 10, de 1964, alterando o art. 5, inc. XV, da
Constituio Federal de 1946, concedeu Unio competncia para legislar sobre o
Direito Agrrio. Estava aberta a porta para o Estatuto da Terra, Lei 4504 de 30 de
Novembro de 1964, que recebeu a regulamentao pelo Decreto 59566, de 14 de
Novembro de 1966. Apesar de produzidos sob um regime de exceo, a novel
legislao de ento, configurou-se um conjunto de normas de vanguarda, tendo, na
maioria dos dispositivos, adotado posies das mais adiantadas e consonantes ao
esprito do direito contemporneo. Pomos em destaque os art. 2 caput e seu pargrafo
2, alnea b, bem como os arts. 12 e 13 da Lei 4504/64. Diz o art. 2 caput, verbis: "art.
2: assegurada a todos a oportunidade de acesso propriedade da terra,
condicionado pela sua funo social, na forma prevista nesta Lei". O pargrafo 2,
Pgina 48 / 73
alnea b, reza que dentre os deveres do poder pblico est o de "zelar para que a
propriedade da terra desempenhe sua funo social...". O artigo 12, na Seo II, traz
em seu caput que " propriedade privada da terra cabe intrnsecamente uma funo
social e seu uso condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituio
Federal e caracterizado nesta lei. "O art. 13, por fim, determina que "o poder pblico
promover a gradativa extino das formas de ocupao e de explorao da terra que
contrariem sua funo social". Estabeleceu-se franca opo pela funo social da
propriedade configurando-se uma das primeiras manifestaes de ruptura do
"privatismo individualista" no sistema positivo nacional, que, sem dvida, influenciou
toda a discusso seguinte que redundou na CF/88, e preparando o caminho para
evolues como as leis de locaes e de defesa do consumidor, 8245 e 8078
respectivamente, na medida em que o Estatuto Terra representou uma das primeiras
manifestaes concretas do "solidarismo jurdico".
FUNO SOCIAL NOS CONTRATOS AGRRIOS
Eleitos os objetivos a serem alcanados, e eles correspondem a situaes
subsumveis sob o princpio geral funo social da propriedade, h que se municiar o
Estado de meios que possibilitam atingir-se o fim colimado. Neste desiderato, utiliza-se
o Estado de meios diretos e indiretos. Nos meios diretos, intervem na condio de
pessoa jurdica de direito pblico em relaes jurdicas das quais faz parte utilizando-se
do jus imperii que lhe inerente, como v. g. quando realiza uma desapropriao por
interesse social. H em contrapartida situaes em que o Estado age indiretamente
atravs do regramento de ralaes das quais no faz parte diretamente, mas nas quais
sua ingerncia tem influncia, conduzindo aos fins colimados. Nessa ordem de idias
os contratos agrrios constituem meios indiretos de interveno do Estado na busca da
funo social da propriedade, eis que a especializao na disciplina de muitos de seus
aspectos estruturais e funcionais cria condies para que, tambm nas relaes
privadas que neles se materializam, estejam presentes os princpios solidaristas
compreendidos no princpio geral da funo social.
H que se ressaltar que, conforme dissemos, a funo social da propriedade
um princpio maior, sob o qual compreendem-se diversos fins, constituindo uma soma
complexa. No basta tornar a terra produtiva, ou distribui-la garantindo o acesso
terra. Alm disso preciso tutelar as relaes que tenham por objeto o solo, garantindo
proteo s partes menos favorecidas, a proteo ambiental, o uso racional dos
Pgina 49 / 73
recursos, a proteo e resguardo das normas trabalhistas, porque no atingimento de
todos esses objetivos que se assegura a efetividade da funo social da propriedade.
Atento a essa complexidade, o legislador ao elaborar o Estatuto da Terra (Lei
4504/64) e o executivo ao editar o Decreto 595566, no se limitaram a dispositivos
gerais, indo adiante dentro da disciplina dos contratos agrrios, cientes da imperiosa
necessidade de disciplina especial nessa espcie contratual. Essa especialidade,
caracterizada pela permanente presena de um carter protetivo e publicstico ressalta
em diversos pontos como no informalismo, prazos mnimos, clusulas obrigatrias,
redaes legais, direito de preferncia, dentre outros pontos.
Os arts. 92 do Estatuto da Terra e 11 do Decreto 59.566 caracterizam o
informalismo. O primeiro admite a avena tcita, o segundo a forma verbal. Sem
dvida, os contratos agrrios no podem ter necessidade de formalismo pois via de
regra as partes so homens afeitos s lides campeiras e poucos versados nas letras da
lei. O informalismo protege exatamente essas partes e esto em perfeita consonncia
esses dispositivos, conforme nos d conta Joo Bezerra Costa, com a legislao
aliengena representada pela Lei 76, art. 3 vigente em Portugal desde 29/09/77, que
admite contratos verbais em contratos de reas inferiores a dois hectares; pela Lei
espanhola n 83 de 31/12/81, art. 20. Note-se que o artigo 14 do Decreto 59566/66
permite prova testemunhal qualquer que seja o valor do contrato agrrio a contrario
sensu do art. 402 do CPC.
Esto previstos prazos mnimos para os contratos agrrios no artigo 13, II,
alnea a do Decreto 5956/66 e nos arts. 95, inc. XI, alnea b e 96, inc. V, alnea b do
Estatuto da Terra. Os prazos mnimos de 3, 5 ou 7 anos, tambm previstos na
legislao espanhola ( 3 ou 6 anos) e na Frana (pode ir at 9 anos), existem no s
para proteo do agricultor, dando-lhe segurana e estabilidade, mas tambm para
proteo do solo e do seu potencial produtivo, conforme bem frisa Paulo Tormim
Borges ao afirma que "prazo mnimo estabelecido principalmente para evitar o mau
uso da terra".
O carter publicstico presente nos contratos agrrios tambm se faz sentir em
clusulas obrigatrias que limitam a liberdade contratual. Da o artigo 12 do Decreto
59566/66 que enumera onze clusulas obrigatrias. Da mesma forma, o art. 13 nos
traz uma srie de vedaes legais. Tambm o Estatuto da Terra, art. 95 inc. XI, elenca
clusulas obrigatrias no intuito de formar um sistema de proteo que elida a
explorao das partes e promova a funo social da propriedade pelo racional
aproveitamento do solo.
Pgina 50 / 73
Tambm contemplou a legislao agrria o direito de preferncia tanto para a
aquisio do imvel quanto para a renovao do contrato. A primeira forma est
prevista no Art. 92, 3 do Estatuto da Terra e nos arts. 45, 46 e 47 do Decreto
59566/66. Importante ressaltar que o art. 47 do Decreto 59.566/66 somado ao art. 92,
4, do Estatuto da Terra criaram verdadeiro direito real de aquisio do arrendatrio ou
parceiro outorgado, que pode haver para si o imvel mediante o depsito do valor.
Referimo-nos a arrendatrios e parceiros outorgados porque reputamos extensvel a
ambos o direito de preferncia. Outros, como Paulo Torminn Borges esposam opinio
contrria o que se v quando afirma que "embora os arts. 34 e 38 do Decreto
59.566/66 mandem aplicar parceria as regras atinentes ao arrendamento, no que
couber, parece-nos que a preferncia para a aquisio do imvel, objeto do contrato
agrrio, atinge s o caso de arrendamento, no o da parceria" admitindo porm, o
festejado agrarista, que a jurisprudncia inclina-se por opinio extensiva. semelhana
do direito brasileiro, encontramos o direito de preferncia na Frana, Cdigo Rural,
Ttulo I, Livro VI, art. 790 a 801, na Itlia, leis 590, de 26 de maio de 1965, e 817, de 14
de agosto de 1971; em Portugal, lei 76/77, art. 29, e na Espanha, na Lei Agrria n. 83,
de 31 de dezembro de 1980, art. 84 a 97. O nosso C. C. j previa o direito de
preferncia nos arts. 683 e 1139, tratando respectivamente da anfiteuse e do
condomnio, e mais recentemente na lei de locaes, lei 8245, art. 27 usque 34.
Estes so apenas alguns pontos em que na disciplina dos contratos agrrios, se
pode vislumbrar, direta ou indiretamente, forte influncia da busca de uma efetivao
da funo social da propriedade conforme a orientao do artigo 186 do Cdigo
Supremo da Nao; muitos outros h, dizendo respeito s obrigaes dos contratantes,
preo, obedincia a regulamentos administrativos, extino dos contratos e outros que
sero oportunamente tratados.
Material baseado no texto: A FUNO SOCIAL DA PROPRIEDADE, de Marcelo Colombelli Mezzomo.
Disponvel em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4125.
Acesso em: julho de 2010
Referncias:
BSICA:
BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Agrrio. Vol.I e II. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2007.
OPTIZ, Oswaldo; OPTIZ, Silvia C.B..Curso Complento de Direito Agrrio. So Paulo:
Pgina 51 / 73
Saraiva, 2007.
SILVA, Leandro Ribeiro da. Propriedade Rural. Rio de Janeiro: 2008.
PEREIRA, Lutero de Paiva. Crdito Rural-Limites da Legalidade. So Paulo: Juru
Editora, 1998.
BARROSO, Lucas Abreu. Direito Agrrio na Constituio. Rio de Janeiro: Forense,
2006.
COMPLEMENTAR:
ROCHA, Olavo Acyr de Lima. Desapropriao no Direito Agrrio. So Paulo: Atlas,
1992.
GALDINO, Dirceu. Manual do direito do trabalhador rural. Federao da Agricultura do
Estado do Paran. So Paulo: Ltr, 1995.
OLESKOVICK, Carlos Henrique. Direito Agrrio. So Paulo: Fortium, 2008.
TOURINHO NETO, Fernando. Introduo Crtica ao Direito Agrrio. Sao Paulo: IMESP,
2003.
BORGES, Antonio Moura. Curso Completo de Direito Agrrio. So Paulo: EDIJUR,
2007.
Pgina 52 / 73
Direito Agrrio
Profa. Janana Sturza
A REFORMA AGRRIA NO BRASIL
1. Introduo
O Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964), que o Cdigo Agrrio brasileiro, examina
em muitos artigos o problema da reforma agrria e da poltica fundiria, adotando o mtodo
liberal e democrtico de soluo da matria.
Considera como reforma agrria o conjunto de medidas que visem a promover a
melhor distribuio da terra, mediante modificaes no regime de sua posse e uso, a fim de
atender aos princpios de justia social e ao aumento de produtividade (Estatuto da Terra,
art. 1, 1).
No se deve confundir reforma agrria com poltica fundiria, entendida esta como um
conjunto de providncias de amparo propriedade da terra que se destinem a orientar, no
interesse da economia rural, as atividades agropecurias, seja no sentido de garantir-lhes o
pleno emprego, seja no de harmoniz-las com o processo de industrializao e
desenvolvimento do pas.
A Lei n. 8.629/1993 regulamenta e disciplina as disposies relativas reforma agrria,
previstas no Captulo III, Ttulo VII, da Constituio Federal de 1988 (arts. 184 a 191).
2. Conceito de reforma Agrria
Etimologicamente, reforma vem das palavras re e formare. Reforma significa mudar
uma estrutura anterior, para modific-la em determinado sentido. O prefixo re significa a idia
de renovao, enquanto formare a maneira de existncia de um sentido ou de uma coisa.
Reforma agrria , pois, na acepo etimolgica, a mudana do estado agrrio vigente,
procurando-se mudar o estado atual da situao agrria. E esse estado que se procura
modificar o do feudalismo agrrio (que influenciou o surgimento das sesmarias e capitanias
hereditrias no Brasil colonial) e o da grande concentrao agrria (latifndios) em benefcio
das massas trabalhadoras do campo. Por conseqncia, as leis de reforma agrria se opem a
um estado anterior de estrutura agrria privada que se procura modificar para uma estrutura de
propriedade com sua funo social.
"Reforma agrria a reviso, por diversos processos de execuo, das relaes jurdicas
e econmicas dos que detm e trabalham a propriedade rural, com o objetivo de modificar
Pgina 53 / 73
determinada situao atual do domnio e posse da terra e a distribuio da renda agrcola "
(Nestor Duarte, Reforma agrria, RJ, 1953).
"Reforma agrria a reviso e o reajustamento das normas jurdico-sociais e
econmico-financeiras que regem a estrutura agrria do Pas, visando valorizao do
trabalhador do campo e ao incremento da produo, mediante a distribuio, utilizao,
explorao sociais e racionais da propriedade agrcola e ao melhoramento das condies de
vida da populao rural" (Coutinho Cavalcanti, Reforma agrria no Brasil, SP, 1961).
Vale mencionar a maneira como a sociologia marxista encara o problema da reforma
agrria. Esta reputada como o confisco das terras dos grandes senhores rurais, para
favorecer as massas campesinas (proletariado). A terra nacionalizada e passa ao controle do
Estado, que a arrenda a ttulo perptuo ao campesinato, por meio das fazendas coletivas, como
na extinta Unio Sovitica, ou passa ao controle dos novos proprietrios campesinos, como na
China Socialista, sem prejuzo da apropriao futura do Estado.
A Constituio Federal de 1988 estabelece a distino entre reforma agrria, poltica
agrria e poltica fundiria.
Reforma agrria uma reviso e novo regramento das normas disciplinando a estrutura
agrria do Pas, tendo em vista a valorizao humana do trabalhador e o aumento da
produo, mediante a utilizao racional da propriedade agrcola e de tcnica apropriada ao
melhoramento da condio humana da populao rural.
Ela deve combater simultaneamente formas menos adequadas de produo, sobretudo o
latifndio e o minifndio. Mesmo a pequena propriedade familiar, tambm no apresenta
grande grau de produtividade sem as tcnicas do crdito e do melhor assentamento do homem
terra.
A reforma agrria no se confunde com a poltica agrria, tambm prevista na Carta
magna. A poltica agrria o conjunto de princpios fundamentais e de regras disciplinadoras
do desenvolvimento do setor agrcola.
A poltica fundiria, por sua vez, difere da poltica agrcola; sendo um captulo, uma
parte especial desta, tendo em vista, o disciplinamento da posse da terra e de uso adequado
(funo social da propriedade).
A poltica fundiria deve visar e promover o acesso terra daqueles que saibam
produzir, dentro de uma sistemtica moderna, especializada e profissionalizada.
E, nesse contexto, a terra tem uma funo social, que justamente a produo agrcola
para alimentar a populao humana e a sociedade urbanizada. E a redistribuio das terras
normalmente um dos principais objetivos de qualquer programa de reforma agrria.
Pgina 54 / 73
3. O problema agrrio na CF/88 e na Lei 8.629/93
A Constituio brasileira de 1988 apresenta-se progressista no plano agrrio, porm
com traos conservadores devido herana cultural privada do pas. Os institutos bsicos de
direito agrrio (o direito de propriedade e a posse da terra rural) so disciplinados e o direito
de propriedade garantido como direito fundamental, previsto no art. 5, XXII, da atual Lei
Magna. A CF/88 procura compatibilizar a propriedade com a funo social, para melhor
promover a justia comunitria. O texto da Lei Maior permite Unio desapropriar por
interesse social o imvel rural que no esteja cumprindo a funo social prevista no art. 9 da
Lei n 8.629/93, mediante prvia e justa indenizao em ttulos da dvida agrria, com
clusula de preservao de seu valor real, resgatveis no prazo de 20 anos, a partir do segundo
ano de sua emisso, em percentual proporcional ao prazo, de acordo com os critrios
estabelecidos nos incisos I a V, 3, do art. 5 da Lei n 8629/93. Entretanto, as benfeitorias
teis e necessrias sero indenizveis em dinheiro.
O Decreto que declarar o imvel rural como de interesse social, para efeito de reforma
agrria, autoriza a Unio a propor a ao de desapropriao. As operaes de tranferncia de
imveis desapropriados para fins de reforma agrria bem como a transferncia ao beneficirio
do programa, sero isentas (imunes) de impostos federais, estaduais e municipais (art. 26, Lei
n. 8.629/93).
Determinados tipos de propriedade formam um ncleo inacessvel reforma agrria,
sendo portanto, insuscetveis de desapropriao, a saber:
I) a pequena e mdia propriedade rural (imvel rural de rea entre 1 a 4 mdulos
fiscais e imvel rural de rea superior a 4 at 15 mdulos fiscais, respectivamente), desde que
o proprietrio no possua outra;
II) a propriedade produtiva (que a explorada econmica e racionalmente, atingindo,
simultaneamente, graus de utilizao da terra e de eficincia na explorao, segundo ndices
fixados pelo rgo Federal competente).
Os requisitos exigidos, para que a funo social da propriedade rural seja cumprida so:
I- aproveitamento racional e adequado; II- utilizao adequada dos recursos naturais
disponveis e preservao do meio ambiente; III- observncia das disposies que regulam as
relaes de trabalho; IV- explorao que favoraa o bem-estar dos proprietrios e
trabalhadores.
Pgina 55 / 73
Os beneficirios da distribuio de imveis rurais pela reforma agrria recebero o
ttulo de propriedade ou de concesso de uso, que so inegociveis pelo prazo de 10 anos,
podendo tais ttulos serem objeto de conferncia ao homem ou a mulher.
O oramento da Unio fixar, anualmente (Plano Plurianual), o volume de ttulos de
dvida agrria e dos recursos destinados, no exerccio, ao atendimento do Programa de
Reforma Agrria; devendo constar estes recursos do oramento do ministrio responsvel por
sua implementao e do rgo executor da poltica de colonizao e reforma agrria
(INCRA).
REFORMA AGRRIA: COMPETNCIA PARA A FIXAO DE PARMETROS
DE PRODUTIVIDADE
atual e assaz relevante a discusso sobre os mecanismos normativos
necessrios implementao da poltica de reforma agrria, de que se devem valer os
Ministros de Estado do Desenvolvimento Agrrio e da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
para o fim de "ajustar" os ndices, parmetros e indicadores de rendimento de produtos
vegetais e para a pecuria, que informam o conceito de produtividade de que trata o art. 11, da
Lei n 8.629, de 25.02.1993, na redao dada pela Medida Provisria n 2.382-56, de
25.08.2001.
Nos termos da Lei n 8.629/93, a fixao dos ndices de aferio do grau de
utilizao da terra e de eficincia na explorao feita pelo rgo federal competente,
devendo os parmetros, ndices e indicadores que sustentam o conceito de produtividade ser
ajustados, periodicamente, pelo Ministrio da Agricultura e Reforma Agrria (atual Ministrio
da Agricultura, Pecuria e Abastecimento - MAPA), depois de ouvido o Conselho Nacional
de Poltica Agrcola.
Assim dispe a Lei n 8.629, de 25.02.1993:
"...........
Art. 2 A propriedade rural que no cumprir a funo social prevista no art. 9
passvel de desapropriao, nos termos desta lei, respeitados os dispositivos constitucionais.
.....................
Art. 6 Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econmica e
racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilizao da terra e de eficincia na
explorao, segundo ndices fixados pelo rgo federal competente.
...................
Pgina 56 / 73
7 No perder a qualificao de propriedade produtiva o imvel que, por
razes de fora maior, caso fortuito ou de renovao de pastagens tecnicamente conduzida,
devidamente comprovados pelo rgo competente, deixar de apresentar, no ano respectivo, os
graus de eficincia na explorao, exigidos para a espcie.
...................
Art. 11. Os parmetros, ndices e indicadores que informam o conceito de
produtividade sero ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso
cientfico e tecnolgico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelo Ministrio da
Agricultura e Reforma Agrria, ouvido o Conselho Nacional de Poltica Agrcola.
......................".
O Conselho Nacional de Poltica Agrcola, institudo na forma do art. 5, da Lei
n 8.171, de 17.01.1991, vinculado ao ento Ministrio da Agricultura e Reforma Agrria,
atual MAPA, tem por atribuies orientar a elaborao do Plano de Safra, propor
ajustamentos ou alteraes na poltica agrcola e manter sistema de anlise e informao sobre
a conjuntura econmica e social da atividade agrcola.
Consoante o Decreto n 4.623, de 21.03.2003, o Conselho Nacional de Poltica
Agrcola passou a ser constitudo pelos seguintes membros: um do Ministrio da Fazenda; um
do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto; um do Banco do Brasil S.A.; dois da
Confederao Nacional da Agricultura; dois da Confederao Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (CONTAG); dois da Organizao das Cooperativas Brasileiras, ligadas ao Setor
Agropecurio; um da Secretaria de Direito Econmico do Ministrio da Justia; um do
Ministrio do Meio Ambiente; um do Ministrio da Integrao Nacional; trs do Ministrio da
Agricultura, Pecuria e Abastecimento; um do Ministrio do Desenvolvimento Agrrio; um
do Ministrio dos Transportes; um do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio
Exterior, e dois de Setores Econmicos abrangidos pela Lei Agrcola, de livre nomeao do
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento.
De seu lado, a Lei n 10.683, de 28.03.2003, que dispe sobre a organizao da
Presidncia da Repblica e dos Ministrios, ao enumerar os assuntos que constituem reas de
competncia de cada Ministrio (art. 27), estipula:
"................
I Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento:
a) poltica agrcola, abrangendo produo e comercializao, abastecimento,
armazenagem e garantia de preos mnimos;
............
Pgina 57 / 73
h) proteo, conservao e manejo do solo, voltados ao processo produtivo
agrcola e pecurio;
....................
VIII Ministrio do Desenvolvimento Agrrio:
a) reforma agrria;
b) promoo do desenvolvimento sustentvel do segmento rural constitudo
pelos agricultores familiares;
..................".
Alm das atribuies elencadas no inciso I do art. 27, o MAPA exerce em
conjunto com o Ministrio do Meio Ambiente a competncia relativa ao zoneamento
ecolgico-econmico ( 4, art. 27) e, com o do Desenvolvimento Agrrio, a relacionada
assistncia tcnica e extenso rural ( 11, art. 27).
Segundo o inciso I do art. 29 da Lei n 10.683/2003, integra a estrutura bsica do
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, alm de outros rgos, o Conselho
Nacional de Poltica Agrcola.
O Decreto n 5.351, de 21.01.2005, que aprova a Estrutura Regimental do
MAPA, enumera, no inciso IV do art. 3, dentre os rgos colegiados, o Conselho Nacional
de Poltica Agrcola CNPA (alnea d), cujas competncias so as estabelecidas nas Leis n
8.171, de 17.01.1991 e 8.174, de 30.01.1991, a chamada Lei Agrcola.
O Regimento Interno do Conselho Nacional de Poltica Agrcola em vigor o
aprovado por meio da Resoluo n 01, de 21.03.1991, publicada no DOU de 26.03.1991, que
ainda projeta os seus efeitos jurdicos, com alteraes em sua composio introduzidas pela
legislao posterior.
A Lei n 8.629/93, em seu art. 6, no especifica o rgo federal competente para
fixar os ndices de aferio do grau de utilizao da terra e de eficincia na explorao, mas
cristalina ao enunciar, em seu art. 11, que os parmetros, ndices e indicadores que informam
o conceito de produtividade sero ajustados, periodicamente, pelo Ministrio da Agricultura e
Reforma Agrria (atual MAPA), depois de ouvido o Conselho Nacional de Poltica Agrcola.
Portanto, ainda que a competncia para fixar os ndices no esteja clara e, por
isso, seja reivindicada por segmentos do INCRA, no h dvidas sobre os parmetros, ndices
e indicadores que informam o conceito de produtividade serem ajustados, periodicamente, por
ato conjunto do MDA e do MAPA, depois de consultado o CNPA.
Significa dizer que, mesmo que o INCRA venha a ser reconhecido como o rgo
federal competente para fixar os ndices de aferio do grau de eficincia na explorao, ter
Pgina 58 / 73
que faz-lo com base em critrios subministrados periodicamente em ato conjunto do MDA e
do MAPA, depois de ouvidos os representantes de organismos de governo e da comunidade
econmica do agronegcio que constitui o colegiado do CNPA.
certo que a prvia manifestao do CNPA, a propsito dos critrios genricos
de aferio da produtividade, sendo de carter obrigatrio, no pode ser dispensada, sob pena
de invalidade do ato de fixao especfica dos ndices pelo rgo competente.
Assim se afirma, porque a Constituio Federal, em seu art. 187, determina que
a poltica agrcola ser planejada e executada na forma da lei, com a participao efetiva do
setor de produo, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de
comercializao, de armazenamento e de transportes, dispondo, mais, em seu 2, que sero
compatibilizadas as aes de poltica agrcola e de reforma agrria.
Deste modo, a manifestao do CNPA acerca dos parmetros, ndices e
indicadores que informam o conceito de produtividade dever ser levada em considerao
pelo MDA e MAPA ao realizarem os ajustes peridicos que orientaro a fixao do grau de
eficincia na explorao da terra, porquanto ser assente que a lei no possui disposies
inteis.
Se a consulta ao CNPA no fosse um dos fatores determinantes do ato
normativo complexo praticado conjuntamente pelos referidos Ministrios, no seria objeto de
determinao legal expressa.
Ademais disso, como ato administrativo que , deve ser motivado de forma
congruente, com justificativa adequada ao seu objeto e finalidade, que, neste caso, so
endereados compatibilizao das polticas agrcola e de reforma agrria.
Se, portanto, a lei determina a oitiva do CNPA, colegiado composto por
representantes paritrios de setores do Governo e de segmentos econmicos do agronegcio,
integrantes das classes patronais e trabalhadoras, e estruturado de forma to abrangente, por
entender que a fixao de critrios de aferio dos ndices de eficincia constitui matria de
eminente relevncia e interesse pblico, que no pode ficar adstrita ao talante do MDA e do
MAPA.
Pode-se at argumentar que a instalao do CNPA no se efetivou, qui por
inteno deliberada do Governo, mas, tratando a desapropriao de norma com evidente
rejeio pblica - como, por exemplo, so as tributrias -, a observncia da formalidade na
sua execuo, com base nos regramentos constitui a nica garantia do cidado de que os seus
direitos sero respeitados, independentemente da transitoriedade das injunes polticas, que
costumam ser suscetveis presso de grupos, a exemplo dos ruralistas e do MST.
Pgina 59 / 73
Por outro lado, a regulamentao h de levar em conta a amplitude continental
do Pas, para tal estipulando critrios diferenciados para a fixao de ndices em cada microregio homognea, quem sabe em cada micro-bacia, em ordem a contemplar a diversidade
geogrfica, climtica, econmica e cultural.
A Lei n 8.629/93 no atribui competncia ao INCRA para fixar ndices de
eficincia na explorao da terra. Em verdade, no atribui competncia especfica a rgo
determinado, fazendo apenas referncia ao rgo federal competente, sem identificar qual seja
Com base nas competncias atribudas aos Ministrios, pela Lei n 10.683/2003,
lcito aduzir que, no campo de atuao do MDA, situam-se a reforma agrria e a promoo
do desenvolvimento sustentvel do segmento rural constitudo pelos agricultores familiares,
tal como a assistncia tcnica e a extenso rural, esta ltima desempenhada conjuntamente
com o MAPA.
J na esfera de atuao do MAPA, a mesma Lei inclui expressamente a poltica
agrcola; a produo e comercializao, abastecimento, armazenagem e garantia de preos
mnimos; a proteo, conservao e manejo do solo, voltados ao processo produtivo agrcola e
pecurio; o zoneamento ecolgico-econmico (em conjunto com o Ministrio do Meio
Ambiente) e a assistncia tcnica e extenso rural (conjuntamente com o MDA).
Desta sorte, no tendo a Lei n 8.629/93 especificado o rgo competente para
fixar os ndices de eficincia na explorao da terra, esse rgo h de ser identificado
mediante anlise sistemtica do ordenamento legal.
Considerando, ento, que a matria relacionada reforma agrria e que tal
competncia atribuda ao MDA, o primeiro timo levaria a crer que a matria afeita ao
Ministrio do Desenvolvimento Agrrio, porquanto a reforma agrria constituir a sua
competncia bsica e porque a Lei n 4.504, de 30.11.1964, que dispe sobre o Estatuto da
Terra, no 1 de seu art. 1, conceitua a reforma agrria como sendo o conjunto de medidas
que visem a promover melhor distribuio de terra, mediante modificaes no regime de sua
posse e uso, a fim de atender aos princpios de justia social e ao aumento de produtividade.
Por poltica agrcola, assunto cometido ao MAPA, segundo o 2 do art. 1 do
Estatuto da Terra, entende-se o conjunto de providncias de amparo propriedade da terra,
que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecurias, seja
no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmoniz-las com o processo de
industrializao do pas.
Dispe o art. 43 da Lei n 4.504/64, que o ento IBRA (hoje INCRA) promover
a realizao de estudos para o zoneamento do pas em regies homogneas do ponto de vista
Pgina 60 / 73
scio-econmico e das caractersticas da estrutura agrria, visando definir as regies passveis
de reforma agrria, levando em conta para a elaborao do zoneamento e caracterizao das
reas prioritrias, dentre outros elementos: a posio geogrfica das reas, em relao aos
centros econmicos de vrias ordens; o grau de intensidade de ocorrncia de reas em imveis
rurais acima ou abaixo de determinadas extenses; o nmero mdio de hectares por pessoa
ocupada; as populaes rurais, seu incremento anual e densidade especfica da populao
agrcola; a relao entre o nmero de proprietrios e o nmero de rendeiros, parceiros,
assalariados.
Assim, o zoneamento, a cargo do IBRA (leia-se: INCRA), destina-se a fixar os
elementos scio-econmicos que orientaro o estabelecimento das diretrizes da poltica
agrria a adotar em cada tipo de regio, bem como a programar a ao dos rgos
governamentais para desenvolvimento do setor rural, nas regies delimitadas e entendidas
como de maior significao econmica e social (art. 44).
Incumbe ainda ao IBRA (hoje INCRA) a realizao de cadastros dos imveis
rurais em todo o pas, com identificao dos respectivos titulares e sua natureza, dimenses,
localizao geogrfica, caractersticas fsicas, tipo de explorao, volumes e ndices mdios
relativos produo agrcola, condies para o beneficiamento dos produtos agropecurios
etc. (art. 46).
A Estrutura Regimental do INCRA, aprovada pelo Decreto n 5.735, de
27.03.2006, elenca, no inciso VI do seu art. 15, a Diretoria de Ordenamento de Estrutura
Fundiria como rgo especifico singular encarregado de promover estudos para elaborao e
reviso do zoneamento agrrio e definio de ndices tcnicos agropecurios para a
classificao da produtividade de imveis rurais.
Por conseguinte, mesmo o rgo especfico do INCRA relacionado definio
de ndices tcnicos agropecurios para a classificao da produtividade dos imveis no est
autorizado a fixar os tais ndices, mas to-somente a realizar estudos subsidirios para a sua
fixao.
Comparando as competncias do MAPA e do Ministrio do Desenvolvimento
Agrrio, constata-se que o MDA atua visando a promover a melhor distribuio da terra,
mediante modificaes no regime de sua posse e uso, enquanto, de seu lado, o MAPA,
abstraindo-se do regime fundirio, pauta-se pelo fomento da economia rural, orientando as
atividades agropecurias visando garantia do pleno emprego e harmonizao do uso da
terra com o processo de produo, industrializao, abastecimento, comrcio interno e
externo, enfim, o desenvolvimento das atividades que compem o sistema do agronegcio.
Pgina 61 / 73
Ora, aferir a produtividade significa mensurar a produo cotejando o volume
colhido com a extenso da terra cultivada em uma determinada estao, ou perodo, e isto o
MAPA realiza diuturnamente, por intermdio dos rgos integrantes de sua estrutura
regimental e da empresa pblica a ele vinculada a Companhia Nacional de Abastecimento
CONAB -, como consectrio lgico de atribuies e competncias expressamente definidas
em lei.
O MDA (leia-se: INCRA) no seria apto para fazer tais levantamentos e
aferies, no s por lhe faltar competncia legal, mas tambm por no dispor de
instrumentos materiais e humanos para se desincumbir do encargo, ante a diversidade das
culturas e a magnitude da extenso territorial do Pas.
Frente ao exposto, lcito concluir que o MDA (INCRA) no est legalmente
autorizado a fixar, por ato singular do Ministro da Pasta, os ndices de eficincia na
explorao da terra, porque a sua esfera de competncia, fixada na Lei n 10.683, de 2003, na
parte que toca ao tema enfocado, cinge-se execuo da reforma agrria.
Contrariamente, tem-se que constitui atribuio tradicional do MAPA mensurar
o volume da produo e, por conseqncia de simples operao aritmtica, deduzir e fixar os
ndices de eficincia na explorao da terra, porquanto a mesma Lei lhe atribui competncia
para a gesto da poltica agrcola, abrangendo o processo produtivo agropecurio.
Alis, mais correto afirmar que a fixao desses ndices sequer constitui
atribuio especfica de algum rgo do Governo, porque, em ltima anlise, representa
apenas uma operao aritmtica realizada com o uso de dados estatsticos objetivos, que,
rotineiramente levantados pelo MAPA, levam, inexoravelmente, deduo de um resultado
insuscetvel de manipulao, sob pena de malversar os resultados estatsticos.
Assim, a apresentao, pelo MAPA (atravs da empresa: CONAB), dos
levantamentos e estatsticas especficos dos volumes da produo agropecuria, em cada
regio homognea do Pas, impulsiona e catalisa toda uma srie de medidas administrativas
complementares, visando oficializao dos ndices de produtividade, a cargo,
conjuntamente, do MDA e do MAPA, ouvido previamente o CNPA.
Neste contexto, realo a convenincia de se definirem melhor os conceitos de
microrregio homognea, ou microbacia homognea, com o fito de propiciar eficiente
aferio dos ndices estatsticos da produo apurados em cada regio do Pas, em ordem a
bem orientar a implementao poltica de distribuio da terra para fins de reforma agrria.
Pgina 62 / 73
REFERNCIAS
BSICA:
BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Agrrio. Vol.I e II. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2007.
OPTIZ, Oswaldo; OPTIZ, Silvia C.B..Curso Complento de Direito Agrrio. So Paulo:
Saraiva, 2007.
SILVA, Leandro Ribeiro da. Propriedade Rural. Rio de Janeiro: 2008.
PEREIRA, Lutero de Paiva. Crdito Rural-Limites da Legalidade. So Paulo: Juru Editora,
1998.
BARROSO, Lucas Abreu. Direito Agrrio na Constituio. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
COMPLEMENTAR:
ROCHA, Olavo Acyr de Lima. Desapropriao no Direito Agrrio. So Paulo: Atlas, 1992.
GALDINO, Dirceu. Manual do direito do trabalhador rural. Federao da Agricultura do
Estado do Paran. So Paulo: Ltr, 1995.
OLESKOVICK, Carlos Henrique. Direito Agrrio. So Paulo: Fortium, 2008.
TOURINHO NETO, Fernando. Introduo Crtica ao Direito Agrrio. Sao Paulo: IMESP,
2003.
BORGES, Antonio Moura. Curso Completo de Direito Agrrio. So Paulo: EDIJUR, 2007.
Pgina 63 / 73
Direito Agrrio
Profa. Janana Sturza
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
1. GENERALIDADES
O Direito Tributrio contemplou vrios impostos no ordenamento jurdico
ptrio, e, para cada caso em questo, se tem a possibilidade de cobrar o tributo do
contribuinte que estiver preenchendo os requisitos de cada tipo tributrio, segundo
o fato gerador de cada espcie.
Nessa tica encontra-se, obviamente, o instituto do imposto em espcie
conhecido como "Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural", que, via de regra,
e conforme ser discorrido, caracteriza-se por cobrar do contribuinte rural sobre a
propriedade que detm, nessa circunstncia. Tal imposto, chamado por ITR, tem
interesse especial ao Direito Agrrio por fazer meno propriedade rural, ou seja,
por estar ligado esse tipo territorial. Fica entendido, ento, que o ramo agrrio do
Direito busca resguardar, junto ao Direito Tributrio, este imposto, cada qual com
as prospectivas que lhes so atinentes: a) Direito Tributrio: auferir e arrecadar o
tributo por motivo de propriedade rural; b) Direito Agrrio: efetivar a propriedade
rural como produtiva e desestimular a improdutividade da terra, por motivos de
Reforma Agrria, dentre outros.
Historicamente falando, esse realmente foi o objetivo quando do
estabelecimento do imposto, nas Constituies anteriores, do Brasil. Por isso,
contrapondo os momentos histricos do ITR com a sua meta atual, verifica-se que
o mesmo detm importncia primordial sobre o Direito (e no somente no plano
agrrio e tributrio), mas pela manuteno da terra como um todo. Essa a razo
da existncia do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
2. CONCEITUAO E COMPETNCIA
A relao existente entre os dois ramos dos Direito analisados no
presente (o Direito Tributrio e o Direito Agrrio) se encontram proporcionalmente
concreto e de grande valia, tendo em vista que os institutos (e em especial o do
ITR, ora apreciado) contrape interesses que ressaltam aos olhos de toda a
Pgina 64 / 73
populao, tanto por aqueles que detm terras e so cobrados (por meio de
impostos) por isso, ou pelos movimentos sociais (interessando na to almejada
Reforma Agrria), acautelado pelo ramo agrrio.
Nesse sentido, necessrio compreender o que se tem por Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural, de maneira conceitual. Assim, pode-se
afirmar que um tributo que visa cobrar certo valor daqueles que se beneficiam de
uma propriedade localizada em via territorial no-urbana, preenchidos os requisitos
do fato gerador que lhe compete.
Dessa maneira, fica simplificado o motivo da criao do ITR. A sua
criao (introduzida pela Constituio Federal de 1891), teve por presuno que as
terras rurais fossem tributadas, como gerador de renda aos cofres pblicos por
instrumento de reforma agrria e, posteriormente, (na Constituio de 1988) para
fomentar a produtividade agrcola, utilizando-a como forma de desestimular a
conservao de propriedades tidas como indigente (improdutiva).
Tem-se atualmente, ento, por Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) como sendo um tributo que, por assentamento na norma constitucional,
deve vir a servir como ferramenta ativa para forar os proprietrios de terras rurais
a cumprirem a sua funo social da propriedade (agrria), que, por vez, necessita,
efetivamente, ser ensejada e fiscalizada.
Ao que se refere competncia para cobrar este imposto, fica bem
descrita, nas linhas de HUGO DE BRITO MACHADO. In verbis: O imposto sobre a
propriedade territorial rural de competncia da Unio Federal (CF, art. 153, inc.
VI, e CTN, art. 29). No regime da Constituio de 1946 esse imposto era da
competncia dos Estados (art. 19, inc. I). Com a Emenda Constitucional n. 5, de
1961, passou competncia dos Municpios, e com a Emenda Constitucional n. 10,
de 1964, passou finalmente competncia da Unio Federal.
Assim, fica evidente que o ITR j sofreu alteraes em sua estrutura de
competncia diversas vezes, deixando, hoje em dia, ao encargo da Unio Federal,
sua aquisio. Para tanto, o ilustre tributarista ainda conclui seu raciocnio
descrevendo a causa de ao imposto se encontrar "em mos" da Unio Federal: A
atribuio do imposto sobre a propriedade territorial rural Unio deveu-se
exclusivamente ao propsito de utiliz-lo como instrumento de fins extrafiscais,
tanto que a sua receita era, na vigncia da Constituio anterior, destinada
Pgina 65 / 73
inteiramente aos Municpios em cujos territrios estivessem os imveis situados
(CF-1969, art. 21, 1).
Enfatizando a conceituao do imposto analisado, bem como da
competncia que o mesmo detm, fica cristalino que sua introduo, no
ordenamento jurdico nacional, (pela Constituio de 1891) trouxe novidade, por
meio do instituto, que caracteriza-se pela prpria cobrana de tributo aos territrios
rurais. Porm, preciso entender a sua finalidade (o que ser analisado em
momento oportuno) para que a compreenso do mesmo seja completamente
satisfeita.
3. FATO GERADOR
A prpria Constituio Federal de 1988 faz meno sobre a "propriedade
rural" em seu art. 153, VI, no qual se pode compreender que to-somente terrenos
que devam ser tributados, nessa esfera, em conformidade com a sua
interpretao literal.
Para tanto, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
apresenta seu fato gerador, (no plano tributrio), na propriedade, no domnio til ou
na posse de imvel por natureza (este, sob qualquer ttulo), situado em via rural, ou
seja, fora de localizao urbana, consoante disposto no art. 29 do CTN. Esta a
disposio expressa da lei tributria.
Ainda, ressalte-se que tal imposto se faz compreendido, no que se refere
ao fato gerador supracitado, em data de 1 de janeiro de cada ano.
De tal forma, ficou evidenciado que a previso constitucional no se fez
satisfatria no que se refere explicao conceitual do que seria "imposto sobre a
propriedade territorial rural" para efeitos de gerao de fato (para posterior
cobrana). Para tanto, o Cdigo Tributrio Nacional o fez, evitando dvidas sobre
tal impasse.
No obstante, HUGO DE BRITO MACHADO delineia que se faz preciso
compreender o que se tem por "imvel por natureza", descrito na lei, de maneira
lacunosa: Para os efeitos do imposto sobre a propriedade territorial rural importa
saber o que seja imvel por natureza. Como tal se entende, repita-se, "o solo com
a sua superfcie, os acessrios e adjacncias naturais, compreendendo as rvores
e frutos pendentes, o espao areo e o subsolo".
Pgina 66 / 73
Fica, assim, caracterizado o entendimento acerca das noes bsicas
para a auferio de tributo na esfera desse tipo de propriedade (rural).
Tem-se, no mais, que a incidncia do ITR, com finalidade de Reforma
Agrria (to debatido atualmente em nosso pas) se faz sobre a propriedade rural
declarada de utilidade pblica ou de interesse social, em duas hipteses bastante
distintas: a) at o tempo da submerso da posse por imisso prvia ou mesmo
provisria do expropriante, sobre a posse; b) at o tempo da submerso do direito
de propriedade, por motivo de passagem ou por incluso do imvel ao patrimnio
do expropriante.
Porm, afirma PEDRO EINSTEIN DOS SANTOS ANCELES que no
apenas estas so as possibilidades de se incidir o fato gerador dobre o ITR, mas
"tambm incide na hiptese de desapropriao promovida por pessoa jurdica de
direito privado, delegatria ou concessionria de servio pblico".
Nesse sentido que se pode perceber, ponderando os fatos narrados,
de que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural se faz importante. Tanto no
plano do Direito Tributrio (que competente para cobrar os valores devidos,
oriundos do imposto) quanto para o prprio Direito Agrrio (por haver grande
insero e relevncia nas causas e discusses sobre a Reforma Agrria, dentre
outros).
4. FINALIDADES
As finalidades que o ITR apresenta so muitas, porm, ser apenas
traados os pontos mais relevantes ao estudo do imposto sob o enforque agrrio.
Deste modo, preciso, anteriormente, fazer meno s disposies constitucionais
e legais do instituto.
A Constituio Federal de 1988, em seu art. 153, assim prev: Art. 153.
Compete Unio instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
(...)
4 O imposto previsto no inciso VI do caput:
I - ser progressivo e ter suas alquotas fixadas de forma a
desestimular a manuteno de propriedades improdutivas;
Pgina 67 / 73
II - no incidir sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando
as explore o proprietrio que no possua outro imvel;
III - ser fiscalizado e cobrado pelos Municpios que assim optarem, na
forma da lei, desde que no implique reduo do imposto ou qualquer outra forma
de renncia fiscal."
Ainda, tem-se o Cdigo Tributrio Nacional descrevendo assim o ITR:
Art. 29. O imposto, de competncia da Unio, sobre a propriedade
territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domiclio til ou a posse de
imvel por natureza, como definido na lei civil, localizao fora da zona urbana do
Municpio.
Art. 30. A base do clculo do imposto o valor fundirio.
Art. 31. Contribuinte do imposto o proprietrio do imvel, o titular de
seu domnio til, ou o seu possuidor a qualquer ttulo."
As previses tanto da Lei Maior quanto da Lei Tributria Nacional, por si
s, j do ensejo do que se tem por finalidade com a instituio e utilizao do
instituto do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Porm, preciso
entender que sua funo no se atm a somente a de "arrecadao", conforme
ser apreciado.
O que predomina como sendo funo do ITR, hoje em dia, a sua
particularidade de extrafiscalidade, ou seja, utilizado com sendo uma ferramenta
de ajuda estatal (para o "disciplinamento") da prpria propriedade rural, enfatizando
que se faz, (como anteriormente visto), pela Unio que, por vez, competente para
tal. Importante passagem sobre a funo deste imposto em espcie, a despeito de
sua funo social e latifundiria, preconizado por HUGO DE BRITO MACHADO,
conforme a seguir se percebe:
O imposto sobre a propriedade territorial rural considerado um
importante instrumento no combate aos latifndios improdutivos. Por isto a Lei n.
9.393, de 19.12.1996, estabeleceu alquotas progressivas em funo da rea do
imvel e do grau de sua utilizao.
Fica, ento, entendido que, alm da funo arrecadatria que a imposto
apresenta, dando, assim, maior monta aos valores auferidos pela Unio, e ainda,
por parte, pelos Municpios (decorrente do produto do imposto), h a finalidade de
maior grandeza que a de combater os grandes domnios privados, que ainda
imperam em certos pontos do pas.
Pgina 68 / 73
Deste modo, o poder conferido ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural se presta bastante relevante, visto que no se tem to-somente a
fator tributrio incidindo como de aspecto singular, mas sim uma funo
"socializadora", que a de extinguir, por demais, as vastas extenses de terra que
se apresentam improdutivas.
5. DECLARAO DO "ITR"
Ao que se faz necessrio para declarar o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, ficam, os contribuintes circunscritos ao tributo dessa natureza,
apresentar, a cada ano (e em data de 1 de janeiro, conforme anteriormente
mencionado), por meio de documentos que compem a denominada "DIRT Declarao do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural".
Esta Declarao compreendem dois documentos: o "Diac" e o "Diat"
(Documento de Informao e Atualizao Cadastral e o Documento de Informao
e Apurao de ITR), respectivamente. Ainda, preciso enfatizar que, para cada
imvel rural que o tributado possuir, deve ser demonstrada uma destas
declaraes de ITR, ou seja, no se podem cumular declaraes quando se tem
mais de uma propriedade de natureza rural.
Sobre a declarao, PEDRO EINSTEIN DOS SANTOS ANCELES expe
certa caracterstica: No exigida anexao de qualquer documento DIRT. O
contribuinte
deve
guardar
em
seu
poder
os
documentos
utilizados
no
preenchimento da declarao, visto que a Secretaria da Receita Federal poder
solicitar a comprovao dos dados declarados durante o prazo decadencial.
Portanto, verifica-se que o processo de declarao do ITR se faz
simplista e sem maiores entraves (dificuldades), porm, preciso ter certos
cuidados de armazenagem de documentos para posterior solicitao, pelo rgo
competente, com fins de cruzar dados, dentre outros.
6. INCIDNCIA TRIBUTRIA DO IMPOSTO NO PLANO AGRRIO
O imposto em anlise no presente trabalho diz respeito forma de
incidncia de fato gerador que efetiva a cobrana do devido tributo, sob a maneira
tributria usual. assim compreendido visto que compete ao Direito Tributrio essa
tarefa: de auferir o valor conferido, de maneira pecuniria, sobre determinado bem
ou prestao passvel de incidncia tributria.
Pgina 69 / 73
No entanto, cabe, aqui, fazer referncia a esse tipo tributrio tambm
sobre as disposies de Direito Agrrio, visto que ela se importa a possibilidade
de utilizar do mesmo (ITR) para enaltecer a necessitada Reforma Agrria.
Sobre esse assunto, GUSTAVO BITTENCOURT MACHADO e ERIKA
ARAGO, em interessante artigo sobre o imposto e a Reforma Agrria, tecem
comentrios significativos sobre o ITR e o grande problema nacional, que devem
ser seriamente ponderados:
Nos ltimos anos, a reforma agrria no Brasil tem sido alvo de muitas
propostas milagrosas desde que movimentos reformadores se organizaram de
maneira a pressionar o governo a definir polticas no sentido de redefinir a estrutura
fundiria do pas. A tributao sobre a propriedade fundiria pode consistir num
mecanismo de redistribuio da propriedade. As alteraes recentes no Imposto
Territorial Rural - ITR, apesar dos argumentos propalados pelo governo e do
aumento da alquota incidente sobre a propriedade ociosa, consistem mais em
dispositivos procedimentais, de forma que substanciais. Utiliz-lo como nico
instrumento de poltica fundiria visando reforma agrria no buscar solues
para o problema.
Nesse vis, mesmo sendo de importncia a ITR para a conquista,
mesmo que vagarosa e sem grandes perspectivas, da Reforma Agrria no Brasil,
por parte do Incra, fica facilmente concordvel as afirmaes dos autores
supracitados, tendo em conta que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
no tem tal prerrogativa como primordial, mas sim de arrecadar valores
decorrentes de uma propriedade de esfera rural que o proprietrio detm em seu
domnio.
Logicamente que, contemplando o que o ITR efetivamente conota, em
seu plano prtico, deve-se aceitar que a distribuio de terras, bem como a
"ativizao" destas em consonncia improdutividade que demonstravam h
alguns anos atrs, caracteriza, por certo, maior interesse na produtividade ou
utilizao das mesmas, com o fim de cumprir sua funo social.
A funo social da propriedade rural instituto positivado no
ordenamento jurdico, por lei, que determina a necessidade de haver o uso
contnuo e programado das terras rurais, para determinado fim, sob pena de ser
expropriado e dado, ela, uma funo social.
Pgina 70 / 73
Em teoria este "novo" instituto vem sendo bastante admirado, porm, em
prtica nem sempre se faz to acertado quanto o que est positivado.
Entretanto, e por arremate, no h possibilidade de haver radicalizao
no que tange no esperana de melhoras nos limites de igualdades sociais. A
teoria da "funo social da propriedade rural" j se encontra mais efetiva e por tal
razo, traz tona a questo de que, com os institutos anteriormente criados e j
em implantao (como o caso do prprio ITR) juntamente com essa funo
social, sua viabilidade grande e bastante favorvel para se alcanar 'objetivos
agrrios" do Brasil.
Ler tambm: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR:
conceitos e finalidades, de Luiz Fernando Vescovi. Disponvel em:
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/29844/2
9398
RESUMINDO.....
O ITR previsto constitucionalmente, atravs do inciso VI do art. 153 da
Constituio Federal. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de
apurao anual, tem como fato gerador a propriedade, o domnio til ou a posse de
imvel por natureza, localizado fora da zona urbana do municpio, em 1 de janeiro
de cada ano.
Considera-se imvel rural a rea contnua, formada de uma ou mais
parcelas de terras, localizada na zona rural do municpio.
A legislao que rege o ITR a Lei 9.393/1996 e alteraes
subsequentes.
Imunidade
O ITR no incide sobre pequenas glebas rurais, quando as explore, s
ou com sua famlia, o proprietrio que no possua outro imvel.
Pargrafo nico. Para os efeitos deste artigo, pequenas glebas rurais
so os imveis com rea igual ou inferior a:
I - 100 ha, se localizado em municpio compreendido na Amaznia
Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
Pgina 71 / 73
II - 50 ha, se localizado em municpio compreendido no Polgono das
Secas ou na Amaznia Oriental;
III - 30 ha, se localizado em qualquer outro municpio.
Iseno
So isentos do ITR:
I - o imvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrria,
caracterizado
pelas
autoridades
competentes
como
assentamento,
que,
cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos:
a) seja explorado por associao ou cooperativa de produo;
b) a frao ideal por famlia assentada no ultrapasse os limites
estabelecidos no artigo anterior;
c) o assentado no possua outro imvel.
II - o conjunto de imveis rurais de um mesmo proprietrio, cuja rea
total observe os limites fixados no pargrafo nico do artigo anterior, desde que,
cumulativamente, o proprietrio:
a) o explore s ou com sua famlia, admitida ajuda eventual de terceiros;
b) no possua imvel urbano.
Contribuinte
Contribuinte do ITR o proprietrio de imvel rural, o titular de seu
domnio til ou o seu possuidor a qualquer ttulo.
O domiclio tributrio do contribuinte o municpio de localizao do
imvel, vedada a eleio de qualquer outro.
Entrega do DIAC
O contribuinte ou o seu sucessor comunicar ao rgo local da
Secretaria da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informao e
Atualizao Cadastral do ITR - DIAC, as informaes cadastrais correspondentes a
cada imvel, bem como qualquer alterao ocorrida, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
Declarao Anual - DITR
Pgina 72 / 73
O contribuinte do ITR entregar, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informao e Apurao do ITR - DIAT, correspondente a cada
imvel, observadas data e condies fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Apurao pelo Contribuinte
A apurao e o pagamento do ITR sero efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prvio procedimento da administrao tributria, nos prazos
e condies estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologao posterior.
CONVNIOS ENTRE UNIO E ENTES FEDERATIVOS
A Unio, por intermdio da Secretaria da Receita Federal, poder
celebrar convnios com o Distrito Federal e os Municpios que assim optarem,
visando a delegar as atribuies de fiscalizao, inclusive a de lanamento dos
crditos tributrios, e de cobrana do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
de que trata o inciso VI do art. 153 da Constituio Federal, sem prejuzo da
competncia supletiva da Secretaria da Receita Federal.
Ler tambm: http://www.portaltributario.com.br/tributos/itr.htm
REFERNCIAS
BSICA:
BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Agrrio. Vol.I e II. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2007.
OPTIZ, Oswaldo; OPTIZ, Silvia C.B..Curso Complento de Direito Agrrio. So
Paulo: Saraiva, 2007.
SILVA, Leandro Ribeiro da. Propriedade Rural. Rio de Janeiro: 2008.
PEREIRA, Lutero de Paiva. Crdito Rural-Limites da Legalidade. So Paulo: Juru
Editora, 1998.
Pgina 73 / 73
BARROSO, Lucas Abreu. Direito Agrrio na Constituio. Rio de Janeiro: Forense,
2006.
COMPLEMENTAR:
ROCHA, Olavo Acyr de Lima. Desapropriao no Direito Agrrio. So Paulo: Atlas,
1992.
GALDINO, Dirceu. Manual do direito do trabalhador rural. Federao da Agricultura
do Estado do Paran. So Paulo: Ltr, 1995.
OLESKOVICK, Carlos Henrique. Direito Agrrio. So Paulo: Fortium, 2008.
TOURINHO NETO, Fernando. Introduo Crtica ao Direito Agrrio. Sao Paulo:
IMESP, 2003.
BORGES, Antonio Moura. Curso Completo de Direito Agrrio. So Paulo: EDIJUR,
2007.
Você também pode gostar
- Aspectos Patrimoniais EssenciaisDocumento18 páginasAspectos Patrimoniais Essenciaiscasimiroe.figueiredoAinda não há avaliações
- Filosofia Juridica - Ricardo CastilhoDocumento403 páginasFilosofia Juridica - Ricardo CastilhoIDEA FLOW100% (1)
- Estágio Curricular Obrigatório I: Educação InfantilDocumento20 páginasEstágio Curricular Obrigatório I: Educação InfantilJully PedroAinda não há avaliações
- Boletim de OcorrênciaDocumento3 páginasBoletim de Ocorrênciavirgilio Davi Rocha Oliveira50% (2)
- Aspectos Antropológicos e Sociológicos Da EducaçãoDocumento276 páginasAspectos Antropológicos e Sociológicos Da EducaçãoHugo LioyAinda não há avaliações
- Como Ler Um Texto ComplexoDocumento2 páginasComo Ler Um Texto ComplexoLeonardo SamuelAinda não há avaliações
- Rio de Janeiro 2024-01-23 CompletoDocumento100 páginasRio de Janeiro 2024-01-23 CompletojaccqueAinda não há avaliações
- DGEOPDocumento138 páginasDGEOPRafael NetoAinda não há avaliações
- Currículo Da Cidade EM Semana 2Documento18 páginasCurrículo Da Cidade EM Semana 2Priscila JeronimoAinda não há avaliações
- Inicial Paço Do LumiarDocumento22 páginasInicial Paço Do LumiarAdv. Victor Diniz de AmorimAinda não há avaliações
- Ind 002.2014 - Proced para Atend A Parcel Irreg de Interesse Social - ArisDocumento11 páginasInd 002.2014 - Proced para Atend A Parcel Irreg de Interesse Social - ArisVitorAinda não há avaliações
- Edu Piedus 20Documento4 páginasEdu Piedus 20Cristiane DinizAinda não há avaliações
- Conceito de Direito Do TrabalhoDocumento1 páginaConceito de Direito Do TrabalhoLeandra GervasiAinda não há avaliações
- PCAL EditalDocumento16 páginasPCAL EditalGuilherme Magnaldo dos Santos CostaAinda não há avaliações
- UC1 DR2 Ficha de Trabalho - Direitos e Deveres LaboraisDocumento13 páginasUC1 DR2 Ficha de Trabalho - Direitos e Deveres LaboraisBruno SantosAinda não há avaliações
- Sistema Penal, Direito Penal, Controle Social, FunçõesDocumento18 páginasSistema Penal, Direito Penal, Controle Social, FunçõesAndré DutraAinda não há avaliações
- Grelha de Correcao Exame Direito Comercial 14jan2016 TB PDFDocumento2 páginasGrelha de Correcao Exame Direito Comercial 14jan2016 TB PDFCaetano CaetanoAinda não há avaliações
- Direito Economico ET - Concorrencia Na EconomiaDocumento14 páginasDireito Economico ET - Concorrencia Na EconomiaEdmilsonAinda não há avaliações
- Lei 8112 - Provimento e VacânciaDocumento4 páginasLei 8112 - Provimento e VacânciaEstuda MeninoAinda não há avaliações
- Administração de Condomínios e LocaçãoDocumento286 páginasAdministração de Condomínios e LocaçãoUbirajara CavacoAinda não há avaliações
- WWW - Direitoshumanos.usp - BR Index - PHP Documentos-AnteriorDocumento2 páginasWWW - Direitoshumanos.usp - BR Index - PHP Documentos-Anteriorwctba20110% (1)
- Módulo 4 - Instrumentos, Registro e DefesaDocumento11 páginasMódulo 4 - Instrumentos, Registro e DefesaWindson AguiarAinda não há avaliações
- Contrato BaseDocumento4 páginasContrato BasePatricia SilvaAinda não há avaliações
- Como Construir Repertório Sociocultural para A Redação Do Enem PDFDocumento13 páginasComo Construir Repertório Sociocultural para A Redação Do Enem PDFJosenaldoaldo Cloropotássio100% (1)
- 1270125Documento10 páginas1270125Artur RibeiroAinda não há avaliações
- E-Book - Licitações e ContratosDocumento54 páginasE-Book - Licitações e ContratosFabio de Melo100% (2)
- 2 Gran Simulado Carreira Fiscal RFB Auditor e Analista Ciclo Avancado FOLHA DE RESPOSTASDocumento37 páginas2 Gran Simulado Carreira Fiscal RFB Auditor e Analista Ciclo Avancado FOLHA DE RESPOSTASjessica gomesAinda não há avaliações
- PL Anistia Das Motos em PernambucoDocumento3 páginasPL Anistia Das Motos em PernambucoRoberta SoaresAinda não há avaliações
- ADIN 1.842-RJ - Gestão CompartilhadaDocumento74 páginasADIN 1.842-RJ - Gestão CompartilhadaAlexandre VentorimAinda não há avaliações
- bq2161 TranscricaoDocumento19 páginasbq2161 TranscricaoHumberto GermanoAinda não há avaliações