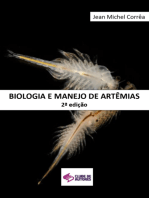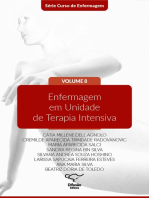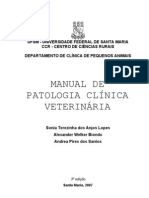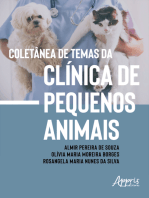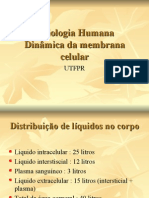Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
BABOSA
BABOSA
Enviado por
Nativo OliveiraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
BABOSA
BABOSA
Enviado por
Nativo OliveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
0
NIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE SADE E TECNOLOGIA RURAL
CAMPUS DE PATOS-PB
CURSO DE MEDICINA VETERINRIA
MONOGRAFIA
Uso da babosa (Aloe vera) na reparao de feridas abertas provocadas
cirurgicamente em ces
Juliana Molina Martins
2010
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE SADE E TECNOLOGIA RURAL
CAMPUS DE PATOS-PB
CURSO DE MEDICINA VETERINRIA
MONOGRAFIA
Uso da babosa (Aloe vera) na reparao de feridas abertas provocadas
cirurgicamente em ces
Juliana Molina Martins
Graduanda
Prof. Dr. Melnia Loureiro Marinho
Orientadora
Patos
Abril de 2010
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE SADE E TECNOLOGIA RURAL
CAMPUS DE PATOS-PB
CURSO DE MEDICINA VETERINRIA
JULIANA MOLINA MARTINS
Graduanda
Monografia submetida ao Curso de Medicina Veterinria como requisito parcial para
obteno do grau de Mdica Veterinria.
APROVADO EM...../....../.......
MDIA: _______
EXAMINADORES:
________________________________________________
Profa. Dra. Melnia Loureiro Marinho
_________________________________________________
Prof. Dr. Pedro Isidro da Nbrega Neto
_________________________________________________
Profa. Ana Luclia de Arajo
Dedicatria
minha me.
Obrigado por seu amor, sua presena, seu
apoio e por sempre acreditar nos meus sonhos.
Eu te amo.
AGRADECIMENTOS
Agradeo a Deus por ter me dado fora, coragem, perseverana e muita f para
acreditar na realizao deste sonho dia aps dia.
Agradeo de todo o corao aos meus pais, Osvaldo dos Santos e Izildinha Molina,
por me apoiarem na realizao dos meus desejos e depositar em mim toda confiana e
carinho, aos meus irmos, Rodrigo e Marco Aurlio Molina, que me ajudaram na
realizao deste objetivo com seus incentivos de que eu conseguiria concluir este trabalho
com sucesso.
Com alegria e gratido deixo aqui consignados sinceros agradecimentos a todos os
amigos e colegas colaboradores que vivenciaram e apoiaram na realizao do experimento
com os ces ao meu lado, em especial Daneelly (Dani) e Roberta (Robertinha) amigas
sinceras que moram no meu corao, a Fabrcia e Thas (residentes da cirrgia de pequenos
animais e anestesiologia), Glauco (mestrando da rea de patologia animal), ao David,
sempre disposto a trabalhar, ao meu querido amigo Leandro e ao Genezino Cirilo que
derramou suor para contribuir nesse trabalho. A vocs muito obrigada pelo carinho e
disposio.
instituio UFCG e aos funcionrios, em especial Joana, que confeccionou as
lminas histolgicas, Lurdinha, Tereza e Damio que sempre me ajudaram quando
precisei, fico feliz em agradecer.
minha orientadora, Professora Melnia, que abriu as portas de sua residncia para
que conclussemos o nosso TCC; ao professor Pedro Isidro, que me apoiou e sanou todas
as dvidas que surgiam ao longo do experimento com os ces; ao professor Flvio, que me
orientou na leitura das lminas histolgicas; aos Professores. Adlio e Ana Luclia que h
alguns dias eram apenas colegas de curso e hoje se tornaram excelentes profissionais alm,
de amigos.
E a todos os professores dos quais tive a honra de ser aluna e me fizeram ver a
paixo e a importncia da Medicina Veterinria, em especial Patrcia, alm de professora
maravilhosa tambm me e amiga; Fernando Borja, o primeiro a incentivar em realizar
meus sonhos mesmo quando era aparentemente impossvel de virar realidade, com sua fala
quando o cara quer o cara pode; ao professor Almir, que depois de sua influncia neste
trabalho tive ainda mais a certeza do que queria.
E no podia esquecer de agradecer aos animais que serviram para o experimento,
que pacientemente participaram dessa experincia, ces que na sua maioria de rua
mostrando seu sofrimento dos maus tratos e abandono, que foram acolhidos por mim, que
mesmo submetidos as feridas cirrgicas pude notar sua alegria por ter encontrado quem lhe
desse alimento, nome, cuidados e o mais importante afeto e amor, que todo ser vivo sente
necessidade em receber.
E muito obrigada mesmo, pela vida e pela a oportunidade de ter compartilhado
estes momentos com vocs.
SUMRIO
Pags.
RESUMO
ABSTRACT
1 .INTRODUO
2. REVISO DA LITERATURA..............................................................
2.1.FITOTERAPIA.......................................................................................
2.2.BABOSA.................................................................................................
2.2.1.DESCRIO MICROSCPICA........................................................
2.2.2.COMPOSIO QUMICA.................................................................
2.2.3.ESTUDO TOXICOLGICO...............................................................
2.2.4.MECANISMO DE AO...................................................................
2.2.5.ESTUDO FARMACOLGICO..........................................................
2.2.6.SINERGISMO.....................................................................................
2.3.PELE.......................................................................................................
2.3.1.EPIDERME..........................................................................................
2.3.2.MEMBRANA BASAL........................................................................
2.3.3.DERME................................................................................................
2.3.4.FOLICULOS PILOSOS.......................................................................
2.3.5.GLNDULAS.....................................................................................
2.3.6. HIPODERME (CTIS)......................................................................
2.4.FERIDA..................................................................................................
2.5.CICATRIZAO DA PELE..................................................................
2.5.1.CLASSIFICAO DOS PRACESSOS BIOLGICOS DA
CICATRIZAO.........................................................................................
2.6.SEMI-SLIDOS.....................................................................................
14
14
15
17
17
21
21
21
22
23
23
25
25
26
26
26
27
28
3.MATERIAL E MTODOS.....................................................................
3.1.ANIMAIS................................................................................................
3.2.PREPARAO DO EXTRATO DE BABOSA E PRODUO DA
POMADA......................................................................................................
3.3.PROCEDIMENTO CIRRGICO...........................................................
3.4.TRAMENTOS........................................................................................
34
34
28
32
34
35
36
4.RESULTADOS E DISCUSSO............................................................. 38
4.1. INTERPRETAO DAS LMINAS HISTOLGICAS..................... 45
5.CONCLUSO..........................................................................................
47
6.REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS...................................................
48
LISTA DE ILUSTRAES
Pags.
Figura 01: Aloe vera..................................................................................... 16
Figura02: Apresentao das flores da babosa..............................................
16
Figura 03: Presena de gel incolor (mucilagem) da folha da babosa..........
17
Figura 04: Pele com plos (Co). A epiderme delgada e levemente
ondulada HE, obj. 4x..................................................................................... 23
Figura05: Esquema mostrando as fases do processo de cicatrizao
segundo Vieira et AL., (2002)....................................................................... 29
Figura 06: fotografia mostrando tricotomia da regio dorsal......................
35
Figura 07: fotografia mostrando o local do boto anestsico na regio
dorsal demarcado com quadrado de rea de 1cm2........................................
35
Figura 08: fotografia mostrando medio da rea com paqumetro ps ato
operatrio......................................................................................................
36
Figura 09: fragmentos pele com leso de pele e subcutneo e subcutneo
aps remoo cirrgica.................................................................................. 36
Figura 10: fotografia mostrando a aplicao da pomada no D-0 no grupo
tratamento (GT)............................................................................................. 37
Figura 11: fotografia mostrando biopsia do grupo tratamento, no
dia10..............................................................................................................
37
Figura12: fotografia mostrando as feridas no D-0 antes do incio do
tratamento...................................................................................................... 38
Figura 13: fotografia mostrando as feridas no D-1: incio da formao de
crosta no grupo controle (GT) e aparncia rseo mido no grupo
tratamento (GT)............................................................................................. 38
Figura 14: fotografia mostrando presena de crosta e tecido cicatricial
D-10 do GC...................................................................................................
39
Figura 15: fotografia mostrando o processo de cicatrizao do GT( leito
da ferida rseo e mido), no D-10................................................................. 39
Figura 16: fotografia mostrando o D-20 da cicatrizao GT (seta).............
40
Figura17: fotografia mostrando o D-20 da cicatrizao GC (seta).............. 40
Figura 18: fotografia mostrando a completa cicatrizao do GT no 28
dia..................................................................................................................
40
Figura19: fotografia mostrando a completa cicatrizao do GC no 28
dia..................................................................................................................
40
Figura 20: Grfico mostrando as mdias das reas de retrao das feridas
tratadas com babosa(GT) e soluo fisiolgico(GC)....................................
41
Figura 21: fotografia mostrando o D-10 do GC........................................... 45
Figura 22: fotografia mostrando o D-10 do GT........................................... 45
Figura 23: fotografia mostrando o D-20 do GC........................................... 46
Figura 24:fotografia mostrando o D20 do GT.............................................
46
Figura 25:fotografia mostrando o D-28 do GC........................................... 46
Figura 26:fotografia mostrando o D-28 do GT........................................... 46
LISTA DE TABELAS E QUADROS
Tabela1: Substncias existentes na babosa.................................................
Pags.
18
Tabela 2: Composio da folha da babosa................................................... 18
Tabela 3: Composio do gel da babosa......................................................
19
Tabela 4: Minerais presentes na Aloe vera, com suas respectivas
funes..........................................................................................................
19
Tabela 5: Algumas substncias presentes na babosa com seus respectivos
valores quantitativos...................................................................................... 20
Tabela 6: Avaliao da cicatrizao de feridas tratadas com pomada de
babosa (GT) em ces nos dia 10, 20 e 28.................................................
42
Tabela 7: Avaliao da cicatrizao de feridas tratadas com soluo
fisiolgica a 0,9% (GC) em ces nos dia 10, 20 e 28...............................
43
Quadro 1: Avaliao microscpica nos dias 10, 20 e 28 dias ps
operatrio do GC, de acordo com as escalas: (0) ausente, (1) mnimo, (2)
moderado, (3) intenso.................................................................................... 44
Quadro 2: Avaliao microscpica nos dias 10, 20 e 28 dias ps
operatrio do GT, de acordo com as escalas: (0) ausente, (1) mnimo, (2)
moderado, (3) intenso.................................................................................... 45
10
RESUMO
MARTINS, MOLINA JULIANA. Uso da babosa (Aloe vera) na reparao de feridas
abertas provocadas cirurgicamente em ces. Patos, UFCG. 2010. (Trabalho de
concluso de curso de Medicina Veterinria).
O uso de fitoterpicos na cicatrizao de feridas cirrgicas tem sido incrementado nos
ltimos anos com a busca de princpios ativos que desempenhem efetivo papel neste
processo, acelerando a recuperao cirrgica. A Aloe vera, uma das espcies mais
destacadas do gnero Aloe, apresenta no parnquima de suas folhas mucilagem com
propriedade cicatrizante. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficcia do uso da
pomada de Babosa (Aloe vera) na reparao de feridas abertas provocadas cirurgicamente
em ces. Foram utilizados seis ces, quatro fmeas e dois machos, com dois a seis anos de
idade. Foram retirados segmentos contendo um cm2 de pele e tecido subcutneo da regio
do dorso dos animais. As feridas localizadas no lado esquerdo representaram o grupo
controle e foram tratadas com soluo fisiolgica a 0,9% e as do lado direito compuseram
o grupo tratamento, sendo tratadas com a pomada de babosa. Foram feitas medidas das
feridas a cada 10 dias do ps-operatrio para avaliar o processo de contrao das mesmas.
Nos dias 10, 20 e 28 foram retiradas cirurgicamente amostras das feridas de ambos os
grupos para a avaliao histopatolgica, onde foi observado que o uso da pomada de
babosa promove uma intensa fibroplasia, estimula na quantidade de clulas epiteliais e
reduo na formao da crosta, favorecendo a cicatrizao.
Palavraschave: Canino, Pomadas, Fitoterpico, Cicatrizao.
11
ABSTRACT
MARTINS, JULIANA MOLINA. Use of aloe (Aloe vera) in the repair of surgically
induced open wounds in dogs. Ducks, UFCG. 2010. (Work of completion of Veterinary
Medicine).
The use of herbal medicines on the healing of surgical wounds has been growing in recent
years with the search for active ingredients that play an effective role in this process,
speeding recovery cirrgica. The Aloe vera, one of the most prominent species of the genus
Aloe, introduced in the parenchyma of their leaves with mucilage healing property. The
purpose of this study was to evaluate the efficacy of ointment Aloe (Aloe vera) in the
repair of surgically induced open wounds in dogs. We used six dogs, four females and two
males, two to six years old. Were removed segments containing one cm2 of skin and
subcutaneous tissue of the dorsum of the animals. Wounds located on the left side
represented the control group and were treated with saline 0.9% and the right side
comprised the treatment group being treated with aloe ointment. Measurements were made
of the wounds at 10 days post-operatively to evaluate the process of contraction of the
same. On days 10, 20 and 28 were surgically removed samples of the wounds of both
groups for histopathologic evaluation, which revealed that the use of aloe ointment
promotes an intense fibroplasy, stimulates the epithelial cells and reduce the formation of
the crust, favoring the healing.
Keywords: Canine, Ointments, Herbal, Healing.
12
1.
INTRODUO
A capacidade auto - regenerativa um fenmeno universal dos organismos vivos.
A pele o maior orgo do corpo dos mamferos, e constitui uma importante barreira que
dificulta a invaso do organismo por patgenos, sendo a manuteno de sua integridade de
fundamental importncia. Nosso organismo frequentemente agredido, e sendo a pele a
regio mais perifrica e superficial, frequentemente lesada necessitando ento de um
processo de cicatrizao, o qual inclui eventos pelos quais o organismo tende a reparar
uma rea lesada, a qual ocorre de forma sistmica e dinmica, buscando restaurar a
continuidade dos tecidos (ABBAS & LICHTMAN, 2005).
Depois de quase meio sculo de predomnio da medicina aloptica e dos remdios
sintticos, as pessoas voltam sua ateno para os medicamentos naturais. Isto uma nova
conscincia ecolgica que surge, buscando o equilbrio do homem com o meio, diminuindo
os efeitos txicos dos remdios, substituindo-os pela fitoterapia; garantida e testada pelos
chs, atravs dos sculos (BALBACH et al., 1993).
A Aloe vera, tambm conhecida como Aloe barbadensis Miller (Liliaceae) ou
popularmente como babosa, utilizada h muito tempo como medicamento (SCHMID,
1991). A partir da extrao das suas folhas, duas fraes podem ser obtidas: um exsudato
amargo e um gel mucilaginoso. O primeiro considerado pelas farmacopias como a droga
aloe, lquido extrado das clulas do periciclo, de colorao amarelo-avermelhada, rico em
compostos antracnicos. O segundo provm do parnquima da folha (McKEOWN, 1987),
com aspecto de gel incolor (mucilagem) e que tem sido utilizado para curar queimaduras,
cicatrizar feridas, aliviar dores, alm de ser um poderoso agente hidratante (MADIS Lab.,
1983; GRINDLAY & REYNOLDS, 1986).
A babosa tem sido usada como plantas medicinais de uso interno e externo. Pelo
seu uso j consagrado desde os antigos egpcios e, atualmente, com seu crescente emprego
em cosmtica e em queimaduras, a demanda por estas plantas tem incrementado o seu
cultivo, portanto indicado o emprego da Aloe vera por ter uma forte ao cicatrizante
com maior produo e demanda no mercado (CASTRO & RAMOS, 2002).
13
Diante da importncia da fitoterapia e da escassa difuso de pesquisa na Medicina
Veterinria, tornou-se necessrio o estudo dos efeitos teraputicos da babosa (Aloe vera)
popularmente utilizada pela sua ao cicatrizante. Portanto, este trabalho teve por objetivo
avaliar a terapia tpica com a pomada do extrato de babosa em feridas cirrgicas
provocadas experimentalmente em ces.
14
2.
REVISO DA LITERATURA
2.1.
FITOTERAPIA
Fitoterapia a utilizao de vegetais em preparaes farmacuticas (extratos,
pomadas, tinturas e cpsulas) para auxlio e tratamento de doenas, manuteno e
recuperao da sade. Fitoterapia vem do idioma grego que quer dizer tratamento
(therapeia) vegetal (phyton), uma das modalidades da medicina holstica (CALIXTO,
2000).
As plantas so usadas pelo homem desde o incio dos tempos para sua
sobrevivncia, sade e bem estar. No incio do sculo XIX, quando foram descobertos os
primeiros mtodos de anlise qumica, os cientistas aprenderam a extrair e modificar os
ingredientes ativos das plantas.
Mais tarde os qumicos comearam a produzir suas
prprias verses dos componentes das plantas, iniciando, assim, a transio de
medicamentos naturais para sintticos. Com o passar do tempo, o uso de ervas medicinais
foi largamente substitudos pelos medicamentos sintticos (TOLEDO, 2002).
O crescimento do mercado mundial de fitoterpicos estimado de 10 a 20% ao ano
e as principais razes que impulsionaram este aumento nas ltimas dcadas foram:
valorizao de uma vida de hbitos saudveis, e, consequentemente, o consumo de
produtos naturais; os evidentes efeitos colaterais dos medicamentos sintticos; a descoberta
de novos princpios ativos nas plantas; a comprovao cientfica da fitoterapia; o preo de
maneira geral mais acessvel populao com menor poder aquisitivo (SOUSA, 2004).
O tratamento fitoterpico, como qualquer outro, requer um diagnstico correto do
problema, para que a planta utilizada oferea um resultado eficaz, ocasionando dessa forma
uma srie de benefcios para a sade. Associados s suas atividades teraputicas esto seu
baixo custo, a grande disponibilidade da matria prima e a cultura relacionada ao seu uso.
A prescrio de fitoterpicos at a pouco tempo no era aceita pelos prprios cientistas, por
ser considerada uma medicina inferior. Porm, o conceito da fitoterapia vem sendo
modificado, medida que os profissionais veterinrios vm utilizando produtos naturais
que tem a sua base cientfica j comprovada (FERNANDES, 2003; ALVES & SILVA,
2003).
15
2.2.
BABOSA
Pertence a famlia Liliaceae, sendo as espcies mais comuns a Aloe vera, Aloe
barbadensis Miller, Aloe arborescens, conhecidas popularmente, como: babosaverdadeira, aloe-de-barbados, aloe-de-Curaau, entre outros (GRINDLAY &REYNOLDS,
1986; CASTRO&RAMOS 2002). Aloe vem do rabe, via grego e latim, que siginifica
amargo e brilhante ou transparente, porque quando remove-se a casca, o gel interno
assemelha-se a um bloco de gelo lavado (ZAGO, 2007).
As babosas so de fcil cultivo, pois no so exigentes quanto ao solo, desde que
este seja drenado e permevel (arenoso e areno-argiloso), mas so sensveis acidez. Solos
com abundncia de matria orgnica devem ser equilibrados com boas doses de nutrientes
e minerais: potssio, clcio, fsforo e magnsio. A planta caracterstica de climas
tropicais e subtropicais e deve ser cultivada em locais protegidos de geadas e de ventos
frios hibernais, quer por exposies mais quentes (leste e norte), quer pelo uso de quebraventos. So medidas importantes a realizar, para evitar danos planta, como o
desenvolvimento de doena bacterianas e fngicas, pois uma planta de plena luz, no se
dando bem sombra ou meia-sombra. Dentre as espcies a Aloe vera a mais exigente
quanto ao calor (CORREA JR. et al., 1991).
A colheita da planta realizada aps um ano de cultivo, pois o crescimento inicial
das babosas lento. Retiram-se as folhas inferiores maiores, junto ao tronco, com um
instrumento afiado. Deixam-se as folhas centrais para renovar a planta. As folhas so
levadas imediatamente para a extrao da mucilagem e dos heterosdios. Os colhedores
devem usar botas e luvas para a proteo contra os espinhos existentes nas folhas
(CASTRO & CHEMALE, 1995).
uma planta com caule curto e estolonfero e razes abundantes, longas e carnosas.
As folhas so grossas, carnosas, rosuladas, eretas, ensiformes, tm de 30 a 60 cm de
comprimento, verde-brancas, com manchas claras quando novas, lanceoladas, agudas e
com margens de dentes espinhosos e apartados. A face ventral plana, e a face dorsal
convexa, lisa e cerosa. As folhas so muito sucosas, tm odor pouco agradvel e sabor
amargo, tornando-se o suco, depois de colhida a folha, de cor violcea e aroma muito forte
e desagradvel (DIMITRI, 1978).
16
A planta constitui-se das folhas esverdeadas, densas, lanceoladas, que se estreitam
da base para o pice, cncavas na pgina superior e convexas na inferior, sinuoso-serradas
(espinhos triangulares curtos e espaados), carnosas e manchadas (CORRA, 1984;
GRINDLAY & REYNOLDS, 1986) (Figura 1).
Figura 1: Aloe vera.
As flores so cilndricas a subcilndricas, branco-amareladas, tm de dois a trs cm
de comprimento, com segmentos coniventes ou coerentes com as pontas extendidas. Tm
seis estames aproximadamente do tamanho do tubo, filetes delgados e anteras oblongas. O
ovrio sssil, triangular, trilocular, e o estilete mais longo que o perianto, com um
pequeno estigma, sendo os vulos abundantes nos lculos. A inflorescncia central, ereta
e tem de um a 1,50 m de altura, (figura 2). O florescimento ocorre na primavera (setembrooutubro). Os frutos so constitudos de cpsulas ovide-oblongas, cnicas, curtas (20 mm),
de deiscncia loculcida, triloculares, mas com septos dando a impresso de seis lculos.
As sementes so numerosas, pardo-escuras, achatadas sereniformes.Tem origem na regio
mediterrnica (DIMITRI, 1978).
Figura 2: Apresentao das flores da Babosa.
17
2.2.1. DESCRIO MICROSCPICA
As folhas vistas aps corte transversal apresentam a casca com cerca de 15 camadas
de clulas. A casca produz carboidratos, lipdios e protenas. Os feixes vasculares
consistem de xilema, os quais carreiam gua, minerais e nitrognio das razes para a casca.
O clcio e o magnsio contribuem para o endurecimento da casca. O floema transporta
matrias sintetizadas para as razes e para outras partes da planta. Os tbulos pericclicos
conectam xilema e floema para nutrir as folhas novas. A mucilagem consiste de uma longa
cadeia de polissacardeos, cuja funo agir como um recipiente para a manuteno da
esterilidade do gel. A camada de gel consiste de clulas parenquimatosas grandes que
estocam gua e grandes quantidades de carboidratos (MARSHALL, 1990; DAVIS, 1992;)
(Figura 3).
Figura 3: Presena de gel incolor (mucilagem)
na folha da babosa.
2.2.2. COMPOSIO QUMICA
O gel de Aloe vera contm 1% de matria seca, pH entre 4,3 e 4,4, contendo 0,2 a
0,3 % de acares solveis de baixo peso molecular e 0,1 a 0,2 % de polissacardeos
(YARON, 1993).
Aloe vera gel considerada como o nome comercial dado ao parnquima das folhas
do Aloe vera. Este gel pode ser distinguido do exudato amarelo e amargo originado da
casca, o qual possui ao purgativa. O gel provm, portanto, do tecido parenquimatoso da
poro central das folhas da Aloe e utilizado como cicatrizante e para tratar queimaduras
(YARON, 1993; ROBBERS et al., 1996).
O gel bastante utilizado em formulaes de uso tpico e largamente acreditado
como emoliente. As formulaes cosmticas disponveis, so os produtos para limpeza de
pele, xampus, sabes e protetores solares (ANONYMOUS, 1983; SCHMID, 1991).
18
A composio qumica da Aloe vera contm uma extensa quantidade de
polissacardeos, minerais, enzimas, dentre outras tantas substncias presentes em suas
folhas (Tabela 1 a 5). Todavia, cada estrutura da Aloe apresentar substncias especficas e
em quantidades distintas, assim, dependendo do resultado desejado, pode-se utilizar uma
parte especfica da planta (SILVA, 2004).
Tabela1: Substncias existentes na babosa.
Ligininas e Saponinas
Antraquinonas: alona, isobarbalona, antracena, cido cinmico, emodina,
emodina de aloe, ster de cido cinmico, barbalona, leos etreos (efeito tranquilizante),
antranol, cido alotico, resistanis, cido crisofnico.
Vitaminas: betacaroteno, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina
E, cido flico, vitamina C, vitamina B6, colina.
Monossacardeos e polissacardeos: celulose, glicose, manose, galactose,
arabinose, aldonentose, L-ranose, cido glucornico.
Enzimas: oxidase, amilase, catalase, lipase, alinase.
Taninos e Esterides.
Fonte: Silva, 2004.
Tabela 2: Composio da folha da babosa.
Antraquinonas glicosadas
Barbalona
So agentes laxativos e bactericidas.
Catrtico com efeitos espasmdicos sobre o aparelho
digestivo e tem efeito analgsico.
Beta-barbalona isobarbalona
So ismeros da barbalona.
Alona
Resina de cor amarelo-limo que escurece com o
contato com o ar e luz, tem sabor amargo e ao
catrtica.
Tem efeito laxante, possui ao antiinfecciosa para
Stafilococus aureus.
Aloe emodim lemodim
( hidroximetilantraquinona)
19
cidos
Ao fungicida e germicida da pele e urnico. cido
altico: derivado da Aloe emodim lemodim.
Manose, glicose, arabinose, galactose e xilose.
Oxidase, catalase e amilase.
leo essencial, flavona, aloesona, aloetina, goma e
flavanonas.
Carboidratos
Enzimas
Outros
Fonte: Silva, 2004; Zago, 2007.
Tabela 3: Composio do gel da babosa.
gua (95%)
juntamente com bradicinase, lactato de magnsio, acemanano
Carboidratos
Manose, glicose, arabinose, galactose e xilose.
cidos
Glicurnico, hexaurnico, peteroilglutmico, saliclico e linolico.
Enzimas
Oxidase, alinase, carboxipeptidase e amilase.
Vitaminas
A, C, E, niacina, cido flico e algumas do complexo B ( B1, B2, B3, B6
e colina).
Lignina
Capacidade de penetrao na pele.
Saponina
So glicosdeos com capacidades antissptica e de limpeza.
Lisina, treonina, valina, metionina, leucina, isoleucina,
Aminocidos
fenilalanina, triptofano, histidina arginina, hidroxiprolina, cido
asprtico, serina, cido glutmico, prolina, glicerina, alanina, cistina,
tirosina.
Fonte: Silva, 2004; Zago, 2007.
Tabela 4:Minerais presentes na Aloe vera,com suas respectivas funes.
COMPOSTO
Fosfato de Clcio
Potssio
Ferro
Sdio
Magnsio /Mangans
Cromo
Zinco
Fonte: (DIAS 1957; ZAGO, 2007).
FUNO
Crescimento dos dentes e dos ossos, alimento do sistema
nervoso.
Regula os fludos do sangue e dos msculos, alm dos
batimentos cardacos.
Absorve o oxignio para dentro dos glbulos sangneos e
aumenta a resistncia s infeces.
Juntamente com o potssio, regula os fludos do corpo e
transporta os aminocidos e a glicose para dentro das clulas.
Preservam o sistema nervoso e os msculos.
Colabora no controle do nvel de acar no sangue, do
metabolismo, da glicose e da circulao.
Participa na sntese de insulina e do DNA.
20
Tabela 5: Algumas substncias presentes na babosa com seus respectivos valores
quantitativos.
Minerais
Valores quantitativos
Clcio
18,6 mg/L
Magnsio
3,1 mg/L
Sdio
12,7 mg/L
Ferro
44,0 mg/l
Mangans
4,5 mg/L
Carbonato de potssio
31,4 mg/L
Zinco
1,7 mg/L
Aminocidos
Lisina
0,09 mg/L
Teorina
0,33 mg/L
Valina
0,36 mg/L
Leucina
0,09 mg/L
Isoleucina
0,07 mg/L
Fenilalanina
0,08 mg/L
Arginina
0,12 mg/L
cido asprtico
1,75 mg/L
Serina
1,27mg/L
cido glutmico
4,7mg/L
Prolina
0,25mg/L
Alanina
0,06mg/L
Tirosina
0,06mg/L
Cistina
0,04mg/L
Fonte: Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio FIOCRUZ/ Ministrio da Sade.
21
2.2.3. ESTUDOS TOXICOLGICOS
Geralmente a Aloe vera citada como uma planta de pouco risco e atxica
(GRINDLAY & REYNOLDS, 1986), todavia, casos de reaes alrgicas tm sido
relatados, como prurido na pele (MORROW et al., 1980).
2.2.4. MECANISMO DE AO
As antraquinonas so as responsveis pelas propriedades purgativas. Sugere-se que
os componentes que poderiam melhorar o quadro de queimaduras seriam os cidos graxos
e ons magnsio (analgesia). Acredita-se que o efeito advenha de aes sinergsticas entre
os vrios componentes e os polissacardeos. Possui ainda atividades bactericidas
(GRINDLAY & REYNOLDS, 1986; LEVIN et al., 1988).
Sugere-se que o lactato de magnsio presente no Aloe seja responsvel pela
reduo da liberao de histamina na resposta inflamatria. O efeito bactericida seria
devido aos acares presentes, os quais exercem uma alta presso osmtica (MARSHALL,
1990). E sua ao cicatrizante explicada pela presena do tanino que favorece a
granulao e contrao da ferida com mais eficincia (OLIVEIRA, 1992).
2.2.5. ESTUDOS FARMACOLGICOS
Segundo Grindlay & Reynolds, (1986) o suco da babosa teve aes inibitrias
contra Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris e fungos. H vrios relatos na literatura
mostrando atividades bactericidas, atuando contra bactria Gram-positivas e Gramnegativas, e antifungicas. A Aloe tem um discreto efeito analgsico, possui ainda
atividades antiinflamatrias, tendo inclusive a capacidade de inibir a bradicinina e o cido
araquidnico (in vitro), GRINDLAY & REYNOLDS, 1986) bem como isquemia da
derme, preservando a vascularizao drmica (KLEIN & PENNEYS, 1988). WINTERS et
al. (1981) (citados por GRINDLAY & REYNOLDS, 1986) relataram que as folhas da
Aloe vera aceleravam o crescimento de clulas humanas normais em cultura de clulas,
contudo no aumentava o crescimento de clulas tumorais. Tem sido relatada propriedade
22
de reverter as mudanas na pele induzidas pelo envelhecimento, pela estimulao da
sntese de colgeno e fibras elastina (DANHOF, 1993).
2.2.6. SINERGISMO
A maioria das substncias qumicas que compem a babosa agem em sinergismo,
potencializando-se e compondo novos efeitos teraputicos, o que pode aumentar o
espectro de utilidades da mesma. Por isso, algumas substncias ao serem analisadas
isoladamente in vitro, no produzem o mesmo efeito que produziriam in vivo, se
misturadas a outros elementos da composio real da planta. J. Gomz, do Hospital
Universitrio Virgem de Arrixaca, Murca, afirma que os efeitos sinrgicos encontrado
in vitro no so os mesmos encontrados in vivo, e que desde sculos so
utilizados as interaes medicamentosas como forma de potencializar a ao destes no
organismo. Estima-se que a Aloe vera possua cerca de duzentas molculas biologicamente
ativas que atuam sinergicamente sobre os fibroblastos durante a formao de um novo
epitlio (TERRYCORP, 1977; DAVIS, 1989).
23
2.3.
PELE
A pele dos mamferos um orgo complexo, que possui funes importantes e
distintas, incluindo as sensoriais, metablicas, termorreguladora, proteo contra radiao
ultravioleta, reservatrio para eletrlitos, gua, lipdios, carboidratos e protenas, alm de
excretar substncias atravs de glndulas sudorparas, protegendo o corpo contra meios
adversos, criando uma barreira fsica contra traumas, invaso de bactrias, patgenos virais
e outras substncias estranhas (ALBUQUERQUE, 2005).
formada por trs camadas: a epiderme contituda de extratos (crneo, granuloso,
lcido, espinhoso e basal); a derme, onde localizam-se a vascularizao e a inervao,
constituda por duas camadas (papilar que a mais superficial e a reticular que a mais
profunda), e a hipoderme constituda de tecido conjuntivo frouxo infiltrado com tecido
adiposo o qual conecta a pele ao msculo ou ossos que tambm pode ser chamado de
tecido subcutneo ou tecido celular intermedirio, servindo como elemento de sustentao
a orgos subjacentes ( BANKS, 1992) ( Figura 4).
Figura 4: Pele com plos (Co). A epiderme delgada e levemente ondulada HE, obj.4x.
Fonte: Souza et al 2009.
2.3.1. EPIDERME
A epiderme, a camada mais externa da pele, constituda por um epitlio
estratificado, pavimentoso e ceratinizado, e subdividida em estrato basal (estrato
germinativo), estrato espinhoso, estrato granuloso, estrato lcido e estrato crneo (WEBB
& CALHOUN, 1954). A epiderme constituda por quatro tipos celulares: ceratincitos,
24
melancitos, clulas de Langerhans e clulas de Merkel (BACHA & WOOD, 1990,
BANKS 1992, MONTEIRO- RIVIERE et al., 1993). A quantidade de cada uma dessas
clulas varivel, mas aproximadamente 85% delas so ceratincitos, 5 a 8% so
melancitos e 5% so clulas de Langerhans (YAGER & SCOTT, 1993). A epiderme
uma estrutura dinmica constantemente renovada pela descamao do estrato crneo
(KRISTENSEN 1975).
Estrato basal
As clulas do estrato basal se dispem em uma nica fileira e possuem forma
cbica ou cilndrica. Essa camada repousa sobre a membrana basal e considerada o ponto
de separao dermo-epidrmico (BACHA & WOOD, 1990, BANKS, 1992, MONTEIRORIVIERE et al., 1993, BAL, 1996). Por haver intensa proliferao celular no estrato basal,
normal que sejam observadas clulas em mitose e clulas em apoptose (SCOTT et al.,
2001).
Estrato espinhoso
O estrato espinhoso est logo acima do estrato basal e consiste de um nmero
varivel de camadas, de acordo com a regio do corpo (BACHA & WOOD, 1990,
BANKS, 1992, MONTEIRO-RIVIERE et al., 1993). O fato dessas clulas se contrarem
durante o processamento histolgico, deixando pontes citoplasmticas presas aos
desmossomas, ocasiona o aspecto de espinho que confere a denominao ao estrato (BAL,
1996, HARGIS & GINN, 2007).
Estrato granuloso
O estrato granuloso formado por uma ou vrias camadas de clulas rombides ou
pavimentosas que possuem grnulos de cerato-hialina (BACHA & WOOD, 1990,
BANKS, 1992, MONTEIRO-RIVIERE et al., 1993, BAL 1996).
Estrato lcido
O estrato lcido constitudo por camadas de clulas pavimentosas, translcidas e
anucleadas (BACHA & WOOD, 1990, BANKS, 1992, MONTEIRO-RIVIERE et al.,
1993), em ces e gatos, esse estrato ocorre somente nas regies mais espessas da pele,
25
como coxins e plano nasal (BACHA & WOOD, 1990, BANKS, 1992, MONTEIRORIVIERE et al., 1993, AFFOLTER & MOORE 1994, BAL, 1996).
Estrato crneo
O estrato crneo formado por vrias camadas de clulas ceratinizadas e
anucleadas - os cornecitos (BACHA & WOOD, 1990, BANKS, 1992).
2.3.2. MEMBRANA BASAL
A membrana basal responsvel pela separao dermoepidrmica e fixa a
epiderme na derme, mantendo a arquitetura da pele. A membrana basal pode ser dividida
em quatro componentes bsicos: membrana plasmtica da clula basal, lmina lcida,
lmina densa ou lmina basal , lmina fibroreticular (URMACHER, 1997).
2.3.3. DERME
A derme ou crion est separada da epiderme pela membrana basal, dividida nos
animais em derme papilar (ou superficial) e derme reticular (ou profunda) (BANKS, 1992,
BRAGULLA et al., 2004).
A derme formada por tecido conjuntivo, principalmente na forma de fibras
entrelaadas, pelos elementos celulares drmicos, folculos pilosos e glndulas anexas
(BANKS, 1992, BRAGULLA et al., 2004, HARGIS & GINN, 2007). Na derme esto
localizados vasos sangneos, vasos linfticos, nervos e msculo liso (msculo eretor do
plo) (BANKS, 1992, SCOTT et al., 2001, BRAGULLA et al., 2004, HARGIS & GINN,
2007).
Elementos celulares drmicos
As clulas predominantes na derme so os fibroblastos (KRISTENSEN, 1975,
HEADINGTON & CERIO, 1990), os macrfagos e os mastcitos (KRISTENSEN, 1975,
SCOTT, 1980). Outras clulas esparsamente presentes incluem linfcitos e plasmcitos,
que, junto com as clulas de Langerhans, formam o tecido linfide associado pele
(HARGIS & GINN, 2007).
26
As fibras drmicas so produzidas pelos fibroblastos e podem ser colgenas ou
elsticas (BACHA & WOOD, 1990). As fibras colgenas perfazem de 75 a 90% do total,
enquanto as fibras elsticas, representadas principalmente pela elastina, correspondem a
apenas uma pequena parte das fibras drmicas. Portanto, a espessura da derme da pele com
plos est correlacionada com a quantidade e com o dimetro dos feixes de colgeno
(MEYER & NEURAND, 1987).
2.3.4. FOLCULOS PILOSOS
Ces e gatos possuem folculos pilosos compostos, formados por vrios folculos
pilosos primrios e secundrios (AFFOLTER & MOORE, 1994).
2.3.5. GLNDULAS
As
glndulas
sebceas
so
glndulas
alveolares,
simples
holcrinas
(KRISTENSEN, 1975); distribudas por toda a pele com plos (WEBB & CALHOUM,
1954).
As glndulas sudorparas, tanto nos ces quanto nos gatos, desempenham uma
importante funo na integridade da pele, mas no so importantes na termorregulao
(AFFOLTER & MOORE, 1994).
2.3.6. HIPODERME (CTIS)
A hipoderme se compe principalmente de gordura, com trabculas colgenas frouxas
e fibras elsticas. A elasticidade inerente da pele, sua carncia de firmes ligaes aos
ossos, msculos e fscia, explicam o alto grau de mobilidade da pele, sobre a cabea,
pescoo, e tronco de ces e gatos. Os vasos da hipoderme so responsveis por irrigar a
pele, o plexo subdrmico irriga o bulbo e o folculo piloso, glndulas tubulares, e parte
mais profunda dos ductos, e tambm o msculo eretor dos plos (SLATTER, 1998).
27
2.4.
FERIDA
Ferida uma palavra de origem latina (ferire) e representa a separao dos tecidos
do corpo ou qualquer leso tecidual, seja no epitlio, mucosas ou rgos, com prejuzo de
suas funes bsicas. As feridas podem ser produzidas por fatores extrnsecos, como a
inciso cirrgica e as leses acidentais, corte ou trauma, ou por fatores intrnsecos, como
aqueles produzidos por infeco e as lceras crnicas, causadas por alteraes vasculares,
defeitos metablicos ou neoplsias (WENDT, 2005).
As feridas so divididas em duas categorias: acidentais e cirrgicas. As acidentais
so aquelas resultantes da ao de um agente fsico do meio exterior e so de origens
diversas como, por exemplo: ferida por acidente de carro, por chute, por mordedura, por
arma de fogo e muitos outros. As feridas cirrgicas compreendem no s aquelas efetuadas
atravs de uma interveno cirrgica, mas tambm se relacionam com aquelas que
resultam de uma ao teraputica: injeo, puno, bipsia, debridamento, tatuagem e
outros (REMY, 1994).
De acordo com o processo de cicatrizao as feridas so calassificadas como
agudas ou crnicas, na qual as feridas agudas so tidas como injrias causadas por corte ou
inciso cirrgica que completa o processo de reparao dentro do tempo previsto, enquanto
que as feridas crnicas so conhecidas como injrias teciduais que possuem cicatrizao
lenta, devido a repetidos traumas ao tecido e/ou a um processo patolgico secundrio que
venha a interferir no processo de cicatrizao (STALDELMANN et. al., 1998;
STRODTEBEK, 2001).
Wendt (2005) afirma que as feridas tambm podem ser classificadas pelas variveis
tempo de durao e grau de contaminao.
Feridas limpas so aquelas criadas
cirurgicamente, sob condies asspticas. Uma ferida limpa-contaminada tem entre zero e
seis horas de evoluo e apresenta pouca contaminao, que pode ser removida com
manejo adequado. A ferida contaminada apresenta debris celulares sem exudato, com
maior tempo de exposio (6 a 12 horas) e geralmente decorre de mordeduras e
atropelamento. J as feridas sujas e infectadas so caracterizadas por processo infeccioso
com presena de exudato, tecidos desvitalizados, corpos estranhos e pus, e tm mais de 12
horas de durao. E termos simples, os ferimentos podem ser abertos e fechados.
Ferimentos abertos so as laceraes ou perdas de pele e os ferimentos fechados so as
leses por esmagamento ou contuso. As feridas abertas, pela etiologia, so classificadas
28
em: abraso (leso pele, consistindo da perda da epiderme e parte da derme), avulso
(lacerao do tecido), inciso (causada por objeto cortante onde as bordas da ferida so
regulares e ocorre mnimo traumatismo tecidual nos tecidos vizinhos), lacerao (ferida
irregular causada pelo rompimento dos tecidos causando leso varivel ao tecido
superficial e profundo) e finalmente ferimento por puno (causada por um projtil ou
objeto pontiagudo com leso superficial mnima, podendo ocorrer leso s estruturas mais
profundas).
2.5.
CICATRIZAO DA PELE
A cicatrizao de uma ferida o resultado de um conjunto de fenmenos celulares,
moleculares, fisiolgicos e bioquimicos, sucessivos e inter-relacionados, que atravs da
quimiotaxia, neovascularizao, proliferao, depsito e reorganizao da matriz
extracelular levam a cicatrizao da injria (ALBUQUERQUE, 2005).
Vrios estudos tm sido realizados no sentido de procurar encontrar uma substncia
que reduza os efeitos da contaminao e favorea o processo cicatricial. Dois processos
esto envolvidos na cicatrizao da maioria das feridas; o reparo e a regenerao. A
regenerao a substituio do tecido lesado por um tecido semelhante quele perdido na
leso. E ocorre em tecidos com grande poder mittico, enquanto que o reparo o processo
pelos quais os defeitos teciduais so substitudos por uma cicatriz no funcional
(MEDEIROS et al., 2005).
2.5.1. CLASSIFICAO DOS PROCESSOS BIOLGICOS DA CICATRIZAO
A restaurao da pele ocorre por um meio dinmico, contnuo, complexo e
interdependente, composto por uma srie de fases sobrepostas, denominada de
cicatrizao. Vieira et al., (2002) a distribui nas seguintes fases: reao imediata
(coagulao e inflamao), proliferao, maturao ou contrao da ferida e remodelao
(Figura 5).
29
PROCESSO DE CICATRIZAO
REAO IMEDIATA
REAO VASCULAR
REAO INFLAMATRIA
PROLIFERAO
GRANULAO
EPITELIZAO
MATURAO E REMODELAGEM
CONTRAO
Figura 5 : Esquema mostrando as fases do processo de cicatrizao segundo Vieira et al., (2002) .
De acordo com Mandelbaum (2003), as fases so descritas da seguinte forma:
Fase da coagulao
O incio imediato aps o surgimento da ferida. Essa fase depende da atividade
plaquetria e da cascata de coagulao, que ocorre devido influencia nervosa, como
descargas adrenrgicas, e ao de mediadores oriundos da desgranulao de mastcitos,
causando vasoconstrico como primeira resposta. A injria do endotlio dispara uma
sequncia de eventos, iniciando a deposio das plaquetas, formando um trombo rico em
plaquetas que tampona provisoriamente a leso endotelial.
O trombo rapidamente
infiltrado por fibrina, transformande-se em um trombo fibrinoso branco que, atravs da
adeso dos eritrcitos, forma um trombo vermelho, principal responsvel pela ocluso do
vaso rompido. A formao do cogulo serve para coaptar as bordas da ferida, como
30
tambm, para cruzar a fibronectina, oferecendo uma matriz provisria, em que os
fibroblastos, clulas endoteliais e queratincitos possam ingressar na ferida.
Fase da inflamao
Intimamente ligado fase anterior, a inflamao depende, alm de inmeros
mediadores qumicos, das clulas inflamatrias, como os leuccitos polimorfonucleares
(PMN), macrfagos e linfcitos. Os PMN chegam no momento da injria tissular e ficam
por peroodo que varia de trs a cinco dias. So eles os responsveiis pela fagocitose das
bactrias.
O macrfago a clula inflamatria mais importante dessa fase. Permanece de
terceiro ao dcimo dia na ferida, fagocitando bactrias, debridando corpos estranhos e
direcionando o desenvolvimento do tecido de granulao. Alta atividade fagocitria dos
macrfagos observvada aps trauma. Os linfcitos aparecem na ferida em
aproximadamente uma semana. Seu papel no bem definido mas sabe-se que, com suas
linfocinas, tm importante influncia sobre os macrfagos.
Alm das clulas inflamatrias e dos mediadores qumicos, a fase inflamatria
conta com o importante papel de fibronectina. Sintetizada por uma variedade de clulas
como fibroblastos, queratincitos e clulas endoteliais, ela adere simultaneamente
fibrina, ao colgeno e a outros tipos de clulas, funcionando assim como cola para
consolidar o cogulo de fibrina, as clulas e os componentes de matriz. Alm de formar
essa base para a matriz extracelular, tem propriedades quimiotticas, promove a
opsonizao e fagocitose de corpos estranhos e bactrias.
Fase da Proliferao
Dividida em trs subfases, a proliferao responsvel pelo fechamneto da leso
propriamente dita.
A primeira da fase da proliferao a reepitelizao. Faz-se a migrao de
queratincitos no danificados da borda da ferida e dos anexos epiteliais, quando a ferida
de espessura parcial e apenas das margens de espessura total. Fatores de crescimento so
os provveis responsveis pelo o aumento das mitoses e hiperplasia do epitlio. A
utilizao de colgeno e citocinas so promessas para uma cicatrizao mais rpida e
eficaz. Sabe-se que o plano de movimento dos queratincitos migrantes determinado
31
tambm pelo contedo de gua no leito da ferida. Feridas superficiais abertas e ressecadas
reepitelizam mais lentamente que as ocludas.
A segunda fase da proliferao a fibroplasia e formao da matriz que
extremamente importante na formao de tecido de granulao (coleo de elementos
celulares, incluindo fibroblstos, clulas inflamatrias e componentes neovasculares e da
matriz, como a fibronectina, as glicosaminoglicanas e o colgeno). A formao do tecido
de granulao depende do fibroblasto, clula crtica na formao da matriz. O fibroblasto
produz colgeno, elastina, fibronectina, glicosaminoglicana e proteases, estas responsveis
pelo debridamento e remodelamento fisiolgico.
A ltima fase da proliferao a angiognese, essencial para o suprimento de
oxignio e nutrientes para a cicatrizao. Inicialmente as clulas endoteliais migram para a
rea ferida, a seguir ocorre a proliferao das clulas endoteliais, acesso para as clulas
responsveis para a prxima fase.
Fase da Contrao da ferida
o movimento centrpeto das bordas da ferida (espessura total). As feridas de
espessura parcial no contam com essa fase. Uma ferida de espessura total tem contrao
mesmo quando h enxertos, que diminuem em 20% o tamanho da ferida. Em cicatrizes por
segunda inteo a contrao pode reduzir em 62% da rea de superfcie do defeito cutneo.
Remodelao
Essa a ltima das fases; ocorrem no colgeno e na matriz, dura meses e
responsvel pelo o aumento da fora de tenso e pela diminuio do tamanho da cicatriz e
do eritema. Reformulao dos colgenos, melhoria nos componentes das fibras colgenas,
reabsoro da gua so eventos que permitem uma conexo que aumenta a fora da cicatriz
e diminui sua espessura. A neovasculatura diminui, e tardiamente a cicatriz considerada
avascular.
Fatores que podem interferir na cicatrizao: a idade, o estado nutricional do
paciente, a existncia de doenas de base, como diabetes, alteraes cardiovasculares e de
coagulao, arterosclerose, disfuno renal, quadros infecciosos sistmico e uso de drogas
sistmicas. Dos fatores locais, interfere a tcnica cirrgica, formao de hematomas,
infeco, reao de corpo estranho, uso de drogas tpicas e ressecamento durante a
cicatrizao.
32
2.6.
SEMI-SLIDOS
Segundo Lachman et al.,(2001), os semi-slidos mais utilizados para o uso de
pomadas esto descritos abaixo:
As preparaes farmacuticas semi-slidas incluem as pomadas, as pastas, as
emulses cremosas, os geles e as espumas rgidas. A propriedade que lhes comum a
capacidade de adeso superfcie de aplicao por um perodo razovel de tempo antes de
serem removidas por lavagem ou devido ao uso. Est adeso deve-se ao seu
comportamento reolgico plstico, que permite aos semi-slidos manter a sua forma e
aderir como um filme at a aplicao de uma fora externa, caso em que deformam e
fluem.
As pomadas so, em geral, compostas por hidrocarbonetos lquidos numa matriz de
hidrocarbonetos slidos de elevado ponto de fuso. Embora a maioria das pomadas tem por
base a parafina lquida ou a vaselina, h outros tipos alternativos. O polietileno pode ser
incorporado em parafina lquida resultando numa matriz plstica (por exemplo, Plastibase,
fabricada pela Squibb). A maioria das pomadas preparada por fuso simultnea dos
componentes.
A vaselina e a parafina lquida so as substncias mais usadas nos semislidos, sendo obtidas a partir do petrleo. A vaselina uma mistura complexa de
hidrocarbonetos semi-slidos, contendo substncias alifticas, cclicas, saturadas,
insaturadas, ramificadas e lineares em propores variadas. A vaselina com 5% cera de
abelha so veculos lipfilos. A matria-prima mais comum em veculos de pomadas a
vaselina, devido sua consistncia, s suas caractersticas suaves e neutras e capacidade
de se espalhar facilmente na pele. Estas bases so difceis de retirar da pele por lavagem e
podem ser usadas como cobertura oclusiva para inibir a evaporao normal da umidade da
pele, o que facilita a absoro.
Os fatores que influenciam a penetrao da pele so fundamentalmente os mesmo
que afetam a absoro gastrointestinal, a velocidade de difuso dependendo primariamente
das caractersticas fsico-qumicas do frmaco e apenas secundariamente do veculo, do
pH, e da concentrao. Diferentes variveis fisiolgicas envolvem a condio da pele, isto
, se a pele est intacta ou danificada, a idade da pele, a rea da pele tratada, a espessura da
barreira da pele, a vario da espcie, e o contedo de gua na pele.
33
O principal fator fsico-qumico de penetraco na pele o estado de hidratao do
estrato crneo, o que afeta a velocidade de passagem de todas as substncias que penetram
na pele. A hidratao resulta da difuso de gua das camadas epidrmicas inferiores. Em
condies oclusivas, o estrato crneo passa de um tecido que normalmente contm pouca
gua (5 a 15%) a um que contm tanto como 50% de gua. A importcia clnica da
hidratao pode ser exemplificada pelo uso de filmes plsticos oclusivos na terapia com
esterides. Aqui, a preveno da perda de gua do estrato crneo e o subsequente aumento
da concentrao de gua nessa camada da pele aumenta aparentemente a penetrao do
esteride.
A solubilidade do frmaco determina a concentrao apresentada ao stio de
absoro, e o coeficiente de partilha gua/lipdeo influencia a velocidade de transporte.
Parece existir uma relao inversa entre a velocidade de absoro e o peso molecular.
Molculas pequenas penetram mais rapidamente do que molculas grandes, mas dentro de
um limite estreito de tamanho molecular, h pouca correlao entre tamanho e a velocidade
de penetrao. Substncias de peso molecular mais elevado tambm apresentam
penetrao varivel. Molculas muito grandes como as protenas e os polissacardeos
passam deficientemente e so difceis de serem absorvidas pela pele.
34
3.
MATERIAL E MTODOS
3.1.
ANIMAIS
Foram utilizados seis animais da espcie canina sem raa definida (SRD), de ambos
os sexos, sendo quatro fmeas e dois machos com idade variando entre dois e seis anos de
idade, com peso mdio de 13,7kg. Os animais foram alojados no canil do Hospital
Veterinrio, em canis individuais. S foram considerados elegveis para o estudo animais
saudveis, os quais receberam vermifugao1 e vacinao2.
Os animais foram alimentados com rao comercial de boa qualidade, duas vezes
ao dia e gua vontade.
3.2.
PREPARAO DO EXTRATO DE BABOSA E PRODUO DA POMADA
Para a obteno da pomada foi utilizado 1 L de cachaa3 e 400 g da folha da
Babosa4 (Aloe vera) pesada e cortada em cubos, onde aps repouso de 72 horas em
recipiente de vidro devidamente tampado e envolto em papel laminado, foi filtrada em
funil e mantida em garrafa ambar at o momento do uso. A pomada foi produzida com
500g de gordura vegetal5, sendo adicionada 100 ml do extrato de babosa, realizando a
mistura dos dois componentes at ficarem homogneos, e ento armazenado em vidro
estril.
Canex plus.
Vanguarda HTLP 5/CV-L; Rai Pet.
Cachaa. Triunfo PB.
Babosa, horta UFCG, Patos- PB.
Gordura vegetal. Primor PB.
35
3.3.
PROCEDIMENTO CIRRGICO
Aps jejum slido e lquido de 12 horas respectivamente, os animais foram prmedicados com acepramazina6 a 1%, na dose de 0,1 mg/kg , juntamente com diazepam7 a
0,5% na dose de 0,2 mg/kg, por via intravenosa (IV). O preparo do campo operatrio
iniciou-se com a tricotomia da regio torcica (Figura 6), seguida antissepsia com
clorexidine a 0,5%8.
Para efetuar a manipulao cirrgica foi realizado bloqueio
infiltrativo em boto anestsico na extenso da regio tricotomizada utilizando a lidocana
com vaso constrictor 2% diludo em NaCl 0,9%9 ( 5 ml de lidocana+ 5 ml de soro
fisiolgico), aplicando 2 ml em cada boto anestsico (Figura 7).
Figura 6: fotografia mostrando tricotomia
da regio dorsal.
Figura 7: fotografia mostrando o local do boto
anestsico na regio dorsal, demarcado com quadrado de rea de 1cm2.
Foram produzidas duas feridas no dorso de cada animal, paralelamente coluna
vertebral a dois cm de distncia da escpula.
Acepram 1% - UNIVET Ltda.
Compaz 0,5% - Laboratrio Cristlia Ltda.
Clorexidine 0,5%.
Soro fisiolgico Ariston Indstria Qumica e Farmacuticas Ltda.
36
As feridas foram produzidas aps a mensurao com paqumetro, de modo a
produzir uma leso quadrada com 1cm de lados (Figura 8). Em seguida foi feito uma
inciso de pele e divulso do tecido subcutneo, at a completa retirada do fragmento
cutneo (Figura 9). A hemostasia foi realizada por compresso digital sobre os pequenos
capilares utilizando gases esterilizadas.
Figura 8: fotografia mostrando medio da rea
com paqumetro ps ato operatrio.
3.4.
Figura 9: fragmentos de pele com leso de pele e
subcutneo aps a remoo cirrgica.
TRATAMENTOS
As leses cutnes foram tratadas de acordo com a metodologia estabelecida. O
Grupo Controle (GC) foi composto pelas feridas localizadas no lado esquerdo, as quais
foram tratadas apenas com soluo fisiolgica a 0,9%. O grupo tratamento (GT) constituise pelas feridas do lado direito da regio dorsal, que foram tratadas com pomada de
babosa. O dia da produo das feridas foi convencionado (D-0), e logo aps o trmino da
produo das feridas iniciou-se a aplicao da pomada (GT) e lavagem com soro
fisiolgico (GC) at o final do experimento (Figura 10). Os ferimentos foram tratados
como feridas abertas, sem a proteo de bandagens.
A anlise macroscpica das feridas foi realizadas diariamente, que incluindo: a
presena de edema, hiperemia, crosta, sangramento, dor, tecido de granulao e tecido
cicatricial nos dias 10, 20 e 28. As interpretaes foram registradas em tabelas e
fotografias para o acompanhamento da evoluo da reparao do tecido.
A rea de contrao da ferida foi obtida subtraindo-se a rea da ferida (A1)
mensurada com paqumetro nos D-10, D-20 e D-28 aps a cirurgia da rea previamente
37
estipulada (A=1cm2) no D-0. Portanto, o resultado da contrao em cada momento
experimental foi obtido de acordo com a frmula C= A-A1.
Nos dias 10, 20 e 28 do ps-operatrio foram realizadas bipsias das feridas de
ambos os grupos, de todos os animais do experimento, englobando tecido sadio e em
processo de cicatrizao para a realizao do histopatolgico.
No momento da bipsia os animais foram tricotomizados na regio dorsal (Figura
11), tranquilizados com acepram a 1% e diazepam a 0,5% . E aps 15 minutos realizou-se
a administrao de lidocana a 1 %, nas doses e vias anteriormente citados. Os fragmentos
foram retirados com o punch, devidamente esterelizado, e em seguida fixados em
formalina a 10%, colocados em recipientes prprios, devidamente identificados e
encaminhados para a anlise histopatolgica.
Figura 10: fotografia mostrando a aplicao da
pomada no lado direito D-0 no grupo tratamento.
Figura 11: fotografia mostrando biopsia do grupo
Tratamento no dia 10.
Aps a concluso do experimento, os ces que adquiridos de proprietrios foram
devolvidos aos mesmos e os de rua foram adotados.
38
4.
RESULTADOS E DISCUSSO
O acompanhamento do processo de cicatrizao foi realizado desde a produo das
feridas D-0 at a completa epitelizao D-28. No incio do tratamento no D-0 a evoluo
cicatricial das feridas experimentais foi considerada clinicamente normal com presena de
edema, hiperemia, dor e sangramento (Figura 12).
No D-1 do grupo tratamento, pode-se observar uma ferida limpa, mnimo
sangramento com colorao rseo mida sem presena de formao de crosta,
diferentemente obervado no grupo controle o incio da formao de um tampo de cogulo
desidratado, (Figura 13).
De acordo com Mandelbaum (2003), a formao do cogulo serve para coaptar a
borda da ferida, como tambm, para cruzar a fibronectina, oferecendo uma matriz
provisria, em que os fibroblastos, clulas endoteliais e queratincitos possam ingressar na
ferida. Sabe-se que a migrao dos queratincitos, fibroblastos e angiognese
determinado tambm pelo contedo de gua na ferida. Feridas superficiais abertas e
ressecadas reepitelizam mais letamente que feridas umidificadas com pomadas ou ocludas
com bandagem.
Figura 12: fotografia mostrando as feridas no D-0,
antes do incio do tratamento.
Figura 13: fotografia mostrando as feridas no D-1:
incio da formao de crosta no grupo controle (GC)
e aparncia rseo mida no grupo tratamento (GT).
O tecido de granulao observado no GT no10 dia ps operatrio apresentava
caractersticas de colorao que variavam de rseo a levemente avermelhada devido
grande quantidade de vasos neoformados (Figura 15). Este tecido essencial para a
39
cicatrizao, promovendo barreira protetora contra microganismos e resistncia infeco
(EURIDES, 1995/1996). Estes eventos aconteceram mais rapidamente no GT quando
comparado ao GC devido, provavelmente, ao da babosa que rica em elementos
cicatrizantes que agem em sinergismo. Segundo Mckeown (1987), o gel incolor
(mucilagem) da folha da babosa tem sido utilizado para, cicatrizar feridas, aliviar dores
alm de ser poderoso agente hidratante, so qualidades medicamentosas importantes para a
reparao do ferimento. Estima-se que Aloe vera possua cerca de duzentas molculas
biologicamente ativas que atuem sinergicamente sobre os fibroblastos durante a formao
de um novo epitlio (TERRYCORP, 1977; DAVIS, 1989).
Foi notado mais tecido de granulao no GT (Figura 15) e presena de crosta no
GC (Figura 14). Segundo Andrade (2006), a presena de crosta em uma ferida no
considerada pr-requisito para a cicatrizao podendo apresentar vantagens e desvantagens
para a evoluo do processo cicatricial funcionando como barreira fsica, protegendo de
contaminao e servindo de bandagem natural, mas podendo ainda apresentar um aspecto
seco e retardar a contrao da pele durante o processo cicatricial.
Figura 14: fotografia mostrando presena de crosta e
tecido cicatricial no D-10 do GC.
Figura 15: fotografia mostrando o processo de cicatrizao do GT( leito da ferida rseo e mido), no D-10.
No 20 dia a colorao avermelhada das feridas no GT (Figura 16) neste perodo
foi evidente, caracterstica de neoformao vascular, ao contrrio no que se observou no
GC (Figura 17), onde as leses apresentavam colorao esbranquiada. As feridas ainda
encontravam em processo de epitelizao.
Na fase de proliferao de fibroblastos, angiognese e migrao do epitlio das
bordas atravs da ferida pode prolongar de duas a trs semanas, na qual confere resistncia
40
a ferida, a medida que acontece a contrao em movimento centrpeto das bordas da ferida
ocorrendo o fechamento do ferimento. No 21 dia de ps-cirrgia normal presena de
crosta seca e tecido de cicatrizao avanado e at mesmo a completa epitelizao
(MEDEIROS et al.,2005).
Figura 16: fotografia mostrando o D-20 da cicatrizao GT (seta).
Figura 17: fotografia mostrando o D-20 da cicatritrizao GC (seta).
No D-28 ps-cirrgico observou-se completa cicatrizao com epitelizao das
feridas em ambos os grupos, formando uma cicatriz que apresentava as caractersticas de
textura e elasticidade da pele prxima a anterior ao trauma (Figuras 18 e 19).
Com 28 dias, ocorre a fase de maturao da cicatrizao, que corresponde a
diminuio do nmero de fibroblastos e miofibroblastos com deposio e remodelao.
Esta ltima fase a de remodelamento, pode durar meses e responsvel pelo o aumento da
fora de tenso e pela diminuio do tamanho da cicatriz e do eritrema
(MANDELBAUM., 2003).
Figura 18: fotografia mostrando a completa cicatrizao do GT no 28 dia.
Figura 19: fotografia mostrando a completa cicatrizao do GC no 28 dia.
41
A cada dez dia foi realizado a avaliao da contrao da ferida, com o auxilio do
paqumetro, instrumento necessrio para a mensurao da ferida do GC e GT, obteve-se os
dados do dia 10, 20 e 28 para a avaliao da mdia (Figura 20) e a anlise estatstica das
contraes das feridas.
A anlise estatstica das contraes das reas das feridas pode ser observada no grfico
a seguir:
1
0,9
0,8
0,7
0,6
Mdia da
0,5
rea em cm
0,4
0,3
0,2
0,1
0
GT
GC
D-0
D-10
D-20
D-28
Dias das avaliaes
Figura 20: Grfico mostrando as mdias das reas de retrao das feridas tratadas com babosa (GT) e
soluo fisiolgica (GC).
Entre D-0 e D-10, os produtos derivados da Aloe vera no obteve atividade
significativa na concentrao utilizada, demonstrando mesmos resultados que o soro
fisiolgico.
Entre D-10 e D-20, as formas de apresentao demonstraram boa performance,
justificado pela intensa fibroplastia que ocorre neste perodo (JOHNSTON, 1977), sem
diferena de evoluo de processo de contrao entre, babosa e soro. A contrao de reas
das feridas tratadas com soro e babosa foram observadas apenas a partir do 10 dia,
apresentando-se crescente at o dia 20. Entre D-20 e D-28 no houve diferena perceptvel
entre os tratamentos.
42
Pode-se notar que no houve diferena estatstica significante entre os tratamentos
na avaliao clnica da ferida no D-10, D-20 e D-28.
Nos dias 10, 20 e 28 realizou-se a avaliao macroscpica das feridas,
observando a presena ou ausncia de edema, hiperemia, sangramento, dor, tecido
cicatricial, tecido de granulao e crosta no GT e GC, no qual os dados esto presentes na
tabela 6 e 7.
Estas reaes inflamatrias do D-0 a D-10 (tabela 6), so consideradas como
fisiolgicas, so pr-requisitos cicatrizao e correspondem fase inflamatria que
caracterizada pelo aparecimento de rubor, calor, tugor e dor, mediada pela ao da
bradicinina e cinina (MODOLIN, 1992; KOOPMANN, 1995).
Durante o estgio de reparao, o tecido de granulao (D-10 a D-20) (tabela 6) se
contrai, empurrando as bordas da ferida para seu prprio centro, diminuindo assim a rea a
ser epitelizada. Este processo de contrao da ferida totalmente independente do processo
de epitelizao, ocorre abaixo do novo epitlio formado e desaparece gradualmente,
medida que as margens da ferida movem-se para o centro at encontrarem-se (PEACOCK,
1976; JOHNSTON, 1977; SWAIN, 1980).
Tabela 6 : Avaliao da cicatrizao de feridas tratadas com pomada de babosa (GT) em
ces nos dias 10, 20 e 28.
Variveis
Avaliadas GT
Edema
Hiperemia
Sangramento
Dor
Tecido Cicatricial
Tecido de
Granulao
Crosta
D-10
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Tempo ps operatrio
D-20
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
D-28
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
43
De acordo com Mandelbaum (2003), a formao do cogulo, D-10 e D-20 (tabela
7) serve para coaptar a borda da ferida, como tambm, para cruzar a fibronectina, um
tampo que protege a ferida provisriamente, mas que tambm, necessrio que ocorra o
desalojamento desse cogulo ressecado para promover o processo de epitelizao, o que
provoca um retardo na cicatrizao.
Tabela 7 : Avaliao da cicatrizao de feridas tratadas com soluo fisiolgica a 0,9%
(GC) em ces nos dia 10, 20 e 28.
Variveis
Avaliadas GC
Edema
Hiperemia
Sangramento
Dor
Tecido Cicatricial
Tecido de
Granulao
Crosta
D-10
Tempo ps operatrio
D-20
D-28
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Nas avaliaes histolpatolgicas observaram-se que as feridas do grupo controle e
grupo tratamento apresentaram os seguintes resultados (Quadro 1 e 2).
Na avaliao microscpica pde-se observar no D-10 do GC (quadro 1) a presena
de discreta acantose no epitlio prxima a leso, vrios vacolos na derme profunda,
moderada reao inflamatria, vasos de tecido de granulao congestos e moderada
fibroplasia.
No D-20 do GC (quadro 1) observou-se que existe mnima reao inflamatria,
intensa fiboroplasia para formao do tecido de granulao com moderada formao de
vasos e ausncia de clulas epitelias.
No D-28 do GC (quadro 1) observado a discreta reao inflamatria, os
fibroblastos comeam a decair para iniciar o processo de epitelizao.
44
Quadro 1: Avaliao microscpica nos dias 10, 20 e 28 dias ps operatrio do GC, de
acordo com as escalas: (0) ausente, (1) mnimo, (2) moderado, (3) intenso.
Variveis
avaliadas GC
Intensidade
da
Reao
Inflamatria
Tecido
de
Granulao:
Fibroplasia
Neo
vascularizao
Aspecto das
fibras
colgenas
Grau
de
Reepitelizao
D10
D20
D28
Necrose moderada
das
clulas
epiteliais
Presena
de
discreta acantose
prxima a leso
No D-10 GT (quadro 2) observa-se discreta acantose no epitlio adjacente, intensa
reao inflamatria, neovascularizao, tecido de granulao e fibroplasia mais acentuada
que o GC.
No D-20 do GT (quadro 2), pode-se observar as clulas inflamatris presentes para
o debridamento da ferida, elas so responsveis por limpar a rea e atrair os fibroblatos,
que atua intensamente na deposio de colgeno, apresenta o incio da migrao das
clulas epiteliais.
No D-28 do GT (quadro 2), pode-se notar que a reao inflamatria cedeu, nesta
fase comea a diminuir a quantidade de fibroblastos e consequentemente os capilares iro
comear o processo de regreo, as clulas epiteliais comeam a desprendar da borda e
migram para a ferida.
45
Quadro 2: Avaliao microscpica nos dias 10, 20 e 28 dias ps operatrio do GT, de
acordo com as escalas: (0) ausente, (1) mnimo, (2) moderado, (3) intenso.
Variveis
avaliadas GT
Intensidade
da
Reao
Inflamatria
Tecido
de
Granulao:
Fibroplasia
Neo
vascularizao
Aspecto das
fibras
colgenas
Grau
de
Reepitelizao
4.1.
D10
D20
D28
Acentuada
necrose
das
clulas epiteliais e
da camada inicial
da derme
Moderada necrose
das
clulas
epiteliais e da
camada inicial da
derme
Intensa acantose
prxima a leso
INTERPRETAO DAS LMINAS HISTOLGICAS
Observa-se acentuada necrose das clulas epiteliais da epiderme e da camada
superficial da derme associada a intenso infiltrado inflamatrio polimorfonuclear e
espessamento da epiderme adjacente com projees digitiformes. Obj 10x HE, GC (Figura
21).
Observa-se acentuada necrose das clulas epiteliais da epiderme e da camada
superficial da derme associada a intenso infiltrado inflamatrio polimorfonuclear e
hemorragia. Na epiderme adjacente observa-se espessamento com projees digitiformes.
Obj 10x HE, GT (Figura 22).
Figura 21: fotografia mostrando o D-10 do GC.
Figura 22: fotografia mostrando o D-10 do GT.
46
No foi observada reepitelizao da ferida cirrgica. Na derme superficial
observou-se restos celulares necrticos associada moderada fibroplasia e moderado
infiltrado inflamatrio mononuclear. Obj 10x HE, GC (Figura 23).
Observa-se acentuada retrao da epiderme associada acentuada fibroplasia e
discreto espessamento da epiderme. Obj 10x HE, GT (Figura 24).
Figura 23: fotografia mostrando o D-20 do GC .
Figura24: fotografia mostrando o D-20 do GT.
Cicatrizao tecidual completa. Obj 10x HE, GC (Figura 25).
Cicatrizao tecidual completa associada a discreto espessamento da epiderme. Obj
10x HE, GT (Figura 26).
Figura25: fotografia mostrando o D-28 do GC.
Figura26: fotografia mostrando o D-28 do GT.
47
5.
CONCLUSO
Foi possvel concluir que o uso tpico da pomada adquirida atravs do extrato de
babosa Aloe vera proporciona uma reepitelizao melhor, estimula a migrao de clulas
epiteliais e evita a formao de crosta na ferida.
48
6.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H. Imunologia celular e Molecular. 5 ed. Rio de
Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2005, p.580.
AFFOLTER, V.K; & MOORE, K. Histologic features of normal canine and feline skin.
Clin. Dermatol. 12:491-497, 1994.
ALBURQUERQUE, E. R. C. Avaliao clnica e histlogica de feridas cutneas
tratadas por segunda inteno com lectina de Craltylias mollis em camundongos. 60 f.
Dissertao, Universidade Federal de Pernanbuco, Recife. 2005.
ALVES, D. L., SILVA, C. R. Fitohormnios. Abordagem natural de terapia hormonal.
So Paulo: Atheneu, 2003.
ANDRADE, L. S. S. Avaliao teraputica das pomadas do polissacardeo do
Anacardium occidentale L. E do extrato em p da Jacaratia corumbensis O. KUNTZE
em feridas cutneas produzidas experimentalmente em caprinos (Capra hircus L.),
76f. Dissertao, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2006.
ANONYMOUS . Aloe vera L. and its products applications and nomenclature.
Cosmetics & Toyletries, 98: 99-104, 1983.
BACHA W.J. & WOOD L.M. Color atlas of veterinary histology. Philadelphia. 269p,
Lea and Febiger, 1990.
49
BAL, H. S. Pele. In: SWENSON, M. J.; REECE, W. O. Dukes fisiologia dos animais
domsticos. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 560-570, 856, 1996.
BALBACH, A.; BOARIM, D. As Hortalias na Medicina Natural. Itaquaquecetuba:
Vida Plena, 1993, p.28.
BANKS, W.J. Histologia Veterinria Aplicada. So Paulo , 2 ed. Manole, 1992, 629p.
BRAGULLA, H., BUDRAS, K.D.;MLLING, C.; REESE,S; KNIG, H.E. Tegumento
comum, p.325-380. In: Knig, H.E;Liebick,H.G. (Ed.), Anatomia dos Animais
Domsticos: texto e atlas colorido. Vol.2. Porto Alegre, Artmed. 2004, 399p.
CALIXTO, J. B. Efficacy, safty, quality control, marketing and regulator guidelines for
herbal medicines (phytoterapeutic agents). Brasilian Jornaul of Medical and Biological
Research, Ribeiro Preto, v. 33, n. 2, p.179-189, 2000.
CASTRO, L. O.CHEMALE, V. M. Plantas medicinais, condimentares e Aromticas:
descrio e cultivo. Guaba: Livraria e Editora Agropecuria Ltda., 1995, 195.
CASTRO, L. O.; RAMOS, R. L. D. Cultivo de trs espcies de babosa: descrio botnica
e cultivo de Aloe arborescens Mill. babosa-verde, Aloe saponaria (Aiton) Haw. babosalistrada e Aloe vera L. Burm. f., babosa-verdadeira ou aloe-de-curaau (ALOEACEAE).
Porto Alegre: FEPAGRO, 2002, 12 p.
CORRA, P. - Dicionrio de Plantas teis do Brasil. p. 227-228, 1984.
50
CORREA JNIOR, C.; MING, L. C.; SCHEFFER, M.C. Cultivo de plantas medicinais,
condimentares e aromticas. Curitiba: SEAB-EMATER-PR,. il, 1991,150 p.
DANHOF, I.E. - Potential reversal of chronological and photo-aging of the skin by
topical application of natural substances. Phyt. Res. 7: p53-p56, 1993.
DAVIS, R.H. - Wound healing: oral and topical activity of Aloe vera. J. Am. Podiat. Med.
Assoc. 79(8): 395-397; 79(11): 559-562, 1989.
DIAS,N.J. Terapia-Orto-Bio-Molecular. Nordeste: Unimed grfica. p.33-49, 1957.
DIMITRI, M. J. Enciclopedia argentina de agricultura y jardineria.3. ed. Buenos Aires,
Editorial ACME S. A.C.I. p.65, 1978.
EURIDES, D. Morfologia e morfometria da reparao tecidual de feridas cutneas de
camundongos tratados com soluo aquosa de barbatimo (Stryphynodendron babatiman
Martius). Revista da FZVA, Uruguaiana, v. 2/3, n.1, p.30-40. 1995/1996.
FERNANDES, A. V. Efeitos do uso tpico da Calendula officinalis na cicatrizao de
feridas em mucosa palatina: estudo histolgico em ratos. Dissertao (mestrado).
Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Odontologia, Araatuba, 2003.
GRINDLAY & REYNOLDS. The Aloe vera phenomenon: a review of the properties and
moderns uses of the leaf parenchyma gel. J. Ethnophamacol. 16: 117-151, 1986.
51
HARGIS A.M. & GINN P.E. The integument, p.1107-1261. In: McGavin M.D. & Zachary
J.F. (Ed.), Pathologic Basis of Veterinary Disease. 4th ed. St Louis Mosby Elsevier,
2007, 1476p,
HEADINGTON J.T. & CRIO R. Dendritic cells and the dermis. Am. J. Dermatopathol.
12:217, 1990.
JOHNSTON, D. E. The processes in wound healing. J. Am. Anim. Hosp. Assoc., n. 13, p.
186. 1977. LEUNG, A. Y. Aloe vera in Cosmetics. D & CI, p. 34-35, 154-155, June ,1977.
KLEIN, A.D; PENNEYS, N.S. - Aloe vera. J. Am. Acad. Dermatol. 18: 714-20, 1988.
KRISTENSEN, S. A study of skin diseases in dogs and cats. I. Histology of the hair skin
of dogs and cats. Nord. Vet. Med. 27:593-603, 1975.
KOOPMANN, C. Cutaneous wound healing. Otolaryngologic Clinics of North America,
v.28, n.5, p.835-845, 1995. LACHMAN, L.et al. Teoria e Prtica na Indstria
Farmacutica. V.II. p.907-925.2001.
LACHAMAN,L.et al. Teoria e Prtica na Indstria Farmacutica.V.IIp.907-925.2001.
LEVIN, H. et al. - Partial purification and some properties of an antibacterial compound
from Aloe vera. Phyt. Res. 2(2): 67-69, 1988.
MADIS LABORATORIES INC. Aloe vera L. and its Products Applications and
Nomenclature. Cosmetics & Toiletries, v. 98, n. 6, p. 99-100, 103-104, 1983.
MANDELBAUM, S. H. Cicatrizao: conceitos atuais e recursos auxiliares Parte I.
Educao mdica continuada. So Paulo, v. 78 nmero 4, 2003.
52
MARSHALL,
J.M. Aloe vera
gel: whats is the evidence? The Pharmaceutical
journal, 244: 360-62, 1990.
MCKEOWN, E. Aloe vera. Cosmetics & Toiletries, v. 102, n. 6, p. 64-65, 1987.
MEDEIROS et al. Tratamento de lcera varicose e leses de pele com Calendula
officinalis e/ou com Stryphnodendron barbatiman (veloso) martius. Revista de Cincia
Farmacutica,So Paulo, v.17, p.181-186, 2005.
MEYER, W. NEURAND, K. A comparative scanning electron microscopic view of the
integument of domestic mammals. Scanning Microsc. 1:169-180, 1987.
MODOLIN, M. Enxertos de pele. In: RAIA, A.A.; ZERBINI, E.J. Clnica Cirrgica
Alpio Corra Netto. 4.ed. So Paulo: SARVIER, v.1, p.153-157, 1992.
MONTEIRO-RIVIERE N.A., STINSON A.W. & CALHOUN H.L. Integument. In:
Dieter-Dellmann H. (Ed.), Textbook of Veterinary Histology. 4th ed. Philadelphia Lea
and Febige, p.285-231, 1993.
MORROW, D.M. et al. - Hypersensitivity to Aloe. Arch. Dermatol. 116: 1064-5, 1980.
OLIVEIRA, H. P. Traumatismos nos animais domsticos. Cad. Tc. Esc. Vet., v. 1, n. 7,
p. 01-57, 1992.
PEACOCK, E. E.; VAN WINKLE, W. Wound Repair. 2 ed. Philadelphia: W. B. Saunders
Co, 1976.
REMY, D. Classification et traitement des plaies. Encyclopedie Vtrinaire. Chirurgie
tissus mous, 800, p.1-6. 1994.
53
ROBBERS, J.E. et al. Pharmacognosy & Pharmacobiotechnology. International
edition.. pg. 53-54, 1996.
SWAIN, S. F. Surgery of traumatized skin: Management and reconstruction in the Dog and
Cat. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1980. p. 70-115.
SCHMID, R. - An old medicinal plant: Aloe vera. Parfuemerie und Kosmetik, 72: 14650, 1991.
SCOTT D.W., MILLER D.H.GRIFFIN,C.E. MULLER and KIRKS Small Animal
Dermatology. 6th ed., Philadelphia, Saunders. 2001, 1528p,.
SCOTT, D. W.; PARADIS, M. A survey of canine and feline skin disorders seen in a
university practice: small animal clinic, University of Montreal, Saint-hyacinthe, Quebec
(1987-1988). Canadian Veterinary Journal, v. 31, p. 830-834, 1990.
SILVA, A. R. Aromaterapia em dermatologia e esttica. Editora, So Paulo, Roca 2004.
SLATTER, D. Manual de Cirurgia de Pequenos Animais. So Paulo, Editora Manole, v.
I e II, p.62-71; 327-328, 1998.
SOUSA, J. A,MIRANDA, E. M, Plantas medicinais e fitoterpicos: Alternativas
viveis.
2004
Disponivel
em:.
agropecuria.htm>. Acesso em10 /05/ 2008.
<htm://www.ambientebrasil.com.br/ambiente
54
STALDELMANN, W. K.; DIGENIS, A. G.; TOBIN, G. R. Physiology and healing
dynzmics of chronic cutaneous wounds. American Journal of Surgery, v. 176 (suppl 2),
p.26-38, 1998
T. M. SOUZA, R.A. FIGHERA, G. D. KOMMERS,
C. S.L. BARROS. Aspectos
histolgicos da pele de ces e gatos como ferramenta para dermatopatologia. Pesq. Vet.
Bras. 29(2):177-190, fevereiro 2009.
TERRY
CORP.
Aloe
vera:
the
angeless
botanical.Soap/Cosmetics/Chemical
Specialties, p. 34-37, 45-47, Feb. 1977.
TOLEDO, C. E. M. Estudos anatmicos, qumicos e biolgicos de casca e extratos
obtidos de Barbatimo [Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, Leguminosae].
Dissertao 2002.
URMACHER C.D. Normal skin, p.25-45. In: Sternberg S.S. (Ed.), Histology for
Pathologist. 2nd ed. Philadelphia. Lippincott-Raven, 1997, 1200p.
VIEIRA, C.S.C.A; MAGALHES, E.S.B.; BAJAI, H.M. Mnual de condutas para lceras
neutrficas e traumticas. Caderno de Reabilitao em Hansenase, n.2, p.52, 2002.
ZAGO, Cancer tem cura!. 37 ed. Petrpolis: Vozes,5: 53; 8: 129-142; 10: 170, 2007.
WEBB, A.J; CALHOUN, M.L. The microscopic anatomy of the skin of mongrel dogs.
Am. J. Vet. Res. 15:274-280, 1954.
WENDT, S. B. T. Comparao da eficcia da calendula e do leo de girassol na
cicatrizao por segunda inteno de feridas em pequenos animais. Dissertao, 2005.
55
YAGER, J.A.SCOTT, D.W. The skin and appendages, p.531-738. In: Jubb K.V.F.,
Kennedy P.C. & Palmer N. (Ed.), Pathology of Domestic Animals. Vol.1. 4th ed. , San
Diego Academic Press, 1993, 780p.
YARON, A. - Characterization of Aloe vera gel before and after autodegration, and
stabilization of the natural fresh gel. Phyt. Res. 7: p.11-13, 1993.
Você também pode gostar
- Relatório Da Aula II - Laboratorio de Quimica OrganicaDocumento8 páginasRelatório Da Aula II - Laboratorio de Quimica OrganicaGessica RafaellyAinda não há avaliações
- Tearapia Assistida Por Animais PDFDocumento40 páginasTearapia Assistida Por Animais PDFDaniel KazahayaAinda não há avaliações
- Dermatologia de Pequenos AnimaisDocumento55 páginasDermatologia de Pequenos AnimaistahlokoAinda não há avaliações
- Manual de Patologia Clinica VeterinariaDocumento117 páginasManual de Patologia Clinica VeterinariaAnna Paula Lanza67% (3)
- Prazer e sofrimento no trabalho do enfermeiro hospitalarNo EverandPrazer e sofrimento no trabalho do enfermeiro hospitalarAinda não há avaliações
- Medicação Pré-Anestésica - VeterináriaDocumento11 páginasMedicação Pré-Anestésica - Veterináriaaltairfin9783Ainda não há avaliações
- Flavia Ferreira de MenezesDocumento82 páginasFlavia Ferreira de MenezesSelma PedrosaAinda não há avaliações
- Jane Prado Leite MoreiraDocumento62 páginasJane Prado Leite MoreiraAna CarolineAinda não há avaliações
- Stephanie Elise Muniz Tavares BrancoDocumento62 páginasStephanie Elise Muniz Tavares BrancoNina Mayra EsteticistaAinda não há avaliações
- Disserta o Juliana Formatada FinalDocumento56 páginasDisserta o Juliana Formatada FinalMarina GodinhoAinda não há avaliações
- Artigo 2 - Técnicas de Ovariosalpingohisterectomia em CadelasDocumento45 páginasArtigo 2 - Técnicas de Ovariosalpingohisterectomia em CadelasCamila GuedesAinda não há avaliações
- MLSM06072022 MV359Documento35 páginasMLSM06072022 MV359João Gustavo Porto TorresAinda não há avaliações
- Itv PDFDocumento123 páginasItv PDFRooney NascimentoAinda não há avaliações
- CAROLINA2009Documento80 páginasCAROLINA2009Romário LuizAinda não há avaliações
- Santos Ifc Me BotDocumento180 páginasSantos Ifc Me BotEdson FerreiraAinda não há avaliações
- 3 Doenças Brônquicas em FelinosDocumento64 páginas3 Doenças Brônquicas em FelinosEliana Lucia FiorentinAinda não há avaliações
- Acompanhamento Ultrassonográfico Pré Natal em Cadelas Da Raça SpitzDocumento23 páginasAcompanhamento Ultrassonográfico Pré Natal em Cadelas Da Raça SpitzMayara FonteneleAinda não há avaliações
- Fatores Indutores E Supressores Da Eritropoiese em Caninos Doentes Renais CrônicosDocumento64 páginasFatores Indutores E Supressores Da Eritropoiese em Caninos Doentes Renais CrônicosVanessa TeixeiraAinda não há avaliações
- Luciana NinniDocumento193 páginasLuciana NinniGuilherme Duenhas MachadoAinda não há avaliações
- Andreia PagnussattDocumento66 páginasAndreia PagnussattAngela LeitzkeAinda não há avaliações
- Relato de Caso Felino Obstrução UretralDocumento42 páginasRelato de Caso Felino Obstrução UretralAna LeticiaAinda não há avaliações
- Analise Hematológica e Bioquímica em Cágados Pescoço-De-Cobra Mantidos em Cativeiro PDFDocumento69 páginasAnalise Hematológica e Bioquímica em Cágados Pescoço-De-Cobra Mantidos em Cativeiro PDFDaniara CristinaAinda não há avaliações
- SarcomasDocumento159 páginasSarcomasCamila AlvimAinda não há avaliações
- Mariana Colombini Zaniboni Versao CorrigidaDocumento77 páginasMariana Colombini Zaniboni Versao CorrigidaPriscila CordeiroAinda não há avaliações
- Epidemiologia Da Obesidade Canina - Fatores de Risco e ComplicaçõesDocumento92 páginasEpidemiologia Da Obesidade Canina - Fatores de Risco e ComplicaçõesvetdomeupetAinda não há avaliações
- Avaliacao de Tecnicas Cirargicas para Cistostomia em Ovinos Com ObstrDocumento75 páginasAvaliacao de Tecnicas Cirargicas para Cistostomia em Ovinos Com ObstrMarcos PauloAinda não há avaliações
- Camila Candello Notaro Luxacao de Patela em CaesDocumento71 páginasCamila Candello Notaro Luxacao de Patela em CaesdavilasamaraAinda não há avaliações
- Dissertação - Leonardo - Dimas - Do - Carmo - VieiraDocumento50 páginasDissertação - Leonardo - Dimas - Do - Carmo - VieiraleodimaszootecAinda não há avaliações
- AnquiloseDocumento74 páginasAnquiloseWenia AlvesAinda não há avaliações
- PelvimetriaDocumento60 páginasPelvimetriaHernany BezerraAinda não há avaliações
- Castração de CavalosDocumento76 páginasCastração de CavalossandraufrrAinda não há avaliações
- Doença Do Disco Intervertebral ToracolombarDocumento60 páginasDoença Do Disco Intervertebral ToracolombarLívia Antenor SilveiraAinda não há avaliações
- Clínica de Animais Exóticos.: Daniela Maria Da Silva Clemente Orientação: Prof. Ludovina Neto Padre Dr. Joel Tsou FerrazDocumento121 páginasClínica de Animais Exóticos.: Daniela Maria Da Silva Clemente Orientação: Prof. Ludovina Neto Padre Dr. Joel Tsou FerrazAmanda NeuhausAinda não há avaliações
- Alessandra Mara Locatelli de Aguiar - Concentração Osmótica para Obtenção de Banana PassaDocumento122 páginasAlessandra Mara Locatelli de Aguiar - Concentração Osmótica para Obtenção de Banana PassaWallace LuanAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Faculdade de Veterinária Trabalho de ConclusãoDocumento45 páginasUniversidade Federal Do Rio Grande Do Sul Faculdade de Veterinária Trabalho de ConclusãoTâmires MoraisAinda não há avaliações
- Cães E Gatos: Expressão Das Lesões em Intoxicações CriminaisDocumento71 páginasCães E Gatos: Expressão Das Lesões em Intoxicações CriminaisKalena BarrosAinda não há avaliações
- TCC - Amanda Lopes RibeiroDocumento38 páginasTCC - Amanda Lopes RibeiroAmanda Lopes RibeiroAinda não há avaliações
- Influência Da Ambiência Sobre O Desempenho Zootécnico de Frangos de CorteDocumento62 páginasInfluência Da Ambiência Sobre O Desempenho Zootécnico de Frangos de CorteLaiza LeãoAinda não há avaliações
- CP 100677Documento99 páginasCP 100677ORBE audioemisoraAinda não há avaliações
- Babesiose e Erliquiose - Monica Ramos Figueiredo PDFDocumento39 páginasBabesiose e Erliquiose - Monica Ramos Figueiredo PDFCHIPDOGAinda não há avaliações
- Bitstream 1843352321 Esporotricose 20 Felina 20 Distribuição 20 Das 20 Lesões 20 e 20 Caracterização 20 ADocumento53 páginasBitstream 1843352321 Esporotricose 20 Felina 20 Distribuição 20 Das 20 Lesões 20 e 20 Caracterização 20 AAngélica PonteAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Faculdade de Veterinária Curso de Especialização em Clínica Médica de FelinosDocumento27 páginasUniversidade Federal Do Rio Grande Do Sul Faculdade de Veterinária Curso de Especialização em Clínica Médica de FelinosPhoebe GuimarãesAinda não há avaliações
- Disserta o E. S. Paladino2012Documento51 páginasDisserta o E. S. Paladino2012Vantoir FerasoAinda não há avaliações
- Estudo Eletromiográfico - Estudo Da Força Muscular Medida Atravas de Impulsos ElétricosDocumento105 páginasEstudo Eletromiográfico - Estudo Da Força Muscular Medida Atravas de Impulsos ElétricosDra Keiry ToniniAinda não há avaliações
- Otite Média e Interna RC Com Numeração FinalDocumento40 páginasOtite Média e Interna RC Com Numeração Finalbomberman42Ainda não há avaliações
- Exercício, Lactato E Cárie Dentária: Andreia Sofia de Paiva FigueiredoDocumento151 páginasExercício, Lactato E Cárie Dentária: Andreia Sofia de Paiva FigueiredoRaquel NunesAinda não há avaliações
- Modelo de Relatório CLINICA PEQUENOSDocumento15 páginasModelo de Relatório CLINICA PEQUENOSEllen GalvãoAinda não há avaliações
- Obtencao de Biomassa de Arthrospira Platenis Spirulina Utilizando SorDocumento85 páginasObtencao de Biomassa de Arthrospira Platenis Spirulina Utilizando SorlekobhAinda não há avaliações
- Coletânea de Temas da Clínica de Pequenos AnimaisNo EverandColetânea de Temas da Clínica de Pequenos AnimaisNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (2)
- Prevenção e Tratamento de Lesões em Ambiente Hospitalar:: Abordagem Fisioterapêutica e Multiprofissional; um Enfoque no Retorno das FunçõesNo EverandPrevenção e Tratamento de Lesões em Ambiente Hospitalar:: Abordagem Fisioterapêutica e Multiprofissional; um Enfoque no Retorno das FunçõesAinda não há avaliações
- Dentes inclusos: fundamentos, cirurgia e cuidados odontológicosNo EverandDentes inclusos: fundamentos, cirurgia e cuidados odontológicosAinda não há avaliações
- Direitos Animais E Veganismo: Consciência Com EsperançaNo EverandDireitos Animais E Veganismo: Consciência Com EsperançaAinda não há avaliações
- Anatomia Sistêmica e Integradora: Com Metodologias Ativas de Ensino-AprendizagemNo EverandAnatomia Sistêmica e Integradora: Com Metodologias Ativas de Ensino-AprendizagemAinda não há avaliações
- Wagner Wei Moreira - Corporeidade e LazerDocumento6 páginasWagner Wei Moreira - Corporeidade e Lazeraltairfin9783Ainda não há avaliações
- Modelos de Planejamento Agrícola PDFDocumento99 páginasModelos de Planejamento Agrícola PDFaltairfin978375% (4)
- Manual de Primeiros Socorros (Infantil)Documento4 páginasManual de Primeiros Socorros (Infantil)altairfin9783Ainda não há avaliações
- Prova 1 Ufrj 2006Documento16 páginasProva 1 Ufrj 2006Erich Seco SilvaAinda não há avaliações
- PRATICA I Óleos INDICE DE REFRAÇÃODocumento4 páginasPRATICA I Óleos INDICE DE REFRAÇÃOeuthaiscampos.alimentosAinda não há avaliações
- Cálculo de MedicamentosDocumento28 páginasCálculo de MedicamentosprofessorrivaAinda não há avaliações
- Polia 3vDocumento12 páginasPolia 3vJennifer JenkinsAinda não há avaliações
- EXERCÍCIO MANTEIGA - Tecnologia Do LeiteDocumento3 páginasEXERCÍCIO MANTEIGA - Tecnologia Do LeiteHelô AmorimAinda não há avaliações
- Manual Do FogãoDocumento2 páginasManual Do FogãophcesarAinda não há avaliações
- 8 - Cimentos II - Óxido de Zinco e Eugenol 2017iDocumento3 páginas8 - Cimentos II - Óxido de Zinco e Eugenol 2017iJozely CruzAinda não há avaliações
- Microsoft Word - Capítulo 8 - Química AmbientalDocumento20 páginasMicrosoft Word - Capítulo 8 - Química AmbientalLeonardo MONTEIROAinda não há avaliações
- Remédio Caseiro para Diminuir o Ácido Úrico Que Causa GotaDocumento1 páginaRemédio Caseiro para Diminuir o Ácido Úrico Que Causa GotaLuis Alfredo G. Caldas NetoAinda não há avaliações
- Manual Hi 8424Documento14 páginasManual Hi 8424Jarlisson MartinsAinda não há avaliações
- Lactato de Etilo PDFDocumento123 páginasLactato de Etilo PDFKaren Dayanna Ramos100% (1)
- 2015 Lista de Publicacao Da ABNTDocumento3 páginas2015 Lista de Publicacao Da ABNTJackson JuniorAinda não há avaliações
- 2a Lista de Exercícios - Setembro 2018Documento8 páginas2a Lista de Exercícios - Setembro 2018Johann QuantzAinda não há avaliações
- Cat. Vertimax 2014Documento177 páginasCat. Vertimax 2014Diego RincónAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho - Composição de SoluçõesDocumento5 páginasFicha de Trabalho - Composição de Soluçõessusana vieira0% (1)
- Digital - Tabela de Interação Medicamentosa - 10-11-2021Documento3 páginasDigital - Tabela de Interação Medicamentosa - 10-11-2021Alisson VelosoAinda não há avaliações
- Catalogo Velas de Ignicao 2008 2009Documento60 páginasCatalogo Velas de Ignicao 2008 2009Robson BarbosaAinda não há avaliações
- Ensaio Dilatométrico (DMT)Documento3 páginasEnsaio Dilatométrico (DMT)Janúario Albino MatiqueAinda não há avaliações
- Síntese de Acetato de Isoamila (3-Metil-1-Butila)Documento11 páginasSíntese de Acetato de Isoamila (3-Metil-1-Butila)Henrique Fernandes75% (4)
- ANESTESIOLOGIADocumento16 páginasANESTESIOLOGIAMarcela100% (4)
- BioGeo11 AE D7 18 Crescimento Renovacao Diferenciacao CelularDocumento34 páginasBioGeo11 AE D7 18 Crescimento Renovacao Diferenciacao Celularqqqqwwwweeeerrrrtttt100% (1)
- 2012 - TMedicina - Quimica - Borges - Exercícios de Solubilidade - SiteDocumento12 páginas2012 - TMedicina - Quimica - Borges - Exercícios de Solubilidade - SiteDhieniffer FerreiraAinda não há avaliações
- Campo A Partir Do Potencial - Relatório Física ExperimentalDocumento8 páginasCampo A Partir Do Potencial - Relatório Física ExperimentalVictor SoteroAinda não há avaliações
- Aço Ao Boro EndurecívelDocumento8 páginasAço Ao Boro EndurecívelAugusto GoulartAinda não há avaliações
- Análise GRAVIMÉTRICADocumento11 páginasAnálise GRAVIMÉTRICABibiana RochaAinda não há avaliações
- Materiais BetuminososDocumento41 páginasMateriais BetuminososCrisvanilson100% (1)
- FH (1) - Dinâmica Capilar. LisiDocumento17 páginasFH (1) - Dinâmica Capilar. LisiLisiane FontouraAinda não há avaliações
- Ferros Fundidos e Seus Tratamentos TérmicosDocumento49 páginasFerros Fundidos e Seus Tratamentos TérmicosgestaodefrotagennesisAinda não há avaliações
- Apostila Ilustrada Como Plantar A Pimenta Do Reino v1.0Documento18 páginasApostila Ilustrada Como Plantar A Pimenta Do Reino v1.0rogfranbhAinda não há avaliações