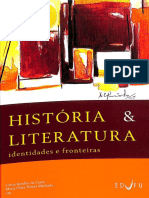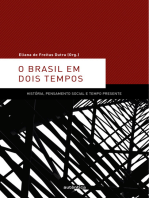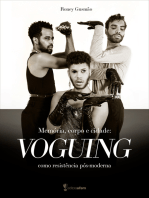Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ABREU, R. (LIMA, A.C.S.) A Consagração Do Imortal
ABREU, R. (LIMA, A.C.S.) A Consagração Do Imortal
Enviado por
Goshai DaianTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ABREU, R. (LIMA, A.C.S.) A Consagração Do Imortal
ABREU, R. (LIMA, A.C.S.) A Consagração Do Imortal
Enviado por
Goshai DaianDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MANA 3(2):221-248, 1997
RESENHAS
ABREU, Regina. 1996. A Fabricao do
Imortal: Memria, Histria e Estratgias de Consagrao no Brasil. Rio de
Janeiro: Rocco. 225 pp.
Antonio Carlos de Souza Lima
Prof. de Antropologia, PPGAS-MN-UFRJ
Os estudos antropolgicos feitos a partir da anlise de objetos, a outrora chamada cultura material, vm sendo recuperados sob novas nfases nos quadros internacionais da disciplina. Relacionada a essa retomada est a percepo acurada do significado das instituies que se constituram como destinadas guarda, tratamento e exposio de
objetos, os museus. Tal conscincia, articulada muitas vezes a problemas como os de formao de comunidades polticas nacionais, de memrias coletivas,
da constituio de segmentos sociais
determinados, ou ao estudo da histria
da antropologia, ainda incipiente no
Brasil.
O belo livro de Regina Abreu um
exemplo notvel das possibilidades e
relevncia de estudos que tenham como ponto de partida materiais depositados em acervos museolgicos na qualidade de colees. Gerado a partir de
uma dissertao de mestrado em antropologia social (Sangue, Nobreza e Poltica no Templo dos Imortais: Um Estudo Antropolgico da Coleo Miguel
Calmon no Museu Histrico Nacional,
PPGAS/Museu Nacional, 1990), e tendo se beneficiado da reviso feita a partir de um estgio no Centre de Sociologie de lducation et de la Culture da
cole des Hautes tudes en Sciences
Sociales (1994-95), o trabalho profusamente ilustrado, tanto por fotografias
integrantes do material estudado elas
mesmas documentos abordados no livro , quanto por fotos dos objetos investigados, o que contribui sobremodo
para introduzir o leitor em dimenses
visuais pouco demonstrveis de modo
escrito. A autora hoje pesquisadora
da Coordenao de Folclore e Cultura
Popular/Funarte tem tambm a seu
favor ter pertencido aos quadros do
MHN. Tal experincia indica as possibilidades analticas que instituies dessa
natureza s vezes verdadeiros metamuseus oferecem queles que sabem transformar seu cotidiano e sua familiaridade em matria para (auto-)reflexo, despindo-se de pr-conceitos,
da adeso fcil a uma realidade primeira e a estudos mais corriqueiros.
Em suas 225 pginas, A Fabricao
do Imortal parte da valiosa coleo
Miguel Calmon du Pin e Almeida,
doada por sua viva, Alice da Porcincula Calmon du Pin e Almeida, ao Museu Histrico Nacional, em 1936. A ddiva teria intermedirios: Pedro Calmon afilhado e sobrinho de Miguel
Calmon, poltico baiano, por duas vezes
ministro de Estado , conservador do
Museu, regente da disciplina Histria
222
RESENHAS
da Civilizao Brasileira na Universidade do Distrito Federal e quadro prestigioso do Instituto Histrico e Geogrfico Brasileiro; e Gustavo Barroso, idealizador e diretor do Museu Histrico Nacional, escritor prolixo, ambos engajados em produzir uma histria nacional de acordo com as representaes
de segmentos muito especficos das elites brasileiras da chamada Primeira Repblica: aqueles que constituam e se
representavam como a nobreza brasileira, e em continuidade a essa.
Aps uma contextualizao do universo social mais amplo em que Miguel
Calmon falecera, dos eventos que consubstanciaram a doao por sua viva e
das relaes sociais que sustentaram tal
ato, Abreu apresenta de modo objetivo
as perguntas que se prope: Quem
essa senhora? Quem o marido dessa
senhora? Para que museu os objetos so
doados? Como se caracteriza esse museu? Qual sua filosofia? Quem o dirige?
Para que e para quem ele funciona?
Quais os objetos escolhidos para serem
doados? Como se processou essa escolha? Como esses objetos so incorporados pelo museu? Que lugar eles ocupam
na hierarquia institucional? Quais os
significados que eles encerram? (:28).
Para respond-las a autora lana
mo de instrumentos da antropologia
social, da sociologia e da histria numa
minuciosa indagao sobre os modos
pelos quais se cria um novo sagrado nacional j sob os cus do regime republicano das primeiras dcadas do sculo; sobre como essa nobreza brasileira, frao (dominada) das elites polticas da poca, imortaliza-se enquanto
portadora de uma tradio secular e, na
pessoa de Miguel Calmon, simultaneamente, apresenta-se como um segmento modernizante, capaz de integrar a
nova ordem poltica. Modelo de servidor pblico, um engenheiro dotado
dos conhecimentos cientficos necessrios para arrancar o Brasil da situao
de atraso em que o legado colonial e
escravista o colocara em face do concerto das naes, a figura do fiel correligionrio de Rui Barbosa (a quem chamava de chefe), ministro da Viao e
Obras Pblicas e, posteriormente, da
Agricultura, Indstria e Comrcio, sobrinho homnimo do Marqus de Abrantes
o estadista de dois reinados , Miguel Calmon surge da anlise enquanto exemplar para se entender o trabalho social de reconverso de uma herana nobre (estreitamente ligada ao
exerccio do poder sob o regime imperial, legado capaz de distinguir, readequando) s novas posies de poder
que se configuram nas primeiras dcadas da Repblica.
Sob o signo de um genrico discurso evolucionista, em que as idias de
progresso e cientificismo positivista imperavam, tradio e modernidade, espaos pblicos e privados parecem definir-se e recombinar em uma sntese
histrica especfica. Elabora-se um novo papel do homem pblico: dotado
de uma formao universitria (sobretudo por deter, via de regra, uma posio hierarquicamente superior na sociedade), dever atuar enquanto lder
de um povo a ser formado, de uma nao a ser planificada e estruturada. Entrev-se, aqui e ali, o jogo das relaes
entre classes e fraes de classe que
formaram o Estado federativo republicano no Brasil. Tal anlise feita luz
do resgate das informaes sobre os objetos integrantes da coleo (o que, e
como, Alice da Porcincula decidiu expor para representar a trajetria social
de seu marido), e de sua descrio na
qualidade de semiforos, segundo o
conceito de K. Pomian. Seu valor simblico destacado, dentre outros fins,
para enfatizar o aspecto de permuta,
RESENHAS
troca equilibrada (numa feliz utilizao
de textos de Mauss e Malinowski), entre Alice da Porcincula e o Museu: tal
doao extraordinria, que aponta para
a inteno de imortalizar o indivduo
pela via da memria coletiva, dentre
outras contraddivas, foi aquinhoada
com uma sala especial para sua exposio permanente em meio a outros emblemas da histria nacional, com o
direito consagrado no ato da doao a
uma curadoria especial a ser exercida
pela viva e seu mordomo, estendendose prerrogativas de ordem privada a um
espao supostamente pblico.
Os doze primeiros captulos do livro
desentranham, pouco a pouco, dos variados objetos componentes desse sistema que a coleo (mveis, jias,
roupas, esculturas, canetas, diplomas,
fotografias, biografias e outros livros,
dentre tantos), pela via do estudo de
sua origem e trajetria, dos significados
que os impregnam e constituem no s
a fabricao do imortal Miguel Calmon, mas a vida social das elites polticas, seus valores, seus espaos de sociabilidade, as redes sociais que se entrecruzam na formao do Estado poca,
suas relaes com os pases europeus e,
de modo mais abrangente, um projeto
implcito de uma civilizao brasileira. So aspectos de grande importncia para o conhecimento do perodo e
das (pouco estudadas) elites brasileiras.
Nos cinco captulos finais Abreu
volta-se para o espao escolhido para
depsito e exposio desses semiforos
e seus sentidos, em ltima instncia para os planos de uma histria nacional
como perseguidos pelos segmentos sociais abordados, concluindo por ver as
alteraes s finalidades e sistemtica
de exposio do Museu Histrico Nacional. Nessa parte, Gustavo Barroso assoma como figura principal da descrio
da autora. Reportando-se o leitor his-
tria dos livros didticos, mesmo os
mais atualizados, possvel notar como os processos que Regina Abreu descreve nesse segmento do livro esto
presentes e atuantes num imaginrio
nacional de ampla divulgao (e reproduo) at hoje.
Em sua dimenso textual artefato
literrio , A Fabricao do Imortal beira agradavelmente o romanesco, com
um estilo claro e estimulante, conduzindo-nos (como numa investigao arqueolgica), camada aps camada atravs do(s) mundo(s) social(is) que perscruta, sem perder o rigor sociolgico e
as referncias de contexto histrico. Como mandam as regras da boa antropologia, c est uma etnografia densa, cujo poder de descrio permite vislumbrar mltiplos desdobramentos em outras pesquisas e supera os inevitveis limites da escolha de instrumentais analticos.
Sobretudo, sente-se a o potencial
que a pesquisa antropolgica, aplicada
em perspectiva histrica, tem no desvendar de processos sociais de longa
durao ainda em curso. Afinal, os
imortais mudam, mas continuam a ser
fabricados e desfabricados, estratgias de consagrao se redefinem,
mas entram em jogo no cotidiano dos
espetculos estatais, e as margens de
aplicao de instrumentos socioantropolgicos cunhados para o tratamento
de outras realidades histrico-sociais a
temas e problemas em solo brasileiro
devem ser preocupao permanenente
do pesquisador em cincias sociais.
Tambm nesses aspectos o livro de Regina Abreu uma bem-vinda e importante contribuio.
223
224
RESENHAS
ARCHETTI, Eduardo (ed.). 1994. Exploring the Written. Anthropology and
the Multiplicity of Writing. Oslo: Scandinavian University Press. 342 pp.
Gustavo Blzquez
Mestrando, PPGAS-MN-UFRJ
Os anos 80 trouxeram ao campo da antropologia uma discusso sobre o texto
etnogrfico enquanto produo escrita
que procura narrar a vida de uma sociedade conceituada como outra; suas diferenas e semelhanas com outros gneros literrios; as relaes entre o trabalho de campo e o trabalho de textualizao; as estratgias para a construo das etnografias utilizadas pelos pais
(e mes) fundadores. Essa concepo
da etnografia como textualizao do
mundo foi resumida por Clifford Geertz
ao definir a ao de escrever como a atividade que caracteriza o etngrafo, como atividade fundante da antropologia.
No se pode refletir sobre Exploring
the Written sem levar em conta essas
preocupaes; mas, ao mesmo tempo,
este livro no pode ser lido apenas no
contexto das discusses dessa chamada
antropologia ps-moderna. Elaborado a partir de um seminrio sobre a
multiplicidade do papel da escrita nas
anlises antropolgicas, realizado em
outubro de 1991 na Universidade de
Oslo, o livro editado por Eduardo Archetti rene um conjunto de reflexes
sobre textos escritos por autores que a
comunidade antropolgica situaria fora
de seu crculo.
Na Introduo, Archetti procura explicitamente localizar o trabalho em um
novo espao situado alm das discusses sobre a etnografia como texto. Espao intermedirio que no pode ser reduzido nem ao da crtica literria, interessada nos textos em si, nem sociolo-
gia ou antropologia da literatura, preocupadas com os textos e seus autores
como produtos sociais. Espao que no
se pensa como fechado, mas sim como
um campo de explorao de textos escritos, procurando localizar os espaos
sociais atravs dos quais os produtos escritos de uma sociedade particular ganham sentido em termos antropolgicos (:26). Desse modo, no Eplogo, Signe Howell procura ampliar o enunciado
geertziano, mostrando como os antroplogos no s escrevem e fazem trabalho de campo, como lem etnografias e
outros textos antropolgicos. Incluir a
ao de ler permite autora refletir sobre os efeitos dessa leitura nas atividades de campo e da escrita, bem como
sobre algumas das condies de possibilidade dessa leitura.
Um excelente exemplo dessa posio trans-ps-moderna apresentado em The Author as Anthropologist.
Neste texto, em que recolhe a herana
do antroplogo como autor, Thomas
Hylland Eriksen procura mostrar a importncia da literatura ficcional que
uma sociedade produz para seu estudo
etnogrfico, assim como apontar diferentes possibilidades de trabalho com
esses textos. Assim, Eriksen a partir
da anlise de trs obras literrias de autores de Trinidad e Tobago prope tratar as obras de fico como fontes etnogrficas equiparveis a qualquer outro
depoimento nativo, ou seja, como documentos, mas tambm como antropologia terica, reflexo crtica sobre o social distinta daquela produzida pelos
antroplogos. Infelizmente, essa preocupao em distinguir gneros no
desenvolvida no momento de pensar os
romances como fontes, o que teria permitido a complexificao da anlise, levando a considerar as conseqncias
dessas diferenas nos modos de produo de um romance e de outros tipos de
RESENHAS
informao para a prpria produo etnogrfica.
A partir da anlise de um romance
do escritor samoano Albert Wente, Injerd Hon discute igualmente as distintas formas de se compreender a autonomia do texto e a importncia de levar
em considerao as diferenas entre os
gneros no momento de desenvolver a
leitura antropolgica de um texto ficcional. A autora sustenta que a autonomia
do texto jamais absoluta e que fundamental entender como se constitui
essa autonomia relativa preocupao
que a conduz a reivindicar uma sociologia dos produtores que permitiria alcanar uma maior compreenso tanto
da comunidade interpretativa a que o
livro se dirige quanto do papel potencial da obra para essa comunidade interpretativa (:200).
Essa preocupao com a autonomia
do texto tambm um dos temas centrais do trabalho de Marit Melhuus, que
elabora uma anlise de quatro diferentes apropriaes encontradas em leituras antropolgicas da cultura mexicana de El Laberinto de la Soledad e de
outras obras de Octavio Paz. Do ponto
de vista de Melhuus, a discusso das
apropriaes legtimas de uma pea literria deve girar em torno da oposio
entre texto e contexto: El Laberinto,
ou qualquer outra obra de fico, pode
ser considerado como parte do contexto
a partir do qual se fundamenta uma certa leitura da cultura, ou pode ser considerado como um texto cuja leitura se
fundamenta no conhecimento da cultura que o produziu. E, ainda que esses
dois modos de funcionamento da obra
literria no possam ser tratados como
opostos, pois so mutuamente constitudos, o fato que no podem operar simultaneamente, ao menos no analiticamente, ainda que o faam na prtica
(:92). a partir dessas consideraes
que a autora encara o grande problema
dos diferentes estatutos dos textos escritos em geral (considerados ou no
pelos produtores e consumidores como
literatura) e aqueles produzidos pelo
antroplogo a partir da interao face a
face no trabalho de campo. Ainda que
esses dois conjuntos de textos sejam tomados como dados, no devemos deixar de reconhecer que suas condies
de produo (entre as quais devem ser
includas as condies de leitura) so
diferentes.
O vnculo entre literatura e etnografia abordado de um ngulo distinto
em outros artigos do livro. Assim, Alan
Barnard explora algumas das relaes
entre a science fiction de finais do sculo XIX e princpios do sculo XX e trabalhos etnogrficos produzidos na mesma poca. Relaes que o autor analisa
a partir de trs temas que esto presentes nessas duas formas de discurso: as
raas perdidas, as guerras do futuro e
os primeiros homens. Desse modo, Barnard pretende mostrar como a iluso
primitiva presente tanto em Tarzan of
the Apes como nas etnografias reciclada retornando a ns atravs das fices que agora lemos [] e inclusive
nas fices que quando crianas lamos
to inocentemente (:252).
Michael E. Meeker, por sua vez, trata da relao entre meios de comunicao, nacionalismo e islamizao na Turquia. O autor distingue uma cultura turca associada s populaes rurais, na
qual predominaria uma linguagem local e oral de caractersticas islmicas,
e uma que, nas grandes cidades, seria
articulada por prticas sociais como a
escrita, prticas escolarizadas, laicas e
nacionalistas. Ele demonstra que, na
verdade, a partir dos anos 80 a linguagem rural foi apropriada por um grupo
de intelectuais formados na tradio urbana que procuram a reconstruo de
225
226
RESENHAS
uma sociedade islmica (:32). Analisando dois escritores pertencentes a esse novo grupo e outros produtos culturais como revistas e vdeos , o autor
mostra como esses bens so utilizados
tanto pelos migrantes rurais no momento de redefinir sua identidade no mundo urbano, quanto por esses novos intelectuais que procuram imaginar uma
Turquia islmica.
Igualmente interessada nos processos de construo de identidades, Marianne Gullestad analisa uma autobiografia escrita, a pedido da autora, por
um ancio noruegus. Ao refletir sobre
a chamada histria oral e descrever com
certa meticulosidade a metodologia que
norteou sua investigao, a autora assinala explicitamente que seu interesse
est centrado no que a ao de escrever produz no escritor (:160), ou seja,
nos processos de (re)construo do self
a partir de uma determinada forma de
narrao. Esses processos esto relacionados com aqueles outros atravs dos
quais se (re)constitui a sociedade onde
o sujeito ocupa um lugar; de tal modo
que os dilemas morais no texto de Oivind podem ser vistos como ilustrao
dos atuais dilemas do Estado de BemEstar Social escandinavo (:159).
O texto de Eduardo Archetti inscreve-se, igualmente, nessa preocupao
com a construo de identidades, ao focalizar os contrastantes modelos de
masculinidade transmitidos pela potica do tango argentino em seu perodo
clssico (:98), modelos que comeam a
se formar na Buenos Aires cosmopolita
de princpios do sculo. O perodo analisado abarca as trs primeiras dcadas
do sculo XX, durante as quais se produz a globalizao do tango, processo
que serviu para inventar uma tradio,
um espelho onde os argentinos podem
se ver a si mesmos precisamente porque os outros comearam a v-los
(:101). A partir da anlise dos vrios temas presentes nos tangos (o amor impossvel, a femme fatale, a milonguita,
o amor da me, a honra e sua defesa), o
autor mostra como se constroem diferentes identidades masculinas que permitem entender a complexidade das
relaes entre homens e mulheres em
contextos em que esto sendo desenvolvidas novas formas de conceituar o
amor (:117). Essas demonstraes, no
entanto, perdem algo de sua fora na
medida em que a performance dos textos especialmente, no caso do tango, a
prpria dana, que poderia ser entendida como outra forma de apropriao
dos textos excluda da anlise. Esse
tema s aparecer no artigo de Solrun
Willinksen-Bakker acerca da interface
oralidade/escrita, analisada a partir da
produo teatral no contexto multitnico de Fiji.
A relao entre oralidade e escrita
tambm discutida e problematizada nos
trabalhos de Sarah Lund Skar e Joanne
Rappaport. A primeira mostra o valor
mgico que adquirem as cartas trocadas entre um grupo de camponeses peruanos e seus parentes que residem fora da comunidade. Nesse intercmbio
epistolar, o documento escrito serve de
elemento que confirma a unio entre os
grupos, e a informao localizada apenas na palavra daquele que leva a carta. Essa apropriao especfica da escrita feita por falantes do quechua permite refletir sobre a necessidade de analisar os diferentes processos e estruturas
sociais que do sentido s relaes dinmicas entre o escrito e o falado.
O artigo de Rappaport, por sua vez,
volta-se para a manipulao das palavras escritas por povos colonizados
(:207). Seu trabalho mostra distintos movimentos de apropriao realizados por
camponeses colombianos: a partir de
documentos escritos se constroem mi-
RESENHAS
tos, a partir da tradio oral se constroem documentos legais escritos. Explorando uma multiplicidade de gneros, a autora busca revelar a criatividade de um povo oprimido que mistura
meios de expresso oral e escrita em
sua apropriao das convenes literrias da sociedade dominante (:293) o
que abre interessantes possibilidades
de trabalhos comparativos.
Em suma, Exploring the Written oferece-nos um amplo espectro de pesquisas que problematizam, a partir de lugares distintos, a relao entre textos
antropolgicos e no antropolgicos.
Pesquisas que operam a partir da explorao de uma multiplicidade de escritos que obrigam o leitor a fazer um
percurso ao fim do qual se encontrar
entre El Laberinto de la Soledad e a literatura de Fiji, Samoa ou da terra do
calipso; entre tangos portenhos e Tarzan of the Apes; entre uma autobiografia norueguesa e as cartas de camponeses quechua escritas por escribas locais
em espanhol.
FLEURANT, Grdes. 1996. Dancing Spirits Rhythms and Rituals of the Haitian Vodun, the Rada Rite. Westport,
Connecticut: Greenwood Press. 209
pp.
Ana Paula Ratto de Lima
Mestranda, PPGAS-MN-UFRJ
Assim como no Candombl no Brasil e
na Santera em Cuba, a msica e a dana so elementos fundamentais do Vodu haitiano, canais privilegiados de comunicao entre os Lwa (seres espirituais) e os humanos. atravs de sua
prtica que se induz um dos momentos
mais importantes dos ritos do Vodu, a
possesso. Alm disso, por serem consi-
derados genuinamente africanos, os ritmos que induzem ou aplacam essa possesso ou seja, que a controlam tm
potencial necessrio para atuar como
veculos de comunicao dos fiis do
Vodu com os Lwa, j que ambos so
tambm oriundos da frica.
O livro de Fleurant, escrito a partir
de uma pesquisa de campo em Bpo,
no Haiti, aborda a prtica musical em
seus aspectos formais e performticos,
procurando integr-la no contexto mais
geral da cerimnia Rada, que um dos
principais rituais do complexo religioso
conhecido no Haiti como Vodu (:2).
Para tanto, o autor (ele mesmo um iniciado no Vodu) centra sua anlise na
msica instrumental, no papel dos msicos e instrumentos, e na msica vocal
neste caso, a partir das melodias e textos de canes, por um lado, e das relaes destas com cada Lwa cultuado na
cerimnia, por outro.
A cerimnia Rada, que pode durar
desde algumas horas at dias ou meses,
realizada por diferentes motivos; os
principais so: kanzo/boulezen (respectivamente, ordenao de fogo e queima
de potes de cermica, momentos cruciais no rito de iniciao), pwoms (promessa, engajamento solene, preldio
para um servio mais elaborado), maryaj (casamento mstico, quando algum
se casa com um Lwa do sexo oposto), ou
uma ao de graas. Quaisquer que sejam as circunstncias, entretanto, a estrutura do rito parece ser a mesma, comeando com priy dy, em que Deus
(ou Bondye) inicialmente invocado,
para depois ser sucedido por todos os
santos catlicos e pelos Lwa, primeiro
os masculinos, depois os femininos. A
ordem de invocao dos Lwa pode ser
alterada em funo da execuo de prticas homenagem, saudao ou pedido especfico dirigidas a algum Lwa
em particular.
227
228
RESENHAS
H, na verdade, uma espcie de
combinao das diversas fases do rito,
que vo sendo executadas mais ou menos segundo as contingncias (obviamente com algumas limitaes). Essa
possibilidade de rearrumao verificada no culto est presente tambm na
estrutura musical, ou seja, nas formas
de improviso dos ritmos e melodias, a
fim de que no percam suas caractersticas mais gerais.
Existem, na cerimnia Rada, oito tipos de ritmos musicais: yanvalou, twarigl, mayi, zpol, kongo rada, dyouba/matinik, nago, mazoun. Estes ritmos
so executados por instrumentos de
percusso, cantores e danarinos, associados de diferentes maneiras de acordo com o Lwa a quem se dirigem (:32).
No entanto, os ritmos mais freqentes
so yanvalou, mayi e zpol. O primeiro
significa literalmente venha para mim
e , ao mesmo tempo, uma invocao e
uma msica/dana de splica, primeira
a ser executada em todas as cerimnias
Rada, e cada vez que um Lwa invocado. A dana consiste no movimento alternado do abaixar e levantar os joelhos
dobrados, e atravs da performance
dessa msica/dana que os fiis estabelecem contato com os ancestrais em Lafrik Ginen atravs da possesso. O Lwa
deve responder aos apelos insistentes
dos tambores, da dana e da msica, e
montar um dos membros do grupo.
Mayi e zpol (tambm conhecido como
dana dos ombros) so complementos rituais do yanvalou, cuja funo primordial mandar embora um Lwa de
forma positiva e feliz. Aqui, Fleurant
observa que, uma vez que estas so
danas de andamento mais rpido, executadas em p, seus movimentos funcionariam como mecanismos de alvio
de tenses.
Os conjuntos Rada possuem seis instrumentos musicais: ogan (sino), ason
(chocalho ritual), bas (grande tamborim,
raramente utilizado no Rada), boula (pequeno tambor), segon (mdio tambor) e
manman (grande tambor, conhecido
tambm na frica como tambor-me).
Os trs tambores so os instrumentos
mais utilizados e importantes na cerimnia; devem ser batizados, e sua feitura exige cuidados rituais especiais.
Segundo Rigaud, os poderes dos tambores devem ser reatualizados de tempos em tempos (apud:38), no bastando que sejam consagrados por ocasio
do ritual de batismo. Para tanto, devem
viajar simbolicamente para Ifa, na frica Ocidental, a fim de recuperarem seus
poderes.
Do ponto de vista do Vodu, os tambores possuem poderes cruciais para os
rituais; so eles que induzem a possesso, o elemento vital de toda cerimnia
Vodu, estabelecendo a comunicao entre os Lwa e os fiis. No casual que o
prprio termo Vodu signifique, ao mesmo tempo, tambor e esprito no idioma
dos Fon do Benin. o som dos tambores, regulado pelos tocadores, que induz, determina a freqncia e interrompe a possesso. Nesse sentido, fundamental que os msicos tenham controle
absoluto do que tocam. E embora todos
os msicos possuam uma certa margem
de improvisao, induzindo dilogos e
mudanas nos demais padres tocados
pelas outras partes, o ount quem controla, em geral, o fluxo rtmico executado pelos instrumentos, comandando direta ou indiretamente esses dilogos.
Ele o mestre dos instrumentistas e toca o tambor-me (manman), o mais grave e que requer mais virtuosismo. Para
se chegar a ount, deve-se passar antes
pela prtica de tocar boula e segon, pois
a habilidade exigida cresce na proporo dos tambores.
O ount forma com o oungenikon
(mestre do coro) e o oungan (lder ou
RESENHAS
pai espiritual) uma estreita unidade
msico-performtica (:47), sendo que
o ount no precisa ser um iniciado, ao
contrrio do oungenikon e, evidentemente, do oungan. No entanto, interessante notar que caso ele o seja, pode
eventualmente continuar tocando perfeitamente, mesmo sob o efeito de uma
possesso. Caso contrrio, ele utiliza os
ritmos necessrios para aplacar a possesso, j que a cerimnia no pode
prosseguir sem sua atividade.
Durante a cerimnia, os instrumentistas e cantores executam peas que se
relacionam com os Lwa ou com outros
elementos do ritual, como os vv (desenhos rituais dos Lwa), com objetos sagrados, como o ason, a bandeira, ou com
os membros do grupo cujo papel essencial para a execuo da cerimnia.
Cada uma das canes possui um texto
especfico, parte em langaj (linguagem africana antiga), parte em creole,
referente ao elemento sobre o qual se
voltam as atenes no momento cada
elemento possui vrias canes que
exaltam suas qualidades. atravs das
canes que as pessoas aprendem mais
sobre os Lwa. Quando um Lwa, por intermdio da pessoa por ele possuda,
prope uma nova cano, ele o faz mediante ritmos j conhecidos por todos,
propondo um novo arranjo de texto.
Os ritmos em geral seguem o padro bsico africano da contraposio
2:3, criando uma densa polirritmia, que
vai tecendo teias de ritmos entrelaados, altamente desencontrados, contrapontados. Essa polirritmia se articula a
partir de um outro princpio recorrente
na msica africana, que o de chamado/resposta. So os dilogos que se empreendem entre os tambores e entre os
cantores, bem como a mistura desses
dois nveis de dilogo, que do especificidade textura da msica do Vodu.
interessante notar que a execuo des-
se tipo de msica requer muita ateno
dos msicos, j que embora o princpio
rtmico bsico seja o mesmo (2:3), os instrumentos o executam em um tempo diferente do dos cantores, o que faz com
que se possa sempre retirar novos tempos dessas combinaes. A partir da
anlise das linhas meldicas dos instrumentos, podemos perceber essa reversibilidade dos ritmos, criada atravs de
acentuaes diferentes para cada um
dos instrumentos, fazendo com que se
constituam subtempos dentro da mtrica mais geral, ora enfraquecendo-a,
ora reforando-a.
O fluxo criado por esses entrelaamentos deve ser bem conhecido a fim
de que contrastem com o kase, ou quebra do ritmo, que o que induz o transe
e a possesso. O kase efetuado pelo
manman, e pode vir, por exemplo, na
forma de uma figura quntupla (cinco
batidas no espao de um tempo), quebrando um ritmo baseado na tercina (as
vrias formas em que essas mudanas
podem ocorrer so analisadas no captulo 5). Essa quebra de ritmo sentida
intensamente como uma mudana brusca no fluxo rtmico-sonoro imanente a
determinadas fases do ritual, constituindo ento uma deixa para os iniciados entrarem em transe, preparando-se para a possesso. Ela ganha densidade valorativa se comparada com o
efeito que tais substituies de ritmos
passam a ter na msica ocidental a partir do incio do Romantismo, quando so
quase sempre lidas como uma espcie
de floreio que serve batida principal,
sem produzir mudanas significativas.
Essas descries apontam para a
possibilidade de uma antropologia da
msica positiva, que integre tanto anlises de estrutura e forma musicais com
anlises de estrutura e forma de outros
domnios, como tambm, e principalmente, que integre esses conjuntos com
229
230
RESENHAS
a forma pela qual os agentes os articulam e recriam continuamente. No entanto, o autor no se detm nesse ltimo aspecto, que remeteria a uma abordagem mais propriamente antropolgica do Vodu, e so raras as aluses aos
discursos de seus informantes. Assim,
no ficamos sabendo muito sobre como
os praticantes esto efetivamente pensando, representando ou vivenciando
essas prticas rituais.
Quase todas as interpretaes de
Fleurant sobre o lugar ocupado pelo
Vodu na sociedade haitiana podem ser
resumidas na formulao o Vodu como resposta s condies sociais haitianas (:21). Do seu ponto de vista, esse
culto seria um dos meios para contornar
a opresso sociopoltica: uma filosofia e um modo de vida, que permite formular respostas apropriadas para uma
situao historicamente opressiva e debilitada (:23). O Lwa inspira o fiel, para que este possa empreender as aes
apropriadas quando confrontado com
as dificuldades. Nesse sentido, as canes do rito Rada seriam um testemunho eloqente da habilidade do Vodu
para apresentar solues para as condies sociais haitianas. A primeira cerimnia Vodu no Haiti data de 14 de
agosto de 1791, pouco antes da revolta
geral dos escravos, e denota como ele
sempre foi uma religio de ao, no
sentido de que os resultados poderiam
ser vistos de maneira tangvel e, freqentemente, em um perodo relativamente curto (:21).
Nesse sentido, toda a anlise musical da rtmica Vodu parece descolada
da funo mais primordial e geral do
ritual, que seria a de oferecer uma resposta s terrveis condies socioeconmicas do Haiti. Por que essa forma de
resposta e no outra uma questo que
tem como nica pista o fato de se tratar
de uma religio de origem africana, e,
como tal, de evocar um passado digno,
aquele dos ancestrais ilustres, os Lwa.
Fleurant tributrio dessa concepo:
ao introduzir um novo tema ou elemento em sua anlise, remete-os invariavelmente para suas supostas origens africanas, tentando localiz-los nessa ou
naquela sociedade.
Se as chamadas religies pan-africanas se explicam, exclusivamente, pela perpetuao das tradies, atravs
de mecanismos de transmisso oral,
adaptando elementos da realidade presente, como sugere o autor, uma questo ainda em aberto. No entanto, saber
como os envolvidos as esto vivenciando , a meu ver, fundamental para uma
articulao mais precisa entre esse legado africano e suas atualizaes
alhures.
GIUMBELLI, Emerson. 1997. O Cuidado dos Mortos: Uma Histria da Condenao e Legitimao do Espiritismo. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional.
326 pp.
Patricia Birman
Prof de Antropologia, UERJ
A pergunta mais pertinente a respeito
desse trabalho minucioso, feito com raro empenho em explorar antropologicamente fontes historiogrficas, talvez seja a mesma que a sociedade dirige a
seus religiosos ditos e reconhecidos como espritas: vale mesmo o que est
escrito? Ou, em termos equivalentes,
ser que o sentido dos textos psicografados que, frase aps frase, contam histrias de personagens famosos, atribuem um sentido moral a certos comportamentos, explicam certas curas e os
procedimentos a seguir deve ser buscado nos princpios da mediunidade, ou
RESENHAS
seja, na fonte que permite entender e
acreditar na psicografia?
Para os espritas, com efeito, a escrita dos mdiuns reveladora porque se
parte da pressuposio de que o seu
sentido advm de fonte sobrenatural.
Assim, o mdium no faz nada mais do
que transcrever o que o esprito lhe dita
e esse conhecimento transmitido passvel de ser incorporado mediante um
trabalho de exegese feito por seus seguidores que mistura, em doses indiscernveis, a interpretao que realizam
com tudo aquilo que acreditam lhes
chegar diretamente, sem contaminaes, desse emissor do Alm. Por mais
que, portanto, naturalizem o texto psicografado, os espritas reconhecem a
existncia de premissas que o validam,
bem como de uma interpretao que
lhe d sentido.
Quando aproximo os documentos
psicografados dos processos analisados
por Emerson Giumbelli quero, para
alm de uma brincadeira, colocar em
discusso o lugar que nos ltimos se
concede interpretao. Certamente,
os critrios interpretativos que conduzem a pesquisa etnogrfica a hipteses
interessantes no so os mesmos daqueles aplicados pelo espiritismo diante de textos psicografados, mas tanto
espritas quanto antroplogos reconhecem, por vezes com evidente dificuldade, que os dados no falam por si mesmos e que, portanto, preciso dot-los
de sentido. Dessa maneira, reconhecese a polissemia que os habita, enfronhase em uma rede de discursos contraditrios e ambguos para, finalmente,
construir uma mera verso. A incerteza,
pouco tranqilizadora, a respeito dos
resultados alcanados no deixa nem
espritas nem antroplogos descansar
em paz. O mundo dos mortos e as comunicaes que resvalam de antigos
textos lhes acompanhar para sempre.
Deixemos por ora essa aproximao
para expor em linhas gerais esse importante trabalho sobre o espiritismo no
Brasil. Com um recorte preciso em uma
enorme massa de material, Emerson
manuseia fontes diversas para discutir
a constituio do espiritismo no Brasil
e, particularmente, no Rio de Janeiro.
Ele parte da suposio de que o espiritismo uma produo histrica e contextual, resultado de um processo que
no continha, desde os seus primrdios,
o traado de seu caminho j delineado.
Em outras palavras, a noo, hoje pouco relativizada, de que espiritismo religio seria efeito, segundo o autor, de
uma conjuno peculiar, de um encontro de diferentes estratgias discursivas
desenvolvidas por agentes sociais diversos. Nesse processo, atuaram de maneiras contextualmente tambm diferenciadas as instituies mdicas, jurdicas, os meios de comunicao, os
agentes religiosos espritas, catlicos e
outros, alm das foras policiais. Com
distintas estratgias discursivas esses
grupos, ao se enfrentarem e por vezes
tambm se alinharem, instituram categorias, forjaram polaridades (como
aquela que ops msticos e cientficos entre os espritas de diferentes faces), estabeleceram jurisprudncias,
prticas diversas que hoje so difceis
de apreender (e, portanto, desnaturalizar) como efeito de um processo. A formao do espiritismo, tal como o conhecemos, no presente efeito desse processo desenvolvido em um certo campo
de foras, do entrelaamento que se
produziu entre discursos e poderes que
foram capazes de fazer valer no somente algumas verses, mas tambm
instituir certas prticas.
Giumbelli, nesse sentido, analisa a
dinmica e os atores sociais presentes
no final do sculo passado e incio deste
que redimensionaram o lugar dos dis-
231
232
RESENHAS
cursos mdicos, transformaram as fronteiras identitrias dos grupos religiosos
e redefiniram, sucessivamente, os papis atribudos ao Poder Judicirio e
polcia para, a partir da anlise desse
contexto e desses embates, compreender o espiritismo como resultado disso
tudo. Contexto , pois, uma palavrachave. Produto de um campo de lutas
em que se definiu competncias mdicas e jurdicas, emerge como lugar possvel para o espiritismo aquele concedido religio. Criam-se, portanto, novos
lugares e novos papis. O autor explica,
assim, como, a partir de um certo momento, cristaliza-se uma crena por
meio da qual o espiritismo construiu o
seu lugar. Este teria se subordinado ao
monoplio de cura conquistado pela
medicina e se aliado ao poder policial
para garantir, no campo religioso, seu
papel privilegiado em relao ao baixo
espiritismo, macumba, ao candombl,
ou seja, aos cultos de origem africana
em geral.
Segundo a hiptese desenvolvida
por esse trabalho, a construo histrica desse campo e o formato que veio a
adquirir, em funo do jogo de foras e
estratgias discursivas que o traspassaram, concederam ao espiritismo, no Rio
de Janeiro, comparativamente, um lugar de referncia, um ponto de ancoragem em torno do qual todos os conflitos
religiosos passaram a se expressar, e o
metro a partir do qual passaram a se
hierarquizar. O espiritismo no Rio de Janeiro teria tido, desse modo, papel equivalente quele desempenhado pela africanidade nag na Bahia, construda por
uma aliana entre intelectuais e certos
grupos de culto que passaram a ter o
poder de legitimar, segundo seus critrios e medidas, os outros cultos de possesso. Mais do que um operador de
distines, o espiritismo teria sido capaz, portanto, de instituir prticas e cri-
trios por intermdio dos quais os grupos religiosos associados possesso
passaram a se regular, obedecendo, assim, s injunes histricas que deram
ao espiritismo kardecista um poder auxiliar de polcia e fizeram da Federao
Esprita Brasileira (FEB) um regulador
doutrinrio tanto para dentro dos grupos espritas quanto para a sociedade.
As concluses a respeito do espiritismo no Rio de Janeiro so alcanadas
mediante uma anlise que se desdobra
em torno de diferentes momentos histricos e debrua-se sobre prticas institucionais diversas. O papel e o perfil da
FEB resultam tanto de um esquadrinhamento de suas prticas quanto dos efeitos dos confrontos aos quais foi sendo
submetida no interior desse campo. O
privilgio concedido formao da FEB
teve como resultado colocar em relevo
a sua formao e, ao lado disso, tambm permitir entender o papel de outras instituies no Rio de Janeiro em
alguns momentos decisivos, como as
instituies sanitrias e judicirias no
processo de urbanizao da cidade, os
procedimentos judicirios associados
formao da Repblica, os sucessivos
lugares e diferentes definies do charlatanismo, os cdigos penais e as jurisprudncias estabelecidas etc.
Esse plano analtico pde ser alcanado graas ao trabalho de investigao
que envolveu diferentes fontes histricas. Cabe ressaltar o mrito, ainda raro
na antropologia produzida no Brasil, do
esforo de enfrentar essa modalidade
de pesquisa, distante da perspectiva
tradicional da disciplina com o seu privilgio atribudo ao trabalho de campo
e observao participante. A pesquisa
fundamentou-se, essencialmente, no
estudo de quatro processos-crimes instaurados com base nos artigos 156, 157
e 158 do Cdigo Penal de 1890. A partir
desses processos, o autor busca exami-
RESENHAS
nar como se estruturou a represso ao
exerccio ilegal da medicina, como se fizeram presentes as acusaes relativas
ao espiritismo e Federao Esprita
Brasileira. Alm disso, foi beneficirio
das fontes pesquisadas no Arquivo Nacional, relativas tanto a esses processos
quanto a outros, por Yvonne Maggie
em Medo de Feitio, tese de doutorado
tambm do Museu Nacional, posteriormente premiada e publicada pelo Arquivo Nacional em 1992 (como ocorreria mais tarde com O Cuidado dos Mortos: Uma Histria da Condenao e Legitimao do Espiritismo).
Voltemos agora questo mencionada de incio sobre o lugar da interpretao. Como disse, tanto os textos
psicografados como os processos no
falam por si. Essa aparente obviedade,
por vezes, parece ser diluda na anlise
que o autor faz dos processos penais.
Talvez, por conta disso, ele no cumpra
o que promete, em funo de um discreto nominalismo que atravessa a elaborao do seu argumento. Com efeito,
ao construir sua hiptese a respeito da
aceitao do lugar de religio que o espiritismo da FEB promoveu, Giumbelli
se apia no que est dito nos processos
sem, no entanto, articular inteiramente
esse dito com o contexto discursivo presente nos processos e tambm fora destes. Texto e contexto operam separados
em momentos importantes de sua anlise. Com efeito, este ltimo parece funcionar mais como um quadro de fundo
do que como uma articulao analtica
que permitiria justificar a interpretao
dos discursos referidos. Destaquemos
um exemplo, entre outros que poderiam ser citados. Na anlise que empreende dos processos, Emerson Giumbelli no os toma como um texto composto de mltiplas intervenes e confrontos que se apresentam como depoimentos, provas documentais, teste-
munhos, relatos, descries etc. Os processos so apresentados, fundamentalmente, atravs do discurso elaborado
pelo advogado de defesa da FEB. Como
pano de fundo temos uma anlise do
campo mdico da poca e suas questes, como, por exemplo, o lugar atribudo hipnose, ao magnetismo, sugesto. Sem dvida, aquilo que designo
como pano de fundo se refere ao contexto, mas revela pouco das articulaes discursivas que foram operadas
por esses interlocutores no prprio processo e, muito menos, os deslizamentos
de sentido que foram sendo operados
pelos diferentes interlocutores no curso desse confronto. Assim, o contexto,
aquele que nos daria as estratgias discursivas empregadas pelos agentes sociais que se fazem presentes no processo e fora dele, a partir dos lugares e interesses diferenciados, est ausente. As
relaes de sentido, em lugar de emergirem de uma anlise dessas relaes
contextuais e, portanto, das redes de
sentido que se tramam, so deduzidas
das prticas espritas e das orientaes
adotadas pela FEB, como resultados alcanados posteriormente a esses processos, o que pressupe uma relao direta entre a funcionalidade de certos
comportamentos e o discurso elaborado
pela defesa esprita. E o sentido do discurso esprita parece, assim, falar por si
mesmo, dispensando um trabalho interpretativo que supe a interlocuo com
os outros discursos e agentes sociais que
em vrios nveis se fizeram presentes.
Em decorrncia dessas pressupostas articulaes, o autor sustenta a criao de um modelo institucional que explicaria as atividades espritas e o lugar
(funcionalmente adequado) que a FEB
viria a ocupar no Rio de Janeiro. Pergunto-me se essa sua hiptese, rica em
conseqncias, no deveria se apoiar
mais na anlise das articulaes discur-
233
234
RESENHAS
sivas que se prope a fazer do que na
funcionalidade que se torna um dos elementos mais importantes de sua comprovao.
O autor tem o mrito de no se furtar discusso com os trabalhos que
antecederam o seu. Por isso, como reconhecimento do seu esforo de esclarecer seus pontos de discordncia, merece que levemos a srio seu livro, buscando tambm contribuir para o debate
que inaugurou. importante, por fim,
frisar que somente os bons trabalhos
como o seu so crticos e suportam crticas em razo do valor das questes que
levantam e buscam resolver.
KEVLES, Daniel J. 1995. In the Name
of Eugenics: Genetics and the Uses of
Human Heredity. Cambridge: Harvard
University Press. 426 pp.
Ricardo Ventura Santos
Prof. de Antropologia, MN-UFRJ
e ENSP-Fiocruz
A capa do livro do historiador da cincia Daniel Kevles apresenta dois conjuntos de imagens. No primeiro vemse figuras humanas com a superfcie do
crnio dividida em regies; no segundo, dois cromossomos. Trata-se de uma
capa, digamos, conceitual, que remete
aos limites temporais e factuais das reflexes de Kevles. Se as cabeas se ligam s prticas de anlise da personalidade a partir da morfologia popular no
sculo XIX (i.e., frenologia), os cromossomos simbolizam a gentica contempornea e a prtica eugnica a ela associada. Dito textualmente, In the Name of Eugenics conta a histria da eugenia (o conjunto de propostas destinadas a melhorar as qualidades fsicas,
mentais e comportamentais humanas a
partir do controle e manipulao da hereditariedade) nos EUA e na Inglaterra
desde as formulaes de Francis Galton
no final do sculo passado at o presente, quando a biologia cada vez mais foca suas lentes em direo a estruturas
mais recnditas do corpo humano (cromossomos, protenas, DNA etc.). No
meio tempo, Kevles analisa por que e
como aconteceu a expanso, institucionalizao e declnio da eugenia na primeira metade do sculo XX, bem como
os esforos de aplicao de conceitos
eugnicos com fins de reforma social.
In the Name of Eugenics teve sua
primeira edio em 1985 e veio a se tornar uma das principais reflexes na sua
rea. Justifica-se o prestgio alcanado:
um tour de force sobre a trajetria da
eugenia extremamente bem redigido,
que combina em suas mais de quatrocentas pginas uma enorme quantidade de informaes com reflexes que
elucidam como a histria da eugenia
pode (e deve) ser lida como uma imbricao entre cincia, poltica, cultura,
dentre outras dimenses. Ainda que
Kevles no se preocupe em explicitar
vinculaes tericas, seu trabalho segue claramente uma linha construtivista. O xito do livro respalda-se em uma
pesquisa pormenorizada, baseada em
fontes documentais e em entrevistas.
Chama a ateno o considervel domnio que o autor possui do campo biolgico, que se revela em detalhadas descries de observaes cientficas.
Os dezenove captulos do livro podem ser agrupados em cinco grandes
blocos temticos. No primeiro (captulos I-III) abordada a gnese das idias
eugnicas, que Kevles situa na Inglaterra vitoriana, e particularmente nos
escritos de Francis Galton. Gestada no
mbito de uma intelectualidade impregnada pelo evolucionismo e pelo
darwinismo social, a eugenia como pro-
RESENHAS
posta de melhoria das qualidades da
raa atrelou-se expectativa, j bem
enraizada na poca, de que atravs da
cincia seria possvel intervir e controlar a natureza, incluindo a natureza humana. Kevles descreve tambm como
ocorreu a consolidao da eugenia atravs do trabalho de certos cientistas, como o ingls Pierson e o norte-americano Davenport, que contriburam para
dar uma aura cientfica ao campo em
emergncia. O segundo bloco (captulos IV-VII) analisa a propagao da eugenia nas duas primeiras dcadas deste
sculo, quando as idias eugnicas
transpuseram as fronteiras do discurso cientfico e materializaram-se como
prticas sociais cotidianas. Polticas de
imigrao restritiva e esterilizao implementadas nos EUA na ocasio foram
ideolgica e tecnicamente alimentadas
pela eugenia. Importantes aspectos desse perodo dizem respeito s teorizaes acerca da interface hereditariedade e inteligncia, ao desenvolvimento
de testes para medir inteligncia e
preocupao com o suposto declnio da
inteligncia no plano nacional. O terceiro bloco (captulos VIII-X) analisa a
emergncia e consolidao de posturas
crticas eugenia a partir dos anos 30.
Se as cincias biolgicas indicavam que
a transmisso das caractersticas hereditrias era fenmeno bem mais complexo do que o sugerido pelos eugenistas, as cincias sociais apontavam para
a relevncia do meio na formao da
personalidade humana. No quarto bloco (captulos XI-XVI) analisada a significativa transformao experimentada pela eugenia nas dcadas de 40 e 50,
quando ocorreu um deslocamento desde uma eugenia tradicional para uma
outra verso que Kevles denomina reformadora. Os eugenistas vinculados
a esta linha continuaram a advogar noes de melhoria humana informadas
pela biologia; no obstante, segundo
Kevles, distanciaram-se dos preconceitos sociais de seus antecessores. Alm
da estigmatizao que a biopoltica nazista imprimiu s propostas eugnicas,
nesse perodo j era evidente a impraticabilidade de se alcanar a melhoria da
constituio biolgica humana atravs
das propostas da eugenia tradicional.
Segundo Kevles, os eugenistas reformadores desempenharam papel importante no florescimento da gentica
humana e suas pesquisas proveram dados que demonstravam que as populaes apresentavam uma enorme variabilidade biolgica irredutvel simplria dicotomia caractersticas boas ou
ruins apregoada pela eugenia tradicional. Finalmente, no quinto e ltimo
bloco (captulos XVII-XIX) Kevles demonstra que, se ruiu a utopia eugnica
de que seria possvel alcanar profundas reformas no mbito da sociedade
como um todo, isto no representou um
completo abandono das idias e ideais
eugnicos. O aprimoramento tcnico
alcanado pelas cincias biomdicas
nas ltimas dcadas, incluindo fertilizao artificial, possibilidade de deteco
de anomalias genticas em embries,
crescente capacidade de manipulao
do DNA humano, dentre outras, tornam
mais do que nunca possvel exercitar a
prtica de seleo de caractersticas
biolgicas. Para Kevles, o aconselhamento gentico um exemplo contemporneo de expresso das idias eugnicas, com uma importante diferena:
centra-se no indivduo e na famlia, distanciando-se das propostas de controle
e reforma social que marcaram a eugenia tradicional.
Vale destacar certas questes de
amplo alcance que permeiam o trabalho de Kevles. Uma delas diz respeito
heterogeneidade ideolgica interna ao
movimento eugnico no mbito anglo-
235
236
RESENHAS
saxo, que atraiu progressistas, radicais, socialistas-marxistas, comunistas
etc., ou seja, no foi unicamente de inspirao da direita conservadora. Uma
outra que, se a cincia foi um importante pilar de consolidao da eugenia,
ajudou tambm a corroer certos conceitos propalados pelos eugenistas, que a
partir de um determinado perodo passaram a ser percebidos como pseudocientficos.
Apesar de Kevles abordar a histria
da eugenia em pases anglo-saxes,
fornece abundantes elementos para reflexes acerca do tema no mbito latino-americano. Assim, as discusses sobre imigrao no Brasil no incio deste
sculo, que envolveram proeminentes
intelectuais como Roquette-Pinto, Renato Kehl, Azevedo Amaral, foram por
vezes fortemente influenciadas pelos
debates ento em curso, notadamente
nos EUA. Igualmente significativo o
fato de trabalhos sobre a histria da eugenia na Amrica Latina dialogarem
explicitamente com Kevles. Este o caso da recente monografia de Nancy
Stepan, intitulada The Hour of Eugenics
(Cornell University Press, 1991). Se na
Inglaterra e, principalmente, nos EUA a
eugenia se pautou no mendelianismo e
assumiu tonalidades negativas (preconizando esterilizao, desestmulo ao
casamento entre indviduos considerados no-eugnicos etc.), segundo Stepan, predominou na Amrica Latina
uma verso lamarckiana da eugenia e
de orientao positiva, que apostava
na melhoria da raa mediante interveno no plano ambiental (educao, higiene, saneamento etc.). Kevles tambm municia reflexes acerca da histria recente da gentica na Amrica do
Sul. O captulo XV de seu livro analisa
a contribuio do geneticista norteamericano James Neel nas dcadas de
40 e 50, importante figura da eugenia
reformadora e no estabelecimento da
gentica humana nos EUA. Aspecto
no explorado por Kevles o de que
Neel realizou extensas pesquisas genticas com populaes indgenas amaznicas a partir da dcada de 60, recapituladas em sua autobiografia (Physician
to the Gene Pool, John Wiley & Sons,
1994). O trabalho de Kevles prov o
contexto histrico no qual se deu a gnese do pensamento de Neel, contribuindo para uma maior compreenso
de teorizaes que interligaram eugenia e populaes indgenas.
In the Name of Eugenics um trabalho fundamental sobre a histria da
eugenia. Alm de suas virtudes nos
campos da histria e da sociologia da
cincia, consegue de forma eficaz interligar passado e presente. No prefcio
dessa edio, Kevles principia afirmando que o espectro da eugenia paira,
virtualmente, sobre todos os desenvolvimentos contemporneos da gentica
humana (:ix); finda reiterando que uma
compreenso acerca da trajetria passada da eugenia essencial no momento
atual, quando cresce exponencialmente
a capacidade humana de controle e interveno sobre sua prpria biologia.
Que o diga a questo da clonagem que,
se at algum tempo atrs se situava no
campo da fico cientfica, tornou-se recentemente uma possibilidade real e
prxima.
RESENHAS
MAIO, Marcos Chor e SANTOS, Ricardo Ventura (orgs.). 1996. Raa, Cincia
e Sociedade. Rio de Janeiro: Fiocruz/
CCBB. 252 pp.
Olvia Maria Gomes da Cunha
Prof de Antropologia, IFCS-UFRJ
Uma curiosa afinidade perpassa grande
parte dos artigos dessa coletnea: a referncia sutil a desejos, intenes e polticas, nem sempre manifestas mas certamente cristalizadas em textos oficiais
e literrios, bem como construo da
nao como um projeto esttico. Seduo esttica e nacionalismo, por subtrao, poderiam ser citados como duas
tendncias incidentais, sinalizadoras de
certas preocupaes presentes nos
campos poltico-institucional e intelectual que nos permitem aproximar temticas diferentes construdas em contextos singulares. Exemplos concretos dessas conexes inauguram a primeira
parte desse livro dedicado anlise das
relaes entre raa, cincia e nao na
virada do sculo. A reiterao dos vnculos entre Estado e sociedade, a importncia da problemtica racial incidindo nas prticas e polticas oficiais, o
papel dos intelectuais, a proximidade
entre literatura e cincias sociais, enfim, tentativas incessantes de elaborar,
redefinir e cristalizar um certo perfil sociocultural da nao.
Referncias a investimentos cientficos vinculados expanso geopoltica
do Estado brasileiro se fazem presentes
seja na perspectiva da antropologia fsica produzida nos museus de histria natural na virada do sculo cujo objetivo
era constituir um quadro geral e hierarquizado das raas formadoras do pas,
como nos mostra John Monteiro , seja
nos projetos higienistas implementados
por renomadas instituies de sade,
interessadas em sanar os males de formao que atingiam a nao doente, como descrevem Nsia T. Lima e
Gilberto Hochman. Esboa-se j uma
vertente intelectual que no se encastela nas instituies, mas investe em um
projeto quase missionrio que visa
transformar teorias e mtodos cientficos em polticas pblicas, a fim de curar
as doenas do pas, disseminar a preveno e os cuidados sanitrios, promover a unificao e remodelar as feies e a constituio dos corpos pela cura. O higienismo da gerao de Oswaldo Cruz e Belisrio Pena abrir caminho para que o prprio Estado, atravs
de programas de sade muitas vezes
apoiados no apelo regenerao pelo
trabalho, seja o principal responsvel
pela concretizao, na dcada posterior, dos sonhos eugenistas. Em nome
da cura, equipararam-se polticas de
preveno e represso sanitrias e policiais.
Mas se h um sentido capaz de alinhavar prticas e idias nem sempre
unificadas nessas polticas, este pode
ser identificado em um desejo comum
de perfilar esteticamente a nao. Mais
que um projeto, um ideal presente nos
discursos que clamam pelo embranquecimento, pela seleo da imigrao, pela mestiagem bem dosada e pela erradicao das doenas relacionadas
insalubridade. A perfeio deve ser buscada sobretudo em uma poltica de imigrao seletiva, como nos mostram Giralda Seyferth e Jair de Souza Ramos.
Imigrao e mestiagem impem-se,
principalmente a partir da dcada de
20, como faces de uma mesma moeda.
Trata-se de implementar o que o conde
de Gobineau preconizara como uma
mestiagem bem dosada (:51), assegurando que ela compreenderia no s
a rejeio de uma parte substantiva das
raas que comporiam a parte inferior
237
238
RESENHAS
da hierarquia da espcie humana, mas
tambm daqueles apontados como responsveis pela importao de uma ideologia de pureza de sangue e pureza
racial.
Essa seduo esttica parece permear outras variantes, no exclusivas,
do nacionalismo brasileiro. Os artigos
de Omar Ribeiro Thomaz e Lourdes
Martnez-Echazbal oferecem ao leitor
a oportunidade de lanar um olhar comparativo, no qual as matrizes desse
ideal esttico podem ser buscadas para
alm dos paradigmas cientficos vigentes no pas do incio do sculo. No texto
de Martnez-Echazbal, a referncia
mestiagem apresentada como uma
temtica particular, ao conferir estilo e
proeminncia literatura latino-americana a partir dos anos 30. Se h traos
passveis de comparao nos diversos
discursos nacionalistas latino-americanos no perodo, estes esto radicados na
tenso entre o apelo integrao e
culturalizao da diferena como modelos complementares formao da
nao. A comparao entre as narrativas de Gilberto Freyre, Jos Mart e Jos de Vasconcelos aponta para a reconfigurao dos termos que aludem raa e, por vezes, cultura, implicando a reconstruo de um modelo de nacionalidade fundado nas idias de mistura e fuso. A identificao destes dois
princpios nos mostra como, ao mesmo
tempo que a idia de fuso de sangues, raas e culturas parece se
constituir em discursos normatizados e
oficiais, os elementos e critrios relacionados noo de mistura so sempre
seletivos. Seleo e adaptatividade evocam a construo de uma nao esteticamente em construo, onde a natureza, de acordo com as premissas lamarckianas citadas no texto de Ricardo V.
Santos, se ocupa em depurar, tonificar,
fortalecer e preparar um terreno para
que a cultura e o meio social disciplinem.
O imperativo da nao como sntese ganha flego no que MartnezEchazbal chama de misteriosa eugenia esttica de Jos Vasconcelos (:114),
nas referncias a uma raa csmica e
sinttica. Mas em Freyre que o paradigma fuso/mistura parece conter
elementos mais contundentes, e em
Casa-Grande & Senzala que o ideal esttico da nacionalidade brasileira ganha uma dimenso histrico-sociolgica, atravs de um discurso que alinhava cincia e literatura em um estilo peculiar. Esse carter menos prescritivo e
normativo, e mais estilstico, sem dvida, foi capaz de redimensionar o lugar
do prprio conhecimento cientfico
no texto freyreano. Subjetividade, literatura e histria sobrepem-se na construo de uma nao avessa brancura
apolnea do colonizador ingls, mas
prxima ao dionisaco por distino, por
dosagem, por tempero e por gnero. O homem brasileiro um homem
novo, que se adapta s contingncias
dos trpicos e negocia com o torpor e a
violncia do civilizador. Ele se autopacifica no pela resistncia dominao, mas pela altivez com que desbrava a natureza e domina a si prprio,
como se fora rido, infrtil, bugre,
boal por origem. A fuso constituiu-se historicamente no cotidiano das
relaes sociais, envolvendo diferentes
graus de distncia e afinidade, misturando (seletivamente) seduo moral
e fascinao esttica (:115).
Vale notar que imbricaes singulares de novos padres relacionais e estticos como um projeto de nao se estendem para alm das cercanias da casa-grande. O texto de Omar Ribeiro
Thomaz informa-nos que o discurso
freyreano, calcado no elogio tanto distintividade do colonialismo portugus
RESENHAS
quanto aos seus modos caprichosos de
tornar gradativas, sutis e maleveis diferenas raciais e culturais como
nveis diversos de uma identidade em
construo a do imprio colonial luso
, paralelo implementao de mecanismos de dominao e reafirmao da
autoridade portuguesa, deve ser visto
como um projeto esttico e poltico
(:110). A anlise da repercusso da morte de Pap, o preto das ilhas da Guin, durante a Exposio Colonial Portugus no Porto em 1934, um pretexto
para explicitar os mecanismos sob os
quais essa articulao construda. Pap vivo reclama como imagem o exotismo, a estranheza e a singularidade de
um exemplar das raas coloniais. Pap morto lembra que a unidade poltica
do Imprio, enquanto discurso hegemnico, foi capaz de colocar em segundo
plano as hierarquias sobre as quais o reconhecimento das diferenas se baseavam. Por um momento, o que muitos
imaginam ser um paradoxo do modelo
brasileiro a descontinuidade entre
discursos que remetem homogeneidade e igualdade, e prticas que reafirmam nas relaes cotidianas desigualdades e hierarquias confrontado de
forma inovadora e criativa. Quando Thomaz diz que Freyre v na frica Brasis
em gestao (:102), a analogia parece
perfeita: as relaes do intelectual brasileiro com vrios representantes do
saber colonial portugus durante o
Estado Novo permitiram a ampliao
dessa imagem para um plano transcolonial. A hierarquia agora se fortalece pela conquista de um projeto poltico/espiritual o Imprio solidifica-se como
um olhar particular que, ao se debruar
sobre os trpicos, o envolve, redescobre
e redesenha. Toda a aventura quinhentista ento recontada a partir desse
novo desenho geopoltico. O Imprio
traduz-se em imagem e sentimento.
Essa incurso pelas vicissitudes do
colonialismo portugus extremamente importante para conferir leitura do
conjunto de artigos uma outra perspectiva acerca dos lugares a partir dos
quais o projeto de construo da nao
brasileira, at a primeira metade do sculo, pode ser pensado. Contudo, se nas
duas primeiras partes da coletnea a
oscilao no uso dos termos raa e
cultura, devidamente contextualizados, evidencia tentativas diversas de
erigir paradigmas cientficos para a
compreenso da formao da nao, nas
duas ltimas sugere categorias socialmente relevantes e sobre as quais as
cincias sociais se arvoram descortinar
os sentidos. Ainda assim, sua discusso
permanece presa a um debate mais amplo sobre identidade nacional.
O socilogo Guerreiro Ramos, analisado por Chor Maio por exemplo, ao
apostar em uma espcie de pedagogia
de reconverso e valorizao individual e poltica dos negros no Brasil,
acreditava que essa perspectiva os resgataria dos exotismos culturalistas
rumo integrao nacionalidade
(:183). Joel Rufino, em um texto inspirado em Guerreiro foi mais longe. De seu
ponto de vista, esse retorno indistino se deve ao fato de que, desconstrudo o determinismo racial, reconhecida
a pluralidade de experincias sociais,
culturais e histricas, percebida a fragilidade dos marcadores fenotpicos
(uma vez que a maioria da nossa populao tende para o escuro), concluise que: negro povo. Desse modo, o
lugar conferido ao negro est associado a uma perspectiva diversa, que Rufino denomina de populismo revisitado, em que a indistino se coloca
como uma estratgia poltica. Ao escurecer a nao e diluir a necessidade do
apelo diferena, Rufino parece inverter totalmente a viso das adies
239
240
RESENHAS
bem dosadas, ao mesmo tempo que
recusa a viso de uma sociedade fundamentada em classes. O problema que
ao idealizar um perfil para a identidade
brasileira e ao escurecer o Brasil, Rufino mais uma vez desenha um perfil de
nao por subtrao: brasileiro como
se deduz, o melhor sinnimo de negro;
e branco sinnimo de no-brasileiro
(:223). Fica de fora uma parcela significativa da populao para a qual a cor
como marca/insgnia da distino social
no tem tal relevncia.
Essa questo retomada em outros
artigos. Maggie, ao repensar as inmeras classificaes raciais utilizadas no
Brasil, refere-se de moreno como
aquela que mais se aproxima de uma
espcie de sntese de um gradiente
de cor que tambm hierarquiza socialmente (:225). Sansone, relendo Freyre,
faz meno ao jogo entre antagonismo
e afinidade como habitus coexistentes e
no excludentes (:207). Hasenbalg, insistindo contra os perigos de se tomar a
ideologia da harmonia, das etiquetas
de cordialidade e da democracia racial como normas, reinveste na valorizao de um modelo polarizado de leitura das relaes raciais.
Em suma, um dos principais resultados dessa coletnea mostrar, por
meio de diferentes enfoques, a existncia de estreitas conexes entre o debate
da questo racial e o nacionalismo.
Um problema, no entanto, permanece:
de onde provm a necessidade, demonstrada na maior parte dos artigos,
de construir modelos de identidade e
relaes sociais que, aludindo raa
ou cor, descrevem a nao de modo
distintivo?
ORTNER, Sherry. 1996. Making Gender: The Politics and Erotics of Culture. Boston: Beacon Press. 262 pp.
Cristiane Lasmar
Doutoranda, PPGAS-MN-UFRJ
Making Gender pode ser visto como
uma apresentao da trajetria intelectual de um dos nomes mais importantes
da antropologia do gnero. Os artigos
que integram o livro, quatro inditos,
retratam os movimentos tericos de
Sherry Ortner ao longo de mais de vinte anos de produo acadmica. Aluna
de Geertz nos anos 60, feminista, comprometida, como ela mesma se define,
com uma antropologia humanista, interpretativa, preocupada em elucidar
questes de cultura, significado e valor (:217), Ortner no se furtou, todavia, a explorar outras possibilidades
tericas.
O artigo de abertura, que d nome
ao livro, representa a sua posio mais
recente, uma crtica teoria da prtica
a partir de uma perspectiva feminista,
minoritria, ps-colonial e subalterna
(:1). Considerando a teoria da prtica
como uma das mais poderosas para dar
conta da complexidade da vida social,
por sua nfase na perspectiva do ator e
nos modos de reproduo e transformao das relaes de poder, a autora acusa os seus principais defensores, contudo, de jamais terem se esforado para
estabelecer um dilogo com a grande
massa de trabalhos produzidos pela
antropologia engajada. O projeto de
unir teoria da prtica e perspectiva subalterna implica pensar a questo do
poder e da dominao sem abrir mo da
intencionalidade do sujeito. Inspirada
em Geertz, Ortner prope o modelo dos
jogos srios que captaria duas dimenses importantes da vida social.
RESENHAS
Como um jogo, esta construda e organizada culturalmente em termos de
categorias que definem atores, regras e
objetivos, e consiste em teias de relaes entre posies subjetivas, mltiplas e intercambiveis; por outro lado,
h um espao de agncia, isto , os atores jogam com habilidade, talento e inteno. Para Ortner, os jogos so srios porque poder e desigualdade esto sempre presentes.
A relao de Ortner com a teoria da
prtica construiu-se ao longo das duas
dcadas compreendidas pelos outros
artigos da coletnea. No percurso, houve incurses a abordagens tericas diversas, como em The Virgin and the
State (1978), em que a valorizao da
virgindade feminina explicada atravs de uma viso materialista e evolucionista. Outro exemplo o clssico
So, Is Female to Male as Nature Is to
Culture? (1974), que se tornou referncia basilar para os estudos de gnero,
instituindo a dicotomia natureza/cultura como modelo terico.
Inspirando-se na teoria de Michelle
Rosaldo sobre as implicaes da oposio pblico/privado para o status social
da mulher, a autora avana, nesse artigo, a hiptese de que o confinamento
na esfera privada e a prpria fisiologia
feminina levariam a uma representao
simblica universal e estruturante da
mulher como mais prxima natureza.
O argumento desenvolve-se a partir de
duas referncias principais: o estruturalismo de Lvi-Strauss e o existencialismo de Simone de Beauvoir. Ortner sugere que, a despeito da imensa variabilidade de representaes particulares,
toda cultura reconhece e afirma uma
associao metafrica entre mulher e
natureza. Ao mesmo tempo, a natureza
concebida como inferior, um mundo a
ser socializado, dominado. Disso
deriva a equao mulher : homem :: na-
tureza : cultura e a concepo (universal) da inferioridade feminina.
Ao mesmo tempo que contribuiu
para tornar a dicotomia natureza/cultura um instrumento terico relevante para os estudos de gnero durante os anos
70, o artigo suscitou debates inflamados. O paradigma de Ortner sofreu duras crticas, tanto do ponto de vista epistemolgico quanto etnogrfico. A crtica epistemolgica tomava a oposio
natureza/cultura, tal como formulada
por Lvi-Strauss e reelaborada por Ortner, como uma construo ocidental
no podendo ser, portanto, universalizada. Do ponto de vista etnogrfico, os
crticos apoiavam-se em uma srie de
casos que demonstravam a inadequao do modelo quando aplicado a algumas sociedades no-ocidentais.
Dois dos artigos do livro, Gender
Hegemonies (1990) e o indito So, Is
Female to Male as Nature Is to Culture?, tratam de responder a essas crticas e redefinir a posio da autora. Em
ambos, Ortner reabre as discusses travadas na antropologia do gnero nas
dcadas de 70 e 80 sobre a utilidade
heurstica da dicotomia natureza/cultura e a universalidade da dominao
masculina , luz de novos instrumentos tericos disponveis. Ortner aceita
apenas parcialmente as crticas sua
formulao da dicotomia. Assume o
grande erro substantivo (:177) de ter
proposto uma associao direta e imediata entre a dominao masculina e a
equao que associa mulher natureza
e homem cultura, sem considerar outras ordens de fatores que podem estar
relacionadas a essa dominao. Por outro lado, reafirma que a oposio (e a
associao da mulher ao primeiro termo) uma estrutura simblica de ampla ocorrncia. Nesse ponto, Ortner
empreende uma ofensiva contra os crticos que apresentaram exemplos etno-
241
242
RESENHAS
grficos de conceituaes alternativas
da relao entre cultura e natureza,
acusando-os de terem feito uma leitura
equivocada da noo de estrutura que
informa sua hiptese de 1974. Mantendo uma relao complexa com as ideologias e categorias culturais nativas, a
oposio natureza/cultura no um objeto passvel de ser encontrado pelo
escrutnio etnogrfico, sustenta. Antes,
seu carter estrutural advm do fato de
tornar-se realidade como uma questo
existencial, que todas as culturas enfrentam: o confronto entre a humanidade e algo que acontece fora da agncia e/ou da intencionalidade humanas
(:179). Desse modo, Ortner insiste na
oposio em seus contornos, mas de
uma forma purificada, sem atribuir aos
termos significados especficos. A imagstica do controle e da dominao,
apontada pelos crticos como um bias
ocidental, desaparece de sua argumentao. Mas a defesa de Ortner torna-se
problemtica no momento em que ela
tenta justificar a insero dos termos de
gnero na equao. Ao persistir na
idia de que as oposies natureza/cultura e mulher/homem podem, facilmente, entrar numa relao de metaforizao mtua, a autora recai no erro de
induzir a uma substantivao desses
mesmos termos. Por fim, ela conclui
que, embora a hiptese de 1974 possa
ser sustentada teoricamente, o paralelismo esttico das categorias lhe parece, atualmente, menos interessante que
a anlise da construo cultural e poltica da relao entre os elementos da
equao (:180).
Ao tratar da universalidade da dominao masculina, Ortner rev radicalmente sua posio anterior, assentindo que um conceito de cultura menos
totalizante e integrado, aberto s contradies e inconsistncias da vida cultural, seria mais adequado para dar
conta da imensa variabilidade de padres de relaes entre os gneros. Utilizando a noo de hegemonia, formulada por Gramsci e reelaborada por
Raymond Williams, sugere que, embora seja possvel detectar, em toda cultura, uma multiplicidade de lgicas, discursos e prticas relacionados ao sistema de gnero, alguns so hegemnicos,
outros marginais, subversivos, desafiadores. Para exemplificar, focaliza o caso
Andaman e mostra que, a despeito da
existncia de algumas prerrogativas
masculinas, possvel classificar a sociedade andamanesa como (hegemonicamente) igualitria, pois um igualitarismo sexual permeia de forma estrutural vrios padres de relao social.
A autora alega, ainda, que sua viso
da universalidade da dominao masculina nos anos 70 era definida, basicamente, com referncia a questes de
valor e prestgio, o que no exclua a
possibilidade da existncia de instncias, at mesmo legtimas, de poder feminino. Isto verdade, porm, apenas
para os trabalhos que publica a partir
do incio da dcada seguinte, os quais
j refletem uma mudana de perspectiva que se verificava na antropologia do
gnero como um todo. Quando Michelle
Rosaldo apontou, em 1980, os problemas da utilizao das dicotomias natureza/cultura e pblico/privado, afirmando que conduziam a uma viso essencialista do problema da mulher e
pouco esclareciam sobre a vida que as
mulheres levam nas sociedades humanas, as grandes questes inauguradas
por Simone de Beauvoir j perdiam
apelo. Os autores comeavam a buscar
abordagens mais comprometidas com a
realidade poltico-econmica de sociedades particulares, e com o ponto de
vista do ator social. O clssico artigo de
Collier e Rosaldo, no qual elas interpretam as representaes culturais da mu-
RESENHAS
lher nas sociedades simples como
produtos da micropoltica da vida cotidiana, exerceu forte influncia nos desenvolvimentos posteriores do campo e
no pensamento de Ortner em particular. Dessa influncia resultou Rank
and Gender(1981).
Este artigo lida com um extenso corpo de dados etnogrficos de sociedades
polinsias tradicionais, sobre o qual
Ortner se debrua para explorar as relaes ali encontradas entre o sistema
de prestgio e a construo do gnero e
da sexualidade. Partindo da questo o
que querem os atores? e definindo
seus desejos e limitaes como essencialmente polticos (:220), investiga o
ponto de vista das vrias categorias de
atores envolvidos. Esse texto representa ainda seu primeiro passo na direo
de uma teoria da prtica, num movimento considerado por ela mesma, retrospectivamente, bastante intuitivo
(:220). A hiptese a de que apesar da
estratificao social ser concebida como
fixa e imutvel, os homens fazem uso
de sua autoridade domstica para forjar
estratgias de melhoria de status. Ortner demonstra que o alto status da mulher polinsia decorre de sua importncia crucial para as consideraes de
prestgio de seus parentes masculinos.
Nos dois ltimos artigos, tambm
inditos, podemos detectar uma utilizao mais consciente e sofisticada da
perspectiva inspirada no trabalho de
autores como Bourdieu, Giddens e Sahlins. The Problem of Women as an
Analytic Category o primeiro trabalho em que Ortner faz uso de sua extensa pesquisa entre os Sherpa para pensar questes de gnero. Focalizando o
papel fundamental exercido por um
grupo de mulheres na fundao do primeiro convento sherpa, Ortner defende
a fertilidade heurstica do mtodo centrado no ator. O recurso distino ho-
mem/mulher mostra-se estril diante
de uma situao etnogrfica em que as
aes dos atores so determinadas muito mais por sua posio no sistema de
prestgio do que pelo gnero a que pertencem.
Tendo em vista ainda o caso sherpa,
Borderland Politics and Erotics analisa a insero das mulheres no alpinismo de altas altitudes no Himalaia a partir dos anos 70. Com base na noo de
zona de fronteira (borderland), a autora investiga a produo de novos significados como fruto da interao de
homens e mulheres, ocidentais e sherpa, em uma atividade at ento dominada por homens. Enfatizando o ponto
de vista da mulher sherpa, demonstra
que o alpinismo pode ser visto como um
meio de resgatar parte do igualitarismo
sexual perdido em conseqncia de
mudanas ocorridas com a modernizao do Nepal.
Entre os motivos para considerar a
trajetria intelectual de Ortner particularmente interessante esto a seriedade
com que trata seu objeto de estudo, demonstrada pela autocrtica e experimentao terica constantes, a habilidade em coadunar envolvimento poltico e rigor cientfico e, por fim, seu lugar
paradigmtico no desenvolvimento dos
estudos de gnero. Do ponto de vista
terico, o livro um exemplo de como
idias e mtodos j consolidados podem ser reapropriados de forma criativa e fecunda. Para aqueles que fazem
uma antropologia engajada, pode servir de estmulo e inspirao. Para os antroplogos envolvidos com questes de
gnero , ao mesmo tempo, uma fonte
de dados e uma retrospectiva do desenvolvimento do campo.
243
244
RESENHAS
PALMEIRA, Moacir e GOLDMAN, Marcio (orgs.). 1996. Antropologia, Voto
e Representao Poltica. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. 240 pp.
Claudia Fonseca
Prof de Antropologia, UFRGS
So muitos os motivos pelos quais o livro Antropologia, Voto e Representao
Poltica organizado por Moacir Palmeira e Marcio Goldman bem-vindo cena acadmica nacional. Gostaria de
apresentar trs. Em primeiro lugar, traz
uma perspectiva inovadora para uma
discusso minada de clichs, repeties
e retrica: a da cidadania. Justamente
por no ceder tentao de modismos
(a palavra cidadania mal aparece no
texto) essa coletnea garante um trabalho original e consistente. Nela, os comportamentos polticos so vistos como
parte integrante de processos envolvendo as mais diversas dimenses da
vida social representaes nativas,
faccionalismos, vida comunitria, famlia e redes sociais, imprensa, identidade
tnica, festividades, biografias, estruturas de mediao e cultura parlamentar.
Apesar da diversidade de enfoques, h
uma coerncia na proposta dos diferentes autores, todos pensando a questo
da participao poltica a partir do estudo de populaes inseridas em contextos especficos dos camponeses gachos e teuto-brasileiros catarinenses
aos moradores da Zona Sul carioca e sitiantes nordestinos.
O segundo ponto forte desse livro,
visto da perspectiva do campo antropolgico, que traz tona uma rea que
nossa literatura deixa freqentemente
em segundo plano: a antropologia poltica. Trata-se daquele estrutural-funcionalismo britnico, to afeito a assuntos polticos, que parece subestima-
do especialmente nos nossos cursos de
graduao. Associando a tendncia brasileira para o pensamento intelectual
francs com dificuldades com a lngua
inglesa, os alunos pouco sabem dos
Firth, Fortes e Gluckmans da vida. No
livro de Palmeira e Goldman, temos um
resgate criativo dessa tradio, enriquecida pela interlocuo com o campo
intelectual brasileiro e atualizada para
se adequar ao estudo de nossa realidade.
Em terceiro lugar, o livro uma lio viva da complementaridade entre
teoria e pesquisas empricas. Os trs
primeiros artigos do volume anunciam
as bases tericas da discusso. Goldman e Palmeira, sobrevoando de Maine a Bourdieu os estudos antropolgicos de sistemas e processos polticos,
alinhavam em poucos pargrafos as
etapas histricas de nossa disciplina. No
segundo artigo, Goldman e SantAnna
propem uma pauta para a investigao do voto em sua densidade de escolha individual e de agenciamento coletivo. Para tanto, dirigem suas atenes
para o campo de estudos da poltica local no Brasil, procurando construir um
objeto de anlise que incorpore as lies do passado. Retomando pontos da
apresentao, recomendam evitar tendncias pouco produtivas ou j gastas,
tais como: a definio do poltico que
se limita s polticas institucional e partidria; o parti pris que identifica determinados processos polticos em termos
de positivo ou negativo; a nfase em
aspectos puramente ideolgicos da poltica em detrimento do estudo dos mecanismos que os sustentam; e a confiana superdimensionada em perspectivas
macroscpicas. Propem, em vez disso,
uma ampliao do campo de anlise
que estende o poltico a uma multiplicidade de reas de comportamento;
uma reintroduo de dimenses socio-
RESENHAS
lgicas que leve em considerao as relaes pessoais e as posies sociais dos
sujeitos (dos eleitores, assim como dos
candidatos, e cabos eleitorais); e, finalmente, a desnaturalizao de noes
tais como voto, eleio e democracia, a fim de ressaltar a dinmica de
processos que divergem de modelos
ideais.
Moacir Palmeira retoma com Poltica, Faces e Voto a crtica aos modelos tericos tradicionais (mandonismo, faccionalismo etc.) na anlise da
poltica local no Brasil. Por apresentarem uma imagem fixa dos blocos polticos, esses modelos no explicam as freqentes infidelidades partidrias e a
mobilidade interpartidria. Pensando
nos recortes sociais do tempo, Palmeira
destaca que o perodo eleitoral s pode
ser compreendido levando-se em considerao os rearranjos de compromissos
que foram se delineando no perodo entre as eleies. No basta conhecer as
lealdades familiares e vinculaes partidrias para entender o processo eleitoral. preciso levar em considerao
as esferas de sociabilidade regidas pelo
compromisso pessoal, pois atravs dos
mltiplos fluxos de trocas presentes,
favores, ajudas , dentro e fora do tempo da poltica, que se trava o processo
de adeso. Afinal, o voto no deve ser
pensado, necessariamente, em termos
de uma escolha, uma deciso individual
tomada conforme os atributos dos candidatos ou partidos, mas antes como
adeso um processo que vai comprometendo o indivduo, a famlia, ou outra
unidade social significativa, ao longo do
tempo.
Nos captulos subseqentes, a pauta de investigao viabilizada em
pesquisas empricas por doutores, mestres e bacharis ligados equipe do
PPGAS-MN. Um conjunto de artigos
trata de regies rurais e urbanas do
Nordeste, alvo clssico dos debates sobre mandonismo. Retomando a idia do
tempo da poltica, Beatriz Heredia,
em Poltica, Famlia, Comunidade,
apresenta sua experincia com colonos
gachos e sitiantes pernambucanos para pensar como o perodo eleitoral afeta
as comunidades interioranas, modificando as relaes interpessoais. Lembrando que, dentro da famlia, cabe ao
homem a intermediao com o mundo pblico, destaca o lugar central do
pai na definio dos votos dos demais
membros da famlia. Procura entender
tambm as motivaes do voto, reportando-se a noes nativas de ajuda,
compromisso e dvida, especialmente
quando acionadas nas relaes com
pessoas de fora da comunidade. Notase, nesse contexto, uma certa exterioridade da poltica partidria: a comunidade resiste em lanar candidatos
prprios, justamente por medo de introduzir relaes de desigualdade (clientelismo) entre iguais (da comunidade).
Em O Bar de Tita: Poltica e Redes Sociais, Claudia Guebel leva o leitor a
um palco urbano no interior nordestino
onde examina a prtica cotidiana de
uma coordenadora de campanha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais durante as eleies estaduais e nacionais de
1990. Comparando as diferentes esferas de sociabilidade trabalho, famlia,
poltica e lazer procura entender o jogo de cruzamentos e evitamentos nas
relaes pessoais para inferir como as
fronteiras do espao social modificamse durante o tempo da poltica. Mediante uma leitura particular do Dirio
de Pernambuco, Marco Antnio Bonelli
examina a dimenso simblica do processo eleitoral no artigo O Retrato da
Poltica: Cobertura Jornalstica e Eleies. Ali, comcios e caminhadas so
diferentes meios de celebrar vnculos
sociopolticos e eventos emblemticos
245
246
RESENHAS
de uma verdadeira festa poltica. H
campanha de rua, visitas em casa por
cabos eleitorais, cartazes, pichaes,
distribuio de camisetas, tudo aproveitando laos de vizinhana, parentesco e afinidades pessoais para conquistar as primeiras adeses. Mas, indo
alm, o autor toma o jornal como interlocutor ator social que constri a realidade poltica que descreve. Na anlise de estilo e contedo semntico da
cobertura de campanha verificam-se
alguns processos que personalizam a
poltica, mostrando como assuntos locais e a imagem pessoal do candidato
so, nesse mbito, fundamentais.
Samos do serto e entramos na metrpole eleies municipais no Rio de
Janeiro de 1992, com Karina Kuschnir e
Gabriela Scotto. Em Campanha de
Rua, Candidatos e Biografias, Scotto
centra-se na idia da poltica enquanto
campo entrecruzado por relaes personalizadas um campo em que um
aperto de mo, um abrao ou um beijo
passam a ter uma conotao poltica em
termos de proximidade, distncia, hierarquia, popularidade e disputa. Procura identificar nos panfletos da campanha os elementos que melhor contribuem para o reconhecimento do candidato, concluindo que no h proposta
sem candidato, no h candidato sem
rosto e uma biografia (:177). Por outro
lado, o processo eleitoral que resgata o
candidato do anonimato produz um
efeito semelhante no eleitor: ao saudar
seu candidato, ao comunicar seus problemas, o eleitor deixa de ser um cidado annimo e se converte, tambm
ele, em uma pessoa com histria e relaes. Em Cultura e Representao Poltica no Rio de Janeiro, Kuschnir procura entender os mltiplos planos da
cultura que motivam o voto, mostrando
que o indivduo situa sua escolha
dentro de um leque de opes, um cam-
po de possibilidades: Podem estar em
jogo, no s o bairro e o time de futebol,
como a religio e o conselho do sogro
(:199). Para testar essa hiptese, a autora compara o perfil de determinados
candidatos com os votos recebidos conforme as diferentes zonas eleitorais,
criando trs tipos de comportamento
eleitoral. Um primeiro, em que h votao concentrada em uma s zona, corresponde aos candidatos que sublinham sua presena na prpria comunidade (construo de obras, participao
em movimentos do bairro etc.) e apresentam-se como quem entende os problemas daquela populao. Em um segundo tipo, v-se a votao espalhada
uniformemente por todas as zonas; trata-se, nesse caso, de candidatos defensores de determinadas categorias profissionais (bancrios etc.), tnicas ou religiosas. O terceiro tipo, denominado o
voto ideolgico, diz respeito a candidatos que receberam votos principalmente na Zona Sul, que falam genericamente em cidade, e apelam para
noes abstratas tais como tica, cidadania e trabalho. Nesse artigo vemos claramente uma adeso ao princpio expresso pelos organizadores da coletnea: sociologizar as teorias de
comportamento eleitoral, indo alm de
uma mera contextualizao das aes
individuais para explorar como as estruturas sociais e simblicas perpassam
as diferentes unidades sociais, incutindo-lhes significado.
Com seu artigo sobre Decoro Parlamentar: Esfera Privada e Domnio Pblico, Carla Teixeira nos traz para a
poltica nacional. Ao examinar os processos de perda de mandato dos deputados Ibsen Pinheiro e Ricardo Fiuza
(1993-94), mostra no somente a grande importncia da imprensa na definio de culpa e responsabilidade, mas
tambm certas particularidades no tra-
RESENHAS
tamento dado aos casos. Enquanto Pinheiro que durante sua defesa manteve uma atitude reservada, dando, com
sua linguagem impessoal, um tratamento institucional de si mesmo (:222)
resguardou sua vida privada e atevese a questes legais, Fiuza, por seu lado, assumindo que aos homens pblicos no dado o direito de ter vida privada, jogou-se em uma defesa marcada pelo apelo pessoal. Em vez de optar
pelos valores do universo jurdico,
apostou na frmula decoro=honra... e
ganhou. Assim, paradoxalmente, a CPI
que, ao condenar o lucro pessoal obtido
no exerccio de cargos pblicos, parecia
afirmar a separao entre as esferas pblica e privada, acabou transmitindo
um recado quase oposto ao associar decoro parlamentar honra pessoal do
poltico.
O objetivo de Christine A. Chaves,
em Eleies em Buritis: A Pessoa Poltica, repensar a noo de pessoa, na
sua complexidade significativa, como
categoria nativa. A autora sugere, em
seu artigo, que boa parte dos formuladores tericos brasileiros, em razo de
uma profunda identificao com os valores da modernidade, tm tratado a
pessoa como um indivduo despido de
interioridade (:154), e procura, a partir
de suas observaes sobre a poltica local em Buritis (interior de Minas Gerais), restituir a especificidade local do
termo. No Brasil, apesar de manifestarse em todas as relaes sociais, a hierarquia no um valor socialmente reconhecido. A noo de pessoa, alm de
referir-se a um universo hierrquico,
tambm remete-se a uma igualdade
moral calcada na cosmologia crist e
catlica. Essa igualdade no se traduz
em termos sociolgicos (no se coloca
como reivindicao consciente no plano
das relaes sociais), mas sim como aspirao a ser reconhecida enquanto
igual no plano humanista. (A importncia da festa no plano poltico explica-se,
justamente, por ela ser palco de encenao da intimidade e da igualdade entre poltico e eleitor, tanto quanto de renovao da hierarquia.) Chaves, em
vez de pensar em termos de um cdigo duplo, expresso pela oposio terica entre indivduo e pessoa, reconhece os paradoxos inerentes pessoa brasileira que encerra uma noo de igualdade que permanentemente dependente das relaes.
Finalmente, em Pluralismo, Etnia e
Representao Poltica, Giralda Seyferth recua na histria para estudar a
participao poltica e, em particular, a
mobilizao de lideranas teuto-brasileiras, na virada do sculo, entre imigrantes alemes no sul do Brasil. Verifica como, em 1883, quando a colnia de
Blumenau foi politicamente emancipada, menos de 20% de seus residentes tinham direito a voto apesar de uma taxa relativamente alta de alfabetizao.
A exigncia de falar (bem) a lngua portuguesa eliminava boa parte dos imigrantes e seus descendentes que, frontalmente, se opondo poltica assimilacionista do governo, abraavam uma
noo pluralista de cidadania. Consideravam-se parte do Estado brasileiro, ao mesmo tempo que mantinham
sua identidade com a nao alem. O
contexto de ento, limitado principalmente a eleitores luso-brasileiros, fez
com que comerciantes, pequenos industriais e outras lideranas locais fossem atropelados por intrusos que
usavam uma retrica nacionalista considerada xenfoba situao que durou
at as eleies municipais de 1903. Em
um comentrio s ideologias racistas da
poca, Seyferth sublinha um fato irnico: tanto os assimilacionistas que pleiteavam a miscigenao a fim de branquear a populao, quanto os pluralis-
247
248
RESENHAS
tas que, rejeitando intercasamentos,
procuravam resguardar sua germanidade pressupunham uma crena na desigualdade das raas humanas. Os debates sobre as diferentes formas de nacionalismo simplesmente opunham um racismo contra outro.
Assim, olhando voto e eleies atravs de diferentes filtros classe, etnia,
famlia, vizinhana e, considerando
tanto os discursos como os processos e
relaes que subjazem a esses discursos, os autores acabam alcanando seu
objetivo, fazendo do voto um tipo de fato social total que revela as especificidades simblicas e sociais do contexto
poltico brasileiro.
Você também pode gostar
- A Pintura Como Modelo - Yves Alain BoisDocumento16 páginasA Pintura Como Modelo - Yves Alain BoisRenato Menezes100% (1)
- Clássicas do pensamento social: Mulheres e feminismos no século XIXNo EverandClássicas do pensamento social: Mulheres e feminismos no século XIXAinda não há avaliações
- Sandra Pesavento - Historia e Literatura, Uma Velha-Nova HistóriaDocumento26 páginasSandra Pesavento - Historia e Literatura, Uma Velha-Nova HistóriaCarlos Manoel75% (4)
- SOIHET, Raquel. Introdução SOIHET, Raquel. Introdução. in - ABREU, Martha e SOIHET, Raquel. Ensino de História, Conceitos, Temáticas e MetodologiaDocumento10 páginasSOIHET, Raquel. Introdução SOIHET, Raquel. Introdução. in - ABREU, Martha e SOIHET, Raquel. Ensino de História, Conceitos, Temáticas e MetodologiaGigi Leal0% (1)
- Historia Da Antropologia Resumo 01Documento10 páginasHistoria Da Antropologia Resumo 01Fabricio BrugnagoAinda não há avaliações
- Resumo Livro Gestão de Vendas Complexa - Jeff ThullDocumento54 páginasResumo Livro Gestão de Vendas Complexa - Jeff ThullRafael LopesAinda não há avaliações
- FQ 9ordm Professor PDFDocumento144 páginasFQ 9ordm Professor PDFMartaAndreiaSousa100% (2)
- O Brasil em dois tempos: História, pensamento social e tempo presenteNo EverandO Brasil em dois tempos: História, pensamento social e tempo presenteAinda não há avaliações
- Funari, P. P. - Cultura Material e Arqueologia Histórica PDFDocumento5 páginasFunari, P. P. - Cultura Material e Arqueologia Histórica PDFJohni Cesar Dos SantosAinda não há avaliações
- Telemarketing Ativo ProspectivoDocumento11 páginasTelemarketing Ativo Prospectivoroggarbru100% (1)
- Ebook 9 Passos para Viver em Alta PerformanceDocumento28 páginasEbook 9 Passos para Viver em Alta PerformanceJane RodriguesAinda não há avaliações
- Antropologia Voto e Representação Política PDFDocumento28 páginasAntropologia Voto e Representação Política PDFFernandaAinda não há avaliações
- Shilliam (2011) - GrifadoDocumento19 páginasShilliam (2011) - GrifadoLuiz Gustavo de Oliveira AlvesAinda não há avaliações
- Historia A Partir Das Coisas Tendencias Recentes NDocumento20 páginasHistoria A Partir Das Coisas Tendencias Recentes NSebastião SantosAinda não há avaliações
- Texto ChartierDocumento25 páginasTexto ChartierEduardo BaenaAinda não há avaliações
- História, Música e Educação As Canções Populares Na Sala de AulaDocumento29 páginasHistória, Música e Educação As Canções Populares Na Sala de AulaVictor CretiAinda não há avaliações
- A Antropologia Urbana No BrasilDocumento12 páginasA Antropologia Urbana No BrasilmarianaAinda não há avaliações
- ANTROPOLOGIA Ensaios em Antropologia HistóricaDocumento6 páginasANTROPOLOGIA Ensaios em Antropologia HistóricaLaura DouradoAinda não há avaliações
- Texto 3 - BRANDÃO, Gildo M. - Linhagens Do Pensamento Político BrasileiroDocumento39 páginasTexto 3 - BRANDÃO, Gildo M. - Linhagens Do Pensamento Político Brasileirothales HérculesAinda não há avaliações
- Fichamento: Antropologia Dos ObjetosDocumento3 páginasFichamento: Antropologia Dos ObjetosrafaelaAinda não há avaliações
- Gildo Marçal - Revista Dados PDFDocumento39 páginasGildo Marçal - Revista Dados PDFmarkeysAinda não há avaliações
- Jornal de Resenhas - Disciplina Do AmorDocumento4 páginasJornal de Resenhas - Disciplina Do AmorPaulo VictorAinda não há avaliações
- Pensamento Político BrasileiroDocumento39 páginasPensamento Político Brasileiroprofiali1Ainda não há avaliações
- Antropologias Mundiais - Gustavo Lins RibeiroDocumento20 páginasAntropologias Mundiais - Gustavo Lins RibeiroJosiane BragatoAinda não há avaliações
- Prova - Fundamentos Socio AntropológicosDocumento5 páginasProva - Fundamentos Socio AntropológicosGustavo RodriguesAinda não há avaliações
- ARRUTI, José Maurício Andion. A Emergência Dos Remanescentes Notas para o Diálogo Entre Indígenas e QuilombolasDocumento32 páginasARRUTI, José Maurício Andion. A Emergência Dos Remanescentes Notas para o Diálogo Entre Indígenas e QuilombolasSabrina de PaulaAinda não há avaliações
- Antropologia Dos Objetos: Coleções, Museus e PatrimôniosDocumento31 páginasAntropologia Dos Objetos: Coleções, Museus e PatrimôniosOrlando HöfkeAinda não há avaliações
- Resenha Marisa PeiranoDocumento3 páginasResenha Marisa PeiranoMaria Rita RodriguesAinda não há avaliações
- Fichamento - Etnografia MultilocalDocumento3 páginasFichamento - Etnografia MultilocalFlávio ViniciusAinda não há avaliações
- BAUER, Caroline - Escravidão e MemóriaDocumento2 páginasBAUER, Caroline - Escravidão e MemóriaClóvis GorgônioAinda não há avaliações
- A Nova História Cultural. Assunção Barros PDFDocumento26 páginasA Nova História Cultural. Assunção Barros PDFÁlvaro de SouzaAinda não há avaliações
- Antônio Sá - Materialismo Cultural Williams PDFDocumento8 páginasAntônio Sá - Materialismo Cultural Williams PDFGuilherme SantanaAinda não há avaliações
- Por Uma Sociologia Dos MuseusDocumento24 páginasPor Uma Sociologia Dos MuseusEduardo TavaresAinda não há avaliações
- Heterogeneidade e Conflito Na PDFDocumento28 páginasHeterogeneidade e Conflito Na PDFMatheus BroettoAinda não há avaliações
- 01CENICAS Tereza Mara FranzoniDocumento13 páginas01CENICAS Tereza Mara FranzoniAndrezaAndradeAinda não há avaliações
- As Palvras Por Trás Das RuínasDocumento5 páginasAs Palvras Por Trás Das RuínasPriscila S. de Sá SantosAinda não há avaliações
- Jean Copans Maurice Godelier Serge Tornav Catherine Backès-Clément. Antropologia Ciência Das Sociedades PrimitivasDocumento4 páginasJean Copans Maurice Godelier Serge Tornav Catherine Backès-Clément. Antropologia Ciência Das Sociedades PrimitivasMica KamauAinda não há avaliações
- 2º Teste Introdução À HistoriografiaDocumento11 páginas2º Teste Introdução À HistoriografiaJúlia CarvãoAinda não há avaliações
- Tal Antropologia Qual - Abreu, ReginaDocumento23 páginasTal Antropologia Qual - Abreu, ReginaataripAinda não há avaliações
- Artigo Felipe Charbel Teixeira Narrativa e PoscolonialismoDocumento14 páginasArtigo Felipe Charbel Teixeira Narrativa e PoscolonialismoMarçal De Menezes ParedesAinda não há avaliações
- Trajetórias Da História Social e Da Histórial CulturalDocumento8 páginasTrajetórias Da História Social e Da Histórial CulturalWilliam FunchalAinda não há avaliações
- Artigo-A Nova História e A Escola o Caso Da Escola Coronel Felipe de BrumDocumento27 páginasArtigo-A Nova História e A Escola o Caso Da Escola Coronel Felipe de BrumELIEZER GONCALVESAinda não há avaliações
- (Sobral, José Manuel) Da Casa À Nação - Passado, Memória, IdentidadeDocumento16 páginas(Sobral, José Manuel) Da Casa À Nação - Passado, Memória, IdentidadeFabiano CamiloAinda não há avaliações
- 2aulaantropólogo Mediador CulturalDocumento12 páginas2aulaantropólogo Mediador CulturalLettyenneAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Do Peter BurkeDocumento5 páginasResenha Crítica Do Peter BurkeGiovana Ramos FanelliAinda não há avaliações
- DOSSE, François - História IntelectualDocumento10 páginasDOSSE, François - História IntelectualCésar De Oliveira GomesAinda não há avaliações
- Gonçalve, J. - Antropologia Dos Objetos PDFDocumento21 páginasGonçalve, J. - Antropologia Dos Objetos PDFAlessandra TostaAinda não há avaliações
- O Que Construímos Quando Construímos - Maria Clara Lima - Maria Eduarda CoutinhoDocumento14 páginasO Que Construímos Quando Construímos - Maria Clara Lima - Maria Eduarda Coutinhocontato.mariarqAinda não há avaliações
- Ibere BarrosDocumento13 páginasIbere BarrosGeninho CamposAinda não há avaliações
- Resenha GuarinelloDocumento4 páginasResenha GuarinelloJulioCesarDoriaAinda não há avaliações
- Sobre Saberes DecoloniaisDocumento10 páginasSobre Saberes DecoloniaisEduardo Rodrigo Almeida AmorimAinda não há avaliações
- Norma Marinovic Doro PDFDocumento8 páginasNorma Marinovic Doro PDFMilan PuhAinda não há avaliações
- Teorias Póscoloniais e Decoloniais para Repensar A Sociologia Da ModernidadeDocumento10 páginasTeorias Póscoloniais e Decoloniais para Repensar A Sociologia Da ModernidadeAlex MendesAinda não há avaliações
- Distancia e Dialogo - Historia e Ciencias Humanas Nos Eua PDFDocumento26 páginasDistancia e Dialogo - Historia e Ciencias Humanas Nos Eua PDFErlan BelloLimaAinda não há avaliações
- America Latina No Seculo XIX Tramas Telas e TextosDocumento5 páginasAmerica Latina No Seculo XIX Tramas Telas e TextosMárcia BarreirosAinda não há avaliações
- OLIVEIRA, João Pacheco de - Sobre Museus PDFDocumento27 páginasOLIVEIRA, João Pacheco de - Sobre Museus PDFhotcyvAinda não há avaliações
- A morte esculpida no Cemitério da Consolação: arte tumular como expressão socialNo EverandA morte esculpida no Cemitério da Consolação: arte tumular como expressão socialAinda não há avaliações
- Brasil-Afro: História, historiografia, teoria do conhecimento em história. Escritos forjados na negaçãoNo EverandBrasil-Afro: História, historiografia, teoria do conhecimento em história. Escritos forjados na negaçãoAinda não há avaliações
- Memória, corpo e cidade: voguing como resistência pós-modernaNo EverandMemória, corpo e cidade: voguing como resistência pós-modernaAinda não há avaliações
- Sujeitos em Movimento - Instituições, Circulação de Saberes, Práticas Educativas e CulturaisNo EverandSujeitos em Movimento - Instituições, Circulação de Saberes, Práticas Educativas e CulturaisAinda não há avaliações
- Fronteiras do Erótico: O espaço e o erotismo n'O CortiçoNo EverandFronteiras do Erótico: O espaço e o erotismo n'O CortiçoAinda não há avaliações
- A pena do espírito e o corpo de papel: narrativa e conhecimento sobre o corpo indígena no Chaco (Século XVIII)No EverandA pena do espírito e o corpo de papel: narrativa e conhecimento sobre o corpo indígena no Chaco (Século XVIII)Ainda não há avaliações
- Os intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasNo EverandOs intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasAinda não há avaliações
- Revista Al-Madan Online N.º 17 Tomo 1Documento198 páginasRevista Al-Madan Online N.º 17 Tomo 1Alfredo DuarteAinda não há avaliações
- Ementa Disciplina - Vigilância SanitáriaDocumento4 páginasEmenta Disciplina - Vigilância SanitáriaAntonio LeiteAinda não há avaliações
- NOB-RH SUAS Anotada Comentada PDFDocumento149 páginasNOB-RH SUAS Anotada Comentada PDFIolanda MirandaAinda não há avaliações
- Plano de Ensino AuditoriaDocumento10 páginasPlano de Ensino AuditoriaXi FuAinda não há avaliações
- Apostila 6ano-XadrezDocumento29 páginasApostila 6ano-XadrezMaura RodriguesAinda não há avaliações
- A6 - 45-6 - Kanbam PDFDocumento11 páginasA6 - 45-6 - Kanbam PDFJuliana Lopes FrancoAinda não há avaliações
- O Timido Empreendedor - Tenha Su - Rafael SigurdsonDocumento84 páginasO Timido Empreendedor - Tenha Su - Rafael SigurdsonRegiano FeitosaAinda não há avaliações
- Ler - A Autonomia Do Leitor. Uma Analise DidaticaDocumento16 páginasLer - A Autonomia Do Leitor. Uma Analise DidaticaJosé EduardoAinda não há avaliações
- De Figurantes A Atores o Coletivo Na Luta Das Famílias de AutistasDocumento17 páginasDe Figurantes A Atores o Coletivo Na Luta Das Famílias de AutistasmrpreacherAinda não há avaliações
- ISO 9001 2015 ComentadaDocumento34 páginasISO 9001 2015 ComentadaAnonymous 5gw9X76cOAinda não há avaliações
- Gerenciamento Da Rotina de Trabalho Do Dia-A-dia - LucasDocumento96 páginasGerenciamento Da Rotina de Trabalho Do Dia-A-dia - LucasLucas Marques100% (4)
- O Orçamento Como Limitação Do Controlo de GestãoDocumento12 páginasO Orçamento Como Limitação Do Controlo de GestãoCarla PatriciaAinda não há avaliações
- PPP Cetn 2012Documento232 páginasPPP Cetn 2012Adilton Gomes SilveiraAinda não há avaliações
- FormaConsumidoresPercebem - Mapa PerceptualDocumento183 páginasFormaConsumidoresPercebem - Mapa PerceptualAugusto AugustoAinda não há avaliações
- Moda e Arquitetura PDFDocumento10 páginasModa e Arquitetura PDFSandra Lima Costa MeloAinda não há avaliações
- Design Entre Aspas - DoutoradopdfDocumento331 páginasDesign Entre Aspas - DoutoradopdfAmanda Mattos100% (1)
- Funcionamento Do AçougueDocumento9 páginasFuncionamento Do AçougueMarcelo SantosAinda não há avaliações
- 10 Ideias de Negocios para Voce Montar Sua Loja VirtualDocumento54 páginas10 Ideias de Negocios para Voce Montar Sua Loja VirtualRodrigoGomesAinda não há avaliações
- Contrato de Prestacao de Servicos de Consultoria AdministrativaDocumento2 páginasContrato de Prestacao de Servicos de Consultoria AdministrativaPatrick PassosAinda não há avaliações
- Encaminhar para A Saúde Quem Vai Mal Na Educação Um Ciclo Vicioso PDFDocumento6 páginasEncaminhar para A Saúde Quem Vai Mal Na Educação Um Ciclo Vicioso PDFJose FerreiraAinda não há avaliações
- Aula 1 - Plano Aula - Matfin - Acolhimento e Preteste - Et5 - GH - Esufrn - RobervalDocumento1 páginaAula 1 - Plano Aula - Matfin - Acolhimento e Preteste - Et5 - GH - Esufrn - RobervalRoberval PinheiroAinda não há avaliações
- PIM 3 FinalizadoDocumento28 páginasPIM 3 FinalizadoMirelice CostaAinda não há avaliações
- Decreto - Lei Nº54 - 2018, 6 de Julho - InclusãoDocumento11 páginasDecreto - Lei Nº54 - 2018, 6 de Julho - InclusãoNélsonAinda não há avaliações
- Guia Completo Do Vendedor ProfissionalDocumento32 páginasGuia Completo Do Vendedor ProfissionalJosé Alexandre100% (3)
- Recursos Didáticos PNAIC UFRGS e BookDocumento96 páginasRecursos Didáticos PNAIC UFRGS e BookvanessaAinda não há avaliações