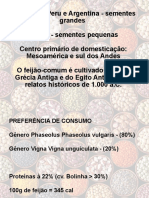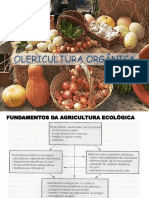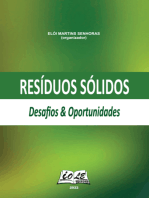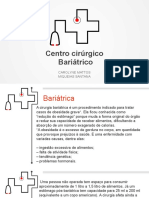Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Compostagem 2
Compostagem 2
Enviado por
Marcelo GrisonTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Compostagem 2
Compostagem 2
Enviado por
Marcelo GrisonDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ISSN 1677-1915 Dezembro, 2004
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria Centro Nacional de Pesquisa de Agroindstria Tropical Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
Documentos 89
Uso da Compostagem em Sistemas Agrcolas Orgnicos
Francisco Nelsieudes Sombra Oliveira Hermnio Jos Moreira Lima Joo Paulo Cajazeira
Fortaleza, CE 2004
Exemplares desta publicao podem ser adquiridos na: Embrapa Agroindstria Tropical Rua Dra. Sara Mesquita 2.270, Pici CEP 60511-110 Fortaleza, CE Caixa Postal 3761 Fone: (85) 3299-1800 Fax: (85) 3299-1803 Home page: www.cnpat.embrapa.br E-mail: negocios@cnpat.embrapa.br Comit de Publicaes da Embrapa Agroindstria Tropical Presidente: Valderi Vieira da Silva Secretrio-Executivo: Marco Aurlio da Rocha Melo Membros: Henriette Monteiro Cordeiro de Azeredo, Marlos Alves Bezerra, Levi de Moura Barros, Jos Ednilson de Oliveira Cabral, Oscarina Maria Silva Andrade, Francisco Nelsieudes Sombra Oliveira Supervisor editorial: Marco Aurlio da Rocha Melo Revisor de texto: Maria Emlia de Possdio Marques Normalizao bibliogrfica: Rita de Cassia Costa Cid Foto da capa: Antonio Renes Lins de Aquino Editorao eletrnica: Arilo Nobre de Oliveira 1a edio 1a impresso (2004): 300 exemplares
Todos os direitos reservados. A reproduo no-autorizada desta publicao, no todo ou em parte, constitui violao dos direitos autorais (Lei no 9.610). CIP - Brasil. Catalogao-na-publicao Embrapa Agroindstria Tropical Oliveira, Francisco Nelsieudes Sombra Uso da compostagem em sistemas agrcolas orgnicos. / Francisco Nelsieudes Sombra Oliveira, Hermnio Jos Moreira Lima, Joo Paulo Cajazeira. - Fortaleza : Embrapa Agroindstria Tropical, 2004. 17 p. (Embrapa Agroindstria Tropical. Documentos, 89). ISNN 1677-1915 1. Composto orgnico - Produo - Manejo. 2. Matria orgnica Decomposio - Processo. 3. Compostagem. I. Lima, Hermnio Jos Moreira. II. Cajazeira, Joo Paulo. III. Ttulo. IV. Srie. CDD 631.86 Embrapa 2004
Autores
Francisco Nelsieudes Sombra Oliveira Eng. agrn., M.Sc., Embrapa Agroindstria Tropical, Rua Dra. Sara Mesquita 2.270, Pici, CEP 60511-110 Fortaleza, CE, tel.: (85) 3299-1800 sombra@cnpat.embrapa.br Hermnio Jos Moreira Filho Eng. agrn., M.Sc., Secretaria de Agricultura Irrigada, Ed. SEAD Cambeba, trreo, CEP 60839-900 Fortaleza, CE, tel.: (85) 3488-2573, herminio@seagri.ce.gov.br Joo Paulo Cajazeira Bolsista, estudante de graduao em Agronomia, Rua Dra. Sara Mesquita 2270, Pici, CEP 60511-110 Fortaleza, CE, tel.: (85) 3299-1844, jpcaja@bol.com.br
Apresentao
H muito os agricultores aproveitam como adubo orgnico os restos animais e vegetais encontrados nas fazendas. Isso porque a agricultura e a pecuria produzem enormes quantidades de resduos, tais como, dejetos de animais, restos de culturas, palhas e resduos agroindustriais os quais, em alguns casos, provocam srios problemas de poluio ambiental. Muitos desses dejetos e resduos so perdidos, por no serem coletados e reciclados, ou por serem destrudos pela ao de queimadas. No entanto, quando manipulados adequadamente, podem suprir, com vantagens, boa parte da demanda de insumos orgnicos pela fruticultura nordestina sem afetar os recursos do solo e do ambiente. Em razo disso, este trabalho objetiva levar mais informaes tcnicas aos agricultores para que conduzam suas propriedades considerando o manejo orgnico do solo, utilizando a reciclagem e o aproveitamento dos restos de culturas e outras prticas que promovam a sustentabilidade econmica do empreendimento agrcola.
Vitor Hugo de Oliveira Chefe-Adjunto de Comunicao e Negcios Embrapa Agroindstria Tropical
Sumrio
Introduo ......................................................................... 9 O que compostagem? .................................................... 10 O que composto orgnico? ............................................ 10 Os benefcios da matria orgnica no solo ......................... 11
Como fornecer matria orgnica aos solos .................................. 11 Como fabricar o composto orgnico? ......................................... 12 Material utilizado na fabricao ................................................. 12
Condies bsicas para a decomposio da matria orgnica (curtida)............................................. 12
Microorganismos .................................................................... Aerao ............................................................................... Umidade ............................................................................... Temperatura ......................................................................... 12 12 13 13
Manejo da produo do composto orgnico ....................... 13
Etapas da produo do composto ............................................... 13
Dimensionamento de uma unidade de compostagem .......... 14 Aplicao do composto orgnico no campo ....................... 16 Concluses ...................................................................... 16 Referncias bibliogrficas ................................................. 17
Uso da Compostagem em Sistemas Agrcolas Orgnicos
Francisco Nelsieudes Sombra Oliveira Hermnio Jos Moreira Lima Joo Paulo Cajazeira
Introduo
Os problemas de degradao ambiental causados pelo modelo atual agrcola so exaustivamente conhecidos, motivo pelo qual a viso da produtividade e qualidade na agricultura brasileira tem que ser contemplada num enfoque ambientalista. Sistemas diversificados de produo que se baseiam na reciclagem de matria orgnica, pelo uso de compostagem orgnica e adubao verde, necessitam ser melhor estudados sob a tica tcnico-cientfica (Souza, 1998). O desenvolvimento de prticas em agricultura orgnica, baseadas na recuperao e conservao do solo, mtodos alternativos de controle de pragas e doenas, manejo de plantas invasoras, cobertura morta, rotao de culturas, dentre outros, necessitam de uma compreenso cientfica de seus efeitos, quando utilizados de forma integrada. O manejo orgnico do solo feito pela reciclagem da biomassa que envolve a preservao dos restos de cultura, pela compostagem orgnica, pelo emprego de cobertura morta e outras prticas que conduzam reciclagem de nutrientes. O emprego dos compostos orgnicos como base central de sistemas orgnicos de produo uma tecnologia adotada no mundo inteiro. Seu grau de eficincia, na opinio de Souza (1998), depende do sistema e da forma como se executa o processo de preparo do mesmo e das matrias-primas utilizadas, podendo ocorrer elevadas variaes de qualidade e de custos. Poucas informaes existem sobre dados econmicos de compostagem orgnica que permitam nortear a discusso sobre sua viabilidade tcnica. Assim sendo, objetivou-se
10
Uso da Compostagem em Sistemas Agrcolas Orgnicos
com este trabalho mostrar a importncia da compostagem nos sistemas agrcolas orgnicos, seus benefcios e limitaes e as tcnicas de elaborao de compostos orgnicos diversos.
O que compostagem?
Kiehl (1985), citado por Teixeira (2002) define compostagem como sendo: um processo controlado de decomposio microbiana, de oxidao e oxigenao de uma massa heterognea de matria orgnica e nesse processo ocorre uma acelerao da decomposio aerbica dos resduos orgnicos por populaes microbianas, concentrao das condies ideais para que os microorganismos decompositores se desenvolvam, (temperatura, umidade, aerao, pH, tipo de compostos orgnicos existentes e tipos de nutrientes disponveis), pois utilizam essa matria orgnica como alimento e sua eficincia baseia-se na interdependncia e inter-relacionamento desses fatores. O processo caracterizado por fatores de estabilizao e maturao que variam de poucos dias a vrias semanas, dependendo do ambiente. A agricultura e a pecuria produzem quantidades de resduos, como dejetos de animais e restos de culturas, palhas e resduos agroindustriais, os quais, em alguns casos, provocam srios prejuzos e problemas de poluio. Muitos desses resduos so perdidos por no serem coletados e reciclados ou por serem destrudos pelas queimadas. Todavia, quando manipulados adequadamente, podem suprir aos sistemas agrcolas, boa parte da demanda de insumos sem afetar os recursos do solo e do ambiente (Teixeira, 2002).
O que composto orgnico?
o material obtido da compostagem; possui cor escura, rico em hmus e contm de 50% a 70% de matria orgnica. classificado como adubo orgnico, pois preparado a partir de estercos de animais e/ou restos de vegetais que, em estado natural, no tm valor agrcola. Recebe esse nome pela forma como preparado: montam-se pilhas compostas de diferentes camadas de materiais orgnicos. A composio do composto orgnico, depende da natureza da matria-prima utilizada. Entende-se, desde j, que o benefcio da matria orgnica no solo no apenas o de fornecedor de nutrientes para as plantas, mas, principalmente, de modificador, para melhorar suas propriedades fsicas e biolgicas.
Uso da Compostagem em Sistemas Agrcolas Orgnicos
11
Os benefcios da matria orgnica no solo
Fornece elementos nutritivos ao solo. Embora em pequenas quantidades, promove a melhoria da nutrio de macro e micronutrientes em solos minerais: nitrognio, fsforo, potssio, zinco, boro. Melhora o nvel de aproveitamento dos adubos minerais. A matria orgnica ajuda na reteno de nutrientes fornecidos quimicamente, dando tempo ao aproveitamento dos mesmos pelas plantas, amenizando os efeitos de sua infiltrao rpida para as camadas mais profundas do solo. Promove a solubilizao de nutrientes em solos minerais. Essa ao ocorre devido ao dos cidos orgnicos hmicos contidos nos hmus (vegetais ou animais decompostos) Melhora a estrutura (granulao) do solo. Confere ao solo maior capacidade de absoro e armazenamento de gua, possibilitando, ainda, uma boa aerao, um melhor desenvolvimento do sistema radicular e maior facilidade dos cultivos. Favorece uma maior atividade microbiana no solo. Resultam disso novas e acentuadas melhorias para o solo, pois a matria orgnica serve de alimento para a populao microbiana do solo. Promove a elevao da capacidade de troca de ctions do solo. Melhoria da capacidade tampo do solo. O uso de matria orgnica permite uma rpida correo da acidez do solo, tendendo a estabilizar o pH prximo neutralidade. Reduo da toxidez por pesticidas e de outras substncias txicas.
Como fornecer matria orgnica aos solos
Incorporando restos culturais, ao invs de queim-los. Por meio da prtica de adubao verde, incorporada ao solo, ou adubao orgnica. Utilizando estercos, tortas e compostos orgnicos.
12
Uso da Compostagem em Sistemas Agrcolas Orgnicos
Como fabricar o composto orgnico?
Para fabricar o composto orgnico h necessidade de materiais vegetais disponveis: restos culturais, conjugados com esterco animal, e meio rico em nitrognio e microrganismos (Gomes & Pacheco, 1988; Souza, 1998; Teixeira, 2002).
Material utilizado na fabricao
De maneira geral, todos os restos orgnicos vegetais ou animais encontrados poluindo o meio ambiente nas propriedades agrcolas podem ser utilizados na fabricao dos compostos. Atualmente, os materiais mais utilizados so: restolho de culturas; palhas e cascas (espiga de milho, arroz, palhada do feijo; vagem; bagao de cana; palha de carnaba; palha de caf; serragem; sobra de cocheiras e camas de animais). Segundo Teixeira (2002), essas associaes devero, se possvel, ser utilizadas na proporo de 70% de material rico em hidratos de carbono (restos vegetais) e 30% pobre em carbono (esterco de animais), mas rico em nitrognio. Os materiais ricos em nitrognio so de fcil decomposio e se prestam como fonte de micronutrientes para o composto. O esterco alm de fornecer nitrognio o material inoculante de bactrias e fungos.
Condies bsicas para a decomposio da matria orgnica (curtida)
Microrganismos
Na opinio de Gomes & Pacheco (1988), os principais grupos de microrganismos que realizam a decomposio de matria orgnica so bactrias e fungos. Os materiais inoculantes, como estercos, camas de animais, resduos de frigorficos, tortas oleaginosas, so ricos nesses microrganismos. Da a necessidade de um destes materiais estar presente no processo de compostagem.
Aerao
A compostagem trata-se de um processo de fermentao onde a presena do ar na massa em decomposio indispensvel. Para tanto, o material empilhado no dever sofrer compactao excessiva e, periodicamente, deve ser revolvido. Ocorrendo fermentao na ausncia do ar, haver perda de nitrognio, odores desagradveis e problema de proliferao de moscas.
Uso da Compostagem em Sistemas Agrcolas Orgnicos
13
Umidade
O material em decomposio dever estar sempre mido, entre os limites de 30% e 70% de umidade. Valores menores que 30% impedem a fermentao e maiores que 70% expulsam o ar do ambiente. A melhor faixa de umidade est entre 40% e 60%. O material deve mostrar-se mido, sem, entretanto, deixar escorrer gua quando prensado.
Temperatura
O trabalho dos microrganismos para promover a decomposio da matria orgnica resulta na liberao de calor, portanto aquecendo o meio. A melhor faixa de temperatura (Gomes & Pacheco, 1988) de 60% a 70% o que, inclusive, contribui para a esterilizao do material, provocando a morte de organismos que causam doenas s plantas e destruindo materiais propagativos de ervas daninhas (sementes, pedaos de caules, etc.). A constatao prtica da temperatura desejvel (Fig. 1.) feita mediante apalpamento, com as costas das mos, em uma barra de ferro ou vara que se deixa fincada no material empilhado, a uma profundidade mnima de 50 cm. Deve-se senti-la quente, a 40 cm sem, entretanto, ter necessidade de retirar a mo para no queimar.
Manejo da produo do composto orgnico
Segundo Teixeira (2002), o local para montagem das pilhas de matrias-primas deve ser limpo e ligeiramente inclinado, para facilitar o escoamento de guas de chuva, prximo fonte de gua, das matrias-primas e das lavouras onde o composto ser aplicado. Deve ter rea suficiente para a construo das pilhas e espao para seu revolvimento e circulao de tratores ou caminhes. As instalaes para a produo de composto na propriedade devero ser divididas em trs reas: ptio de matrias-primas (armazenagem dos materiais que sero compostados), ptio de compostagem (materiais que sofrero a decomposio) e ptio para armazenagem do composto (composto pronto que poder ser levado diretamente lavoura ou ser armazenado).
Etapas da produo do composto
Amontoar o material em pilhas, intercalando uma camada de restos vegetais com uma fina camada de material inoculante (esterco bovino ou de galinha),
14
Uso da Compostagem em Sistemas Agrcolas Orgnicos
tendo-se o cuidado de molhar cada camada que esteja seca. A pilha deve apresentar cerca de 3,0 metros de largura na base superior por 1,60 metros de altura e comprimento varivel, de acordo com a disponibilidade do material (Fig. 1.).
Manter o material sempre mido, molhando-o pelo menos uma vez por semana. A cada 30 dias, revolver o material, formando uma nova pilha. Aos 90 dias, aproximadamente, o material curtido transformado em composto orgnico com cor escura, frivel quando apertado entre as mos, com cheiro de terra e temperatura baixa no interior da meda.
Fig. 1. Modelo esquemtico de uma pilha de compostagem com diferentes camadas de matrias-primas.
Dimensionamento de uma unidade de compostagem
Supondo-se que a quantidade de resduos na unidade (estabelecimento agrcola, entre outros) seja de 2.000 kg/ms e admitindo-se que a densidade da mistura desses materiais seja de 450 kg/m3. Para exemplificar, na Tabela 1 sero adotadas leiras com seo reta triangular, com 1,5 m de altura e, 3,0 m de largura.
Uso da Compostagem em Sistemas Agrcolas Orgnicos
15
Tabela 1. Dimenses de uma unidade de compostagem. Comprimento (L) AS = 2,25 Volume (V) 4,4 m3 Comprimento (L V / AS) 1,97 m rea do Ptio (Ab) 6 m2 rea de Folga (AF) 6 m2
* Efetuando os clculos; (a) Clculo do comprimento da leira (L): - rea de seo reta: AS = 3 x 1,5 / 2 = 2,25 m2 - densidade de massa do composto (d) d = 450 kg/m3 (dado do problema) (b) Volume da leira de compostagem (V): - V = 2.000 kg/450 kg/ms = 4,4 m3 (c) Comprimento da leira (L): - L = V / AS = 4,4m3 / 2,25 m2 = 1,97 m - Comprimento adotado: L = 2 m Assim sendo as dimenses da leira so: 1,5 x 3,0 x 2,0 m (d) Clculo da rea do ptio de compostagem: - rea da base da leira (Ab): Ab = 3,0 x 2,0 = 6,0 m
2 2
- rea de folga para reviramento da leira = Af = 6 m cada leira ocupar: Ab + Af = 12 m
2
Obs. Supondo-se tratar de um material cujo perodo de compostagem (fase ativa e fase de maturao) seja de 120 dias, e que seja montada uma leira por ms, tem-se que a rea til (Au) do ptio de compostagem ser: Au = 6 m x 120 = 720 m
2 2
16
Uso da Compostagem em Sistemas Agrcolas Orgnicos
Aplicao do composto orgnico no campo
Adotou-se a dose padro de aplicao mdia, utilizao de 20 a 30 toneladas de composto orgnico por hectare para a maioria das espcies (Pereira, 1985, Gomes & Pacheco, 1988; Peixoto, 1988; e Souza, 1998) excetuando-se as culturas de abbora (15 t/ha), batata-doce (20 t/ha), feijo (10 t/ha) e milho (10 t/ha). A forma de aplicao varia, principalmente, com o tipo da cultura, quantidade do composto obtido e equipamentos disponveis, podendo ser aplicado em covas, cobertura ou incorporado ao solo. Convm salientar que nos solos continuamente sob cultivo, pequenas quantidades em freqentes aplicaes so mais eficientes que grandes quantidades aplicadas a longos intervalos.
Concluses
A compostagem apresenta-se como alternativa vivel para sistemas de produo orgnica, em virtude de sua elevada qualidade nutricional e biolgica.
A elevao dos teores de matria orgnica, CTC, fsforo, potssio e clcio,
magnsio, pH e saturao por bases permite obter um elevado grau de fertilidade dos solos no sistema orgnico.
O uso de fosfato de rocha, utilizado para enriquecimento do composto, conduz
obteno de matria orgnica com maiores teores de fsforo, clcio e zinco.
Poucas informaes existem sobre dados econmicos de compostagem
orgnica que permitam nortear a discusso sobre sua viabilidade econmica.
Uso da Compostagem em Sistemas Agrcolas Orgnicos
17
Referncias Bibliogrficas
GOMES, W.R. da; PACHECO, E. Composto orgnico. Lavras: Escola Superior de Agricultura de Lavras, 1988. 11p. (Boletim Tcnico, 11). KIEHL, E.J. Fertilizantes orgnicos. So Paulo: Ceres, 1985. 482p. PEIXOTO, R.T.G. dos. Compostagem: opo para o manejo orgnico do solo. Londrina. IAPAR: 1988. 48p. (IAPAR. Circular, 57). PEREIRA, E.B. Produo de composto orgnico. Vitria: EMCAPA, 1985. 15p. (EMCAPA. Circular Tcnica, 9). SOUZA, J.L. de. Agricultura orgnica: tecnologias para a produo de alimentos saudveis. Vitria: EMCAPA, 1998. v.1, 188p. TEIXEIRA, R.F.F. Compostagem. In: HAMMES, V.S. (Org.) Educao ambiental para o desenvolvimento sustentvel. Braslia: Embrapa Informao Tecnolgica, 2002, v.5, p.120-123.
Você também pode gostar
- Compostagem Nas EscolasDocumento36 páginasCompostagem Nas EscolasmajurosaAinda não há avaliações
- Ecodesign (Texto)Documento33 páginasEcodesign (Texto)api-3704111Ainda não há avaliações
- COMPOSTAGEM E Minhocultura PDFDocumento56 páginasCOMPOSTAGEM E Minhocultura PDFDenise Frederico Marin MazetoAinda não há avaliações
- Microrganismos Do Solo e A Dinamica Da MODocumento15 páginasMicrorganismos Do Solo e A Dinamica Da MONayani Ferreirra LacerdaAinda não há avaliações
- Compostagem PDFDocumento4 páginasCompostagem PDFEduardo MafraAinda não há avaliações
- Cartilha CompostagemDocumento16 páginasCartilha CompostagemBenjamin Gordon100% (1)
- Adubação Nitrogenada da Cultura do Trigo: com Base na Clorofilometria Via Aeronave Remotamente PilotadaNo EverandAdubação Nitrogenada da Cultura do Trigo: com Base na Clorofilometria Via Aeronave Remotamente PilotadaAinda não há avaliações
- Fitorremediação em Solos Contaminados com HerbicidasNo EverandFitorremediação em Solos Contaminados com HerbicidasAinda não há avaliações
- Manual Recuperacao CerradoDocumento26 páginasManual Recuperacao CerradoKaren CastelliAinda não há avaliações
- Projeto para Compostagem UniversitáriaDocumento28 páginasProjeto para Compostagem UniversitáriaEme Cê100% (1)
- Compostagem EcomarkDocumento48 páginasCompostagem EcomarkGilberto Goulart SouzaAinda não há avaliações
- Compostagem e VermicompostagemDocumento24 páginasCompostagem e VermicompostagemLarissa XavierAinda não há avaliações
- Livro Microbiota Do Solo e Qualidade AmbientalDocumento317 páginasLivro Microbiota Do Solo e Qualidade AmbientalGrazi Ruas100% (1)
- CAERDES - Serie Agroecologia V 1 FINAL - 29-08-14 PDFDocumento60 páginasCAERDES - Serie Agroecologia V 1 FINAL - 29-08-14 PDFPatricianiEstelaCiprianoAinda não há avaliações
- Cartilha PI Feijão-WEB-GOVDocumento32 páginasCartilha PI Feijão-WEB-GOVCleberAinda não há avaliações
- Morfologia Raiz PDFDocumento74 páginasMorfologia Raiz PDFerlonAinda não há avaliações
- Adubação CearáDocumento52 páginasAdubação CearáLeoncio GR Leonmeid GRAinda não há avaliações
- Compostagem - ESALQDocumento19 páginasCompostagem - ESALQMarcel BarbieriAinda não há avaliações
- Cálculo de FertirrigaçãoDocumento17 páginasCálculo de FertirrigaçãoFelipe Landim100% (1)
- Adubação ParceladaDocumento21 páginasAdubação ParceladaOsvaldir FelicianoAinda não há avaliações
- IedaDocumento78 páginasIedaPedro Augusto100% (1)
- Adubação - Interpretação de Análise de Solo - ÓtimoDocumento45 páginasAdubação - Interpretação de Análise de Solo - ÓtimoCamila FigueiredoAinda não há avaliações
- Manual de Construção de Composteira CaseiraDocumento6 páginasManual de Construção de Composteira CaseiraRodolfo BarattoAinda não há avaliações
- Manejo Integrado de Pragas (MIP) Na Cultura Da Soja: Um Estudo de Caso Com Benefícios Econômicos e AmbientaisDocumento46 páginasManejo Integrado de Pragas (MIP) Na Cultura Da Soja: Um Estudo de Caso Com Benefícios Econômicos e AmbientaisWillian ManchiniAinda não há avaliações
- Apostila AgroecologiaDocumento37 páginasApostila AgroecologiaNatalia OliveiraAinda não há avaliações
- Cultivo in Vitro de Plantas - 4a - EdicaoDocumento356 páginasCultivo in Vitro de Plantas - 4a - EdicaonatybrittesAinda não há avaliações
- Ecologia Microbiana Do Solo PDFDocumento23 páginasEcologia Microbiana Do Solo PDFRobert MoreiraAinda não há avaliações
- Cartilha Agroecologia - Plante Esta IdeiaDocumento52 páginasCartilha Agroecologia - Plante Esta IdeiaAna ZaratimAinda não há avaliações
- Paisagismo RuralDocumento4 páginasPaisagismo RuralJunior PadilhaAinda não há avaliações
- Aula Feijão OkDocumento166 páginasAula Feijão OkMichele Cristina LangAinda não há avaliações
- Nutrição Mineral Do FeijoeiroDocumento39 páginasNutrição Mineral Do FeijoeiropvcferrariAinda não há avaliações
- Fertilizantes, Escolha de Fórmulas e Tipos de AdubosDocumento35 páginasFertilizantes, Escolha de Fórmulas e Tipos de AdubosmlnfAinda não há avaliações
- LIVRO - Experimentação Agrícola Prática No CamDocumento44 páginasLIVRO - Experimentação Agrícola Prática No CamArmestrong DavisAinda não há avaliações
- 2017LV03Documento489 páginas2017LV03PauloKosterSiedeAinda não há avaliações
- Arborização - Urbana - Aracaju PDFDocumento129 páginasArborização - Urbana - Aracaju PDFJade Ramos FeltrinAinda não há avaliações
- Cultivo de Hortaliças OrgânicasDocumento18 páginasCultivo de Hortaliças OrgânicasDivisópolis Emater-MGAinda não há avaliações
- Fertirrigação em Hortaliças - Boletim Iac BT 196 FinalDocumento58 páginasFertirrigação em Hortaliças - Boletim Iac BT 196 FinalAndré Miguel100% (1)
- 033 - Agronomia - Principais Pragas-Feijoeiro...Documento18 páginas033 - Agronomia - Principais Pragas-Feijoeiro...Rodrigues Almeida GuenhaAinda não há avaliações
- Recomendações para o Uso de o Uso de Corretivos, Matéria Orgânica e Fertilizantes para Hortaliças DF 1° Aproximação PDFDocumento53 páginasRecomendações para o Uso de o Uso de Corretivos, Matéria Orgânica e Fertilizantes para Hortaliças DF 1° Aproximação PDFCauã AraújoAinda não há avaliações
- Guia Interpretacao Analise Solo PDFDocumento106 páginasGuia Interpretacao Analise Solo PDFMarcos BastosAinda não há avaliações
- Cartilha - Defensivos - Naturais AgroecologiaDocumento33 páginasCartilha - Defensivos - Naturais AgroecologiaThaysa LimaAinda não há avaliações
- Recomendacao de Calagem e AdubacaoDocumento511 páginasRecomendacao de Calagem e Adubacaonoslirama100% (1)
- Olericultura OrgânicaDocumento27 páginasOlericultura OrgânicaKleidson FariaAinda não há avaliações
- Bokashi e Microorganismos EficientesDocumento13 páginasBokashi e Microorganismos EficientesThais BoAinda não há avaliações
- Doenças de Árvores UrbanasDocumento17 páginasDoenças de Árvores UrbanasThays SchneiderAinda não há avaliações
- Apostila Amostragem Recomendação Adubação ManejoDocumento85 páginasApostila Amostragem Recomendação Adubação ManejoMarcelino Geraldo de MagalhãesAinda não há avaliações
- Ebook Equipamentos para Analise de SolosDocumento25 páginasEbook Equipamentos para Analise de SolosAntonio Henrique ortolanAinda não há avaliações
- Livro - Biocontrole de Doenças de Plantas PDFDocumento334 páginasLivro - Biocontrole de Doenças de Plantas PDFLeona Varial100% (2)
- Cultura de MelanciaDocumento71 páginasCultura de MelanciaGutembergues JuniorAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introdução À Sistemas AgroflorestaisDocumento28 páginasAula 1 - Introdução À Sistemas AgroflorestaisLuana FernandesAinda não há avaliações
- Defesa Fisiologica PDFDocumento100 páginasDefesa Fisiologica PDFraphaelagroAinda não há avaliações
- Pragas e Doenças Na Cultura Do FeijãoDocumento50 páginasPragas e Doenças Na Cultura Do FeijãoRo Alves50% (2)
- A hotelaria no Brasil e a gestão de resíduos: uma análise entre dois hotéis da região metropolitana do Rio de JaneiroNo EverandA hotelaria no Brasil e a gestão de resíduos: uma análise entre dois hotéis da região metropolitana do Rio de JaneiroAinda não há avaliações
- Resíduos Sólidos: Desafios & OportunidadesNo EverandResíduos Sólidos: Desafios & OportunidadesAinda não há avaliações
- Agricultura familiar e políticas públicas no estado de São PauloNo EverandAgricultura familiar e políticas públicas no estado de São PauloAinda não há avaliações
- Turfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: Serviços Ecossistêmicos Interações Bióticas e PaleoambientesNo EverandTurfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: Serviços Ecossistêmicos Interações Bióticas e PaleoambientesAinda não há avaliações
- Educação, meio ambiente e saúde: Escritos científicos do extremo sul do Piauí – Volume 2No EverandEducação, meio ambiente e saúde: Escritos científicos do extremo sul do Piauí – Volume 2Ainda não há avaliações
- Produtos Florestais não Madeireiros: As Comunidades e a Sustentabilidade do DesenvolvimentoNo EverandProdutos Florestais não Madeireiros: As Comunidades e a Sustentabilidade do DesenvolvimentoAinda não há avaliações
- Fitotoxicidade de Herbicidas na cultura milho: interações entre herbicidas, épocas e métodos de aplicação e manejo da adubação nitrogenadaNo EverandFitotoxicidade de Herbicidas na cultura milho: interações entre herbicidas, épocas e métodos de aplicação e manejo da adubação nitrogenadaAinda não há avaliações
- Como Estruturar Uma Carta ComercialDocumento2 páginasComo Estruturar Uma Carta Comercialdafina4275Ainda não há avaliações
- PoimenicaDocumento4 páginasPoimenicahistoriadornickAinda não há avaliações
- Port - 118 - 97 Criadouro Fins Comerciais para Venda de FilhotesDocumento9 páginasPort - 118 - 97 Criadouro Fins Comerciais para Venda de FilhotesWilson Victório GarciaAinda não há avaliações
- AULA 5 - Testes de Normalidade e SignificanciaDocumento21 páginasAULA 5 - Testes de Normalidade e SignificanciaSamantha BrownAinda não há avaliações
- Direito Internacional Privado (David Andrade)Documento43 páginasDireito Internacional Privado (David Andrade)4.º Ano Subturma 1Ainda não há avaliações
- Município de Itapeva: Professor de Educação Básica II CiênciasDocumento12 páginasMunicípio de Itapeva: Professor de Educação Básica II CiênciasAndréia KethellyAinda não há avaliações
- Resenha Catequese Renovada 20 AnosDocumento4 páginasResenha Catequese Renovada 20 AnosRenildo Belarmino SilvaAinda não há avaliações
- 1a Rodada de Simulacao Com GabaritoDocumento13 páginas1a Rodada de Simulacao Com GabaritoAdemarjr JuniorAinda não há avaliações
- Conceitos de Facilitação Neuromuscular ProprioceptivaDocumento9 páginasConceitos de Facilitação Neuromuscular Proprioceptivandondo nzomambu simaoAinda não há avaliações
- 7o Ano - Exercício - Números Positivos e Negativos - Aula 02Documento3 páginas7o Ano - Exercício - Números Positivos e Negativos - Aula 02Andreza Marques0% (1)
- Melhorar Performance de Disco No PfSenseDocumento4 páginasMelhorar Performance de Disco No PfSensehenryqueAinda não há avaliações
- Dctimarinst 30 17 PDFDocumento5 páginasDctimarinst 30 17 PDFRafael CaveariAinda não há avaliações
- (FEITO) ChupacabraDocumento3 páginas(FEITO) ChupacabrakraidfaceAinda não há avaliações
- Guia Limpeza EspiritualDocumento32 páginasGuia Limpeza Espiritualmildred oliveira100% (1)
- Selenium Medio Con DriverDocumento4 páginasSelenium Medio Con DriverFrancisco Stonly Amador Rodriguez100% (3)
- PEF3405-Aula 3-Fundações RasasDocumento12 páginasPEF3405-Aula 3-Fundações RasasVinicius CalácioAinda não há avaliações
- Nagashima Agnes I Me 2010Documento80 páginasNagashima Agnes I Me 2010kaiquep19Ainda não há avaliações
- Resumo - Elementos de Probabilidades e EstatísticaDocumento30 páginasResumo - Elementos de Probabilidades e EstatísticaAndré CastroAinda não há avaliações
- Teoria Dos Conjuntos Rodrigo Sanchez MacedoDocumento115 páginasTeoria Dos Conjuntos Rodrigo Sanchez MacedofranciscoAinda não há avaliações
- Camila Barbosa Riccardi LeonDocumento124 páginasCamila Barbosa Riccardi LeonManuella BragaAinda não há avaliações
- Acessórios 01Documento3 páginasAcessórios 01dannevesAinda não há avaliações
- 12 ResenhaDocumento5 páginas12 ResenhaRegimário Costa MouraAinda não há avaliações
- Relação Final de Classificados Pós Recurso No Processo de Credenciamento PEI 2023 - LIBRAS PEIDocumento3 páginasRelação Final de Classificados Pós Recurso No Processo de Credenciamento PEI 2023 - LIBRAS PEIThalita FernandesAinda não há avaliações
- Checklist Mercearia Kato 2017Documento4 páginasChecklist Mercearia Kato 2017Raquel MirandaAinda não há avaliações
- 2018 Apostila Revisao-EnEMDocumento130 páginas2018 Apostila Revisao-EnEMLeticia Campos ArrudaAinda não há avaliações
- Bariatrica Carol e Miqueias-PowerPoint-TemplateDocumento23 páginasBariatrica Carol e Miqueias-PowerPoint-TemplateKarolyn NunesAinda não há avaliações
- AlimentosDocumento9 páginasAlimentosKennedy Fonseca RodriguesAinda não há avaliações
- Edital de Abertura 52021 - PropepUFALDocumento10 páginasEdital de Abertura 52021 - PropepUFALVitória FirmianoAinda não há avaliações
- MQ Da Coloração de PapanicolaouDocumento5 páginasMQ Da Coloração de PapanicolaouAnne CarolineAinda não há avaliações
- TCC 1 - FrancineteDocumento12 páginasTCC 1 - FrancineteCELESTIAinda não há avaliações