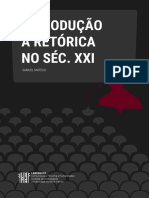Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
27 LauraDeOliveira DiretosHumanosEMemoria
27 LauraDeOliveira DiretosHumanosEMemoria
Enviado por
Dario AndradeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
27 LauraDeOliveira DiretosHumanosEMemoria
27 LauraDeOliveira DiretosHumanosEMemoria
Enviado por
Dario AndradeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DIREITOS HUMANOS E MEMRIA: O DEBATE SOBRE A BIOTICA NA SEGUNDA METADE DO SCULO XX
Laura de Oliveira
Resumo: Este artigo tem como objetivo esmiuar a narrativa elaborada pelos bioeticistas em torno de seu campo de atuao, apresentar os elementos sustentadores da polmica sobre o lugar da tcnica e da cincia no sculo XX e indicar como essa polmica associou a memria das guerras e do Holocausto definio dos Direitos Humanos, conduzindo necessidade de regulamentao de polticas pblicas interessadas na cincia e na sua interveno cotidiana. Alm disso, pretende-se vincular as transformaes operadas em nvel mundial lgica proveniente do ambiente nacional, que procurou mesclar-se defesa de Direitos Humanos supranacionais e regulamentar polticas pblicas no Brasil a partir da incorporao de reflexes sobre a Biotica. Palavras-chave: Biotica, Direitos Humanos, memria, cincia, tcnica.
I.
No h dvida da importncia assumida pela Biotica no mundo contemporneo, considerando-se que o ensejo de regulamentao de um campo preocupado em definir os limites para a cincia no uma espantosa novidade. Embora a investigao em torno da Biotica e da regulamentao das pesquisas e prticas cientficas encontre-se muito presente em ambiente mdico e filosfico, nosso esforo o de compreender, a partir das rupturas do mundo contemporneo, em que medida a experincia dos atores histricos modelou o olhar que seria dirigido cincia, tcnica e s suas realizaes no sculo XX. Em outras palavras, de nosso interesse perscrutar as relaes entre uma narrativa catastrfica e teleolgica, associada aos feitos cientficos, e a composio de um campo de controle para os avanos tcnicos e cientficos. Depois das guerras mundiais, ao lado da crtica direcionada ao uso da cincia e da tcnica, os atores histricos tambm conferiram a ambas um carter emancipador, pois, mais uma vez confiantes, passariam a pensar em como estabelecer um ambiente em que a prtica cientfica pudesse ser regulamentada, sem que isso resultasse na demonizao do campo de pesquisa e experimentao.
Com essa tarefa herclea, a de restituir a importncia e a legitimidade da cincia no mundo contemporneo, sem deixar de considerar as dificuldades dessa empreitada, a polmica que se instaura diversa, colocando face a face matrizes de pensamento, no mnimo, distintas. O acompanhamento dessa polmica permite recompor os fios de uma
historicidade que nos conduz a pensar no homem no como uma vtima desavisada do Prometeu desacorrentado, mas como um ativo participante do jogo de foras estabelecido entre as rpidas transformaes contemporneas e o desejo, ainda presente, de dominar a natureza e alcanar a eternidade. A partir dessas reflexes, este artigo pretende alcanar cinco objetivos: 1) esmiuar a narrativa elaborada pelos bioeticistas em torno de seu campo de atuao; 2) apresentar os elementos sustentadores da polmica sobre o lugar da tcnica e da cincia no sculo XX; 3) indicar como essa polmica associou a memria das guerras e do Holocausto definio dos Direitos Humanos, conduzindo necessidade de regulamentao de polticas pblicas interessadas na cincia e na sua interveno cotidiana; 4) vincular as transformaes incorporadas lgica proveniente do ambiente nacional, que procurou mesclar-se defesa de Direitos Humanos supranacionais; 5) acompanhar a regulamentao das polticas pblicas no Brasil, a partir da incorporao de reflexes sobre a Biotica.
II.
O neologismo Biotica tradicionalmente atribudo ao bilogo e oncologista estadunidense Van Rensselaer Potter. A narrativa oficial1 indica que o termo teria aparecido, pela primeira vez, em um artigo intitulado Bioethics, the Science of Survival, de 1970, tendo sido retomado no livro Bioethics: Bridge to the Future, tambm de sua autoria, no ano seguinte. Preocupado com o impacto ambiental do desenvolvimento biotecnolgico e suas conseqncias para a vida humana, Potter props a criao de uma nova cincia no interior da qual se fizesse a reflexo necessria sobre a utilizao dos conhecimentos cientficos. Na viso do autor, ela seria capaz de conciliar a cultura empirista, norteadora da prtica cientfica, com a cultura humanista, que fundamenta as proposies ticas. Para Potter, essas duas culturas haviam se edificado paralelamente na tradio ocidental sem, contudo, influenciar uma outra. A
Considero narrativa oficial ou narrativa tradicional a histria da Biotica contada pelos prprios bioeticistas, seja nas revistas especializadas (como a Revista Biotica, do Conselho Federal de Medicina, e a Revista Brasileira de Biotica, publicada pela Sociedade Brasileira de Biotica), seja em livros que abordam o tema. Em todos os casos levantados, a histria contada a mesma, da o uso do vocbulo narrativa no singular.
Bio-tica viria atrelar a prtica cientfica a um projeto moralizador em nvel global que garantisse a sobrevivncia da espcie humana no planeta2.
Ainda em 1971, Andr Hellegers fundou The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics, hoje denominado Kennedy Institute of Ethics, onde uma seo especfica foi criada com o intuito de dar conta das questes ticas envolvendo a reproduo humana: Center for Bioethics. Essa iniciativa representou a ascenso da Biotica como disciplina acadmica, como campo de estudo em nvel universitrio. Alm disso, determinou uma nova orientao para o uso do termo, agora voltado para os impasses da rea biomdica. Hellegers teria afirmado no ter conhecimento da obra de Potter, defendendo no s a originalidade do termo, como a especificidade do seu uso. Potter, alm de reivindicar a paternidade sobre o vocbulo, teria lamentado a restrio do termo, defendendo sua utilizao tambm para se pensar uma tica ambiental e animal (Neves, 1996). A despeito da polmica em torno da sua origem, desde os anos subseqentes a 1971 at os dias atuais, a palavra Biotica passaria a ser amplamente utilizada, quase sempre, com a conotao conferida a ela por Hellegers.
Embora o surgimento do termo e os debates em torno da sua utilizao datem da dcada de 70, a histria oficial da Biotica elaborada a partir dos acontecimentos que marcaram as trs dcadas anteriores. Aponta-se para a proliferao, nos pases ocidentais, desde o final da dcada de 40, de comits de tica em pesquisa e tratados internacionais que visavam ao estabelecimento de normas para as pesquisas envolvendo seres humanos, a exemplo do Cdigo de Nuremberg (1947) e da Declarao de Helsinki (1964). Assim, se no se podia falar, ainda, em Biotica, uma tica norteadora da pesquisa cientfica j era concebida no final dos anos 40. Com esse argumento, alguns bioeticistas afirmam que a institucionalizao da Biotica teria precedido o surgimento do termo em si.
A existncia de uma tica mdica, no entanto, data de muito antes das dcadas intermedirias do sculo XX. O pioneirismo na tica mdica atribudo ao grego
Sobre as a etimologia do termo Biotica, conferir em Durand (2003), DallAgnol (2005), Clotet (1993) e Neves (1996).
Hipcrates, cujo juramento emprestado s formalidades acadmicas at hoje, sobretudo, na ocasio das formaturas em medicina. Entre o final do sculo XIX e o incio do XX, outros cdigos foram elaborados tambm com o objetivo de regulamentar a pesquisa e a prtica mdica. Entre eles, o suposto3 Cdigo de Experimentao em Seres Humanos, escrito pelo gastroenterologista norte-americano William Beaumont, em 1833, a Instruo sobre Intervenes Mdicas com objetivos outros que no Diagnstico, Teraputica e Imunizao (Prssia, 1901) e as Diretrizes para Novas Teraputicas e Pesquisa em Seres Humanos (Alemanha, 1931). Nos Estados Unidos, em 1901, o senador republicano Jacob H. Gallinger props, sem sucesso, um projeto de lei que visava regulamentao dos experimentos cientficos com seres humanos. Em todos os casos citados, as normas possuam validade em nvel local; nenhum desses cdigos pretendia ultrapassar as fronteiras nacionais.
A partir desses apontamentos, algumas questes se colocam: se possvel pensar uma tica mdica desde o sculo V a.C., por que razo a narrativa oficial em torno da histria da Biotica concebe o surgimento dessa pretensa cincia somente a partir do final da dcada de 40, mais especificamente, a partir da publicao do Cdigo de Nuremberg (1947)? Se for aceitvel a idia de que a Biotica existe desde antes da elaborao do termo, na dcada de 70, por que no incluir os eventos anteriores a Nuremberg na histria oficial da disciplina? Se um cdigo de conduta biomdica foi adotado como marco para a ascenso da Biotica, por que no o cdigo prussiano, de 1901, ou o alemo, de 1931? Os bioeticistas elaboraram alguns argumentos que respondem a essa sorte de questes.
III.
As dcadas intermedirias do sculo XX so caracterizadas como um momento de profundas transformaes nos pases ocidentais, resultantes tanto do crescimento econmico quanto da ampliao das comodidades da vida em decorrncia do desenvolvimento cientfico e tecnolgico. O salto na produo cientfica e tecnolgica havia aumentado consideravelmente as possibilidades de interveno e transformao na natureza, includo o prprio ser humano. Em virtude de uma sede de potncia, alguns
3
No h registros claros da existncia desse documento.
deslizes na pesquisa biomdica teriam suscitado polmicas em torno da atuao dos cientistas, o que levou reflexo sobre a urgncia de um enquadramento para a prtica cientfica. O principal exemplo disso seriam as experimentaes de mdicos nazistas com seres humanos no interior dos campos de concentrao4. Aps a divulgao desses fatos, se teria entendido como premente a necessidade do estabelecimento de normas para as pesquisas envolvendo seres humanos; da a publicao, menos de um ano aps o fim do fim dos julgamentos dos nazistas5, do Cdigo de Nuremberg, tomado como marco do surgimento da Biotica. Esse evento considerado como o mais significativo na histria da disciplina. Ele seria uma reao da humanidade, ali representada pela comisso de Aliados, s barbries da Segunda Guerra. A causa judaica, bem como das demais minorias tnicas submetidas ao confinamento nos campos, passou a ser tomada como uma causa universal, extensiva a todos que compartilham da mesma natureza humana. A condio aptrida da populao judaica facilitou a identificao de povos de diferentes nacionalidades com a sua problemtica, o que favoreceu a disseminao do discurso universalista do ps-guerra. Ao mesmo tempo em que o Holocausto representou um fundamento para a crtica ao universalismo ocidental, ele emergiu como um legitimador a priori do desejo cosmopolita de propagao de valores universais, que deveriam conciliar o Direito Internacional com proposies ticas vlidas para toda a humanidade (Levy e Sznaider, 2004). Assim, as experincias realizadas por Joseph Mengele e demais mdicos nazistas no interior dos campos, amparadas pelo princpio de verdade que embasa as proposies cientficas, foram tomadas como um evento representativo dos danos em nvel global que o mau uso da cincia poderia causar.
O Cdigo, por sua vez, apreendido como uma resposta coletiva barbrie, um grito em prol da restituio do carter benfico e construtivo que deveria nortear a
Ao final da Segunda Guerra Mundial, o Ministrio do Interior em exlio da Polnia divulgou um documento contendo informaes sobre experimentos ditos cientficos realizados no interior dos campos de concentrao, sobretudo dos campos de Ravensbruck e Dachau. Eles teriam sido levados a cabo pelos mdicos nazistas chefiados por Joseph Mengele, Julius Gepphard e Sigismund Rascher. Tratou-se da remoo de ossos, msculos e nervos para observar uma possvel regenerao; da provocao de ferimentos nos corpos e subseqente injeo de agentes infecciosos, com o objetivo de observar a evoluo natural da doena; da introduo de madeira e vidro nos corpos como forma de simular as condies reais em que o organismo teria que reagir em um contexto de guerra. 5 Os mdicos nazistas acusados de se valerem do discurso cientfico para legitimar as barbries cometidas no interior dos campos de concentrao foram julgados, assim como os demais membros vinculados ao Terceiro Reich, na cidade de Nuremberg, em 1947. No entanto, entendeu-se, quela poca, que os crimes cometidos pelos mdicos nazistas possuam uma especificidade que justificava a organizao de um julgamento parte. Embora tenha feito parte das atividades em Nuremberg, o julgamento dos mdicos nazistas foi anterior aos demais julgamentos.
4
pesquisa e a prtica cientfica. Da a sua escolha como marco para a ascenso da Biotica. Teria sido ele o primeiro cdigo de conduta tica para a prtica e a pesquisa biomdicas com pretenses de universalidade. Enquanto os cdigos prussiano e alemo, produzidos na primeira metade do sculo, so elaboraes que visavam normatizao interna da pesquisa envolvendo seres humanos, o Cdigo de Nuremberg apelou, pioneiramente, para a adeso de todos os povos causa da Biotica (embora, lembremos, o termo s viesse a ser cunhado na dcada de 70).
O bioeticista canadense Guy Durand ressalta, contudo, que a publicao do Cdigo no teve tanto impacto nos Estados Unidos, nascedouro da Biotica, quanto se propaga. Isso porque ele seria uma resposta s prticas inquas dos nazistas e, portanto, aos outros, o que no seria vlido para os pesquisadores americanos. Teria sido necessria a divulgao de eventos ocorridos dentro dos prprios Estados Unidos para que a opinio pblica norte-americana se mobilizasse em torno da causa da Biotica. O primeiro desses eventos6 teria sido o nascimento, em 1962, de crianas com problemas congnitos de m formao (inclusive a falta de membros), resultante da ingesto, pelas mes, de um medicamento chamado talidomida, ainda em fase de testes. Essas gestantes no sabiam que estavam sendo submetidas como cobaias no experimento. Nos anos posteriores deflagrao do ocorrido, acaloradas discusses levaram a uma modificao na lei americana de medicamentos e cosmticos (Federal Drug and Cosmetic Act)7, alm de uma reorientao nas discusses Bioticas em nvel mundial, com a adoo,
Outros eventos amplamente divulgados pelas mdias impactaram a opinio publica norte-americana e so considerados fatores importantes para a emergncia da Biotica. Destacam-se o caso Brooklin, que consistiu na injeo de clulas cancerosas em dois idosos senis que estavam hospitalizados, com o objetivo de estudar as suas respostas imunolgicas, e o caso Willowbrook, que consistiu na injeo do vrus da hepatite em centenas de crianas portados de deficincia mental. O mais referenciado, no entanto, o caso Turskegee, que veio tona em 1972. Tratou-se de uma experincia encomendada pelo governo dos Estados Unidos nos anos 30, que implicou no confinamento de centenas de pacientes negros com sfilis em um laboratrio no interior do Texas. Foi-lhes negada qualquer forma de tratamento, como meio de observar a evoluo natural da doena, embora j fosse conhecida, quela poca, a eficcia da penicilina no tratamento desses casos. 7 Essa modificao consistiu, fundamentalmente, na incorporao do princpio do consentimento informado, que se refere ao imperativo de que o sujeito que ser submetido ao experimento dever ter conhecimento prvio dos procedimentos que sero realizados, dos riscos envolvidos, e anuir a isso. Esse princpio est presente tanto no Cdigo de Nuremberg (1947) quanto na Declarao de Helsinki (1964) e foi inspirado na experincia da sujeio de seres humanos a intervenes fsicas no interior dos campos de concentrao. O principal problema biotico aqui apontado a incapacidade dos indivduos do exerccio da autodeterminao em decorrncia do confinamento, do controle sobre os corpos e do rompimento dos laos sociais que conferiam a eles identidade.
pela Associao Mdica Internacional, da Declarao de Helsinki8, publicada em 1964. Deste modo, Helsinki teria tido um impacto muito maior sobre a sociedade norteamericana do que o Cdigo de Nuremberg. Ainda assim, a maior parte dos autores convencionou tratar Nuremberg como o marco para a ascenso da Biotica, por ser o evento simbolicamente representativo dos extremos a que se pode chegar com o atrelamento da cincia a certos projetos polticos e por estar diretamente ligado ascenso dos Direitos Humanos no segundo ps-guerra.
Aps o fim da Segunda Guerra, o discurso universalista dos Direitos Humanos passou a dar o tom das relaes internacionais. Estabelece a narrativa oficial que a Biotica teria nascido nesse contexto, a partir da demanda contempornea de superao dos nacionalismos, agora referenciados a partir da sua vinculao a prticas xenfobas. O evento Nuremberg tomado como uma resposta coletiva resultante da unio entre naes partidrias de projetos polticos distintos, como os Estados Unidos e a Unio Sovitica (alm deles, a comisso de Aliados era composta por Frana e Inglaterra). Naquele momento, esses pases teriam abdicado das suas tradicionais oposies para, em unssono, proclamar a barbrie realizada no interior da Alemanha nazista e atribuir aos responsveis as penas devidas. O nacionalismo foi rechaado na medida em que se evidenciaram as suas relaes com projetos imperialistas e a conseqente perseguio a determinados grupos tnicos. As prticas de eugenia negativa, convergentes para o princpio de xenofobia presente no iderio nazi-fascista, resultavam dessas relaes. Elas consistiram no extermnio de judeus, ciganos e polacos com o argumento de purificao da espcie, de limpeza racial. Tais prticas foram tomadas como o extremo a que se pode chegar quando os projetos polticos de uma determinada nao so legitimados por proposies ditas cientficas. Naquele contexto, fazia-se imperioso rever o prprio crdito conferido cincia, na medida em que ela parecia estar a servio de projetos polticos escusos.
Com efeito, os anos posteriores ao fim da Segunda Guerra foram momentos de reviso do prprio estatuto da cincia ocidental. Seja no interior das academias, seja no
A Declarao de Helsinki foi elaborada na Finlndia, em 1964, na ocasio da 18. Assemblia Mdica Mundial. Ela foi submetida a revises peridicas, que resultaram na elaborao das suas verses posteriores: Declarao de Helsinki II (Japo, 1975), III (Itlia, 1983), IV (Hong Kong, 1989), V (frica do Sul, 1996) e VI (Esccia, 2000).
senso comum, pde-se visualizar um esforo de questionamento do projeto racionalista ocidental, amparado no desenvolvimento cientfico e tecnolgico. Vista, at ento, como um elemento neutro a servio das liberdades humanas, a cincia passou a ser concebida como instrumento de controle vinculado ao processo produtivo, entremeado aos jogos de poder. O alerta que foi feito era de que o discurso de melhoramento da vida por meio das conquistas cientficas obscurecia intencionalidades polticas e projetos de dominao do homem pelo homem. Emergia uma concepo de cincia que negava sua relao necessria com o ideal da emancipao humana, como concebiam os filsofos oitocentistas. A revitalizao das Luzes, nesse contexto, representou um esforo de tomada de conscincia sobre as possibilidades do homem contemporneo, sobre a sua liberdade e os limites que se lhe devia impor. Assim, a Ilustrao emergiu, no sculo XX, tanto como esclarecimento quanto como despotismo (Foucault, 2000).
Duas alternativas filosficas se colocaram nesse contexto: do lado francs, a epistemologia de Bachelard, Cavaills, Koyr e Canguilhem; do alemo, a Escola de Frankfurt, materializada nos escritos de Marcuse, Adorno, Horkheimer e seu principal herdeiro, Jrgen Habermas. Em comum, ambas representavam o esforo de pensar criticamente o estatuto da racionalidade ocidental. No se descartava o potencial libertador da razo; a restrio que estava colocada era a de que ela s poderia ser tomada como um princpio emancipador se conseguisse libertar-se de si mesma (Foucault, 2000).
Como atores histricos do segundo ps-guerra, os frankfurtianos alertaram para o uso da cincia e da tcnica, tomada como seu instrumental, nos projetos de dominao levados a cabo em sociedades nas quais vigorava o capitalismo tardio. Fosse no interior dos Estados totalitrios9, fosse em regimes liberais, o estmulo ao pertencimento em relao a um projeto coletivo vitorioso, que era a marcha inexorvel do Ocidente rumo ao progresso, havia provocado nas massas um sentimento de impotncia frente s foras capitalistas. O uso das mdias estimulava nas pessoas a adeso ao sistema e, ainda que elas estivessem situadas nas suas periferias, as promessas sedutoras do
A concepo de Estados totalitrios a que se faz referncia a apropriao negativizada que a oposio liberal italiana fez da expresso cunhada pelo prprio Mussolini, que concebeu o Estado como o lugar nico das atividades espirituais e materiais do homem. O termo foi difundido por Giovanni Amendola, lder liberal, que escreveu inmeros artigos e panfletos contrrios ao regime fascista (Silva, 2004).
9
capitalismo haviam provocado sua conformao. No limite, o discurso de melhoramento da vida por meio do desenvolvimento cientfico e tecnolgico havia atenuado a luta de classes, o que representava um srio atravancador para as possibilidades de subverso da ordem e para a emancipao humana. Marcuse chamou a ateno para os efeitos desse processo, que provocou a conciliao entre as instituies sociais e suas tradicionais foras de oposio. Naquele contexto, o discurso racionalista, amparado no desenvolvimentismo, acabava por submeter o homem a uma iluso de liberdade. Assim o autor diagnosticou o mal das sociedades contemporneas: a ausncia de oposio. Descartadas as formas tradicionais de protesto poltico, parecia no restarem crtica possibilidades racionais. Ela deveria, portanto, elevar-se a um nvel de abstrao. Apelava-se para as subjetividades como forma de resistncia; cabia ao sujeito contemporneo adotar uma postura imaginativa frente ao real, como forma de evadir dele e, assim, subvert-lo (Marcuse, 1966).
A crtica ao projeto racionalista apareceu, por vezes, atrelada a uma crtica prpria idia de misso civilizatria. Ela converge para o apontamento de Foucault, que concebeu como um fundamento da crise contempornea a reviso do estatuto de universalidade dos tradicionais projetos ocidentais (2000). Adorno chamou a ateno para a gestao, no interior das sociedades civilizadas, de elementos anti-civilizatrios. Evocando Freud, ele apontou para o crescente desconforto dos indivduos no interior das sociedades civilizadas. Nelas, a represso dos impulsos passionais acabava por deixar latente a agressividade humana, o que resultava, muitas vezes, em exploses de ira e descontrole. Um fenmeno como Auschwitz, por exemplo, s poderia ser explicado como uma rebelio violenta e irracional, resultante do mal-estar da cultura, do dio crescente contra os pressupostos da prpria sociedade racional (Adorno, 1995). Assim como Marcuse, ele apontou para a limitada possibilidade de modificar as instituies, de transformar os pressupostos objetivos que haviam levado crise o Iluminismo ocidental. Tambm ele atribuiu subjetividade o potencial transformador. A educao apresentava-se como o recurso capaz de modificar os sujeitos, de preparar as pessoas para a autodeterminao. Usufruir da liberdade demandava preparo para ela, o que os nazi no haviam demonstrado possuir. A prpria adeso em massa ao regime era um indcio do despreparo coletivo para o exerccio da autonomia: se a adeso aos discursos coletivistas parecia to fcil, era porque a maioridade humana ainda representava uma utopia.
9
Contudo, ao mesmo tempo em que se avaliava a crise do projeto iluminista ocidental, apontando-se para o mau uso da cincia e seu atrelamento a projetos de poder, seu potencial emancipador no era descartado. O prprio Adorno sugeriu a necessidade de se utilizar todas as possibilidades que a cincia moderna apresentava para garantir que Auschwitz no se repetisse. A psicologia, entendida como a cincia do comportamento humano, deveria encarregar-se da compreenso dos processos que levaram desumanizao dos homens responsveis pelo nazismo. As mdias, tcnica a servio de ideologias, deveriam incumbir-se da formao de mentalidades indispostas ao exerccio da barbrie.
Do lado de l da fronteira, a epistemologia francesa oferecia outra resposta a essas mesmas questes. Na esteira das discusses sobre as trevas do Iluminismo no Ocidente, os franceses encontraram na distino entre ideologia e cincia a chave para reafirmar a positividade e a importncia do saber cientfico. Chamaram a ateno para os limites que separam os elementos que funcionam meramente como fatores de adaptao social e aqueles que efetivamente produzem conhecimento. Para os epistemlogos franceses, a cincia o lugar prprio de verdade e da razo; nela que reside toda e qualquer racionalidade (Machado, 2007). O domnio das ideologias o do no cientfico. Seus apontamentos no produzem conhecimento; tm, meramente, funo de ajuste, de regulao das relaes sociais. O conhecimento s produzido no interior das diversas cincias; por isso, somente elas possuem positividade. O objetivo da epistemologia no , contudo, produzir critrios de justificao ou de legitimao do discurso cientfico, mas sim, analisar os processos que levam constituio de uma determinada cincia, seus princpios internos de validao e seus critrios de verdade (Machado, 2007).
Ao tomar a cincia como a nica produtora de verdade, a epistemologia situa a ideologia como o cerne da crise do Iluminismo ocidental. Diferentemente do que fizeram os estudiosos de Frankfurt, ela focaliza o processo cientfico propriamente dito. Se, para os alemes, a tcnica e a cincia estavam a servio das ideologias, quando no tinham, elas mesmas, se convertido em ideologias (Habermas, 2006), para os franceses, era imperioso ressaltar o estatuto de positividade das cincias, como forma de impedir que a onda de ceticismo provocasse um descrdito generalizado em relao a elas.
10
Nesse sentido, Bachelard props axiomas gerais que pudessem ser vlidos para a compreenso do pensamento cientfico. Em primeiro lugar, dever-se-ia conceber que a cincia se desenvolve a partir do erro; trata-se de uma verdade que se edifica sobre o engano, a falha, a retificao. As intuies so vlidas porque conferem ao pensamento um sentido de orientao, mas servem, sobretudo, para serem destrudas. As verdades so construes que se erguem a posteriori, depois dessas impresses iniciais. A cincia, embora seja um conhecimento que se amplia a cada descoberta, resulta no de acertos sucessivos, mas de experincias quase sempre enganosas que conduzem correo e aproximao da verdade. Assim, Bachelard concebe o erro como uma potncia e no como uma fragilidade do processo cientfico (Canguilhem, 1972). A intuio, como qualquer forma de pensamento no racional, a mola propulsora para o desenvolvimento do pensamento cientfico. nesse sentido que o epistemlogo nega o rtulo de racionalista que lhe foi, por vezes, atribudo. Diferentemente dos filsofos racionalistas da Ilustrao, que no concebiam o erro como fonte de conhecimento, Bachelard apontou para a retificao como um princpio orientador do desenvolvimento cientfico. Deste modo, a releitura que se faz do pensamento iluminista refere-se, antes, reafirmao do estatuto de verdade do conhecimento cientfico, do seu vnculo com o real, do que idia de que o conhecimento cientfico se funda em bases empricas sempre orientadas pela ordem da razo. Um conhecimento racional pode, sim, erguer-se sobre o pano da des-razo.
O que se nota, portanto, o esforo de promover uma reviso crtica das relaes entre cincia e racionalidade. Isso porque, at a primeira metade do sculo XX, havia uma concepo hegemnica de que esses dois elementos estavam necessariamente em conexo. A crise de sentidos decorrente das experincias das dcadas intermedirias do sculo XX acabou colocando em questionamento a validade do projeto racionalista ocidental. Para os pensadores supracitados, reavaliar o tratamento dado prpria cincia, at ento concebida como o baluarte da razo no Ocidente, tornou-se um imperativo. Nesse sentido, as expectativas contemporneas se voltaram para a necessidade de elaborao de proposies ticas para a prtica cientfica. A revitalizao do debate em torno do Iluminismo convergiu para essa demanda, levando revitalizao de pressupostos ticos da Ilustrao no contexto da dcada de 1950.
11
Tomou-se como necessrio reorientar a prtica cientfica a partir de princpios ticos que pudessem ser universalizveis, a exemplo do que props a Biotica. Nesse caso especfico, a legitimidade para a postura de desconfiana em relao cincia e aos cientistas foi ao encontro das atitudes extremadas perpetradas em relao s vtimas do Holocausto. Os cientistas alemes envolvidos nessas experincias so caracterizados como pessoas cegadas por suas aspiraes ao poder, conduzidas a ignorar os limites humanos que se impunham frente aos seus objetivos polticos. Como Estado totalitrio, a Alemanha nazista teria protagonizado, mais do que o momento crtico da razo ocidental, o marco da des-razo no Ocidente. As experincias cientficas com judeus seriam um indcio de que a cincia no poderia mais ser confundida com a prpria racionalidade. Ao contrrio, em defesa do racionalismo, dever-se-ia criar mecanismos de controle das prticas cientficas, agora vinculadas a uma meia dzia de manacos que queriam ou conduzir a humanidade ao caos, ou utilizar-se da cincia como ferramenta de controle. Essa ltima hiptese, igualmente atemorizante, causou pavor entre os diversos povos marcados pela experincia do totalitarismo e das prticas eugnicas.
O contexto do ps-guerra foi, portanto, um perodo de reavaliao crtica dos projetos ocidentais, bem como de surgimento de novas propostas orientadoras para a ao humana e para a prtica poltica. Ao mesmo tempo em que o estatuto de cincia e a sua relao com determinados projetos polticos foram avaliados, os pensadores esforaram-se em diagnosticar as razes que levavam ampla adeso, no interior das fronteiras nacionais, a esses projetos. De um lado, apontava-se para a despolitizao das massas resultante da introjeo do discurso de ampliao das comodidades da vida por meio das conquistas da cincia, o que acabava por obscurecer intencionalidades polticas. De outro, a educao e as mdias eram apontadas como os meios que se incumbiam de formar pessoas propensas ao represamento das emoes, as chamadas conscincias coisificadas, incapazes de se compadecer com o sofrimento alheio (Adorno, 1995). Ambos apareciam atrelados a uma outra crtica: cega submisso dos indivduos aos projetos nacionais. No interior dos Estados Naes, a populao estabelecia vnculos de pertencimento que impediam a avaliao crtica da poltica, especialmente se amparada em proposies cientficas, que no podiam ser questionadas. A ampla adeso da populao alem poltica do Terceiro Reich e a sua subordinao aos ditames do Partido Nazista foram apontados como fortes indcios de que os projetos nacionais acabam por configurar-se em empecilhos para a auto12
determinao humana. Revitalizar a tica iluminista, naquele contexto, era revalorizar tambm a propriedade humana de descentrar-se, a capacidade do indivduo de produzir uma avaliao crtica do contexto em que est inserido.
IV
Nas dcadas subseqentes Segunda Guerra, em um contexto de proclamada valorizao do individualismo, o nacionalismo, amparado no princpio do nascimento e na qualificao como cidado, acabava por configurar-se como um atravancador para as liberdades humanas. Mais do que garantidora de direitos, a cidadania passou a ser considerada um vnculo que impunha aos indivduos a adeso necessria aos projetos do Estado. No s no senso comum, mas entre diversos pensadores do ps-guerra, o fenmeno Auschwitz foi atribudo, muitas vezes, cega subordinao dos funcionrios do regime e da populao em geral aos projetos nacionais. Nas referncias a Eichmann, Hannah Arendt aponta para a obedincia cadavrica (termo utilizado pelo prprio Eichmann em seu julgamento, em Jerusalm, 1960) de um cidado ao sistema. O que dava o tom prtica no interior do Terceiro Reich era o imperativo categrico formulado por Hans Frank10: Aja de tal modo que o Fhrer, se souber de sua atitude, a aprove. Assim, os homens envolvidos com o regime nazista foram tomados, antes, como funcionrios obedientes e cumpridores das leis. O princpio de superioridade da raa ariana, que justificava as pretenses imperialistas da nao alem, obscurecia as barbries cometidas no interior do sistema. Por meio das mdias, o nacionalismo teria sido inculcado nas mentes do povo alemo, que passou a se compreender antes como cidados da Alemanha, do que como seres humanos. O princpio do dever para com a nao ofuscava as orientaes pessoais dos indivduos, cuja auto-compreenso fundavase nos vnculos com os projetos do Estado.
Ao empreender a elaborao em torno de uma auto-imagem nacional, os alemes tiveram de se deparar com a subordinao de valores humanistas ou morais aos nacionais (Elias, 1989). Nesse sentido, o nacionalismo no era apenas reativo, mas, antes, colocava-se como metfora e emblema da adeso aos projetos de cunho universalistas e, paradoxalmente, excludentes na medida em que se colocavam como
10
Advogado alemo. Governador-geral da Polnia ocupada durante a Segunda Guerra Mundial.
13
representantes da potncia nacional. Assim, pareciam descartadas as possibilidades de crtica e subverso da ordem. Convergiam para a nao, ao mesmo tempo, as expectativas de direitos e deveres dos indivduos. Era no conceito de cidadania que se agregavam tanto as garantias individuais, quanto os compromissos ticos do indivduo originrio em um determinado territrio nacional. Importante acrescentar que no simples, direto e nem mesmo de comprovada eficcia o mecanismo que transforma o Estado em ente e os cidados em seus seguidores acfalos. Elemento incisivo de uma bem engendrada reao ao projeto moderno, a possibilidade de regenerao europia anunciada pelos nazistas fomentava os interesses dos admiradores de primeiro momento do nazismo.
No interior dos Estados Nacionais, assim, teria se configurado uma estrutura em que os direitos do homem e os direitos do cidado se confundiam. As garantias conferidas aos homens s ocorriam em decorrncia de uma condio que lhes era concedida pelo nascimento. Essa perspectiva converge para o apontamento de Agambem, que pensou a vinculao entre os direitos do cidado e do homem como um dos elementos fundadores da poltica moderna. Nas declaraes de direitos do final do sculo XVIII, a exemplo da declarao francesa de Direitos do Homem e do Cidado, a tutela divina em relao aos homens, que marcou a poltica absolutista, foi transferida para uma instncia laica, o Estado Nacional. At a primeira metade do sculo XX, a articulao dos direitos do homem com o princpio da cidadania era a base fundadora da poltica. A soberania moderna se fundou na continuidade entre homem e cidado, entre nascimento e nacionalidade (Agambem, 2002).
Durante a Segunda Guerra Mundial, contudo, o aparecimento de figuras como a do refugiado colocou em xeque essas antigas estruturas. Ele constitui-se em um elemento politicamente difcil de situar porque, de acordo com o apontamento de Hannah Arendt, o homem de direitos que emerge da mscara de cidado que o definia. to dificilmente conceituvel porque se encontra em um no-lugar. Ao ser destitudo dos vnculos nacionais e dos laos cotidianos que conferiam a ele identidade, passa a ser alvo das intervenes dos organismos supranacionais que devem zelar pelos seus interesses, mas que no conseguem efetivamente resolver o problema de deslocamento
14
desses homens. Isso porque evocam valores tomados como sagrados e inalienveis, mas no conseguem articular politicamente solues para os seus problemas.
Assim, se os efeitos da Segunda Guerra fizeram emergir situaes que levaram ao descolamento dos direitos do homem em relao aos direitos do cidado, ao mesmo tempo, eles tornaram os direitos do homem uma entidade abstrata sem fora de norma ou possibilidade efetiva de regulao das relaes humanas. Em decorrncia disso, a fase atual pde ser apontada, no diagnstico de Agambem, como um momento de separao entre o humanitrio e o poltico. A crise da poltica moderna, amparada no Estado Nao e na categoria cidado, teria levado proclamao dos Direitos Humanos como capazes de salvaguardar os direitos do homem, antes atrelados ao princpio de cidadania. Agora, eles deveriam inscrever a vida nua, a vida natural, em uma instncia supranacional, capaz de sanar o problema de orfandade daqueles lanados para o nolugar, para o exterior das fronteiras do Estado Nao.
Politicamente frgeis, os Direitos Humanos no ps-guerra no conseguem dar conta dessa figura simbolicamente representativa que o refugiado, bem como dos demais aptridas que buscam mais do que proteo, vnculos que confiram a eles identidade. Os cdigos contemporneos, que pretensamente visam inscrever a vida nua, a vida natural, em uma instncia transnacional, acabam por configurar-se em discursos com mais apelo humanitrio do que com fora poltica. Baseados no princpio de natureza humana, esses cdigos visam substituir a categoria do nascimento (que antes fundamentava a cidadania) pela idia de que os vnculos que devem unir os humanos em uma mesma comunidade so as qualidades inatas que os tornam membros de uma mesma espcie. Essa natureza pode ser defendida na sua dimenso biolgica, a exemplo do argumento utilizado por Fukuyama (2003), ou pode ser defendida a partir da natureza social e comunicativa do homem, como atesta Jrgen Habermas (2004). Nesse sentido, as barbries da Segunda Guerra seriam resultado da ausncia de reconhecimento, no outro, de um igual, com quem se pode estabelecer uma relao interlocutria.
Patrocinar o discurso de Direitos Humanos seria, portanto, defender a natureza humana na sua dimenso fsica (um corpo que deve ser preservado) e na sua dimenso
15
social (o reconhecimento do outro como um interlocutor). O homem dos Direitos Humanos deve garantir aos seus pares a proteo, a liberdade, a integridade e a possibilidade de autodeterminao. Esses princpios esto previstos nos cdigos internacionais de Direitos Humanos e Biotica, devendo ser garantidos pelas agncias internacionais, que visam transpor as fronteiras nacionais e justificar, a partir do princpio de natureza humana, a interveno de organismos internacionais em assuntos nacionais, quando esses comprometem os chamados interesses da humanidade. Assim, o homem de que tratam os Direitos Humanos, assim como o homem de que trata a Biotica, um indivduo abstrato, que deve erguer-se das presses comunais, exercidas pelos vnculos com a nao e com as estruturas micro-identitrias que estabelecem com ele, cotidianamente, vnculos de pertencimento.
O discurso dos bioeticistas, constitudo na esteira dos Direitos Humanos, efetivase com a existncia de cdigos internacionais que visam inscrio na vida nua em instncias supranacionais, a exemplo no que ambicionam o Cdigo de Nuremberg e as declaraes de Helsinki. Eles evocam a existncia de um homem universal, destitudo dos vnculos identitrios que efetivamente exercem sobre ele presses e mobilizam atitudes. Por essa razo, o apontamento de Agambem parece corroborar com a tese de que a Biotica acaba por constituir-se em um discurso de carter muito mais humanitrio do que poltico, na medida em que evoca valores abstratos que devem ser incorporados por um homem no-sobrecarregado, elevado das presses comunais exercidas pela nao e pelos vnculos cotidianos constitutivos de sua identidade.
Os princpios defendidos pelos bioeticistas, a exemplo da beneficncia, da nomaleficncia, da autonomia e da justia, acabam por configurar-se em formas de solidarizao com o outro, sobretudo com aqueles que, a exemplo dos refugiados de guerra, so privados dos vnculos que, por si ss, eram a garantia dos seus direitos fundamentais. Eles no tm, contudo, a fora da norma, no so dotados de mecanismos coercitivos capazes de impor a adeso dos povos. A estratgia de que se valem o apelo moral. Efetivamente, a Biotica prevista nos cdigos internacionais no foi capaz de mobilizar atitudes concretas nem de influenciar diretamente a prtica poltica no mundo contemporneo; pelo menos no enquanto no foi articulada com as legislaes nacionais.
16
Em 1974, o Congresso norte-americano criou uma comisso para definir os princpios morais bsicos que deveriam nortear as pesquisas envolvendo seres humanos nos Estados Unidos. A partir das discusses promovidas pelo Congresso, elaborou-se o Relatrio Belmont, em que a memria da Segunda Guerra foi evocada, com o apontamento de que o Cdigo de Nuremberg representava um prottipo para a elaborao dos cdigos de tica biomdica posteriores. No documento, contudo, uma ressalva foi feita: os princpios definidos nos cdigos foram considerados inadequados para cobrir situaes complexas. Freqentemente, as diretrizes apontadas nos cdigos so conflitantes, de complexa interpretao e, sobretudo, de difcil aplicao. Por essa razo, o relatrio props um instrumental terico baseado em trs princpios flexveis, que do margem a distintas interpretaes e se propem como facilitadores para a anlise de casos concretos: o respeito pelas pessoas, a beneficncia e a justia.
Foi com base nesse relatrio que Tom Beauchamp e James Childress elaboraram e publicaram, em 1979, Principles of Biomedical Ethics, em que apresentaram a matriz terica do que ficaria conhecido como principialismo ou teoria dos princpios. Inspirada nos valores apresentados em Belmont, eles definiram quatro princpios que deveriam orientar a prtica mdica e as pesquisas envolvendo seres humanos: autonomia, nomaleficnfia, beneficncia e justia. Desde ento, esses princpios passaram a ser amplamente utilizados em praticamente todos os pases ocidentais sendo, inclusive, confundidos com a prpria Biotica. O modelo estadunidense ganhou fora de lei no plano internacional (Doucet apud Durand, 2003), embora outras correntes tenham surgido nos anos posteriores a Belmont, como a tica feminista, a casustica, a tica da virtude, a tica narrativa e a da responsabilidade.
V.
Quando da normatizao da Biotica no Brasil, em 1996, a Resoluo n 196 utilizou o principialismo como o modelo de referncia. Na verdade, o termo principialismo sequer foi mencionado: seus referenciais foram tomados como inerentes Biotica em si11. Na Resoluo, os cdigos internacionais de Biotica e Direitos
Esta Resoluo incorpora, sob a tica dos indivduos e das coletividades, os quatro referenciais bsicos da Biotica: autonomia, no maleficncia, beneficncia e justia, entre outros, e visa assegurar os
11
17
Humanos foram evocados como fundamento para a elaborao da norma, embora tenha ficado claro que esses textos funcionaram meramente como inspirao, ao passo que a Resoluo cumpria as determinaes previstas na Constituio Federal e nas legislaes de sade especficas. Assim, a Resoluo, promulgada pelo Conselho Nacional de Sade, representativa da convergncia das diretrizes Bioticas internacionais para o mbito nacional. Cabe ao Estado criar mecanismos que efetivamente tornem a Biotica uma realidade poltica, capaz de gerir a vida dos cidados. Cabe a ele efetiv-la como biopoltica (Foucault, 1988).
A Biotica principialista comeou a ser assimilada no Brasil no incio da dcada de 90, como moral universal que se pretendia norteadora das pesquisas envolvendo seres humanos e das polticas de sade neste pas. Em sintonia com a poltica neoliberal adotada pelo governo brasileiro, a incorporao de um instrumental terico oriundo dos Estados Unidos que norteasse as pesquisas na rea da sade parecia inserir ainda mais o Brasil na agenda global de discusses e nos crescentes esforos em prol do controle e normatizao das prticas cientficas. A adoo do principialismo nas polticas de sade, contudo, foi posterior sua ampla aceitao na comunidade cientfica, ou quilo que chamamos de burguesia acadmica12 (Martins, 2004).
Nas publicaes especializadas sobre Biotica, profissionais de sade de diferentes universidades rapidamente demonstraram ter incorporado a linguagem dos princpios, transitando com familiaridade entre os termos autonomia, beneficncia, no maleficncia e justia e buscando nesse referencial terico um instrumento para a resoluo dos problemas relacionados sade pblica no Brasil. Embora, no incio, o termo principialismo no aparecesse explicitamente, a influncia da Biotica angloamericana era evidente, sobretudo quando a postura desses profissionais converteu-se em engajamento, com o empenho dos bioeticistas em prol da normatizao da Biotica no Brasil. Essa militncia evidenciou-se nos artigos da Revista Biotica, do Conselho Federal de Medicina, principal publicao sobre Biotica daquela poca.
direitos e deveres que dizem respeito comunidade cientfica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado (Brasil, Conselho Nacional de Sade, Resoluo n 196, 10 de outubro de 1996). 12 Refiro-me aqui aos profissionais, sobretudo da rea mdica, vinculados a universidades brasileiras, que escreveram para a Revista no perodo de 1993 a 2005. Atravs dos artigos e ensaios nela publicados, eles procuraram indicar caminhos para uma possvel sntese da Biotica principialista, que desse conta da especificidade cultural brasileira. Apesar disso, revelaram um sentimento generalizado de identificao com os valores apregoados pela moral principialista. (conf. Martins, 2004)
18
Tais esforos culminaram, em 1996, com a publicao da Resoluo n 196. No texto da Resoluo, esto claros os princpios que a embasaram, embora tenha sido ignorado que eles, em conjunto, constituem apenas um entre os diversos modelos tericos produzidos pelos bioeticistas a partir do final da dcada de 1970. Os debates relacionados sade, assim como as polticas afeitas a ela, estavam sob a gide do principialismo. Todas as avaliaes acerca de temas relacionados sade eram feitas acriticamente luz dos quatro princpios, como se instrumentaliz-los e possivelmente ajust-los entre si fosse a sada para resolver os problemas da sade pblica no Brasil. Nas publicaes especializadas, a reflexo sobre a adoo do principialismo como modelo terico norteador das polticas pblicas na rea da sade s se deu a partir de meados da dcada de 90. Desde esse ponto de inflexo, artigos e ensaios sobre o tema tm sido freqentemente publicados: algumas vezes, com crticas a essa adoo irrestrita e irrefletida do modelo estadunidense e sua rpida incorporao nas polticas de sade brasileiras; em outras, com esforos de traduzi-la realidade brasileira, buscando na flexibilidade desse modelo terico uma sada para defender sua incorporao nas polticas pblicas voltadas para a sade no Brasil.
Essas tentativas so respostas s crticas de que o principialismo parte de uma moral universalista, que desconsidera a existncia de mltiplas identidades. Ao articular em torno de quatro princpios um discurso humanista que se pretende vlido para todo e qualquer contexto, a doutrina estadunidense passou a ser alvo de crticas no mundo excolonial. No h indicativos, entretanto, de que os bioeticistas brasileiros tenham desconfiado de que o principialismo seja uma nova faceta da dinmica imperial (Pratt, 1994). As crticas a ele voltam-se muito mais aos seus aspectos tericos e sua aplicabilidade realidade cultural brasileira. Esses apontamentos apresentam, na maior parte das vezes, um carter nacionalista, buscando fundar a identidade biotica brasileira no contraste com os pressupostos da Biotica anglo-americana, e no simplesmente atravs da sua assimilao, como havia sido nos primeiros tempos (Martins, 2004).
A lgica do pensamento dos bioeticistas brasileiros dos dois primeiros anos da Revista Biotica consistia numa proposta de reflexo sobre os problemas de sade voltada para questes polmicas que envolviam a autonomia do paciente e os tabus da
19
sociedade brasileira. Os temas selecionados pelos bioeticistas estavam em estreita relao com os movimentos de emancipao feminina e liberdade sexual e seus desdobramentos nas dcadas de 80 e 90. De um modo geral, os assuntos de que tratava a Biotica brasileira, naquele momento, tinham uma orientao diferente dos Estados Unidos. Se, aqui, a Biotica surgiu voltada para discusses persistentes da sociedade brasileira, l, ela servia como instrumento de reflexo sobre as conseqncias da utilizao de novas biotecnologias. O que dava o tom Biotica estadunidense era o biocatastrofismo, que permeava as discusses filosficas sobre o futuro da humanidade frente aos avanos da cincia. Todavia, as ferramentas utilizadas para pensar esses temas persistentes no Brasil eram as mesmas que, nos Estados Unidos, embasavam a reflexo sobre temas emergentes no interior da Biotica: os referenciais do principialismo. Embora no houvesse aluso explcita a essa corrente, seus princpios estavam incorporados ao vocabulrio dos profissionais de sade que escreveram para a Revista nos seus primeiros nmeros13. O manejo desse referencial denota intimidade com ele, adquirida, possivelmente, atravs da ampla bibliografia em ingls consultada e da formao desses profissionais, cujo currculo inclui, em muitos casos, cursos de psgraduao e aperfeioamento nos Estados Unidos.
Pensar a adoo do principialismo no Brasil, no incio da dcada de 90, por esse vis, nos leva a um importante indicativo: as idias da Biotica anglo-americana teriam penetrado no Brasil primeiro pela via acadmica, e no poltica. Teria sido nas universidades que o principialismo ganhou seus primeiros adeptos, que se converteriam, posteriormente, em agentes de presso poltica em prol da normatizao da Biotica de acordo com o modelo estadunidense.
Nesse sentido, importante pensar a adoo do principialismo na perspectiva do difusionismo, em que o saber produzido pelos pases centrais assimilado (ou assimila) os pases perifricos, num processo que se concretiza como um estado intelectual e institucional de no-liberdade (Pratt, 1994, p. 52). Em um mundo que se dizia global, econmica e culturalmente interconectado e aberto diferena, as universidades
Nesse perodo, foram nomes recorrentes na Revista: Franklin Leopoldo e Silva (Breve panorama histrico da tica e Direitos e Deveres do paciente terminal), Joaquim Clotet (Por que Biotica? e Reconhecimento e Institucionalizao da Autonomia do Paciente um estudo da Self-determination Act) e Cludio Cohen (AIDS Ataque ao sistema de defesa psquica, Breve discurso sobre valores, moral, eticidade e tica e Questes ticas do aborto e incesto).
13
20
converteram-se na zona de contato atravs da qual o vocabulrio principialista foi assimilado pelos eticistas brasileiros, configurando-se em um processo de
transculturao. A Biotica apresentava-se como uma nova faceta da poltica imperialista estadunidense (Pratt, 1994), em que o saber principialista era transplantado no Brasil impensadamente, naturalizado, confundido com a prpria tica. Ao mesmo tempo em que ele se configurava como um saber especfico dentro do domnio da tica e das cincias, tambm consistia em um conjunto de princpios morais que se pretendia universal e que deveria promover, nas naes ex-coloniais como o Brasil, uma nova modalidade do processo civilizatrio (Elias, 1990). Civilizar, aqui, era introduzir uma doutrina moral que fundamentasse todo o pensamento relacionado no s sade, mas vida e ao prprio estatuto de humanidade.
Em 1995, A Revista Biotica trouxe um simpsio com o nome de Pesquisas envolvendo seres humanos. Na realidade, os artigos estavam orientados para a formao de Comits de tica, tendo como referencial a institucionalizao da Biotica fora do Brasil. Dois artigos so bastante elucidativos: As Comisses de tica Hospitalares e a Institucionalizao da Biotica em Portugal, da professora de filosofia da Universidade de Aores, Maria do Cu Patro Neves, e Comits de tica em Pesquisa em Seres Humanos nos Estados Unidos da Amrica, de Carlos A. Von Muhlen, da Faculdade de Medicina da PUC-RS, cuja formao acadmica inclui psdoutorado na Califrnia. Esses artigos, de orientaes distintas, apontam dois possveis encaminhamentos para a Biotica: de um lado, o vis portugus, que, de acordo com Neves, rejeita o principialismo e procura construir uma Biotica nacional, amparada no modelo francs, de orientao social e ambientalista. De outro, o modelo norteamericano, que foca as instituies como asseguradoras do respeito autonomia e s garantias individuais.
Segundo Neves (1995), a Biotica portuguesa desde o incio desenvolveu-se em sintonia com o modelo francs, que vinha influenciando no s Portugal, mas todos os pases da Europa mediterrnea. A Biotica principialista, de origem anglo-americana, no era difundida em Portugal como no Brasil, sendo os quatro princpios praticamente ignorados. Alm disso, a linguagem de direitos e deveres quase no era utilizada. Ainda de acordo com a autora, a Biotica dos pases da Europa continental era mais voltada
21
para questes sociais, para os macro-problemas, em contraposio tendncia individualista e normativa da teoria dos princpios. No h, entretanto, no artigo sobre a experincia portuguesa, qualquer tentativa de aproximao com o caso brasileiro. A autora, ao relatar o processo de institucionalizao da Biotica em Portugal, apenas procura demarcar os limites que separam a Biotica anglo-americana da europia continental, numa flagrante rejeio ao principialismo. De qualquer forma, interessante notar que, pela primeira vez, a Revista trouxe um artigo com uma perspectiva diferente da adotada at ento, com a reproduo acrtica dos quatro princpios, especialmente da autonomia.
Na outra ponta, o professor Von Muhlen apresentou um modelo para a institucionalizao da Biotica no Brasil de clara orientao principialista, predizendo o que aconteceria, no ano seguinte, com a publicao da Resoluo 196 do Conselho Nacional de Sade. Pela primeira vez, ficou evidenciada a referncia ao principialismo na Revista, sobretudo ao princpio da autonomia individual, da autodeterminao. No ano seguinte, um novo artigo da professora Maria do Cu Patro Neves, A Fundamentao Antropolgica da Biotica, dava prosseguimento discusso sobre as diferentes orientaes da Biotica estadunidense e da europia continental. No artigo, que comea com um relato autobiogrfico sobre a experincia da autora na Georgetown University, em Washington, e seu primeiro contato com o principialismo, ela revela ceticismo imediato em relao doutrina dos princpios, criticando seu carter instrumental. Segundo a pesquisadora, o que marca as diferenas entre as duas vertentes (anglo-americana e europia continental) a tradio filosfica: na Europa continental, de carter mais humanista e personalista, focada na dimenso social do homem e no sentido de justia; na anglo-Amrica, um panorama filosfico (...) claramente dominado pelo pragmatismo, que se desenvolve como corolrio do empirismo de Francis Bacon, do utilitarismo de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, e que posteriormente avanar para o positivismo lgico (Neves, 1996).
Embora os textos da filsofa portuguesa tenham indicado uma outra possibilidade de normatizao da Biotica, o que se notou, de maneira geral, na Revista, foi uma ampla adeso dos bioeticistas brasileiros ao principialismo. De fato, no houve esforos no sentido de propor uma segunda alternativa para a Biotica no Brasil. O
22
relato da experincia portuguesa no foi vinculado a um apelo ao passado colonial brasileiro; no se tentou apresentar o modelo portugus como uma alternativa vivel ao Brasil, buscando na nossa filiao europia um tipo de vnculo que justificasse a incorporao da Biotica de orientao francesa.
De qualquer maneira, a crtica nfase demasiada que o principialismo dava autonomia tornou-se mais freqente. Embora a Revista no tenha, quela poca, apresentado artigos com essas crticas, propondo vias alternativas para a Biotica brasileira e latino-americana, um texto do telogo Hubert Lepargneur intitulado Fora e Fraqueza dos Princpios da Biotica trouxe uma resposta a essas mesmas crticas. Em defesa do principialismo, ele recusa a idia de que a Biotica anglo-americana essencialmente individualista, cabendo Amrica Latina dar-lhe um enfoque mais social. Para o autor, o social est representado na doutrina pelo princpio da justia, especialmente se for utilizado o termo equivalente: eqidade. O autor rejeita a idia de uma Biotica adaptada realidade brasileira ou latino-americana e defende a Biotica e os Direitos Humanos na sua universalidade: ambos buscam o essencial, a dignidade da pessoa (Lepargneur, 1996, s/p). As idias apresentadas pelo telogo tinham um objetivo importante: reafirmar a validade da teoria dos princpios para o contexto brasileiro e latino-americano. Embora, como j foi dito, a Revista no tenha trazido essas crticas, o autor de antemo negou que a Amrica Latina, a includo o Brasil, se voltasse mais para questes amplas, de dimenso social e no individual, como os Estados Unidos. Ele buscou reafirmar que a flexibilidade do modelo terico principialista seria capaz de dar conta dos problemas bioticos que desafiavam a sociedade brasileira em meados da dcada de 90. Era na sobreposio de um princpio sobre o outro, de acordo com as circunstncias, e na valorizao da autonomia como forma de evitar a desumanizao do homem, que Lepargneur defendia sua incorporao nas polticas de sade brasileiras. Para ele, no cabia uma discusso sobre a traduo do principialismo moda latino-americana. O carter instrumental da teoria dos princpios, por si s, j favorecia sua transplantao no Brasil, na Hispano-Amrica, em qualquer lugar.
Esse aquecimento do debate sobre a regulamentao dos comits de tica biomdica no Brasil culminou com a publicao, em 10 de outubro de 1996, da
23
Resoluo 196, que traava as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil e que foi objeto de um suplemento da Revista nmero 2, de 1996, do Conselho Federal de Medicina. Como anunciado, a Resoluo incorporou explicitamente os quatro princpios, tomando-os como inerentes Biotica em si. Essa opo pelo principialismo, no entanto, no encerrou as propostas de vias alternativas para a Biotica latino-americana e brasileira; ao contrrio, tornou esse debate mais fecundo e mais acalorado. Se, nas instncias governamentais, ocorreu a opo ntida pelo principialismo, na burguesia acadmica foi dada a largada para uma srie de discusses sobre a necessidade de descolonizar o saber biotico no Brasil.
O primeiro nmero de 1997 da Revista Biotica deixou clara uma nova orientao no discurso dessa publicao. Desde o tema escolhido at os artigos selecionados, tudo indicava uma proposta de reflexo sobre a conjuntura brasileira, sobre os aspectos sociais da sade pblica, em uma tentativa de anlise que ultrapassasse os aspectos instrumentais do principialismo. Esses bioeticistas acreditavam que era hora da Biotica brasileira adquirir uma postura mais engajada, que buscasse contemplar as questes que diferenciavam o caso brasileiro dos pases de centro, especialmente dos Estados Unidos. Para eles, porm, no se tratava de questionar os aspectos doutrinrios do principialismo e foi dentro desse referencial que encontraram uma proposta para a resoluo dos dilemas que envolviam a alocao de recursos da sade no Brasil: o conceito de justia ou eqidade. Justificaram a importncia do conceito de eqidade vinculando-o aos movimentos de emancipao feminina e igualdade racial. Esses movimentos teriam sido os pioneiros na adoo do termo como bandeira de luta. Tambm a Biotica brasileira deveria adot-lo, uma vez que, como eles, apresentava-se agora, de acordo com o autor, como uma voz de reivindicao de autonomia e reconhecimento frente aos ditames do mundo globalizado. Em outras palavras, a justificativa para a utilizao do termo eqidade aproximar a Biotica nacional dos movimentos identitrios que floresceram da supresso do especfico (Parga, 1992). A Biotica de cunho nacionalista que se propunha deveria partir, portanto, de uma sntese do principialismo que desse conta da realidade social do pas, com vistas instituio de uma realidade social mais justa, marcada pelo respeito aos Direitos Humanos e cidadania. A igualdade almejada seria o conseqente desdobramento do atendimento particularizado, de acordo com a necessidade de cada grupo. Ressalte-se que no se trata de um atendimento individualizado, mas de uma
24
proposta poltica de distribuio de recursos que priorizasse as necessidades dos grupos menos favorecidos.
Autores como Garrafa e Siqueira defendiam a traduo do principialismo realidade brasileira, criticando sua adoo nos moldes estadunidenses, com enfoque no princpio da autonomia. Esse esforo vincula-se s crticas de que a Biotica nacional estava se fundando num modelo incapaz de atender s necessidades do pas. Aps a publicao da Resoluo 196 do CNS e da Legislao de Transplantes, em 1997, os bioeticistas demonstravam preocupao com o carter instrumental e exclusivamente institucional que, a exemplo dos Estados Unidos, a Biotica brasileira estava tomando. Esboaram, ento, propostas para tornar a Biotica mais intervencionista, exercitada cotidianamente pelos profissionais de sade. O foco, contudo, ainda eram as instncias governamentais. Caberia ao Estado brasileiro garantir a justa e equitativa distribuio de recursos para a sade. O Estado era tomado como depositrio e intrprete dos valores universais da doutrina principialista (Martins, 2004). Para o Estado brasileiro convergia, portanto, a expectativa de uma Biotica de cunho nacionalista, amparada no modelo anglo-americano, capaz de responder s crticas de que a Biotica brasileira estava se moldando em princpios universais, que no correspondiam conjuntura nacional.
Construir uma Biotica nacional, baseada no princpio da eqidade, representava, naquele contexto, um esforo de descolonizao do saber biotico brasileiro. Em uma clara rejeio discusso sobre identidades, que passa a ser vinculada ao individualismo e ausncia de laos sociais slidos, a Revista apresenta no discurso nacionalista uma possibilidade de particularizao do universalismo da teoria dos princpios. Ressalta a importncia de se pensar o caso brasileiro a partir da desigualdade de tratamento e acesso sade, tomadas como reminiscncias do passado colonial. Incorpora, todavia, o principialismo na sua universalidade, encontrando na maleabilidade desse instrumento terico a justificativa para sua incorporao nas polticas de sade brasileiras. A cidadania, alcanada a partir de prticas que visem justia social, ser a base do discurso humanista adotado a partir desse momento.
25
Em 2002, no simpsio intitulado Humanizao no atendimento sade e em 2005, quando artigos especiais versaram sobre a responsabilidade dos mdicos, ficou claro que a Revista estava imbuda do discurso da responsabilidade para pensar a sade pblica brasileira. A tica da responsabilidade, que vinha sendo defendida por alguns bioeticistas desde 1998, porm, no se opunha necessariamente ao principialismo. Ao contrrio, na maior parte das vezes, eles estavam imbricados: a responsabilidade deveria nortear prticas autnomas que visassem garantia de justia social. O que no foi explicitado, nas reflexes apresentadas, se esses bioeticistas tinham claro que o princpio da responsabilidade estava diretamente vinculado a uma Biotica normatizada, estatizada. Responsabilidade implica em responder por algo em alguma instncia. De qualquer maneira, a Biotica de cunho nacional que se props estava sempre atrelada ao controle estatal sobre as prticas mdicas, s pesquisas na rea de biotecnologia e alocao de recursos para a sade.
Nessa ltima fase, o que Revista props foi um pacto social em que diversos segmentos da sociedade voltassem seus esforos para a garantia de uma sade pautada em princpios bioticos. Os referenciais do principialismo continuavam norteando as reflexes, traduzidos para tentar atender s demandas sociais brasileiras. O princpio da justia, contudo, aparece agora atrelado tica da responsabilidade, com o objetivo, ao mesmo tempo, de reforar o compromisso tico dos profissionais de sade e garantir que eles estejam cnscios de que devero responder por sua conduta nas instncias governamentais. A autonomia no rechaada, como ocorreu na terceira fase da Revista: ela vista como uma maneira de garantir a cidadania e o respeito pessoa humana. A cidadania aparece, portanto, como um ligamento das persistentes tenses entre o particular, o especfico, e os elementos abstratos (ou abstrados), de cunho genrico, abrangente, universal, atribudos habitualmente humanidade em si e ao homem em geral (Martins, 2004, p. 27). Esse princpio funciona como categoria supra-histrica, que tem como objetivo garantir a continuidade de valores universais que so generalizados e atribudos natureza humana e que devero ser organizados em matrizes nacionais e operacionalizados em instituies estatais (Martins, 2004, p. 27).
26
A Biotica apresenta-se como um conjunto de valores humanos e sociais que, a exemplo do sucesso econmico da empreitada norte-americana, est sendo fornecido como modelo s naes ocidentais e imitado por elas (Santiago, 2006). Eles se apresentam como valores inquestionveis, justos e adequados ao progresso geral da humanidade, espalhando-se por todo o mundo ocidental e sendo incorporados no s ao senso comum, mas ao prprio discurso acadmico. Legitimados a partir da memria do Holocausto, eles visam transpor as fronteiras nacionais e pr em xeque antigas soberanias. Apenas conseguem mobilizar atitudes e efetivar-se como prtica poltica, no entanto, quando se articulam com as polticas pblicas e com as legislaes nacionais. Nesse momento, a cidadania parece emergir da sua proclamada falncia e se afirmar como a categoria em torno da qual as garantias se articulam. Ao contrrio do que se convencionou narrar, ela parece ser o ponto para o qual convergem as diretrizes supranacionais dos Direitos Humanos, inspiradas no princpio de natureza humana. Constitui-se como o campo poltico em que efetivamente se capaz de gerir a vida dos indivduos, conferindo a eles os direitos do homem e reafirmando a sobrevida dos Estados Nacionais, apesar da propalada cantilena de seu prximo e certeiro desaparecimento.
Fontes BRASIL, Ministrio da Sade, Resoluo n 196. Braslia: Conselho Nacional de Sade, 1996. (Disponvel em: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm) BRASIL, Conselho Federal de Medicina. Revista Biotica. Braslia, 1993-2008. (Disponvel em: http://www.portalmedico.org.br/bioetica) Cdigo de Nuremberg. Alemanha, http://www.ufrgs.br/bioetica/nuremcod.htm) 1947. (Disponvel em:
DALL`AGNOL, D., Anexo: Relatrio Belmont. In: Biotica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. Declarao de Helsinki. Finlndia, http://www.ufrgs.br/bioetica/helsin1.htm) 1964. (Disponvel em:
POTTER, V. R. Bioethics: Bridge to the Future. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1971.
27
Bibliografia ADORNO, T. W. Educao aps Auschwitz. In: Educao e emancipao. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. AGAMBEM, G. Homo sacer. O poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. ARENDT, H. Origens do totalitarismo. So Paulo: Companhia das Letras, 1989. ARENDT, H. Eichmann em Jerusalm, um relato sobre a banalidade do mal. So Paulo: Companhia das Letras, 1999. BAUMAN, Z. A universalidade ilusria. In: tica ps-moderna. So Paulo: Paulus, 2003. CANGUILHEM, G. O objeto da Histria das Cincias. In: Tempo brasileiro, n26-27, 1972. p. 7-21. CANGUILHEM, G. O papel da epistemologia na historiografia cientfica contempornea. In: Ideologia e Racionalidade nas cincias da Vida. Lisboa: edies 70, 1977. CANGUILHEM, G. O normal e o patolgico. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1992. CANGUILHEM, G. Sobre uma epistemologia concordatria. In: Tempo brasileiro, n26-27, 1972. p. 47-56. COSTA, S. I. F., OSELKA, G., GARRAFA, V. (coord.), Iniciao biotica. Braslia: Conselho Federal de Medicina, 1998. DALL`AGNOL, D., Biotica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. DELAPORTE, F. Um rosto, obra da mo. In: Le Monde Diplomatique, 2006. DURAND, G. Introduo geral Biotica Histria, conceitos e instrumentos. So Paulo: Editora do Centro Universitrio So Camilo e Edies Loyola, 2003. ELIAS, N., A sociedade dos indivduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Vol.I, 1987. ELIAS, N., O processo civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Vol.I, 1990. FOUCAULT, M. A vida: a experincia e a cincia. In: Ditos e Escritos II. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2000. FOUCAULT, M. tica, Sexualidade e Poltica. Ditos e Escritos IV. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2006.
28
FUKUYAMA, F. Nosso Futuro Ps-humano Conseqncias da revoluo da biotecnologia. Rio de Janeiro: Rocco, 2003. GARRAFA, V. e CORDN J. (org.), Pesquisas em biotica no Brasil de hoje. So Paulo: Gaia, 2006. HABERMAS, J. O Futuro de Natureza Humana. So Paulo:Martins Fontes, 2004. HABERMAS, J. Tcnica e Cincia como Ideologia. Lisboa: Edies 70, 1968. HALL, S. Da dispora: Identidades e Mediaes Culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG; Braslia: Representao da UNESCO, 2003, p. 25-49. KAHN, A. e LECOURT, D. Biotica e Liberdade. Aparecida, SP: Idias e Letras, 2004. LAFER, C. A reconstruo dos Direitos Humanos Um dilogo com o pensamento de Hanna Arendt. So Paulo: Companhia das Letras, 1988. LECOURT, D. Contre la peur De la science lthique, une aventure infinie. Paris: Quadrige/Puf, 1999. LECOURT, D. Humano Ps-humano. Lisboa: edies 70, 1990. LECOURT, D. (dir.) Dictionnaire de la pense mdicale. Paris: Quadrige/Puf, 2005. LEVY, D., SZNAIDER, N. The institucionalization of cosmopolitan morality: the Holocaust and human rights. In: Journal of Human Rights. Vol. 3, n2 (junho, 2004), p. 143-157. MACHADO, R. Duas filosofias das cincias do homem (indito). MACHADO, R. FOUCAULT, cincia e o saber. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. MARCUSE, H. Eros e Civilizao. Zahar editores: Rio de Janeiro, 1968. MARCUSE, H. A ideologia da sociedade industrial. Zahar editores: Rio de Janeiro, 1969. MARTINS, E. R. Conscincia histrica, prxis cultural e identidade nacional. In: Escritas da Histria: intelectuais e poder. Goinia: Ed. da UCG, 2004, p. 11-33. PARGA, J. S. Produciones de identidad y identidades colectivas In: Identidades y Sociedad. Quito: CELA, 1992, p. 09-41. PRATT, M. L. (et al.). Ps-colonialidade: projeto incompleto ou irrelevante? In: Literatura e Histria Perspectivas e Convergncias. Bauru, SP: EDUSC, 1999, p. 1754. RABINOW, P. Antropologia da Razo. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 1999.
29
RANCIRE, J. Who is the subject of the rights of man?. In: South Atlantic Quartely. vol. 103, n2/3 (2004), p. 297-310. ROUANET, S. P. Dilemas da moral iluminista. In: tica. So Paulo: Companhia das Letras, 2007. SANTIAGO, S. Duas mquinas textuais de diferenciao: as razes e o labirinto In: As razes e o labirinto da Amrica latina. Rio de Janeiro: Rocco, 2006. SILVA, F. C. T. (org.) Enciclopdia das Guerras e Revolues do Sculo XX. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
30
Você também pode gostar
- Relatorio de Estagio V2 Priscila SobollDocumento22 páginasRelatorio de Estagio V2 Priscila SobollPriscila Raíssa SobollAinda não há avaliações
- 310379Documento74 páginas310379Roger100% (1)
- 16-CAP 11 - Programa de Permanência, Movimentação Ou Remoção Por Motivo SocialDocumento8 páginas16-CAP 11 - Programa de Permanência, Movimentação Ou Remoção Por Motivo SocialvazAinda não há avaliações
- Avaliação Didatica Da MatemáticaDocumento9 páginasAvaliação Didatica Da MatemáticaARLEN Fernandes100% (1)
- A Educação Na Cidade - Paulo FreireDocumento96 páginasA Educação Na Cidade - Paulo FreireAnderson SouzaAinda não há avaliações
- Biogeografia - FinalDocumento21 páginasBiogeografia - FinalAmerico FranciscoAinda não há avaliações
- Experiência Com Massa de Modelar PDFDocumento7 páginasExperiência Com Massa de Modelar PDFFernanda RelvaAinda não há avaliações
- 7 - Senso ComumDocumento20 páginas7 - Senso ComumRodrigo De SenaAinda não há avaliações
- Didática: Fundamentos e Prática Docente: Unidade Barbacena - 2023Documento50 páginasDidática: Fundamentos e Prática Docente: Unidade Barbacena - 2023Anderson CastroAinda não há avaliações
- Aulas de Ensino ReligiosoDocumento36 páginasAulas de Ensino Religiosoangraniano67% (3)
- Paper 1 - Mosteiros VirtuaisDocumento7 páginasPaper 1 - Mosteiros Virtuais15138864Ainda não há avaliações
- O Que É Material Didático - Saiba Qual A Sua Importância - SAE DigitalDocumento8 páginasO Que É Material Didático - Saiba Qual A Sua Importância - SAE DigitalSamanta Rodrigues Sousa SozziAinda não há avaliações
- Apostila - Técnicas de Apresentação de Alto ImpactoDocumento34 páginasApostila - Técnicas de Apresentação de Alto ImpactoMurilo AugustoAinda não há avaliações
- Terapias Comportamentais de Terceira Geração: Disseminação Aos Falantes de Língua Portuguesa, Validade Transcultural e Aplicabilidades No BrasilDocumento388 páginasTerapias Comportamentais de Terceira Geração: Disseminação Aos Falantes de Língua Portuguesa, Validade Transcultural e Aplicabilidades No Brasilp...bc111Ainda não há avaliações
- Pesquisa Por Bullets. Provas. Big IdeasDocumento32 páginasPesquisa Por Bullets. Provas. Big IdeasFabiiitavaresAinda não há avaliações
- Artigo Sobre A Colonizacao AmerindiaDocumento28 páginasArtigo Sobre A Colonizacao AmerindiaJonathan AlvesAinda não há avaliações
- Kanban PDFDocumento39 páginasKanban PDFhallexAinda não há avaliações
- Relatório Do Estágio Ii - DorianDocumento11 páginasRelatório Do Estágio Ii - DorianDorian Souza LeiteAinda não há avaliações
- Educacao e TecnologiaDocumento132 páginasEducacao e TecnologiaCLAUDIA SANTOS DE JESUSAinda não há avaliações
- Introdução A Retórica PDFDocumento258 páginasIntrodução A Retórica PDFJoana Gasparotto Kuhn100% (4)
- UNOESC-Apost Metod Cient-1Documento31 páginasUNOESC-Apost Metod Cient-1Márcio CarvalhoAinda não há avaliações
- Entrega 07 - Análise A Pesquisa Educacional Entre Conhecimentos, Políticas e Práticas Especificidades e Desafios de Uma Área de SaberDocumento2 páginasEntrega 07 - Análise A Pesquisa Educacional Entre Conhecimentos, Políticas e Práticas Especificidades e Desafios de Uma Área de SaberRodrigo Medeiros LehnemannAinda não há avaliações
- Ortega o Que É A FilosofiaDocumento6 páginasOrtega o Que É A Filosofiatomas2500tomasAinda não há avaliações
- Ebook - 8principios - para - Uma - Vida - FelizDocumento26 páginasEbook - 8principios - para - Uma - Vida - FelizIrailtonAinda não há avaliações
- Comunicação No TeatroDocumento120 páginasComunicação No TeatroDeborah BeckmanAinda não há avaliações
- PEREIRA, Diamantino. Paisagens, Lugares e Espaços A Geografia No Ensino BásicoDocumento14 páginasPEREIRA, Diamantino. Paisagens, Lugares e Espaços A Geografia No Ensino BásicoAnonymous PUw3YtJAinda não há avaliações
- Manual de Investigacao Da UCM Normas 6 EdicaoDocumento56 páginasManual de Investigacao Da UCM Normas 6 EdicaoKelvin Poligardo100% (4)
- Maha Lilah - O Jogo Da VidaDocumento18 páginasMaha Lilah - O Jogo Da VidaMaicon LimaAinda não há avaliações
- Aa Uc1 Aula1 PDFDocumento29 páginasAa Uc1 Aula1 PDFMarcelo LealAinda não há avaliações
- Lição 4 - Quando A Criatura Vale Mais Que o CriadorDocumento1 páginaLição 4 - Quando A Criatura Vale Mais Que o CriadorMurilo SantosAinda não há avaliações