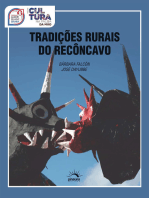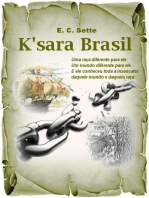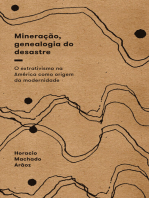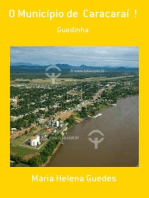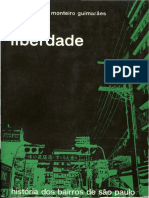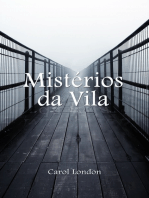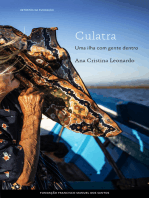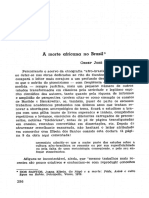Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Douglas Apratto Tenório
Enviado por
LCFDescrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Douglas Apratto Tenório
Enviado por
LCFDireitos autorais:
Formatos disponíveis
5
Douglas Apratto Tenrio
OS CAMINHOS DO ACAR EM ALAGOAS
do bangu usina, do escravo ao bia-fria
Douglas Apratto Tenrio1
Resumo: Este artigo analisa a economia da cana-de-acar em Alagoas desde o perodo
colonial at os dias atuais. Entre o brao escravo e o bia fria, o econmico e o poltico,
se desenha este caminho. Alagoas no s o lugar das utopias armadas tambm o
lugar dos guerreiros do sol do cangao, das insurgncias urbanas, dos canais e lagoas, e
das terras dos marechais. a terra dos engenhos, do doce e amargo gosto do acar.
Palavras chave: Economia aucareira, oligarquias polticas, presena holandesa.
Rsum: Cet article analyse lconomie de la canne--sucre en Alagoas ds la priode
coloniale jusqu lactualit. Entre lesclavage et le travailleur saisonnaire, laspect
conomique et politique, se dessine ce chemin. Alagoas nest pas seulement la place des
utopies armes mais le lieu des guerriers du soleil du cangao, des rvoltes urbaines, des
canaux et des lacunes, cest la terre des marchaux. Cest la terre des engenhos pour la
fabricao du sucre, du sucre doux et amer.
Mots-cls: Economie du sucre, les oligarchies politiques, la prsense hollandaise.
Uma terra que cheira a mel
Uma das menores unidades federativas da Repblica do Brasil 2, Alagoas teve,
desde o incio, a sua formao ligada ao cultivo da cana de acar, o que gerou no
perodo colonial uma sociedade senhorial com consequncias em sua trajetria histrica
e organizao social, assim como em seus hbitos e feio cultural.
Quando o rei de Portugal dom Joo III dividiu o Brasil em capitanias
hereditrias, nas primeiras dcadas do sculo XVI, o governo real de Lisboa havia
iniciado alguns anos antes a produo de acar na Ilha da Madeira. Portanto, no
surpresa que o processo de colonizao adotasse o cultivo de tal cultura agrcola bem
sucedida na Madeira fosse utilizado para ocupar as terras do Novo Mundo, descobertas
por Pedro lvares Cabral em 22 de abril de 1500.
A capitania de Pernambuco, uma das mais promissoras dentre tantas
estabelecidas, com cinquenta lguas de costa, inclua o atual territrio de Alagoas, sua
parte austral, e estendia seus limites ao norte, com a ilha de Itamarac, no stio do
Professor Doutor, historiador vice-reitor do Centro Universitrio CESMAC. Membro efetivo da
Academia Alagoana de Letras.
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
Douglas Apratto Tenrio
Marco, em Itapissuma, at a margem do Rio So Francisco, onde fica a parte sul, a
Alagoas de hoje.
O ciclo econmico que se expandiu na faixa litornea dessas terras outrora
habitadas pelos aguerridos ndios caets e potiguaras comeou com a construo dos
engenhos Escurial e Buenos Aires, obras do fidalgo Cristvo Lins, formou uma
sociedade hierarquizada, de castas, escravista, senhorial, de traos feudais, que
influenciou profundamente a vida alagoana. Um sistema de vida familiar, econmico e
cultural que ao longo dos sculos condicionou o ethos da sociedade alagoana. No
sem razo que um de seus mais famosos intelectuais, o antroplogo e historiador
Manuel Digues Jnior, afirmou que a histria de Alagoas a histria do acar.
As usinas que continuam a operar, com suas chamins fumegantes, so a
continuidade do processo. E os pouqussimos exemplares dos milhares de engenhos
bangus antigos ainda exibem nas suas runas uma mostra de uma arquitetura forte e
sbria que encanta quem as mira. No h mais escravos, mas seus substitutos no
tiveram grandes progressos.
Diferente da produo em larga escala das usinas, dos enormes caminhes
chamados treminhes e dos sofisticados sistemas de irrigao, a legio de trabalhadores
chamados bias-frias evoca o primitivo cotidiano do plantio da cana, com seu
movimento de moagem, senzalas, escravos, festas, sinhazinhas, missas, capeles, carros
de boi rangendo, compadrio, banhos de rio e de gamela, trotar de cavalos. Cheiro de
doces, cuscuz, tapioca, rolete chupado e melao.
Alagoas no s o lugar das utopias armadas dos cabanos do norte, dos
quebra-quilos, dos guerreiros do sol do cangao, das insurgncias urbanas, dos canais e
lagoas, terra dos marechais. a terra dos engenhos e do acar. Por isso, um de seus
mais famosos menestris, em um de seus poemas, cantou enamorado: Eu trago a minha
terra em meus olhos, eu trago a minha terra em meu olfato, minha terra cheira a mel
quente dos engenhos, minha terra tem o gosto ardente dos canaviais3.
O fadrio ndio e alta conta social
vasto o mundo do acar em Alagoas. Seus limites, que comeam nas
regies do litoral e da mata, onde nasceu e se consolidou, hoje chegam prximos do
agreste e do serto e penetraram definitivamente o ncleo so-franciscano na sua bela
capital, a mui leal e herica Penedo, que j nos seus primrdios conheceu tanto o
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
Douglas Apratto Tenrio
ciclo do gado como o ciclo da saccharum-officinarum. Estende-se pela maior parte do
seu territrio um verde dominador e obsessivo. At parece, ao observador incauto, que
nada mais brota da terra e pergunta-se o porqu da preferncia quase absoluta em seus
campos, quilmetros e quilmetros afora, de um mar verde sem fim. Essa mesma
pergunta foi feita quatro sculos atrs, quando a extenso atingida era um pouco menor.
A interrogao que atravessou o tnel do tempo foi feita pelos louros
neerlandeses invasores, quando da deflagrao da Guerra do Acar, um deles chamado
Gaspar Barleus, cronista oficial do prncipe invasor Maurcio de Nassau, encantado com
o territrio que denominou os mais frteis campos do Brasil. Ele no respondeu sua
prpria pergunta do porqu da obsesso em plantar cana e cana, desprezando a
policultura, esquecendo at os gneros alimentcios to indispensveis subsistncia,
precisando, por isso, importar quase tudo da Europa. Seria uma espcie de sina, um
fadrio de Rud ou Tup4, contra os importunos colonizadores que invadiam as matas
midas, cheias de massap, para instalar uma ordem nova, onde eles no mais seriam
invocados? E os usurpadores no se contentaram apenas com os vales midos e as
matas do tombo real, chegaram tambm aos tabuleiros, tidos como terra ruim, onde s a
mangaba, o ouricuri e o ara eram apreciados.
O viajante que percorre o territrio de gente mestia de presena forte na
histria do pas intui que existe um simbolismo que une o passado ao presente. Ao
passar em estradas emolduradas pelos interminveis canaviais, de um lado e de outro,
estendidos por todo o seu territrio, detm a viso por um instante sobre aquele imenso
oceano verde e conclui que sob o mar de caules ondulantes de hoje jazem, j
decompostas, inmeras outras plantaes de cana que lhe antecederam naquele mesmo
cho. Plantaes que tomaram o lugar de outro verde, o da Mata Atlntica, abatida pelos
colonizadores pioneiros, exploradores que aqui chegaram atrados pela seduo do
eldorado, do enriquecimento que certamente a pindorama lhes ofereceria.
Foram esses desbravadores que se tornaram senhores de engenhos. Engenhos
que lhes deram ascenso e nobreza. Engenhos de piles, ms e eixos, movidos por
escravos, gua ou animais, com instalaes rudimentares e processos morosos.
Fragmentos esparsos de uma civilizao que vai lutando desesperadamente contra o seu
ocaso, mergulhada no silncio do fogo morto, fumegando na memria de um passado
distante, num ciclo que prosseguiu por sculos, at hoje, sobrevivendo na paisagem
contempornea, marcando ao mesmo tempo os contrastes e a continuidade das
modernas instalaes atuais do acar.
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
Douglas Apratto Tenrio
Agora so as usinas e as destilarias, verdadeiros parques industriais, que
lideram o processo de modernizao sucroalcooleiro do estado, trabalhando estratgias
competitivas no acirrado mercado nacional. Representam, na verdade, o componente do
estgio mais recente desse mundo enigmtico e desafiador. Embora a entrada de novos e
poderosos estados no plantio da cana e na exportao do acar e do lcool tenha
mudado o ranking das unidades produtoras, a pequena unidade federativa, mantm o
seu destaque no setor, ocupando uma das primeira colocaes e mantendo, com So
Paulo, Paran, Minas Gerais e Pernambuco a liderana desse importante item da
economia brasileira.
A herana canavieira preservada, mesmo sem o apogeu de outrora. Suas
razes ocupam boa parte do territrio alagoano, seguindo a tendncia secular, e divisas
so geradas para a economia local. Poetas a cantam em prosa e verso, a literatura sobre
o tema inesgotvel, mas no se pode deixar de reconhecer que a cana deixou tambm
uma alta conta social a pagar pela falta de diversificao econmica e baixssimo grau
dos indicadores de desenvolvimento humano. Antonil dizia, no perodo colonial, que
para os que no sabem o que custa a doura do acar a quem o lavra, o conheam e
sintam menos dar por ele o preo que vale5.
O brao escravo era o esteio da economia
O engenho de acar foi o suporte da expanso colonizadora e o responsvel
pela constituio dos primeiros ncleos povoadores que deram origem s atuais cidades
alagoanas.
A atual capital, Macei, teve formao mais tardia, no sculo XVII. Nasceu
espria, no ptio de um engenho colonial, assim como Santa Luzia do Norte, Santa
Maria Madalena da Lagoa do Sul, Pilar, So Miguel dos Campos, Porto Calvo, Atalaia,
Anadia e tantas outras. Poucas escaparam desse destino histrico. Penedo, que foi um
arraial fortificado e ncleo de defesa na extremidade sul do territrio, desenvolveu a
pecuria, da o So Francisco ser chamado rio dos currais, mas mesmo assim vrios
engenhos surgiram em suas proximidades.
As trs vilas principais - Alagoas do Sul, Penedo e Porto Calvo - presidiram o
impulso colonizador e as povoaes menores foram se formando naturalmente,
avanando sempre do litoral para o serto. As populaes que iam se fixando em seu
espao geogrfico dedicavam-se agricultura e tinham o engenho como clula, sob a
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
Douglas Apratto Tenrio
proteo do sesmeiro senhor da terra, da escravaria e do gado, elementos essenciais do
trabalho nas propriedades.
O florescimento dos burgos iniciais e a expanso de novos povoados e vilas
no afastaram o engenho de acar e o seu proprietrio do epicentro do poder, e este
passou a exercer autoridade sobre outras atividades menores que iam surgindo. Essa
autoridade ampla, dominadora e absorvente se transmite naturalmente com a sucesso
da propriedade aos descendentes. Esse predomnio est na razo direta da opulncia
senhorial. Por isto, foram as reas canavieiras, e no as outras, que se destacaram como
o espao de maior importncia, pontas de lana da penetrao ocupadora do serto, de
Porto Calvo a Penedo, a ltima fronteira. Dentro delas, as aldeias principais que tiveram
crescimento, gerando famlias influentes oligarquias poderosas aps a fase dos
pioneiros , firmadas na lavoura da cana plantada em grandes extenses de terra como
Maragogi, Porto de Pedras, Porto Calvo, Ipioca, Santa Luzia, Pilar, Camaragibe,
Coruripe, So Miguel dos Campos e Alagoas do Sul.
Nas dcadas anteriores abolio da escravatura pela princesa Isabel, a
populao escrava desses dez centros agrcolas e suas freguesias chegava a 32.746
pessoas, diante de 116.192 homens livres. Avalie-se que o trfico negreiro era ilegal e
combatido pelas foras imperiais e no parlamento no Rio de Janeiro se votavam
sucessivas leis antiescravagistas como a Lei do Ventre Livre e a do Sexagenrio, alm
de uma campanha de alforria muito vigorosa.
O escravo era o esteio do regime, sem o que a economia desses locais no
sairia do lugar. Era a razo dos seus bons ndices de crescimento. A provncia estava
dividida em 28 freguesias. As dez j citadas estavam inseridas na zona canavieira; nas
demais, a organizao econmica era baseada na pecuria, na atividade pastoril e na
valorizada cultura do algodo, embora parte delas compartilhasse com a cana-de-acar
o necessrio para subsistncia produtos como a rapadura, o mel e o acar mascavo6.
Nelas, o brao escravo no era to numeroso e a sociedade era menos rgida na sua
estratificao. Mas nenhuma delas rivalizava, em opulncia, com as casas-grandes da
zona da mata. Por isso mesmo, os homens mais abastados da zona da pecuria e do
algodo no tiveram na poltica local, nem de longe, o papel exercido pelos senhores de
engenho, principalmente os do norte. As dificuldades de transporte e a distncia que
ficavam do centro do poder, na capital, deixavam os pecuaristas e os plantadores de
algodo longe dos acordos vantajosos e das conspiraes, da ocupao de postos
privilegiados nas esferas administrativas.
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
10
Douglas Apratto Tenrio
Nas dezoito freguesias fora do permetro litorneo havia apenas 16.952
escravos, metade da populao das dez mencionadas. Por isso, a pecuria foi menos
afetada com a crise de braos quando a Lei urea abriu as senzalas em 1888, libertando
os negros. Lembremos que em 1819, quando assumiu o primeiro governador da
provncia recm-emancipada, Sebastio de Melo e Pvoas, o conselheiro Veloso de
Oliveira, cumprindo determinao rgia, computou no censo realizado uma populao
escrava que superava a de homens livres 69.084 para 42.879. Um cronista da poca
chegou a afirmar que a zona da pecuria no chegou a desorganizar-se para o trabalho,
contrapondo-a com a zona dos bangus, onde a abolio afetou com mais intensidade a
economia e a casa-grande construiu seus alicerces exclusivamente sobre o dorso negro
do escravo.
Poder e privilgios da casa-grande
A elevao do territrio condio de comarca reduziu um pouco a
onipotncia dos senhores de engenho pelo surgimento generalizado da lei e o prestgio
da autoridade judiciria, mas sem alterao substancial de seu poder. Havia agora um
poder maior a que se podia recorrer - mesmo que na maioria dos casos inutilmente - do
arbtrio dos mesmos, de natureza feudal. Apesar de morosa, parcial e ineficaz, a lei
cerceou de alguma forma o poderio dos senhores de terra, restringindo suas arrogncias
e truculncias desmedidas aos lmites das fazendas ou propriedades.
Causou espcie em Alagoas quando o governador Costa Rego7, na dcada de
20 do sculo XX, autorizou a entrada da Polcia Militar para capturar criminosos
condenados pela Justia em qualquer lugar que estivessem, inclusive nos santurios dos
coronis rurais, dos senhores de engenho, at ento redutos inalcanveis como as
catedrais da Europa na Idade Mdia. Foi um fato que passou de gerao em gerao
pela memria oral, cantado nas feiras em prosa e verso, nos cordis populares e citaes
de escritores, poetas e historiadores mais liberais. Foi um escndalo, uma inovao sem
precedentes que ajudou a esculpir o mito em torno daquele dirigente, de formao
essencialmente urbana, nascido em Pilar, mas educado e vivido no Rio de Janeiro, para
onde foi muito cedo, tornando-se um dos grandes jornalistas do pas.
At ento, o homem rural, plantador de cana ou senhor de engenho, dentro de
seus domnios era a autoridade suprema. A casa-grande, mais que uma construo, era
um verdadeiro smbolo de poder. H nuanas nas transformaes que se verificam com
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
11
Douglas Apratto Tenrio
o tardio processo de urbanizao alagoana. A soberania do senhor em suas terras
solidifica-se quando a capitania inaugura sua vida independente e inicia na poltica. O
chefe senhorial perde a rudeza colonial ao ter contato com novas idias, amplia seu
campo de influncias sociais e igualmente alarga o seu raio de autoridade ao sair de suas
divisas para estender-se sobre vilas e municpios circunvizinhos, ligando-se a outros de
sua condio por diferentes laos de aliana.
A eleio de polticos, em vrios nveis, exige um nmero superior de votos
que os moradores de um s feudo rural no atingem. Surgem as oligarquias municipais.
Regies aucareiras tornam-se um enovelado de grupos com forte poder de deciso na
partilha governamental. Os presidentes da provncia nomeados pelo Imprio eram
funcionrios de carreira e no desejavam ter atritos com os poderosos senhores rurais.
Quando os tinham, perdiam sua base de sustentao e eram substitudos. No perodo
republicano, todos os governantes procedem ou tm ligao umbilical com o setor
canavieiro. Fernandes Lima e Batista Acioly, por exemplo. So advogados,
proprietrios de terra e senhores de engenho da regio norte, legtimos representantes de
sua classe. O cl dos Gis Monteiro - Ismar, Edgar, Silvestre Pricles -, profissionais
liberais, militares que dirigiram o estado de 1930 a 1950, so originrios do Engenho
So Salvador do Guindaste, ento pertencentes a So Lus do Quitunde, tambm regio
norte.
A oligarquia dos Malta8, procedente de Mata Grande e Penedo, bem como os
demais governantes, s governou com vice-governadores que vinham da base poltica
originria da mata aucareira. At mesmo na segunda metade do sculo XX, quando o
mundo urbano torna-se mais potente que o rural, governadores como Arnon de Mello,
Afrnio Lages, Lamenha Filho, Divaldo Suruagy, Guilherme Palmeira, Jos Tavares e
Manoel Gomes de Barros tinham fortes ligaes com o mundo forjado secularmente
pelos velhos bangus coloniais.
Fernando Collor, que se tornaria o primeiro presidente da Repblica eleito aps
o fim do regime militar de 1964, tornou conhecida sua passagem pelo Palcio dos
Martrios em 1987 primeiro pelo confronto, e depois pelo acordo fiscal realizado com
os usineiros, o que debilitou por vrios anos as finanas estaduais. Nas eleies
governamentais de 2006, sem mais prepostos, os candidatos mais fortes que disputaram
o pleito, junto com mais trs pretendentes, foram dois usineiros, Joo Lyra e Tho
Vilela, oriundos de duas famlias tradicionais da chamada aucarocracia. O ltimo
venceu o pleito e candidato reeleio. O nico governante que no seguiu essa regra
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
12
Douglas Apratto Tenrio
foi Sebastio Marinho Muniz Falco, pernambucano, funcionrio do Ministrio do
Trabalho que, na condio de delegado veio implantar a representao trabalhista e a
sua legislao em Alagoas. Por conta de sua atuao, tornou-se um dolo dos
trabalhadores e entrou na poltica local. No seu governo, ao pretender a taxao do
acar para custear a educao e a sade, enfrentou uma tentativa de impeachment e
sria crise institucional, verdadeira guerra que marcou a histria do Estado. Mesmo
vencendo as eleies para um segundo mandato, anos mais tarde, no conseguiu
retornar devido a casusmo poltico do regime militar, morrendo antes do segundo turno
de um novo pleito.
Uma mudana lenta, gradual, mas perceptvel.
Nesta primeira dcada do sculo XXI, indcios de uma nova sociedade esto
aflorando. Em meio a uma legio de excludos, com 60% da populao considerada
pobre, numa sociedade rigidamente estratificada, a terceira menor renda per capita do
Nordeste, e mal distribuda, a economia e a sociedade alagoana vo lentamente
mudando. Um contingente expressivo de universitrios e pequenos empreendedores,
mais os recursos de beneficiados pela previdncia e verbas da Unio vo alterando o
perfil da economia, ainda bastante dependente do setor tradicional. O principal
problema o modelo econmico, que gerou uma forte concentrao de renda, com a
prioridade dada grande empresa. Para uma transformao significativa seriam
necessrias mudanas, com especial ateno educao, diversificao das atividades
agrcolas e no agrcolas, superar sua infraestrutura precria e, principalmente, gerar
novos empregos.
A antiga comarca resiste para continuar como dantes. As famlias de bens, no
domnio da economia e da poltica e com expresso social de uma nobreza, assiste o seu
ocaso. O panorama dos cls senhoriais tem contornos da obra O Leopardo, de
Lampedusa9. Um grande corte histrico j foi feito nos fins do sculo XIX, quando
surgiram as usinas centrais que sepultaram os engenhos bangus. Mas como no filme de
Lucchino Visconti, baseado no mesmo livro, sobre a nobreza siciliana, tudo mudou para
continuar como estava. Assiste-se a briga sem fim dos herdeiros dos cls tradicionais,
em que o cobertor curto para a cama, gerando divergncias, demandas judiciais,
falncias e at crimes entre eles.
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
13
Douglas Apratto Tenrio
O nmero de famlias no campo foi ficando cada vez mais reduzido a partir do
desaparecimento dos engenhos. Passada a fase de ouro, eles foram substitudos pelas
grandes unidades agroindustriais, usinas e destilarias de lcool. Os escravos foram
substitudos pelos bias-frias e pelas mquinas. Caminhes, sofisticados sistemas de
irrigao, implementos vrios, informatizao, substituem gradativamente o brao
humano. Mas os sucessores da secular estrutura senhorial so ainda os maiores
produtores da riqueza caet, os grandes eleitores da vida poltica do estado, uma
aristocracia que resiste a deixar o topo da vida social sem os ttulos nobilirquicos de
outrora, mas com o prestgio ainda em alta.
O gosto amargo do acar
O doce acar tem tambm o seu gosto amargo. A rea mais rica de Alagoas,
de maiores depsitos bancrios e de economia mais rica tambm a mais pobre na
conta dos indicadores sociais e de desenvolvimento humano. Com a derrubada das casas
dos empregados, por conta das reclamaes trabalhistas, no existem praticamente
moradores fixos nas propriedades. S o mnimo indispensvel. A populao seguiu para
as grandes cidades em busca de melhores condies, engrossando o contingente de
favelas.
Sem instruo, sem preparo para novas oportunidades, vo passar por
dificuldades. O desemprego e a misria se acentuaram com a evoluo por que passou o
mundo do acar. A usina um verdadeiro parque industrial, uma fbrica moderna, mas
nunca vai esquecer o primitivo bangu, do qual saiu como o pinto do ovo. No se
conseguiu, nessa extraordinria trajetria de modernizao industrial, oferecer ao
trabalhador orientaes seguras e eficiente estmulo. Repete-se o drama dos escravos
quando alcanaram a liberdade. So jogados num mundo estranho e hostil sem nenhum
preparo.
Nos lares improvisados desses trabalhadores no existem comodidades.
Faltam-lhes educao e saneamento bsico. Os imensos canaviais agora adotam a
contratao temporria, os bias-frias, sem nenhum vnculo com a terra, trazidos em
caminho de madrugada, com sua comida fria para a refeio do meio-dia e retornando
noite. Um salrio insuficiente para as suas necessidades bsicas e uma grande oferta
de braos tirada da mo de obra abundante e barata disposio do empregador ou do
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
14
Douglas Apratto Tenrio
intermedirio, que o responsvel pelo aliciamento. Nenhuma ligao mais com a
empresa.
Parece que voltamos no tempo, aps a alforria geral de 1888 e o surgimento das
usinas centrais. Os anos so outros, o sculo outro, mas h enormes semelhanas nas
condies dos personagens humanos Craveiro Costa10, arguto observador da
transformao por que passou o mundo do acar, anteriormente escreveu com uma
forte dose de pessimismo sobre esse trabalhador desditoso, acabrunhado por tantos
males oriundos da ignorncia e da escravido, legado do extinto mundo dos engenhos.
Quem vive nessas espcies de lutas gente sem alegria, dominada por um desnimo
penoso; homens combalidos pelas sezes; fumadores de maconha; alcolatras,
tocadores de viola; pobres criaturas fatalistas, com a noo integral de sua desdita a que
procuram se subtrair, fugindo do engenho onde esto para outro em que se encontram os
mesmos infortnios; mulheres desgrenhadas, em estado permanente de gravidez, como
se fossem ratazanas gigantescas, amigas do cachimbo e da pinga, metidas em sapates,
sem o menor trao de feminilidade; crianas ventrudas, sujas, piolhentas, dadas ao
prazer que a psicanlise to bem explica de chupar os dedos.
As estruturas sociais, que pouco se alteram com o correr dos
tempos
cristalizam-se, tendem inrcia, so arcabouos prisionais de longa durao. Mudou a
tecnologia na produo do acar, acabaram-se os bangus, surgiram as usinas, as
commodities, o universo financeiro, as aplicaes nas bolsas, a internet, mas mudaram
pouco as condies do campesinato rural que surgiu com a extino da escravido,
acabrunhado por tantos males oriundos da ignorncia a que o reduziu a aucarocracia
desde os tempos dantanho. Quando se passa pelos trabalhadores nos campos, dedicados
faina do cultivo ou da colheita da cana, vemos homens e mulheres humilhados diante
de si mesmos, pobres criaturas com uma diria R$4,00, equivalente a menos de U$
3.00, num trabalho insano, no sol ou na chuva, sem estmulo ou aspirao para nada.
O mesmo historiador j citado nos fala de manifestaes artsticas. Sabemos
que a riqueza e a variedade dos nossos folguedos populares nasceram no terrao das
casas-grandes, vindos das senzalas para apresentar-se para seus senhores. Herana
cultural que passa de gerao em gerao com os mestres do folclore, com sua beleza,
movimento, improviso e harmonia. Uma delas, a embolada11, autntica manifestao
popular regional, do caboclo da cana. Um canto aparentemente cheio de alegria, mas
que esconde o sofrimento do homem do eito, a incerteza de seu viver. Diz ele a respeito
... a incoerncia de suas aes, em perene antagonismo com os mandos dos
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
15
Douglas Apratto Tenrio
proprietrios dos latifndios, em cuja mentalidade o cativeiro negro ou as
sobrevivncias do mesmo obliteraram totalmente as mais rudimentares noes de
justia e a idia de respeito pelos seus operrios.
A saga dos Palmares e a Guerra do Acar
Cinco sculos nos separam do incio da formao daquilo que hoje
conhecemos por Alagoas. Passaram os homens, passaram os anos, mudou o cenrio,
novidades foram surgindo, mas continuam vivos, presentes em seu arcabouo social, os
vestgios do mundo do acar. Frgil, a memria enganosa, seleciona, interpreta e
reconstri dentro da viso do presente. Ser que exagero dizer que a casa-grande e seu
complemento, a senzala, continuam dominando a vida alagoana? Ser possvel narrar a
histria do estado sem v-los com suas capelas, moendas e plantaes pairando nas
vrzeas, nas encostas, nas chs, influenciando de forma poderosa os seus destinos, na
poltica, na cultura, no seu modo de ser, enfim, um elo indestrutvel entre o campo e a
cidade? O que une e divide a sociedade?
O acar um veio inesgotvel de estudos, o ciclo econmico de maior
durao e intensidade em nossa evoluo histrica. Nenhum tipo de relato da histria de
Alagoas seria possvel sem unir fatos e smbolos a ele relacionados. Nos episdios de
maior relevncia ele est l presente. Primeiro, na odissia dos Palmares, o quilombo
negro que representou o maior movimento de liberdade contra a escravido nas
Amricas. Dos engenhos alagoanos os negros escravos fugiam, embrenhando-se nas
matas densas da Serra da Barriga12, at ento habitada por tribos indgenas, e a elas se
juntaram para instalar um verdadeiro bastio de resistncia, um projeto alternativo de
sobrevivncia ao modelo de colonizao portuguesa.
A epopia palmarina uma crnica de feitos heroicos de uma gente sofrida que
desmentiu a verso errnea-a da submisso consentida do negro para a escravido.
Zumbi, a maior liderana dos negros dos Palmares, foi guindado na poca moderna ao
panteo dos heris brasileiros, um lutador pela liberdade que queria uma sociedade
igualitria, fora dos padres de seu tempo, e comandou os seus irmos contra os
sucessivos ataques ao reduto da serra.
Em documento escrito por um dirigente holands h o registro de que o
quilombo famoso era uma forma diferente de cultura da terra, baseada no trabalho
individual e no no trabalho por turmas, como se fazia na terras dos engenhos. Todavia,
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
16
Douglas Apratto Tenrio
mesmo deixando em polvorosa fazendas e vilas entregues monocultura canavieira, os
prprios palmarinos mantinham tambm o cultivo da cana de acar para a sua
subsistncia. No interregno das escaramuas e dos combates travados, e ainda nos
breves perodos de paz entre os dois lados, antes do assalto final cerca fortificada da
Serra da Barriga, chegou a haver comrcio entre os dois lados e o acar era um produto
de troca entre as partes litigantes.
O segundo episdio refere-se presena holandesa em Alagoas, que aconteceu
com a invaso a Pernambuco feita com o objetivo de garantir as fontes produtoras do
acar artigo precioso no mercado internacional, cujos compromissos comerciais
estabelecidos tradicionalmente com Portugal foram desprezados pela Espanha, nova
detentora do trono de Lisboa em funo da Unio Ibrica.
Alagoas era parte importante da regio dos engenhos de acar
pernambucanos, que tanto os neerlandeses queriam. A figura mais polmica desta que
chamada a Guerra do Acar foi Domingos Fernandes Calabar, um mestio de Porto
Calvo, senhor de engenho, que passou para o lado holands e mudou completamente o
rumo da guerra com sua coragem e conhecimento da terra. Nova mudana no curso do
conflito se deu quando ele foi capturado e garroteado em solo alagoano. Uma das
batalhas mais importantes foi travada no Engenho Mata Redonda13 em Porto de Pedras,
quando morreram o general espanhol Luiz Rojas y Borja e o sobrinho de Nassau,
Carlos.
No governo do prncipe Maurcio de Nassau, admirado governante flamengo,
houve um esforo para introduzir a pequena propriedade e a policultura para evitar a
importao de gneros alimentcios, ao lado da cana-de-acar, mas isto no foi bem
aceito pela Companhia das ndias Ocidentais, sua contratante, nem pelos grandes
proprietrios, que desejavam continuar com a vantajosa monocultura. Os senhores de
engenho no gostaram das ordens de Nassau para que plantassem roas de mandioca,
apesar da garantia de compra da primeira safra. Ele pretendia fazer de Alagoas a fonte
de abastecimento de farinha e de vveres bsicos da provncia que governava.
As divergncias se acentuaram quando foram cobradas as dvidas de
financiamentos tomados pelos engenhos. A sada do prncipe de Orange, que construiu
o Forte Maurcio em Penedo, e a falta de habilidade de seus sucessores fizeram
deteriorar a precria dtente que existia e terminou com a expulso dos holandeses aps
a derrota na Batalha de Guararapes.
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
17
Douglas Apratto Tenrio
Os flamengos eram mais voltados atividade comercial e o colono portugus
mais afeito faina agrcola. Falando dessa falta de aptido dos holandeses pelo campo,
Johannes Von Waalbeck14, um dos altos comissrios da Companhia, observa em
relatrio sobre Alagoas: Sendo, no Brasil, as mercadorias europias muito caras, a
agricultura no pode dar frutos que lhes permitam manterem-se devidamente, conforme
a condio que tinham em sua ptria. Os moradores portugueses, tanto os mais simples
camponeses como tambm os senhores de engenho, esto afeitos comumente a comer
um pouco de bacalhau e legumes ordinrios, de modo que, em alguns engenhos, no h
comida por algum tempo.
A herana holandesa e o braso alagoano
A Guerra do Acar legou terrvel herana de abandono, desolao e misria.
Os moradores sofreram toda sorte de privaes, mesmo nos lugares mais distantes do
teatro de guerra. As labaredas incendiaram prdios, casas e igrejas, como as do Engenho
Furado e a de Nossa Senhora da Conceio, em Alagoas do Sul: os saques e as mortes
se espalharam praticamente por todo o territrio, especialmente nas vilas mais
prsperas. A economia foi abalada e nos engenhos a reconstruo foi a palavra de
ordem. Muitos ficaram em runas e passaram condio de fogo morto. As regies
produtoras de acar foram as mais afetadas, pois, alm de se apossar do produto que
motivou o conflito, os invasores ainda podiam arrecadar mantimentos para suprir suas
tropas.
Na crnica dos feitos destacados da guerra que grassou do Cear a Bahia, h
um lugar de honra para Alagoas. Figuras como os ndios Clara e Felipe Camaro, o
negro Henrique Dias, o portugus Matias de Albuquerque, o italiano Bagnuolo, o
polons Arciszewski e o espanhol Rojas y Borja ombrearam-se aqui com Sebastio
Ferreira, Valentim da Rocha Pita e tambm Calabar.
A bandeira e o braso de armas criados em 196315 basearam-se nos smbolos
criados na poca dos holandeses. Alm do colmo da cana-de- acar, representativo do
que movia a antiga capitania, ressaltam a simbologia dos trs ncleos povoadores
iniciais, traduzidos nos trs morros postos em faixa de Porto Calvo, as trs tainhas de
Alagoas do Sul e o Rio So Francisco contendo o forte estratgico de Penedo, herana
da engenharia herldica holandesa nos primitivos brases criados por Maurcio de
Nassau e seus artistas. Substituiu outra representao herldica criada em 1894, no
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
18
Douglas Apratto Tenrio
alvorecer republicano, onde avultava um vapor e um trem, meios de transporte da
poca, e os ramos de caf e cana representando as riquezas do estado recm-criado.
Como esses meios de transporte praticamente desapareceram do cenrio, bem como o
caf - uma experincia fugacssima, a cana conservou sua majestade vinda desde os
tempos iniciais, ultrapassando sculos e mudanas.
As usinas centrais substituem os antigos bangus
O processo evolutivo da agroindstria aucareira registra periodicamente crises
e adaptaes em suas diferentes etapas. O velho bangu atravessou anos e sculos como
elemento vivo da paisagem alagoana, um ciclo que parecia interminvel. Mas, como
toda inveno humana, teve auge e ocaso. Desde 1850, no Porto de Jaragu
desembarcavam em quantidade arados de ferro vindo da Inglaterra que iam ganhando
adeptos, apesar do apego enxada, foice e ao machado. A mo de obra escrava usada
na agricultura operava os instrumentos de plantio e corte e a fabricao do acar na
indstria rudimentar. Mas os ventos da mudana que aconteciam no mundo com o
advento da evoluo industrial comeavam a soprar por toda parte, e no respeitavam
barreiras.
Atravs do processo de modernizao que chegou sociedade alagoana no
final do sculo XIX, pode-se perceber que as muralhas da tradio comeam a cair.
Instala-se a crise entre as prticas e os instrumentos antigos e as novas tcnicas
industriais nos vrios campos da economia. H a estagnao do setor canavieiro, a forte
queda de preos no mercado internacional e a concorrncia de outros centros
produtores, inclusive com a ampliao do cultivo da beterraba para fazer tambm o
acar. O governo imperial imaginou, para conter a ameaadora crise, a criao de
grandes engenhos centrais, visando separar a atividade agrcola da industrial, moendo
canas alheias, trazidas de engenhos e fazendas diferentes, numa escala de produo
maior, com preos competitivos junto aos importadores internacionais. Era uma nova
fase que atingia em cheio um modo secular de economia e sociedade, baseadas na
estrutura limitada e praticamente isolada do bangu.
Em Alagoas, trs engenhos centrais foram implantados, mas com uma
caracterstica diferente, pois foram construdos em terras prprias e no obedeceram ao
princpio usual de separao preconizado. Eram, portanto, usinas. Compreendeu-se que
s com elevado nvel tecnolgico se poderia superar a intensa competio do exterior.
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
19
Douglas Apratto Tenrio
Quem no o fizesse, pereceria nessa guerra implacvel. Parece que a vinculao visceral
da terra caet com a cana a fez portadora de uma viso aguada para se proteger das
tormentas e buscar os aperfeioamentos tcnicos necessrios. As usinas Brasileiro,
Utinga Leo e Serra Grande passaram a ser exemplos de mudana diante da crise.
A decadncia dos engenhos bangus coincide, portanto, com o aparecimento da
usina, uma realidade tecnolgica muito diversa do sistema tradicional. O
aproveitamento da eletricidade como fora motriz, a utilizao do bagao como
combustvel, o emprego da cal como decoada em lugar da potassa, as frmas de acar
de metal, o aparelhamento para fabricar acar branco sem purgar e o uso do arado
foram inovaes que acompanharam as transformaes que afetaram o velho mundo do
bangu. Essa nova realidade e a competio acabaram por liquidar o engenho. Sem
poder concorrer com a produtividade e a alta qualidade do produto da usina, eles foram
pouco a pouco minguando, passando a fogo morto. Ficava para trs o tempo do
tratamento rudimentar do caldo de cana e das moendas movidas por escravos ou
animais de trao.
O poeta alagoano Ledo Ivo16, na apresentao do livro Engenho e Memria, de
Luciano Trigo, diz que ... a usina, que engoliu os engenhos e trouxe a industrializao
gulosa e desumana, criou novas formas de servido e infelicidade, o xodo rural que
inchou as cidades e tornou mais claras e at mais escandalosas as separaes sociais e
econmicas. O que se tem agora alta tecnologia proporcionando o lcool combustvel
que move boa parte dos veculos que trafegam pelas cada vez mais congestionadas
rodovias brasileiras, com expectativas de fazer o mesmo alm do territrio nacional.
Quando percorrermos os campos de Alagoas e divisamos os vestgios do que
outrora foi um pequeno engenho, temos noo dessa ruptura e, indiferentes ao presente,
assistimos a um verdadeiro flashback do mundo do acar desde os primeiros dias do
Escurial e do Buenos Aires17 at hoje, com as chamins das grandes usinas.
Relembramos o modo de vida dos antigos engenhos, da riqueza da casa-grande, da sua
gesta cantada por poetas e narradores como um tempo de Camelot e da Tvola
Redonda, mas igualmente do sofrimento dos negros, da crueldade da escravido, do
infortnio de cassacos, cortadores, cambiteiros, bias-frias de hoje, a opulncia e o
poder das famlias senhoriais.
Moradores e trabalhadores livres
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
20
Douglas Apratto Tenrio
A unidade social aucareira era uma estrutura complexa que articulava, sob a
denominao genrica de engenho, a fazenda com o canavial, pastagens e culturas de
subsistncia, matas fornecedoras de madeira e lenha e o engenho propriamente dito.
Dessa estrutura complexa, a fazenda, o engenho e a senzala constituam a sua base
econmica, enquanto a casa-grande e a capela eram as instncias jurdico-polticas. A
diversidade da diviso da produo social-especialmente a da atividade agrcola e da
manufatureira-e a diviso tcnica do trabalho, sobretudo nas etapas especializadas, a ela
conferiam grande autossuficincia, o que profundamente alterado com sua
transformao em relaes de produo capitalista, com o aparecimento da usina.
O usineiro e sua famlia no moram na sede da usina e l raramente vo. Ele a
dirige de seu escritrio na capital. So seus representantes, sua equipe tcnica que
executam suas ordens. A transformao tambm atinge a mo de obra, o trabalhador,
que no precisa mais morar necessariamente em seus domnios.
importante destacar que h mais de uma categoria de trabalhador na velha
ordem e que todas essas mudanas vo tambm afetar as suas vidas. Mas no alteraram
as diferenas acentuadas entre a vida deles e a dos patres. Antes, o senhor de engenho,
temido e respeitado por todos, com sua aura aristocrtica, residia na casa-grande, em
geral assobradada, de onde dirigia seu pequeno mundo como um nobre feudal. Sua
autoridade estendia-se alm da sua propriedade. Atingia os lavradores livres, isto , os
plantadores de cana, em terras prprias ou alheias, que no possuam capital suficiente
para as instalaes necessrias moagem da cana e ao fabrico do acar, e tambm a
categoria de lavradores obrigados, de cana cativa, aqueles que plantavam nas terras dos
engenhos e tinham a obrigao de neles fazer a moagem. Tanto uns como outros, os
livres e os obrigados, dependiam totalmente da palavra do proprietrio para moer a cana
na poca certa e receber a parte que lhes cabia, dada a inexistncia de contratos escritos.
Assim, viviam inseguros, morando hoje em um local e correndo o risco de amanh ser
expulsos, por no conseguirem a renovao de seus arrendamentos das terras ou por
terem perdido sua safra. Em vista disso, construam pequenas e toscas habitaes e
empregavam normalmente suas rendas em gado e escravos.
H ainda a figura do morador, geralmente mulato, que, em um pedao de terra
do engenho, cultivava produtos de subsistncia em troca de um salrio, ou, ento, de
uma participao, porcentagem, da produo. Formava, junto com outros agregados,
tambm mestios, que viviam nos domnios do proprietrio, uma categoria que prestava
ao senhor das terras todo tipo de servios. Uma categoria que, teoricamente livre, no
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
21
Douglas Apratto Tenrio
apresenta muita diferena da condio, em seu modo de vida, do escravo. No engenho
tambm havia o feitor, o mestre do acar, o capelo e uns poucos trabalhadores
assalariados, que igualmente se sujeitavam ao poder do dono das terras. Eram a sua
clientela e os laos de dependncia eram estreitados pelo compadrio. Estes conviviam
com os escravos e habitavam casas de um nico compartimento, sem privacidade, em
estgio de promiscuidadeo grande pombal negro18 ao lado da casa da majestosa famlia
senhorial. Eram os responsveis pelo trabalho no campo, nas oficinas e na casa-grande.
A vida para todos era durssima.
O que mudou nos dias de hoje?
Para tornar o acar competitivo e se inserir no exigente mercado
industrializado, surgiu a moderna usina integrada, que resolve o problema ao plantar as
prprias canas. Ela substituiu o projeto do engenho central e superou a produo dos
bangus, a partir da safra de 1923. Por ter mais capital e condies de incorporar os
avanos tecnolgicos, tinha maior rendimento industrial e capacidade para absorver
inovaes como irrigao, seleo de mudas e os novos processos de trabalho. Em
1933, h uma maior participao estatal no processo com a criao do Instituto do
Acar e do lcool, que estabelece cotas de produo por usina e por fornecedores.
Nessa dcada ocorre tambm a disputa entre usineiros e fornecedores de cana, que
termina com uma soluo negociada pelo IAA. O controle poltico do rgo estatal
pelos usineiros absoluto.
O processo usineiro que viabilizou a expanso da produo agrcola e
industrial do setor no explorou alternativas intensivas presentes nos recursos
disponveis na estrutura de produo que estava sendo montada. Os programas federais
para o setor sucroalcooleiro transferiram somas fabulosas de recursos sem que houvesse
alteraes substanciais na antiga estrutura social da regio, nem a aproximasse dos
nveis de produtividade de estados como So Paulo e Paran, que disputavam agora
com Alagoas e Pernambuco e ganharam a liderana nacional. Os efeitos colaterais do
macio investimento estatal, que beneficiava a classe produtora, tambm afetaram o
ecossistema da regio. As matas alagoanas foram dizimadas. Os tabuleiros, a ltima
fronteira, foram ocupados. Acelerou-se a destruio da vegetao natural e a poluio
dos rios e crregos com o lanamento do vinhoto19 nas guas, que chegou at o
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
22
Douglas Apratto Tenrio
santurio ecolgico das lagoas. O uso intensivo de agrotxicos fez com que os antigos
rios de acar da zona da mata atingissem nveis alarmantes de poluio.
O trabalhador no sculo XXI
Imagens do francs Debret20 mostra com a acuidade do artista a vida do
trabalhador nos perodos anteriores abolio e Repblica. Numa delas vemos a
integrao do escravo na vida social e familiar, os senhores mesa dando migalhas da
refeio a duas crianas negras enquanto uma ama abana a senhora e dois outros esto
de p, espera de ordens. A cena tem forte simbolismo. Da senzala da casa-grande aos
mocambos dos trabalhadores de hoje, houve mudana, mas no muito significativas.
A zona da mata canavieira, a zona mais rica, dos vales midos e frteis,
apresenta contraditoriamente os mais altos ndices de excluso social da populao do
estado. H carncias de toda ordem, educao com altos ndices de analfabetismo,
baixos indicadores de sade e de nutrio, o que, segundo Digues Jnior, ...vo fazer
do trabalhador um doente, sob o domnio da subalimentao e a influncia da moradia,
ou seja, no tanto melhor que as antigas senzalas.
Por outro lado, a expanso da cana reduzindo drasticamente a rea da agricultura
de subsistncia, os novos implementos e a mecanizao do campo, e ainda a aplicao
do Estatuto do Trabalhador Rural21 nos anos 60 do sculo passado, inviabilizaram os
antigos moradores de condio, trabalhadores que ocupavam um pedao de terra
prximo aos canaviais, pagando com trabalho gratuito ou parte da produo perante o
proprietrio ou o foreiro. Estes sitiantes, ligados ao dono das terras, tal como os
escravos, tm uma situao muito precria e formam uma mo de obra reserva que
deixa os campos para viver nas cidades da mata canavieira.
O resultado da modernizao do setor uma concentrao de terras ainda mais
ampla e a transferncia para a periferia da capital, ou dos municpios maiores, de um
contingente de trabalhadores sem qualificao. Voltam ao campo para a colheita e
juntam-se aos que vm do serto na poca da seca, com trabalho provisrio, como
boias-frias. Fragilizados, so presa fcil do assistencialismo, de relaes com o
patronato e vtimas da compra de votos nas eleies. As Ligas Camponesas e a atuao
sindical rural no prosperaram em Alagoas. A mobilizao de trabalhadores do campo,
arrendatrios, assalariados, posseiros e moradores pela reforma agrria nunca esteve
sintonizada com o movimento de outros estados, s mudando com o advento do
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
23
Douglas Apratto Tenrio
Movimento dos Sem Terras. O MST hoje ocupa esse espao e tem uma atuao forte. E
seu vigor decorre exatamente das mudanas nas relaes de trabalho a partir da dcada
de 90, do alto ndice de rotatividade da mo de obra do setor e do esvaziamento dos
sindicatos pelas dificuldades de convocao que dispunham at ento.
A violncia no campo
envolvendo conflitos de terra tem sido agora
acompanhada pelas entidades que lutam por reforma agrria. O revide contra os
trabalhadores que ingressam com aes na Justia do Trabalho reclamando direitos no
passam mais em branco. H rgos governamentais e outros ligados Igreja Catlica
que se posicionam ao lado das vtimas. A realidade da zona canavieira de Alagoas e do
Nordeste passa neste comeo do sculo XXI por um novo momento. Um novo
panorama, em que as relaes de dominao tm como matriz o mundo das grandes
propriedades, dos velhos engenhos, passa por uma nova dinmica os trabalhadores se
mobilizam e querem maior liberdade para negociar seus prprios interesses.
Literatura alagoana e o romance canavieiro
Toda a riqueza do mundo canavieiro e toda a histria de Alagoas baseada nos
caminhos do acar no motivaram uma reao do escritor local com sua sociedade. Se
o primeiro pintor de renome, Rosalvo Ribeiro, escolheu motivos europeus,
principalmente franceses, para eternizar em suas telas, no temos tambm nas letras com honrosas excees, como Jorge de Lima-uma bibliografia considervel, uma
conquista progressiva e permanente dos recursos de expresso que se empenhe em
retratar o horizonte humano de sua provncia com a civilizao do acar.
Uma contribuio como a de Graciliano Ramos, em Vidas Secas, ou como a do
paraibano Jos Lins do Rego em sua narrao de Meninos de Engenho. Alis, Lins do
Rego22 escreveu algumas de suas obras em Macei, onde residiu por alguns anos, mas
abordando a paisagem canavieira de sua terra. A nica exceo regra o romance O
ltimo Senhor de Engenho, de autoria de A.S. de Mendona Jnior23, que retrata o
ocaso dos bangus e um interessante romance histrico de uma poca de transio.
Mas no somos um deserto de literatos e idias sobre o tema. Como dizia o poeta Judas
Isgorogota24, h alguns trabalhos que descrevem o suor, o sangue, as lgrimas e a lama
de uma Alagoas impiedosamente negada e esquecida, Alagoas rural, Alagoas dos
engenhos, Alagoas do trabalhador da cana-de-acar, das nossas grandezas e das nossas
negaes mais humilhantes. Trabalhos que dizem que suas vozes, seus abandonos, so
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
24
Douglas Apratto Tenrio
tambm ouvidos. Como o longo poema Ol, Negro, de Jorge de Lima25, do qual
extramos esta estrofe:
Ol, Negro! Ol, Negro!
Os netos de teus mulatos e de seus cafuzos
e a quarta e quinta geraes de teu sangue sofredor
Tentaro apagar a tua dor
E as geraes dessas geraes quando apagarem
a tua tatuagem execranda,
no apagaro de tuas almas, a tua alma, negro!
Pai-Joo, Me Negra, Ful, Zumbi
Negro-fujo, negro cativo, negro rebelde
Negro cabinda, negro congo, negro ioruba
que foste para os canaviais do Brasil,
para o tronco, para o colar de ferro, para a canga
de todos os senhores do mundo.
Ou o belo trabalho do poeta Jos Geraldo Marques26, em seu Trecho do poema
eneidalaoensis, professor universitrio e um dos melhores nomes da gerao atual da
inteligncia caet:
Triste Alagoas, oh quo dessemelhante s!
a razo da nossatuaamargura doce:
so doces nomes de usinas
macios que nem a espuma...
mas que entre espadas ocultam
violentssimos crisntemos!
E ainda o do professor universitrio, ps- graduado aqui mesmo em Grenoble,
Fernando Fiza, que, dentre tantos de sua apreciada obra, tem um sob o ttulo Mulher
Usina:
Lanas vapor e lquidos perfeitos
Cristais de alvura doce e venenosa
devorando se culpa todo engenho
ao redor dessa lngua em brasa e plvora
Baila a cana flechada os finos plos
Do latifndio frtil do teu corpo
Soberba arquitetura em sangue e ferro
no descampado cinza de meus olhos
Mulher usina, jia monstruosa
Orqudea num jardim de pobres rosas
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
25
Douglas Apratto Tenrio
H outros poetas que abordam o tema com maestria, como Maurcio de
Macedo, Iremar Marinho e Humberto Gomes de Barros27. No romance temos
dificuldades de enumer-los. Falta uma fermentao criadora e condensadora do
cotidiano do ciclo do acar, uma leva de romances sobre o tema capaz de abordar ao
mesmo tempo o humano e o social. Faltam obras que procurem desvendar pela fico o
complexo mundo canavieiro, povoado de gente de carne e osso, longe dos esquemas
econmicos e estatsticos, mas com suas mazelas e virtudes, suas munificncias e
misrias, para se fixar alm das contingncias das vrias pocas que atravessou, como a
projeo de um universo muito prprio e caracterstico que so os caminhos do acar
alagoano.
BIBLIOGRAFIA
ALBUQUERQUE, Ccero F. Cana, Casa e Poder. Macei: Edufal, 2009
ANDRADE, M. Correia de. Usinas e Destilarias de Alagoas. Macei: Edufal, 2007
AZEVEDO, C. A, CHACON, V. e CALDAS, R. Situao Sucro-alcooleira em reas da
zona canavieira de Pernambuco e Alagoas. Recife: IJNPS, 1972
BARROS, H. Gomes de. Usina Santa Amlia. Braslia: Ed. Dedalo, 2001
CARVALHO, C. Pricles de. Anlise da Reestruturao produtiva da agroindstria
sucroalcooleira alagoana, 3. ed. Macei: Edufal, 2009
CASCUDO, L. Cmara. Sociologia do Acar. RJ: IAA, 1971
COND, J. A Cana de Acar na Vida Brasileira. Recife: IAA, 1992
DIEGUES JR. O Bangu nas Alagoas. 2. ed. Macei: Edufal, 1980
---------------- O Engenho de Acar no Nordeste. Macei: Edufal, 2006
EISENBERG, P. Modernizao sem Mudana. RJ: Ed. Paz e Terra, 1977
FERLINI, Vera L. A Civilizao do Acar. SP: Brasiliense, 1984
FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala, reed. RJ: Ed. Record, 1992
GUIMARES, A.P. A Crise Agrria. RJ: Ed. Paz e Terra, 1979
HEREDIA, Beatriz. Formas de Dominao e Espao Social: a modernizao da
agroindstria canavieira em Alagoas. SP: Ed. Marco Zero, 1988
LIMA, Araken. A Crise que veio do Verde da Cana. Macei: Edufal, 1988
LOUREIRO, Osman. Acar. Macei, s.n. 1970
MARROQUIM, Ad. Terra das Alagoas. Roma: Editori Maglioni e Strini, 1922
MENDONA JR. A. S. O ltimo Senhor de Engenho. Macei: Edufal, 1987
KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil, reed. SP: Ed. Nacional, 1972
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
26
Douglas Apratto Tenrio
SANTANA, Moacir M. Contribuio Histria do Acar em Alagoas. Recife: IAA,
1970
SIGAUD, Lygia. Greve nos Engenhos. RJ: Paz e Terra, 1978
SUAREZ, Ma. Teresa S. de Melo. Cassacos e Corumbas. SP: tica, 1977
TENRIO, Douglas A. Capitalismo e Ferrovias no Brasil, reed. Curitiba: HD Livros,
1996
TENRIO, D. A. e DANTAS, C. L. Caminhos do Acar: Engenhos e Casas Grandes
de Alagoas. Braslia: Ed. do Senado Federal, v. 104, 1996
Notas:
2
Alagoas o penltimo estado brasileiro em rea e o 16 em populao. Tem um territrio de 27.767,661
km2 e uma populao de 3.156.000 habitantes.
3
um trecho do poema Canto Nativo, do historiador e poeta Jayme de Altavila (17/10/1895-26/03/1970).
4
Divindades da mitologia tupi-guarani. O primeiro significa trovo, deus supremo; o segundo o deus do
amor.
5
Expresso que abre uma obra sobre a histria de Macei, abordando as suas origens canavieiras em
contraste com outros historiadores que admitem ter sido o Porto de Jaragu o responsvel pelo incio da
povoao.
6
Acar obtido pela concentrao do caldo de cana ao natural, sem utilizao de aditivo qumico na
composio.
7
Pedro da Costa Rego foi um renomado jornalista da imprensa brasileira, nascido no Pilar-AL, em
12/03/1889 e falecido no Rio de Janeiro, em 06/07/1954. Foi tambm um vitorioso poltico que chegou ao
governo do Estado e ficou famoso pela coragem no combate ao banditismo e violncia.
8
Perodo em que a famlia Malta, atravs dos irmos Euclides e Joaquim, se revezou no poder, na
primeira dcada do sculo XX. Foi derrubada por uma rebelio popular - as Salvaes - que colocou no
governo Clododaldo da Fonseca, vencedor das eleies.
9
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, escritor italiano (23/12/1896-23/07/1957). Escreveu vrias obras e
famoso por seu romance Il Gattopardo ( O Leopardo), que retrata a decadncia da aristocracia siciliana,
no qual um dos prncipes afirma que preciso mudar para que tudo continue com est.
10
Joo Craveiro Costa, historiador nascido em Macei, em 22/01/1874 e falecido na mesma cidade, em
31/08/1934. Um dos principais historiadores alagoanos, deixou dezenas de obras.
11
Tambm conhecida como coco de embolada, ou coco de improviso, espcie de canto muito popular na
regio da mata alagoana. Surgiu nos engenhos de acar e tem melodia muito rpida e de intervalos
curtos.
12
Localizada em Unio dos Palmares, dista 100 quilmetros de Macei. monumento nacional, tombado
pelo Governo Federal travs do Instituto de Patrimnio Histrico e Artstico Nacional-Iphan. Abriga o
Parque Nacional dos Palmares, pois ali ficava localizado o stio do Quilombo dos Palmares.
13
Importante batalha terrestre travada entre foras holandesas de um lado e luso-espanholas de outro, em
28 de janeiro de 1636, lideradas por Arciszeswski e Luz Rojas y Borja, respectivamente, vencida pelo
primeiro.
14
Cronista holands que enviou importantes relatrios Companhia das ndias Ocidentais sobre as
unidades provinciais conquistadas por seu pas. Um deles, em parceria com Henrique de Moucheron, traz
informaes preciosas sobre Alagoas.
15
O atual braso de Alagoas, reformulado em 1963 pelo professor Tho Brando, evoca a herldica
holandesa trazida s terras alagoanas pelos artistas do prncipe Maurcio de Nassau e se contrape
antiga bandeira e ao braso criado pelos republicanos em 1894, baseado no sonho da industrializao.
16
Ledo Ivo, considerado o maior poeta brasileiro dos dias atuais, alagoano de Macei (08/02/1924).
Agraciado com vrios prmios nacionais e internacionais, membro da Academia Brasileira de Letras e
detentor do ttulo de doutor honoris causa de vrias universidades do mundo.
17
Escurial e Buenos Aires so os dois primeiros engenhos construdos por Cristvo Lins, um na regio
de Porto Calvo e o seguinte no vale do Camaragibe. Com eles iniciou-se o ciclo do acar em Alagoas.
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
27
18
Douglas Apratto Tenrio
Pombal negro a expresso cunhada por Joaquim Nabuco para designar a senzala, habitao dos
escravos nos engenhos.
19
Vinhoto o restilo pastoso e malcheiroso que sobra da destilao do caldo, ou garapa, da cana de
acar aps a moagem. Forte elemento poluidor, contribuiu para reduzir drasticamente a fauna dos rios.
Hoje, por presso dos rgos ambientais, utilizado com o adubo para agricultura.
20
Jean Baptiste Debret, pintor e ilustrador francs que deixou inmeros trabalhos, aquarelas, desenhos e
quadros, retratando a vida do Brasil colonial no sculo XIX.
21
Comisso Pastoral da Terra.
22
Escritor brasileiro nascido na Paraba, no Engenho Corredor, municpio de Pilar em 1901, e falecido no
Rio de Janeiro em 1957, foi o mais autntico narrador do ciclo da cana-de-acar do Nordeste. Morou
alguns anos em Macei, na era de ouro cultural, nos anos 20, convivendo com Graciliano Ramos, Jorge
de Lima e Raquel de Queiroz.
23
Antonio Saturnino de Mendona Jnior, natural de Matriz de Camaragibe-AL, nasceu no Engenho
Maranho no dia 08/03/1908. Foi poltico e homem de letras. Faleceu em 10/01/1979.
24
Nome literrio de Agnelo Rodrigues de Melo.
25
Jorge Mateus de Lima, o prncipe dos poetas alagoanos, tambm romancista e nasceu em Unio dos
Palmares-AL, terra de Zumbi dos Palmares, em 05/11/1893. Algumas de suas obras tratam do elemento
negro, como o famoso Essa Nga Ful.
26
Jos Geraldo Wanderley Marques professor universitrio, doutor em ecologia pela Unicamp e
considerado um dos valores da moderna poesia alagoana.
27
Iremar Marinho, jornalista, tem de sua autoria interessante poema intitulado Usina, que trata do
sofrimento do morador canavieiro. Humberto Gomes de Barros natural da zona aucareira, ex-ministro
do Superior Tribunal de Justia e autor de algumas obras sobre o cotidiano dos engenhos e o advento da
usina.
Revista Incelncias, 2011, 2(1), pp. 5-27
Você também pode gostar
- Rosane Carvalho MessiasDocumento20 páginasRosane Carvalho MessiasRafaela TorresAinda não há avaliações
- A História Submersa Da Represa de LagesDocumento7 páginasA História Submersa Da Represa de Lagesoraculo7Ainda não há avaliações
- Uma Comunidade Amaznica Part.IDocumento13 páginasUma Comunidade Amaznica Part.Imoniquebmsl100% (1)
- Mineração, genealogia do desastre: O extrativismo na América como origem da modernidadeNo EverandMineração, genealogia do desastre: O extrativismo na América como origem da modernidadeNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- História de Mato Grosso: Seleção de Conteúdo para Concurso Público do Governo de Mato GrossoNo EverandHistória de Mato Grosso: Seleção de Conteúdo para Concurso Público do Governo de Mato GrossoAinda não há avaliações
- Resumo Do Fichamento de Goulart, José A. Tropas e Tropeiros Na Formaçao Do Brasil, Editora Conquista (1961)Documento8 páginasResumo Do Fichamento de Goulart, José A. Tropas e Tropeiros Na Formaçao Do Brasil, Editora Conquista (1961)Alana DrapcynskiAinda não há avaliações
- Ilana Blaj - A Trama Das Tensões - Capítulo 4Documento48 páginasIlana Blaj - A Trama Das Tensões - Capítulo 4Fausto NogueiraAinda não há avaliações
- Civilização Do AçucarDocumento5 páginasCivilização Do AçucarWagner Sonoryt TranceAinda não há avaliações
- Historia e Geografia de AlagoasDocumento32 páginasHistoria e Geografia de AlagoasJosé Carlos100% (1)
- FORMAÇÃO Artenisia DAS ALAGOAS BOREALDocumento7 páginasFORMAÇÃO Artenisia DAS ALAGOAS BOREALElenice Nogueira SantosAinda não há avaliações
- Terras de Quilombos Pedra Do Sal-RjDocumento20 páginasTerras de Quilombos Pedra Do Sal-RjLuiz Pereira100% (1)
- 2210-Texto Do Artigo-5035-1-10-20181115Documento12 páginas2210-Texto Do Artigo-5035-1-10-20181115Luana MarinaAinda não há avaliações
- De que lado você samba?: Raça, política e ciência na Bahia do pós-aboliçãoNo EverandDe que lado você samba?: Raça, política e ciência na Bahia do pós-aboliçãoAinda não há avaliações
- A Historia de AlagoasDocumento21 páginasA Historia de AlagoasElaine CristinaAinda não há avaliações
- Historia de CampinasDocumento17 páginasHistoria de CampinasNathalie Cristina WutzkiAinda não há avaliações
- O Quilombo Do Catuca. Marcus CarvalhoDocumento22 páginasO Quilombo Do Catuca. Marcus CarvalhoCarla MirandaAinda não há avaliações
- Samba de RodaDocumento34 páginasSamba de RodaballianamarianaAinda não há avaliações
- O Quilombo Do Catucá em Pernambuco PDFDocumento22 páginasO Quilombo Do Catucá em Pernambuco PDFAndreza SampaioAinda não há avaliações
- História de Alagoas - Leitura 1Documento26 páginasHistória de Alagoas - Leitura 1emerson.bezerraAinda não há avaliações
- Nave de HaverDocumento16 páginasNave de HaverBalvicAinda não há avaliações
- O Concelho de Barcelos Aquém e Além-Cávado - 1º Vol. - Aquém CávadoDocumento450 páginasO Concelho de Barcelos Aquém e Além-Cávado - 1º Vol. - Aquém CávadoCarolina Cordeiro100% (1)
- 2.5 Ciclo Do AçúcarDocumento3 páginas2.5 Ciclo Do AçúcarFelipe VtsAinda não há avaliações
- Dialnet SacramentoAoPeDoMar 4696126Documento24 páginasDialnet SacramentoAoPeDoMar 4696126Thiago KrauseAinda não há avaliações
- O Processo de Formação Das Comunidades Quilombolas Do Vale Do GuaporéDocumento17 páginasO Processo de Formação Das Comunidades Quilombolas Do Vale Do GuaporéOmérioAinda não há avaliações
- Francisco Carlos O de SousaDocumento9 páginasFrancisco Carlos O de SousaJ.G.C ZicaAinda não há avaliações
- Welcome To Panoptica-3-2Documento8 páginasWelcome To Panoptica-3-2Derek NascimentoAinda não há avaliações
- A História de AlagoasDocumento21 páginasA História de Alagoasconnectdarcy67% (3)
- Alfredo Ellis Junior - Bandeiras e Entradas PDFDocumento5 páginasAlfredo Ellis Junior - Bandeiras e Entradas PDFBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- A Cidade de São Paulo - Estudos de Geografia UrbanaDocumento261 páginasA Cidade de São Paulo - Estudos de Geografia UrbanaBernardo CastroAinda não há avaliações
- LiberdadeDocumento169 páginasLiberdadeAndreAinda não há avaliações
- Gilberto Freyre - Sobrados e Mucambos - TrechosDocumento13 páginasGilberto Freyre - Sobrados e Mucambos - TrechosPaula VelôzoAinda não há avaliações
- HOLANDA, Sérgio Buarque. Caminhos e Fronteiras, 4 Ediçao - São Paulo, Companhia Das Letras, 2017Documento3 páginasHOLANDA, Sérgio Buarque. Caminhos e Fronteiras, 4 Ediçao - São Paulo, Companhia Das Letras, 2017Alana DrapcynskiAinda não há avaliações
- Unesp 2008Documento10 páginasUnesp 2008Joel SoteloAinda não há avaliações
- CamapuãDocumento22 páginasCamapuãSergioAinda não há avaliações
- Na Teia Da Escravidão - Trabalho e Resistência No Recôncavo BaianoDocumento21 páginasNa Teia Da Escravidão - Trabalho e Resistência No Recôncavo BaianoBernardo AndradeAinda não há avaliações
- Amazônia, Das Travessias Lusitanas À Literatura de Agora - Amarílis Tupiassu PDFDocumento22 páginasAmazônia, Das Travessias Lusitanas À Literatura de Agora - Amarílis Tupiassu PDFAline MunizAinda não há avaliações
- Lugares, Palavras e Pessoas - 1. Pelos Caminhos de ÁfricaNo EverandLugares, Palavras e Pessoas - 1. Pelos Caminhos de ÁfricaAinda não há avaliações
- Literatura Amazônica - Amarilis TupiassuDocumento22 páginasLiteratura Amazônica - Amarilis TupiassuSuellen MonteiroAinda não há avaliações
- A Literatura No Amazonas - As Letras Na Pátria Dos MitosDocumento18 páginasA Literatura No Amazonas - As Letras Na Pátria Dos MitosAlineBoaAinda não há avaliações
- Marilyn Strathern - O Efeito EtnograficoDocumento288 páginasMarilyn Strathern - O Efeito EtnograficoLCF100% (1)
- Ordep Serra - A Morte Africana No BrasilDocumento19 páginasOrdep Serra - A Morte Africana No BrasilLCFAinda não há avaliações
- Sidarta Ribeiro - O Oráculo Da Noite A História e A Ciência Do Sonho NoDocumento1 páginaSidarta Ribeiro - O Oráculo Da Noite A História e A Ciência Do Sonho NoLCF50% (2)
- Amurabi de Oliveira - O Lugar Da Antropologia Na Formação Docente - Um Olhar A Partir Das Escolas Normais PDFDocumento14 páginasAmurabi de Oliveira - O Lugar Da Antropologia Na Formação Docente - Um Olhar A Partir Das Escolas Normais PDFLCFAinda não há avaliações
- Revista Do Museu de Arqueologia e Etnologia USPDocumento374 páginasRevista Do Museu de Arqueologia e Etnologia USPLCF100% (1)
- DORA MARIA DOS SANTOS GALAS - O SOM DO SILÊNCIO Ecos e Rastros Documentais de Vinte e Seis Esculturas Afro Da Coleção Estácio de LimaDocumento343 páginasDORA MARIA DOS SANTOS GALAS - O SOM DO SILÊNCIO Ecos e Rastros Documentais de Vinte e Seis Esculturas Afro Da Coleção Estácio de LimaLCFAinda não há avaliações
- A Historia Paralela Da Antropologia e Da Fotografia PDFDocumento25 páginasA Historia Paralela Da Antropologia e Da Fotografia PDFNilson AlminoAinda não há avaliações
- A Arte Afro-Brasileira PDFDocumento16 páginasA Arte Afro-Brasileira PDFLCFAinda não há avaliações
- CUNHA.M.C.arte Afro BrasileiraDocumento59 páginasCUNHA.M.C.arte Afro BrasileiraAline Santhiago100% (3)
- Beatriz Factum - Joalheria Escrava Baiana - A Construção Histórica Do Design de Jóias BrasileiroDocumento309 páginasBeatriz Factum - Joalheria Escrava Baiana - A Construção Histórica Do Design de Jóias BrasileiroLCFAinda não há avaliações
- Filosofia Da Caixa Preta - Vilem FlusserDocumento69 páginasFilosofia Da Caixa Preta - Vilem FlusserZé Luiz CavalcantiAinda não há avaliações
- A Historia Paralela Da Antropologia e Da Fotografia PDFDocumento25 páginasA Historia Paralela Da Antropologia e Da Fotografia PDFNilson AlminoAinda não há avaliações
- Alfred Gell - Antropologia Do Tempo PDFDocumento51 páginasAlfred Gell - Antropologia Do Tempo PDFLCF100% (1)
- Aula 03 Contabilidade IntrodutóriaDocumento14 páginasAula 03 Contabilidade IntrodutóriaSamuel Nogueira AleixoAinda não há avaliações
- Ebook Estratégias Competitivas 2015Documento381 páginasEbook Estratégias Competitivas 2015Construmaz Materiais DE ConstruçãoAinda não há avaliações
- Relatorio HeringDocumento53 páginasRelatorio HeringAna JjjAinda não há avaliações
- Qual o Papel Da Informalidade Na Retomada Do Emprego em 2021 Nexo JornalDocumento1 páginaQual o Papel Da Informalidade Na Retomada Do Emprego em 2021 Nexo JornalVinicius NoronhaAinda não há avaliações
- Mercado de Capitais 1Documento4 páginasMercado de Capitais 1Srta AraújoAinda não há avaliações
- Há 25 Anos Atrás Eu Cunhei A FraseDocumento6 páginasHá 25 Anos Atrás Eu Cunhei A FraserwurdigAinda não há avaliações
- Relatorio-Simulweb 01Documento38 páginasRelatorio-Simulweb 01Lucas Souza0% (1)
- W. V. Harris - Tradução de Camila Aline Zanon - O MEDITERRÂNEO E A HISTÓRIA ANTIGA PDFDocumento37 páginasW. V. Harris - Tradução de Camila Aline Zanon - O MEDITERRÂNEO E A HISTÓRIA ANTIGA PDFMário CoutinhoAinda não há avaliações
- Apresentação TCC - Contabilidade de CustosDocumento11 páginasApresentação TCC - Contabilidade de CustosFABIOAinda não há avaliações
- HOFLING, ELOISA de MATTOS. Estado e Políticas (Públicas) Sociais. Cad. CEDES (Online) - 2001, Vol.21, n.55, Pp. 30-41. ISSN 0101-3262. OkDocumento12 páginasHOFLING, ELOISA de MATTOS. Estado e Políticas (Públicas) Sociais. Cad. CEDES (Online) - 2001, Vol.21, n.55, Pp. 30-41. ISSN 0101-3262. OkKleber GaviãoAinda não há avaliações
- 308D CR. Mini Escavadora Hidráulica Com Lança Oscilante. Potência Do Motor. Peso Peso em OperaçãoDocumento16 páginas308D CR. Mini Escavadora Hidráulica Com Lança Oscilante. Potência Do Motor. Peso Peso em OperaçãoMiriam Cristina CamachoAinda não há avaliações
- Vamos Reparar o MundoDocumento13 páginasVamos Reparar o Mundoalexandre_mpfAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Biociências Comissão de Graduação em Ciências BiológicasDocumento113 páginasUniversidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Biociências Comissão de Graduação em Ciências BiológicasAlessanderAinda não há avaliações
- Relatório Setorial SaneamentoDocumento12 páginasRelatório Setorial SaneamentoLeandro LopesAinda não há avaliações
- 51-Texto Do Artigo-345-3-10-20210731Documento14 páginas51-Texto Do Artigo-345-3-10-20210731Aline Graziele PetkovAinda não há avaliações
- 2022 - SOARES Et Al. - José de Alencar in Cena - Vol 2Documento256 páginas2022 - SOARES Et Al. - José de Alencar in Cena - Vol 2Editora SertãoCultAinda não há avaliações
- UC-Cenarios Des SocioEc-Projetos 6 Passos-15 03 2021Documento5 páginasUC-Cenarios Des SocioEc-Projetos 6 Passos-15 03 2021bryan mitchellAinda não há avaliações
- Book Catalogo Adegraf 2023 FinalDocumento110 páginasBook Catalogo Adegraf 2023 FinaldigorbrduarteAinda não há avaliações
- Modelo de Gestão de RiscoDocumento16 páginasModelo de Gestão de RiscoElcioAinda não há avaliações
- 2012-9-25-16-8-39-748 - Referencial Técnico de Análise LaboratorialDocumento66 páginas2012-9-25-16-8-39-748 - Referencial Técnico de Análise LaboratorialMarianaTomásAinda não há avaliações
- Manual Contab. Analítica IDocumento15 páginasManual Contab. Analítica IAtanásio Gonçalves FragãoAinda não há avaliações
- Satisfação No TrabalhoDocumento118 páginasSatisfação No Trabalhomariajoaomoreira100% (1)
- Questões GlobalizaçãoDocumento53 páginasQuestões GlobalizaçãoAna Beatriz MarinhoAinda não há avaliações
- NOTA À IMPRENSA - Kussumba MarketplaceDocumento4 páginasNOTA À IMPRENSA - Kussumba MarketplaceComercial 15Ainda não há avaliações
- Mapa Mental Aula #04 Mobilidade Urbana Brasil Projeto RedacaoDocumento1 páginaMapa Mental Aula #04 Mobilidade Urbana Brasil Projeto RedacaoThais MariaAinda não há avaliações
- Cartilha RPD PDFDocumento96 páginasCartilha RPD PDFglauciabcoelhoAinda não há avaliações
- Ud Ii 2022 Lga SlidesDocumento75 páginasUd Ii 2022 Lga SlidesRodrigo SantosAinda não há avaliações
- Wa0001.Documento14 páginasWa0001.Káren SiprianoAinda não há avaliações
- HeinekenDocumento8 páginasHeinekenarthur araujo botelhoAinda não há avaliações
- Aula 02Documento87 páginasAula 02Douglas ReisAinda não há avaliações