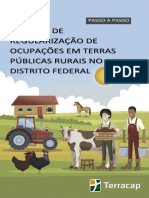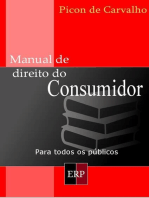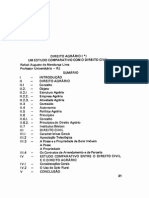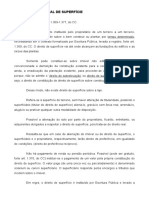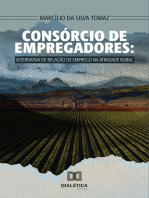Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Agrario
Apostila Agrario
Enviado por
Ramon Lima Myazawa0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações54 páginasTítulo original
apostila_agrario.doc
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações54 páginasApostila Agrario
Apostila Agrario
Enviado por
Ramon Lima MyazawaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 54
Capitulo 1- INTRODUO AO ESTUDO DO DIREITO AGRRIO:
1. SINOPSE HISTRICA DO DIREITO AGRRIO.
1.1 - Viso geral:
A No primeiro perodo do desenvolvimento histrico, o homem se encontrava
integrado natureza, sentido-se parte dela, tendo na coleta de frutos a base da sua
subsistncia. Num segundo momento, organizado em tribos, visando a sua proteo
e sobrevivncia, o homem passou a sentir a necessidade de normas reguladoras da
vida em grupos e, consequentemente, em relao ao uso dos bens, em especial a
terra. Escritos histricos referentes a Moiss (Bblia), sobre a terra prometida,
indicam a existncia de regras relacionadas com o adequado cultivo e
aproveitamento da terra. O Declogo de Moiss, relacionado terra, com regras
para as 12 tribos.
B O Cdigo de Hamurabi, do povo babilnico, que data de 1.690 AC, pode ser
considerado o 1 cdigo agrrio da humanidade. Dos 280 pargrafos (artigos), 65
eram dedicados a questes agrrias, como o cultivo, a distribuio e a conservao
da terra, alm de regras de proteo a agricultores e pastores, e a proteo do
produtor diante de situaes de intempries (no caso de perda da lavoura, o
agricultor no pagava juros no ano respectivo e no pagava o credor naquele ano).
Alm disso, o referido cdigo traz as primeiras normas de que se tem notcia na
histria, correlatas a normas ainda hoje existentes, em relao posse, usucapio,
penhor e indenizao, locao, seguro.
C Lei das XII Tbuas (450 AC) Esta norma histrica foi resultante da luta entre
patrcios e plebeus. Tambm continha regras de contedo agrrio, entre as quais a
proteo ao possuidor e a usucapio. Assim, diversos povos da antigidade
(hebreus, judeus e romanos) tambm tinham regras de combate concentrao da
terra. Reis romanos foram mortos por tentarem a reforma agrria. No imprio
romano = lei licnia, dos irmos Gracco; Jlio Csar garantiu terra para cidados
pobres e veteranos de guerra. Tibrio Gracco, atravs da Lex Semprnia, em 133 a
C, fixou regras sobre reforma agrria. Historicamente, percebe-se a preocupao
geral com a apropriao da terra apenas em reas necessrias ao uso e explorao
( para a efetiva produo). Agora, com a sociedade mais povoada, a preocupao e
as regras deveriam ser mais rigorosas neste sentido. Fase histrica em que ocorre
a separao do trabalho manual e intelectual.
D Civilizao Inca ( Amrica espanhola). Trata-se de uma civilizao que foi
praticamente dizimada com o processo de ocupao europeu, ignorando e
destruindo tcnicas avanadas de cultivo da terra, entre as quais a irrigao, a
conservao e o uso do solo apenas dentro do necessrio, num profundo respeito
terra, mesmo porque esta era considerada sagrada e o trabalho era em comum.
E Na histria mais recente, as experincias so bastante diversificadas no que diz
respeito distribuio e uso da terra, e com diferentes concepes sobre a sua
funo social. Na Argentina e no Uruguai foram aprovados cdigos agrrios ainda
no final do sculo XIX. No sculo XX, multiplicaram-se as experincias de reforma
agrria pelo mundo afora, mesmo que com concepes totalmente diferenciadas.
Na Europa o modelo predominante de pequena empresa rural, com forte
presena do cooperativismo. Modelo dos EUA e o modelo cubano, com perspectivas
bem diferentes.
1.2. No Brasil:
A A origem do Direito Agrrio Brasileiro est na primeira legislao sobre terras,
a legislao das sesmarias. Trata-se de legislao de Portugal aplicada no Brasil
Colnia. A origem da legislao de Sesmarias data de 1.375, quando, em Portugal,
visava corrigir as distores no uso das terras, forando os proprietrios a
trabalhar a terra, tendo em vista a falta de alimentos na poca. Assim, as terras no
aproveitadas seriam confiscadas. A lei Rgia de Dom Fernando, portanto, tentava
reverter o quadro de xodo rural existente na poca. O objetivo, como dito, era o
aumento da produo, o aproveitamento das terras pelos proprietrios.
No Brasil, a utilizao da mesma legislao teve um objetivo bem diferente. Visava
a ocupao dos imensos espaos vazios, sendo suporte para a colonizao. Esta lei
determinava a colonizao, a moradia habitual e cultura permanente, o
estabelecimento de limites e a cobrana de impostos.
B O Tratado de Tordesilhas ( 07/06/1494) outra referncia histrica importante
para a formao territorial do Brasil. Este tratado, homologado pelo Papa, dividia
entre Portugal e Espanha, o direito sobre as terras que fossem descobertas,
garantindo a Portugal as terras direita de uma linha imaginria definida a 370
lguas das ilhas de Cabo Verde.
C - O territrio brasileiro, no processo de colonizao, foi loteado e, por concesses
feitas pela Coroa Portuguesa, entregue em grandes reas para os colonizadores,
visando principalmente o povoamento e a defesa, sendo Martim Afonso de Souza o
1, em 1531, recebendo rea de 100 lguas de terras, ou seja 660 Km, medidas na
costa martima, sem limites para o interior.
D - A distribuio de terras, por sesmarias, vigorou no Brasil at 1822, amparado
nas ordenaes Afonsinas (1.494), Manuelinas (1.512) e Filipinas (1.603) com a
prtica de entrega de extensas reas, a pessoas privilegiadas e, muitas vezes sem
condies ou interesse em explorar a terra, o que deu origem ao processo de
latifundizao da terra no Brasil. Ainda assim, o sistema garantiu a povoao do
interior do Brasil. Alm disso, o sesmeiro tinha a obrigao de cultivar a terra,
delimit-la e pagar impostos sobre a rea possuda. Na prtica, porm, isto no se
confirmou. A Carta Rgia, garantindo a abertura dos portos brasileiros ao comrcio
exterior, em 1.808, foi fato histrico importante.
E Em 1.822, com a independncia, deu-se o fim da distribuio de terras por
Sesmarias. Entre 1822 e 1850 (posses), tivemos um perodo de maior vazio legal
referente propriedade, uso e posse da terra, onde se multiplicaram as posses de
fato sobre reas no pertencentes a sesmeiros, de forma indiscriminada e
desorganizada sem qualquer controle, seja de pequenas ou grandes reas de
terras. Assim surgiram tambm as ocupaes de sobras de sesmarias, resultando
em pequenas posses, principalmente nas proximidades dos povoados, vilas e
cidades, o que, por sua vez, garantiu o abastecimento local.
F - Em 1850 surge a Lei de Terras (Lei 601), tendo como principais objetivos:
proibir o domnio sobre as terras devolutas, a no ser pela compra e venda;
garantir ttulos aos detentores de sesmarias no confirmadas, garantir ttulos aos
detentores de terras por concesso feita no regime anterior; transformar a posse
mansa e pacfica anterior lei na aquisio do domnio. O registro das terras
passou a ser efetuado no Vigrio ou Registro Paroquial, tendo valor at os dias
atuais como prova da posse e no como ttulo de domnio. A partir da a aquisio
da terra se fazia por compra e registro. Pela mesma lei foi instituda a ao
discriminatria (processo de separao de terras pblicas e particulares, que existe
at os dias atuais). Qual importncia da Lei de Terras naquele momento histrico
brasileiro.? A partir da Lei de terras passamos a ter vrios tipos de terras, a saber:
- Proprietrios legtimos, com seus direitos oriundos de ttulos de sesmarias
cedidas e confirmadas;
- Possuidores com ttulos de sesmarias, mas sem confirmao ( por inadimplncia);
- Possuidores sem ttulo hbil ( posses anteriores lei de terras);
- e terras devolutas (devolvidas).
G - A Constituio de 1891 transferiu o domnio das terras devolutas aos estados,
permitindo a estes legislar sobre impostos e transmisso da propriedade, porm, as
terras em faixa de fronteira, na amaznia e no litoral continuaram sendo de
domnio federal.
H - De 1889 a 1930 a estrutura fundiria brasileira ficou inalterada, com uma
massa camponesa pobre e uma minoria aristocrata detentora da maior parte das
terras. Isto foi gerando inconformismos e, em conseqncia, o surgimento de
projetos de Cdigo Rural. Porm, fato importante neste perodo foi o surgimento do
Cdigo Civil, em 1.916, inclusive regulando as relaes jurdicas rurais (posse,
contratos agrrios, etc.)
I A CF de 1934, referncia histrica importante, tratou do usucapio, da
colonizao e da proteo do trabalhador. A CF de 1946, alm da desapropriao
por necessidade ou utilidade pblica contemplou, pela primeira vez, a
desapropriao por interesse social. Leis especificas (Dec.Lei 3.365/41 e Lei
4.947/66) tratam de desapropriao e de direito agrrio. Porm, a lei regulando a
desapropriao por interesse social surgiu apenas em 1.962( Lei n 4.132). Alm
disso, outras leis especficas regularam a fauna, florestas, guas, etc.
J - Entre 1951 e 1964 surgiram inmeros projetos de Cdigo Rural, de reforma
agrria, etc, com inspirao, sobretudo nos cdigos rurais da Argentina e do
Uruguai. Em 1962 foi criada a SUPRA (Superintendncia Nac. de R. Agrria).
Paralelamente a isso, tivemos experincias de organizao camponesa em diversas
regies do pas, o que contribuiu para a acelerao na elaborao de um conjunto
de normas reguladoras das relaes atinentes atividade agrria, inclusive
atendendo a presses internacionais. No encontro de cpula dos pases da amrica,
realizado em Punta Del Este (Uruguai), o Brasil, assim, como outros pases,
asssumiram o compromisso de aprovar leis referentes reforma agrria, como
estratgia para evitar a organizao da esquerda no campo. dali que surge a
nossa legislao agrria.
L - A Emenda Constitucional N 10, de 9/11/64, modificou a CF de 46 no seu art.
50, para inserir a competncia da Unio para legislar sobre Direito Agrrio. Desta
forma institucionalizou o Direito Agrrio no Brasil, garantindo a sua autonomia
legislativa. Em 30/11/64 foi promulgado o Estatuto da Terra (Lei 4.504 - referncia
do Direito Agrrio Brasileiro, ficando estruturado como ramo autnomo).
M - Dec. 554/69 Regulava o procedimento de desapropriao de terras para fins
de reforma agrria. (j revogado). No perodo histrico que se segue, perodo da
ditadura militar, apesar da legislao, somente se tratou de colonizao no tocante
distribuio da terra.
N - 1 PNRA - 1984/5 - Governo Sarney. 1 Plano Nacional de Reforma Agrria,
que no chegou a ser executado.
O - CF/98 - Captulo inteiro sobre a questo agrria. Art. 5, incisos XXII, XXIII,
XXIV e XXVI, entre outros; art. 170 = o conceito de justia social foi inserido no
contedo da ordem econmica; artigos 184 a 191 - da Poltica Agrria, fundiria e
reforma agrria, alm de um captulo referente questo ambiental.
P - Leis regulando o Texto Constitucional: Lei 8.171 e 8.174 (leis sobre Poltica
Agrcola); Lei 8.257/91 (tratando do confisco de terras que tenham plantao de
psicotrpicos, regulando o art. 243 da CF); Lei 8.629/93 e a LC n 76/93 com os
seus regulamentos, acrscimos e modificaes posteriores (inclusive por medida
provisria) disciplinam vasta matria do Direito Agrrio, ao mesmo tempo que o ET
continua em vigor naqueles institutos no modificados pela CF/88 e legislao
posterior. Alm disso, a parte especfica referente ao ITR ( Imposto Territorial
Rural) foi modificado por lei nova (Lei n 9.393/96) que atualmente regulamenta a
matria.
Q O Novo Cdigo Civil ( Lei n 10.406/02) Mesmo que de aplicao subsidiria
no Direito Agrrio, traz uma orientao nova, sobretudo superando a viso
individualista e inserindo em seu contedo a funo social da propriedade e,
igualmente, a funo social do contrato. Alm disso, o novo C. Civil repetiu a
redao da CF referente usucapio constitucional (de 5 anos, em rea de terra
at 50 hectares. Projetos = Novo ET; 2 PNRA; Perspectivas.
2. CONCEITOS DE DIREITO AGRRIO: (e denominao)
A maioria dos autores (agraristas) apresentam conceitos de Direito Agrrio, de
formulao prpria, alm de relacionar uma srie de conceitos de autores nacionais
e estrangeiros. Isto demonstra a diversidade de enfoques sob os quais visto o
Direito Agrrio. Contudo muitos conceitos so limitados e incompletos, no
conseguindo alcanar a amplitude do contedo deste novo e importante ramo do
Direito. Conceito de Paulo Torminn Borges: Direito Agrrio o conjunto
sistemtico de normas jurdicas que visam disciplinar as relaes do homem com a
terra, tendo em vista o progresso social e econmico do rurcola e o
enriquecimento da comunidade. Borges - Institutos Bsicos do D. Agrrio, 11. ed.
P. 17). Talvez a principal crtica cabvel a esta definio refere-se falta de incluso
dos princpios de Direito Agrrio. Para o autor, trata-se de conjunto de normas,
quando na verdade, tambm os princpios deveriam englobar a definio. Alm
disso, as relaes jurdicas se do entre pessoas.
Conceito de Fernando P. Sodero Direito Agrrio o conjunto de princpios e, de
normas, de Direito Pblico e de Direito Privado, que visa a disciplinar as relaes
emergentes da atividade rural, com base na funo social da terra. ( SODERO -
Direito Agrrio e Reforma Agrria. SP. Leg. Brasileira Ltda, 1968, p 32). Quanto a
este conceito, cabe ressaltar que a dicotomia entre Direito Pblico e Privado est
superada pelas regras atuais onde se evidencia a interdependncia Alm disso, o
Direito agrrio, em seu contedo, vai alm da regulao da atividade agrria.
Conceito de Raimundo Laranjeira: Direito Agrrio o conjunto de princpios e
normas que, visando imprimir funo social terra, regulam relaes afeitas sua
pertena e uso, e disciplinam a prtica das exploraes agrrias e da conservao
dos recursos naturais. ( Laranjeira - Propedutica do D. Agrrio).
Nosso conceito:
Direito Agrrio o conjunto de princpios e de normas que visam disciplinar as
relaes jurdicas, econmicas e sociais emergentes das atividades agrrias, as
empresas agrrias, a estrutura agrria e a poltica agrria, objetivando alcanar a
justia social agrria e o cumprimento da funo social da terra. Como se pode
observar, os conceitos, em termos gerais, acabam tendo seus limites fixados pelo
prprio direito positivo agrrio. Contudo, h interesses, dentro da perspectiva do
dever ser, que no esto inseridos no ordenamento jurdico oficial. De qualquer
forma, cabe ter presente a dinamicidade do Direito, de forma que se trata de um
processo de constante construo, onde as verdades de hoje se encontram
superadas pela realidade prtica do dia de amanh.
Quanto denominao da disciplina, questo de menor importncia. As
denominaes conhecidas para a matria so Direito Agrrio, Direito Agrcola e
Dir. Rural. Segundo Laranjeira, as expresses agrrio, agrcola e rural tem origem
romana, tendo significado de campo. Contudo, conforme ensina, o agrrio tem
sentido mais dinmico, de campo cultivado, dentro dos propsitos do Direito
Agrrio e da funo social, razo pela qual seria de mais correta aplicao.
Apesar da utilizao da expresso Direito Agrrio pela Constituio Federal, a
nossa legislao acaba utilizando tambm o termo rural. De qualquer forma, no
entendimento predominante e em atendimento ao sentido dinmico, entende-se ser
mais abrangente o uso da denominao de Direito Agrrio.
3. AUTONOMIA DO DIREITO AGRRIO:
O que caracteriza a autonomia de um determinado ramo do Direito? A autonomia
no pode significar a completa independncia. O Direito Agrrio no se rege
apenas por normas completamente agrrias. O que caracteriza o ordenamento
jurdico atual a sua interdependncia e relao, sob vrios aspectos, com os
outros ramos do direito. Ainda assim, alguns elementos caracterizam a autonomia
de um determinado ramo do Direito. A autonomia de um ramo jurdico se
caracteriza sob os aspectos legislativo, cientfico, didtico e jurisdicional.
3.1. Autonomia Legislativa
A Emenda Constitucional n0 10, de 09/11/64, garantiu a autonomia legislativa ao
autorizar a Unio legislar sobre normas de Direito Agrrio. A partir desta
possibilidade, estabeleceu-se um conjunto de normas prprias (um corpo jurdico,
mesmo que no exaustivo) de contedo agrrio que o identificam como ramo
prprio. Assim, a Lei 4.504 e, posteriormente, a CF e as leis agrrias que regulam
os dispositivos constitucionais, so atualmente as principais referncias legislativas
do Direito Agrrio e que lhe conferem autonomia neste campo.
3.2. Autonomia cientfica:
At o advento da autonomia legislativa vigoravam tambm para a realidade
agrria, as regras do Direito Civil, apesar das caractersticas prprias das
atividades agrrias Contudo, a partir de um arcabouo legal prprio e
aproveitando-se das experincias anteriores, inclusive das referncias legais e
doutrinrias de outros pases, construiu-se a autonomia cientfica do Direito
Agrrio Brasileiro. Esta autonomia baseia-se, ento, num conjunto de princpios
especficos. Diferentes do direito civil e no conjunto de normas a disciplinar as
atividades agrrias, a pertena da, terra e a poltica Agrria Os princpios do D.
Agrrio encontram-se inseridos na legislao agrria existente, servindo de norte
ao processo legislativo agrrio e efetiva e correta aplicao das leis. (orientam a
interpretao das normas). Atualmente, possumos um conjunto, alm da doutrina
que tem feito estudo sistematizado do Direito Agrrio, o que lhe garante autonomia
cientfica.
3.3. Autonomia didtica:
Esta caracteriza-se pela existncia de disciplina especfica de Direito Agrrio nos
estabelecimentos de ensino superior (graduao, ps-graduao), tanto como
matria obrigatria ou como complementar e eletiva, de forma que o conjunto de
normas e princpios agraristas recebem, desta forma, estudo e divulgao
especialcomo verdadeiro ramo autnomo do Direito. Alm disso, organismos
nacionais e internacionais (ONGs) se encarregam do estudo e divulgao da
matria jus-agrarista em congressos, seminrios, encontros de professores, etc.. As
obras doutrinrias que vem crescendo em volume e qualidade, por sua vez
reforam a autonomia didtica e cientfica permitindo o estudo sistematizado da
matria.
3.4. Autonomia jurisdicional = justia agrria. (bom ou ruim?)
Neste campo, nosso ordenamento jurdico ainda carece de um passo a mais, no
sentido de estruturar a justia agrria, com estrutura prpria, especializada para
as questes agrrias. Apesar das propostas apresentadas neste sentido quando da
elaborao discusso e aprovao do texto constitucional em vigor no vingou a
idia da criao da Justia Agrria. Trata-se de reclamao histrica de muitos
agraristas brasileiros e dos movimentos sociais que gravitam em torno da questo
da terra.
O legislador constituinte limitou-se a inserir, no capitulo referente ao poder
judicirio, o artigo 126 (na parte referente aos Tribunais e Juizes dos Estados),
dispondo que: Para dirimir conflitos fundirios, o Tribunal de Justia designar
juizes de entrncia especial, com competncia exclusiva para questes agrrias.
Parg. nico: Sempre que necessrio eficiente prestao jurisdicional, o juiz far-
se- presente no local do litgio. .
Ainda assim, esta recomendao tem sido muito pouco acatada para inseri-la nas
estruturas do poder judicirio nos estados. Estamos, portanto, atrasados em
relao a nossos vizinhos (Mxico, Peru, Colmbia e Venezuela). Agora, com a EC
n 45, de 08/12/04, o Congresso deu nova redao ao referido artigo 126, assim
dispondo: Para dirimir conflitos fundirios, o TJ propor a criao de varas
especializadas, com competncia exclusiva para questes agrrias. Como se pode
observar, h diferena no contedo. A criao de varas especializadas significa que
seus titulares tero a seu dispor uma estrutura prpria para desempenhar sua
funo de juiz agrrio. No entanto, a expresso propor, apesar de ser uma
determinao, continua vaga e no garante a estruturao destas varas
especializadas.
A idia de uma justia agrria especializada j chegou a fazer parte, seguidas
vezes, de anteprojetos de reforma do Poder Judicirio, porm sem sucesso. Sem
falar nas tentativas anteriores (1967 e 1969), em 1989, buscou-se detalhar e
garantir aplicabilidade ao disposto no art. 126 da CF, para o que foi designada
comisso de juristas integrada, entre outros, por Raimundo Laranjeira (relator). A
equipe tentou ampliar a idia estabelecida no dispositivo constitucional, visando
disciplinar a instalao de varas agrrias nos estados e na Justia Federal, com
cmaras ou Turmas especiais nas instncias superiores, tendo atribuies tambm
para as questes agroambientais e para os delitos de natureza agrria.
Na mesma linha, foi apresentada proposta pelo Juiz e professor Dr. Vtor Lenza, de
Gois, sugerindo a criao dos Juizados Agrrios nos moldes dos juizados especiais
cveis e criminais (Lei 9.099/95), com competncia para as questes agrrias, com
a simplificao de procedimentos, deslocamento do juiz para o local doconflito.
Alm disso, a proposta sugeria a subdiviso do Estado de Gois em 52 microregies
(circunscries judicirias) e a existncia de um Colegiado Recursal Agrrio, como
segunda instncia especializada.
Tambm, em 95, foi apresentada proposta de Emenda Constitucional n0 47 pelo
Senador Romero Juc, como proposta mais completa de justia agrria, nos moldes
do que j existe em muitos outros pases, criando uma estrutura integral, com
Tribunal Superior, Tribunais Regionais, Juizes e Ministrio Pblico especializados.
O referido projeto, ao que tudo indica, continua preso na Com. De Constituio e
Justia do Senado.
Apesar da resistncia oficial estruturao da Justia Agrria no Brasil, a matria
cresce em importncia e o seu contedo se alarga com a incluso de questes
agroambientais, tendo desta forma um largo campo de atuao. A legislao
ambiental recente tem contribudo na divulgao da conscincia ecolgica. O
Ministrio Pblico, tanto estadual como Federal) tem dado passos importantes na
sua ao controladora e fiscalizadora das regras agroambientais.
O Tribunal de Justia do Estado do Amazonas atravs de resoluo 05/97, criou a
Vara Especializada do Meio Ambiente e Questes Agrrias. A Constituio do
referido Estado estabeleceu, de forma mais detalhada, a designao de juizes de
entrncia especial para as questes agrrias. J em 93, os poderes legislativo e
judicirio do Estado do Amazonas implementaram a norma constitucional (art. 126
da CF), dividindo o Estado em 10 regies, com varas de entrncia especial. Em
alguns Estados, a exemplo de Minas Gerais, sabe-se da existncia de vara
especializada da Justia Federal para as questes agrrias. Em alguns estados
tambm foram criadas varas agrrias na justia estadual. Mais do que criar varas e
instncias especializadas na estrutura do poder judicirio, necessrio que os
juizes cumpram requisitos especficos para a ocupao dos cargos, como a
especializao na rea, de forma que conheam a realidade que os cerca, para
julgarem com base nos parmetros e mentalidade agrarista, superando a velha
prtica de muitos juizes nos dias atuais que, mesmo ante problemas de natureza
agrria, com contedo cuja natureza claramente social, os julgam como se
estivessem simplesmente lidando com conflitos individuais. H necessidade,
portanto, de definir critrios prvios e claros para o acesso ao cargo de juiz
agrrio.
4. CONTEDO/OBJETO DO DIREITO AGRRIO:
O objeto do Dir. Agrrio mais do que as atividades agrrias. correto dizer que
os fatos jurdicos agrrios (atividade agrria, estrutura agrria, empreendimento
agrrio, poltica agrria) geram as relaes jurdicas agrrias, objeto do Dir.
Agrrio. Para alguns o elemento terra, tambm denominado de ruralidade, seria
central
na definio do objeto do Direito Agrrio. No entanto, este elemento por si, se
torna esttico e foge da dinamicidade que caracteriza o direito agrrio. Assim, o
ncleo central do Direito Agrrio est nas atividades agrrias. Como bem lembra
Orlando Gomes, o objeto o bem no qual incide o poder do sujeito ou a prestao
exigvel. Assim, a terra com seus condicionamentos restries e obrigaes de uso
e conservao, faz parte do objeto do Direito Agrrio.
Quanto ao contedo, este engloba o direito de propriedade condicionado pelas
obrigaes referentes ao cumprimento da funo social da terra, nas suas diversas
dimenses, englobando a produtividade e a busca da justia social. O Direito
agrrio tem como objeto o estudo da atividade agrria e as relaes jurdicas
desenvolvidas pelos sujeitos agrrios. Ou, na louvvel indicao de Alcir Gursem de
Miranda ( in Teoria de Direito Agrrio. Belm, 1989), o objeto do D. Agrrio
seriam, assim, os fatos jurdicos que emergem do campo, conseqncia de
atividade agrria, de estrutura agrria, de empresa agrria e da pol!tica agrria; o
que caracteriza a relao jurdica agrria.
Trata-se, portanto do estudo das normas e questes atinentes s atividades
agrrias e aquelas que regulam os direitos e obrigaes sobre o prprio elemento
terra. O Direito Agrrio regula as atividades agrrias de produo, extrao
conservao, alm de atividades conexas. Contudo, os contornos ou limites de
alcance do que se denomina de direito agrrio no so totalmente ntidos, mas o
elemento ruralidade fundamental, englobando a idia de espao fundirio, onde
se deve desenvolver a atividade de produo e de conservao dos recursos
naturais. Nem tudo o que ocorre ou se desenvolve no espao rural de contedo
agrrio.
CLASSIFICAO DA ATIVIDADE AGRRIA:
A atividade agrria pode ser assim classificada:
- Atividade agrria de explorao tpica: lavoura, pecuria, hortigranjearia e
extrativismo (animal e vegetal);
- atividade agrria de explorao atpica (agroindstria): que modifica a aparncia
exterior do produto agrrio ou o transforma, de maneira que esta especificao
fique no mesmo imvel onde foram obtidas os resultados da atividade atpica. ,
portanto, requisito para que a atividade seja agroindustrial e no industrial, a
origem no prprio fundus agrrio daqueles produtos ali transformados. Contudo,
h certa flexibilidade diante desta exigncia, sobretudo diante da realidade das
cooperativas, cuja atividade de agroindustrializao se utiliza de produtos vindos
das diversas propriedades dos cooperados. A cooperativa vista como extenso da
propriedade.
- atividade complementar ou conexa da explorao rural: trata-se da atividade de
transporte e venda dos produtos de origem do prdio rstico.
- Atividade agrria de conservao.
Conforme Emilio Alberto Maya Gischkow, (apud B. F. Marques - in D. Agrrio
Brasileiro AB Editora), a atividade agrria se subdivide em atividade imediata:
tendo por objeto a terra considerada em sentido lato e a atuao humana em
relao a todos os recursos da natureza; os objetivos e instrumentos dessa
atividade: envolvendo a preservao dos recursos naturais a atividade extrativa, a
captura de seres orgnicos e a ao produtiva (agricultura e pecuria); atividades
conexas: transporte, industrializao e comrcio dos produtos. A atividade agrria
tpica se divide em: lavoura temporria e permanente; pecuria de pequeno, mdio
e grande porte. Destas formas derivam os prazos legais fixados para os contratos
agrrios, como se ver mais adiante.
A atividade agrria atpica sofre constantes questionamentos sendo que para
muitos foge da esfera da atividade agrria, devendo submeter-se s regras gerais
disciplinadoras da atividade industrial. No entanto a prpria legislao a enquadra
como atividade agrria. O mesmo questionamento feito atividade de
comercializao da produo, sob o argumento de que se situam no setor tercirio
da economia (atividade mercantil). Contudo, para que a atividade de transporte e
comercializao seja entendida como conexa atividade agrria deve ser feita pelo
produtor. Assim, o profissional que se dedica apenas a adquirir os produtos,
transporta-los e a revend-los para a indstria ou para o Consumidor,
evidentemente se enquadra no mbito da atividade mercantil.
5. FONTES, INTERPRETAO E APLICAO DO D. AGRRIO
Quanto s fontes do Direito Agrrio, valem as regas gerais de qualquer ramo do
Direito. Assim, a grande fonte material (a fonte primeira) e motivadora da
elaborao e aplicao das normas a realidade social agrria, englobando a
estrutura agrria, as concepes de direito de propriedade, as carncias sociais, a
conscincia popular traduzida em reivindicaes, etc.
As fontes formais tem como referncia principal as leis de contedo agrrio, e
entre estas, como j mencionado, a indicao maior est no texto constitucional,
em vrios de seus dispositivos. Em segundo lugar, vem o Estatuto da Terra,
verdadeiro Cdigo Agrrio Brasileiro (lei 4.504/64). Ainda cabe mencionar a
legislao mais recente, regulamentadora dos dispositivos constitucionais
referentes questo agrria (Lei 8.171/91, Lei 8.629/93, LC. N0 76/93, LC n
93/98), MPs, Decretos, Atos do Poder Executivo, como Portarias, Instrues
Normativas, Normas de Execuo, Ordens de Servio, etc).
Da mesma forma, como ocorre em outros ramos do direito, o D. Agrrio tambm se
serve de elementos secundrios para preencher as lacunas da lei, recorrendo
analogia, aos costumes e aos princpios gerais. Os costumes acabam tendo grande
importncia na fixao do contedo das relaes agrrias. Resta observar que, em
qualquer circunstncia, a lei, de natureza cogente, se sobrepe aos costumes.
Neste sentido, o D. Agrrio traz dispositivos expressos no sentido de estabelecer a
irrenunciabilidade de direitos e obrigaes que visam proteger a parte mais fraca
na relao jurdica agrria, alm de clusulas obrigatrias e irrenunciveis
referentes conservao dos recursos naturais.
A doutrina e a jurisprudncia tambm so utilizadas na interpretao das leis, na
sua atualizao diante da dinamicidade dos fatos da realidade social, devendo,
porm estar direcionadas para o alcance da justia social e o cumprimento da
funo social da terra, que so as referncias centrais dos objetivos do Direito
Agrrio e do
interesse da coletividade. Quanto interpretao da lei, para se chegar a seu
alcance e melhor sentido dentro da realidade concreta, utilizam-se das formas
comuns a outros ramos do Direito: a interpretao gramatical, lgico-sistemtica,
histrica e a sociolgica.
6. PRINCPIOS DO DIREITO AGRRIO
A fixao do conceito, contedo e autonomia do Direito Agrrio j evidenciam os
seus principais princpios. contudo, assim como ocorre em outros pases, h
autores que apresentam relao exaustiva de princpios retirados dos prprios
textos legais, muitos dos quais no passam de decorrncia dos princpios
fundamentais.
6.1. Princpio fundamental: funo social da terra (produtividade e justia social,
com preservao ambiental): possvel dizer que esta a referncia central do D.
Agrrio. Em torno deste principio, completando-o, aparece uma srie de outros,
conforme estudos doutrinrios apresentados por diversos autores. O princpio da
funo social da terra, ou da propriedade imobiliria rural, ser estudado mais
adiante. Paulo T. Borges ( in Princpios Bsicos do D. Agrrio, p. 24) relaciona 14
princpios fundamentais do Direito Agrrio. Na seqncia enumera os princpios
universais de Direito Agrrio apresentados pelo autor espanhol Juan J. Sanz Jarque.
6.2. Princpios gerais no D. Agrrio Brasileiro: Benedito F. Marques ( op. Cit. P. 22),
baseando seu estudo nos escritos de diversos autores agraristas, apresenta como
princpios aplicveis ao Direito Agrrio Brasileiro os seguintes:
1. monoplio legislativo da Unio (art. 22, I, da CF), (?)
2. a utilizao da terra se sobrepe titulao dominial (funo social);
3. a propriedade da terra garantida, mas condicionada ao cumprimento da funo
social (artigos 5, XXII e XXIII; art. 170; art. 184, da CF/88);
4. o D. Agrrio dicotmico: compreende a poltica de reforma (reforma agrria) e
a poltica de desenvolvimento (pol. agrcola); (? caracterstica)
5. prevalncia do interesse pblico sobre o individual nas normas jurdicas
agrrias;
6. constante necessidade de reformulao da estrutura fundiria;
7. fortalecimento do esprito comunitrio, via cooperativas e associaes; (?)
8. combate ao latifndio, minifndio, ao xodo rural, explorao predatria e aos
mercenrios da terra; (f.social).
9. privatizao dos imveis rurais pblicos; 10. proteo propriedade familiar,
pequena e mdia propriedade (e fortalecimento);
11. fortalecimento da empresa agrria;
12. proteo da propriedade consorcial indgena;
13. o dimensionamento eficaz das reas explorveis (mdulo);
14. proteo ao trabalhador rural;
15. a conservao e preservao dos recursos naturais e a proteo do
meioambiente.
Como se pode observar, os princpios aqui relacionados tm conotao prpria,
diferente daqueles que fundamentam o Direito Civil (bero do D. Agrrio), cujas
regras so marcadamente individualistas. Aqui, mais uma vez se evidencia a
autonomia do D. Agrrio, de natureza social, com compromisso com a
transformao e a construo da justia social.
7. NATUREZA JURDICA DAS NORMAS DE D. AGRRIO:
Alguns autores, ao definir o D. Agrrio, indicam tratar-se de conjunto de normas de
direito pblico e de direito privado. No entanto, esta dicotomia cada vez menos
evidente. O que se percebe a ocorrncia de uma crescente interdisciplinaridade,
de forma que o direito privado possui inmeras normas de ordem pblica, e vice-
versa.
H um entrosamento perfeito entre os dois grandes ramos do direito. Outros
autores, seguindo a moderna doutrina, preferem dizer que o D. Agrrio, assim
como outros ramos, compe-se de normas imperativas (cogentes) e normas
dispositivas (supletivas , permitindo nestas ltimas o exerccio da autonomia
privada. possvel dizer que o D. Agrrio caracteriza-se pela predominncia de
normas de ordem pblica, tese esta reforada pelos dispositivos constitucionais
referentes poltica agrria e funo social da terra. Nos contratos agrrios h
normas legais cogentes (irrenunciveis pelas partes - Decreto 59.566/66) Assim, as
regras de D. Agrrio tm destinao universal, dirigida a toda a sociedade, mas,
diante da existncia de normas dispositivas, aceitvel a posio de tratar-se de
direito misto. Contudo, h ntida predominncia de normas de ordem pblica,
apesar de sua origem no direito civil, de onde se destacou.
8. IMPORTNCIA DO D. AGRRIO NA REALIDADE ATUAL:
Levando em conta os princpios acima referidos, tendo como elemento a funo
social da terra com os seus desdobramentos, pacfico que o D. Agrrio cresce em
importncia. A prpria realidade jurdica agrria, os conflitos agrrios de natureza
individual e coletiva alm das necessidades crescentes de produo e
produtividade, no deixam dvidas quanto importncia deste ramo do Direito.
Alm disso, deve ser
realado que a terra bem de produo, com conotao especifica e diferente dos
outros meios de produo. Com isso, deve receber enfoque e tratamento especial,
com o entendimento de que a terra deve servir aos interesses de quem lhe detm o
domnio e, ao mesmo tempo, responder aos interesses e necessidades sociais no
que diz respeito produo, produtividade, com qualidade e, por outro lado,
garantindo a preservao ambiental. Trata-se, portanto, de uma questo no
apenas econmica, mas com sentido social mais amplo, onde no podem prevalecer
a viso privatstica e individualista dos direitos sobre os bens. Cabe, ento,
acrescentar ao direito a idia de dever ou de obrigao resultante do direito. por
isso que alguns autores chegam a afirmar que ao direito de propriedade sobre a
terra corresponde uma obrigao social no sentido de faz-la produzir dentro dos
padres que a prpria legislao agrria exige. A terra rural jamais pode ser
concebida como aplicao ou como reserva de valor. Tendo importncia geral para
a realidade brasileira e para as futuras geraes, mais importante se torna na
regio Centro-Oeste, cuja base econmica se assenta na produo agropecuria.
Aqui, como em qualquer lugar, a terra um bem de produo que tem natureza
especial.
Ao difundir esta viso, a doutrina insiste na divulgao da mentalidade agrria ou
mentalidade agrarista, que reforma a importncia da terra com sua capacidade
produtiva e, consequentemente, da atividade agrria, atravs da qual se produzem
os bens essenciais sobrevivncia e satisfao das necessidades humanas. Ao
mesmo tempo, a preocupao gira em torno da melhor distribuio de renda, a
qual pode ser garantida pela melhor distribuio da terra, conjugada com polticas
de apoio e assistncia produo e comercializao. Leva em conta, ainda, um
terceiro aspecto importante que a preservao do meio ambiente, o que exige
repensar o que se produz e como se produz, visando a qualidade de vida atual e a
sobrevivncia e bemestar
das geraes atuais e futuras.
A questo ambiental, independente de uma perspectiva de mdio e longo prazos,
de eliminao dos males que originam a maioria dos conflitos agrrios atuais, ter
importncia cada vez maior. A preservao dos recursos naturais renovveis , sem
dvida, um dos elementos importantes do objeto do Direito Agrrio, como
necessidade essencial para a sobrevivncia humana e animal, que o seu contedo
bsico. A questo agro-ambiental o grande desafio a ser enfrentado pela
humanidade como forma de garantir sobrevivncia e qualidade de vida para as
futuras geraes.
CAPTULO II - INSTITUTOS DO DIREITO AGRRIO BRASILEIRO.
1 - FUNO SOCIAL DA TERRA (da propriedade imobiliria rural ou do imvel
rural).
Como j se afirmou, a funo social da terra se transformou no princpio
fundamental do Direito Agrrio. Atualmente, na exegese dos dispositivos
constitucionais sobre a matria, sobretudo no tocante terra rural, ou em outras
palavras, propriedade imobiliria rural, a garantia do direito de propriedade est
condicionada ao cumprimento dos requisitos relativos funo social da terra.
No resta dvida de que a propriedade (como conceito amplo) continua sendo
garantida como direito individual fundamental (art. 5), mas no especfico
relacionado aos imveis rurais, a garantia do direito est subordinado ao
cumprimento da funo social. Tanto isto verdade, que o texto constitucional no
mantm a garantia da propriedade imobiliria rural quele que no lhe cumpre a
funo social (art. 184 e 186 da CF).
H referncias importantes na histria no que diz respeito funo social da terra.
Aristteles, filsofo grego j entendia que aos bens em geral deveria ser dada
destinao social. Santo Toms de Aquino (na Summa Theolgica) defendia o
direito natural do homem aquisio dos bens materiais, mas sem se esquecer do
bem comum. No Cdigo de Napoleo a propriedade passou a ter carter de direito
absoluto, influenciando os cdigos civis. Leon Duguit, jurista francs, defendeu a
idia de que a propriedade , em si, uma funo social, no que se diferenciou da
doutrina social da Igreja Catlica para quem a propriedade tem uma funo social.
Posteriormente, este pensamento ficou evidenciado em muitas Encclicas Papais
transmitindo a doutrina social da Igreja Catlica, apesar de ela ter sido aliada
histrica do Estado por um logo perodo na histria. No Brasil, a preocupao com
o cumprimento da funo social j aparecia nas regras estabelecidas para os
sesmeiros, os quais recebiam a terra em quantidade que podiam explorar, sendo
obrigados a cultivar a terra sob pena da terra reverter ao patrimnio do Estado
(ordem de Cristo, administrada por Portugal). O Cdigo Civil de 1916 absorveu o
pensamento individualista ( art. 524), inspirado no Cdigo de Napoleo. No
entanto, a CF de 1934 j indicava claramente que a propriedade deve atender ao
bem estar social, o que ficou mais evidenciado na CF de 1946. Contudo, foi o
Estatuto da Terra (Art. 2, 1 da Lei 4.504/64) que, pela primeira vez, consagrou
de forma mais clara a idia de funo social da terra, explicitando os seus
requisitos. Atualmente, a CF/88 estabelece a funo social sobre qualquer bem art.
5, XXIII), sendo que a funo social do imvel rural , com seus requisitos, com
pequenos acrscimos ao j estabelecido na Lei 4.504/64, esto nos artigos 184 e
186 da Lei Maior.
A Lei 8.629/93 se encarregou de detalhar os requisitos relativos ao cumprimento
da funo social da terra ou da propriedade imobiliria rural, os quais devem ser
cumpridos em seu conjunto para que o imvel se encontre dentro dos parmetros
legais. Agora, o novo Cdigo Civil ( Lei n 10.406/02) tambm se refere funo
social dos bens em geral e sobretudo propriedade, alinhando-se orientao
bsica estabelecida na Constituio Federal. Funo social da terra gnero cujas
espcies so a funo social da posse, dos contratos, da propriedade e da empresa
agrria.
Requisitos legais de cumprimento da funo social:
Os requisitos so agrupados sob trs aspectos = econmico, social e ecolgico.
- aproveitamento racional e adequado: (requisito econmico) aquele que atinge os
graus de utilizao (GUT) de, no mnimo 80%, e grau de eficincia na explorao
(GEE) de, no mnimo 100%. o estabelecido no art. 6, com seus pargrafos, art.
9 caput e pargrafo 1, todos da Lei n 8.629/93, de forma que a exigncia a
mesma para a conceituao do que propriedade produtiva. Porm, conforme o
art. 185 da CF, a pequena propriedade e a mdia propriedade, desde que o seu
proprietrio no tenha outra, no so passveis de desapropriao para fins de
reforma agrria, mesmo que eventualmente no cumpram os requisitos da funo
social. Para a propriedade produtiva as exigncias ficaram restritas aos requisitos
econmicos, como a interpretao predominante extrai da definio inserida na Lei
n 8.629/93.
- observncia das disposies que regulam as relaes de trabalho: engloba os
contratos de trabalho (emprego = trabalho subordinado), como tambm os
contratos agrrios (nominados e inominados). o aspecto social a ser observado
para o fiel cumprimento da funo social. - bem-estar dos proprietrios e dos
trabalhadores: Tambm relacionado ao aspecto social, esse requisito deve ser
considerado no sentido de que tambm o bem estar dos possuidores deve estar
englobado, at porque, para o D. Agrrio a posse tem maior relevncia.
- adequada utilizao dos recursos naturais e a preservao do meio ambiente: o
aspecto ecolgico. Aqui h a preocupao com a vocao natural da terra, com o
equilbrio ecolgico, cuja preocupao e controle por legislao prpria tem sido
cada vez maiores. A competncia para legislar a respeito cabe s trs esferas de
poder, enquanto que ao rgo do Ministrio Pblico coube o importante papel de
fiscalizao, como de resto tarefa de toda a sociedade. O MP tem atuado
especificamente na rea rural exigindo o cumprimento da legislao referente s
reas de preservao permanente, a definio e registro da rea de reserva legal.
Atualmente h possibilidade de estabelecer a reserva legal extra-propriedade.
Os requisitos acima estabelecidos devem ser cumpridos em sua totalidade para que
o imvel cumpra a sua funo social. No entanto, h dois problemas srios
relacionados com o cumprimento destes requisitos. Em primeiro lugar, no est
muito bem definido a quem cabe esta tarefa e as formas de aferir a observncia de
tais requisitos em sua totalidade. Mais do que isso, no h posio clara na
doutrina e na jurisprudncia quanto s consequncias para o caso de
descumprimento de um ou outro requisito da funo social. O artigo 184 da CF diz
que compete Unio desapropriar o imvel que no estiver cumprindo a funo
social. O art. 186, por sua vez indica os requisitos que devem ser cumpridos em seu
conjunto. No entanto, o art. 185, numa espcie de inconstitucionalidade
intraconstitucional, ou conflito interno de normas, isenta a propriedade produtiva
da obrigao de cumprir todos os requisitos da funo social, notadamente a partir
da regulamentao do dispositivo constitucional feita pela lei 8.629/93, apenas
exigindo da propriedade produtiva o requisito econmico para que seja assim
conceituada. Trata-se de dispositivo que vem sofrendo muitos questionamentos. Por
outro lado, nas desapropriaes de terras para fins de reforma agrria, o rgo
competente tambm vem se restringindo a este item (requisito econmico).
2. IMVEL RURAL:
2.1 - Definio legal:
O legislador ptrio se encarregou de definir o imvel rural. No nosso Cdigo
Agrrio (Estatuto da Terra = Lei no 4.504/64), o art. 4 assim o define: Art. 4, I -
Imvel rural, o prdio rstico, de rea contnua, qualquer que seja a sua
localizao, que se destine a explorao extrativa, agrcola, pecuria ou
agroindustrial, quer atravs de planos pblicos de valorizao, quer atravs da
iniciativa privada. A Lei no 8.629/93 (reguladora do captulo da Poltica Agrria da
CF/88) dispe, em seu artigo 4, I que: Imvel rural o prdio rstico de rea
continua, qualquer que seja a sua localizao, que se destine ou possa se destinar
explorao agrcola, pecuria, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;. Como
se pode verificar, h pouca diferena na definio legal de 1964 e aquela inserida
no texto da lei 8.629/93.
2.2 - Critrio de Conceituao:
O critrio bsico estabelecido nas definies legais a destinao do imvel. Assim,
a rea de terras, qualquer que seja a sua localizao, que se destina atividade
agropecuria. Isto significa dizer que, pelos critrios inseridos nos textos legais, o
elemento diferenciador a atividade exercida no imvel. Portanto, o imvel, mesmo
localizando-se no permetro urbano, mas sendo destinado produo agropecuria,
para os fins do Direito Agrrio, classificado como rural. Da mesma forma, fato de
um imvel localizar-se fora do permetro urbano, mas no tendo finalidade
agropecuria, no se enquadra nos conceitos de imvel rural. Ex. rea utilizada
para uma igreja, escola, posto de gasolina, etc.
Estes critrios fogem da viso civilista onde a diferenciao se d pela localizao.
Porm, para fins tributrios, o legislador adotou outro critrio, o da localizao do
imvel. Assim, o artigo 29 do Cdigo Tributrio Nacional (Lei Complementar no
5.172/66) refere-se a imvel rural por natureza, como definido na lei civil,
localizado fora da zona urbana do municpio. Este entendimento sofreu
modificaes posteriores, e a Lei 5.868/72, reafirmou o critrio da destinao
independente da localizao do imvel, como critrio para a definio do tipo de
imposto. Assim, o ITR seria cobrado de imveis (art. 6 e pargrafo nico)
destinados explorao agropecuria, independentemente de sua localizao, que
tivessem rea superior a 1 (um) hectare.
Apesar destes dispositivos legais, a matria no se manteve pacfica. Em maio/82, o
STF, em sua composio plena, em Recurso Extraordinrio vindo de Minas Gerais,
entendeu que, pelo fato do Cdigo Tributrio Nacional ser Lei Complementar,
tornava-se inconstitucional o disposto no art. 6 da Lei 5.868/72 (lei ordinria), de
forma que estariam mantidos os dispositivos dos artigos 29 e 32 do CTN.
Ainda assim, a Lei 8.629/93, em seu artigo 4, repetiu o mesmo critrio da
destinao que j estava fixado no Estatuto da Terra. Por fim, lei 9.393/96
reafirmou o critrio da localizao para a classificao de imveis rurais para fins
de tributao, como se pode verificar no art. 1 e pargrafos deste diploma legal.
Desta forma fica claro que h dois critrios de classificao dos imveis na
legislao brasileira: um especfico para fins tributrios, que determina o tipo de
cobrana em funo da localizao do imvel, e outro para os fins do Direito
Agrrio, utilizado para a fixao de direitos e obrigaes de natureza agrria, como
tambm para as questes de natureza trabalhista da atividade agrria.
2.3 - Caractersticas do imvel rural.
Os elementos constitutivos, ou caractersticas, esto inseridos na prpria definio
legal de imvel rural.
Prdio rstico: Prdio aqui tem sentido de toda e qualquer propriedade
territorial, de qualquer terreno, independente de onde estiver localizado. J, a
expresso rstico tem sentido de cultivo ou seja, o imvel destinado a cultivo. Por
isso, a finalidade ou a destinao do imvel o classifica em rstico, ou rural, quando
utilizado para as atividades agrrias.
rea continua: A rea continua tem sentido de utilidade, de uso para a mesma
finalidade. Assim, a diviso, ao meio, de um imvel, por uma estrada, no lhe tira o
sentido de rea contnua como elemento caracterizador do imvel rural. H
unidade econmica na definio do que venha a ser prdio rstico. Mesmo que
ocorra a interrupo fsica, havendo a explorao conveniente pelo proprietrio
ocorre a unidade econmica = rea contnua. E possvel dizer, ento, que
determinada rea de terras, constituda por diversas propriedades, ou diversas
glebas, com documentos e registros prprios, se transforma em um nico imvel do
proprietrio, sobretudo quando se caracteriza por uma unidade econmica. Assim,
o conceito de imvel como rea contnua se aproxima da designao comum de
fazenda, sempre observada a regra de correto aproveitamento nos termos da
funo social.
Qualquer que seja a localizao e que se destine (ou possa se destinar)
produo agropecuria: Estes elementos j foram analisados quando da definio
de imvel rural.
3 - DIMENSIONAMENTO EFICAZ DO IMVEL RURAL:
Qual a medida de rea de terras ideal para que o agricultor, com sua famlia,
tenha condies de explor-la com eficcia e possa garantir o seu progresso social
e econmico? Qual a medida ideal de propriedade, visando o desenvolvimento
socio-econmico do pas ? Esta foi a preocupao do legislador, ao fixar uma
unidade de medida padro denominada de mdulo rural.
3.1 - Mdulo Rural: No artigo 4 do Estatuto da Terra foram estabelecidas vrias
definies, entre as quais a de Mdulo Rural. O inciso III do referido artigo diz:
Mdulo Rural, a rea fixada nos termos do inciso anterior. O inciso anterior aqui
referido define o que propriedade familiar, assim dispondo: Propriedade familiar,
o imvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua famlia,
lhes absorva toda a fora de trabalho, garantindo-lhes a subsistncia e o progresso
social e econmico, com rea mxima fixada para cada regio e tipo de explorao,
eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros. Estas definies permitem
dizer que o mdulo rural foi estabelecido como
medida da propriedade familiar. Elementos para a sua fixao (art. 5 da Lei n
4.504): Como se pode verificar, o Mdulo Rural a medida de rea fixada como
propriedade familiar, de tamanho suficiente e ideal para a correta explorao
agropecuria. Exatamente por esta razo, o Mdulo Rural, assim como a dimenso
da propriedade familiar, em funo da rea fixada como mdulo, variam de uma
regio para outra, levando em conta a qualidade da terra, a sua localizao
geogrfica e a forma e condies de aproveitamento econmico. (art. 11, do
Decreto 55.891/65, que regulamenta parte do Estatuto da Terra.)
Finalidade: art. 11 do Decreto 55.891/65 fixar unidade de medida eficaz para os
imveis rurais, caracterizada pela interdependncia entre dimenso, qualidade da
terra, localizao e condies de uso.
Tipos de mdulos: O Mdulo Rural ento uma espcie de fixao de rea ideal
para cada regio. Mas, em funo do estabelecido no art. 11 do Decreto 55.891/65,
a prpria lei se encarregou de estabelecer vrias categorias de mdulos, de acordo
com o tipo de explorao existente e predominante no imvel (art. 14 do Decreto
55.891/65). Assim, existe o mdulo de explorao hortigranjeira (intensiva e
extensiva); mdulo para a lavoura permanente e outro para a lavoura temporria;
mdulo para a explorao pecuria (de pequeno, mdio e grande portes); e mdulo
para a explorao florestal. Alm destas classificaes, existe, ainda, o mdulo da
propriedade, como resultado da soma de mdulos de explorao indefinida, quando
no imvel existem varias exploraes, sem indicao especfica. Tambm existe o
mdulo do proprietrio, nos casos em que o proprietrio possui vrios imveis,
correspondendo soma da quantidade de mdulos obtido em cada rea e dividido
pelo total das reas que possui, o que resulta numa espcie de mdulo mdio.
3.2 Importncia: ( art. 11, 12 e 13 do Decreto 55.891/65)
A idia inserida nos textos legais evidencia a preocupao com o estabelecimento
de reas de terras que fossem ideais para a perfeita e eficaz explorao
agropecuria, o que resultaria numa estrutura agrria democratizada. Ao mesmo
tempo, visava evitar o fracionamento dos imveis em reas inferiores necessria
para o desenvolvimento produtivo, evitando-se assim a proliferao do minifndio.
Historicamente, o mdulo rural tem sido utilizado para fins de classificao do
imvel como empresa rural, latifndio ou propriedade familiar, para caracterizar o
imvel desaproprivel (cfe. ET); como unidade tributria padro, o que permitia a
instituio da tributao progressiva; enquadramento sindical; distribuio de
terras devolutas ou em projetos de reforma agrria; e para fixar a indivisibilidade
do imvel (art. 65 do ET), entre outras finalidades prticas.
3.3 - Frao mnima de parcelamento:
Esta nova figura foi introduzida no ordenamento jurdico brasileiro pela Lei n0
5.868/72 (art. 8 ) e pelo Decreto 72.106/73. O art. 39 deste decreto estabeleceu
que nenhum imvel rural poder ser desmembrado ou dividido em rea de
tamanho inferior quele previsto no art. 8 da Lei 5 868/72. Como se pode verificar,
por esta nova determinao, a figura do mdulo foi, ao menos em parte, superado
pela idia de frao mnima de parcelamento. Nos termos do art. 8 e seus
pargrafos, a frao mnima de parcelamento acabou por permitir a diviso de
imveis em rea inferior do mdulo rural, contrariando o esprito do Estatuto da
Terra (art. 65),
possibilitando divid-lo at a medida do mdulo de explorao hortigrangeira, que
de 2 ou 3 hectares na maioria dos municpios.
3.4 - Mdulo fiscal:
A partir da Lei 6.746/79 foi introduzida nova figura jurdica, usada inclusive para a
classificao dos imveis, modificando os artigos 49 e 50 do Estatuto da Terra.
Alis a referida lei tem finalidade de fixar os parmetros para o Imposto Territorial
Rural. Porm, o Decreto n0 84.685/80, em seu artigo 22, trouxe uma nova
classificao de imvel rural.
Assim, o mdulo fiscal, alm de servir para a fixao do valor do ITR, tambm
passou a ser a medida adotada para a classificao dos imveis rurais. A Lei n
8.629/93 veio selar este entendimento ao utilizar a expresso mdulo fiscal, ao
definir, no art. 4, a pequena e a mdia propriedade.
De qualquer forma, a idia de manuteno de uma rea ou frao mnima abaixo da
qual no deveria ser dividido o imvel rural, tem sua importncia no sentido de
evitar o fracionamento de imveis em reas econmica e socialmente inviveis, o
que levaria, tambm, ao descumprimento da funo social da terra. O prprio art.
65 do ET j estabelecia a indivisibilidade do imvel em rea inferior dimenso do
mdulo. Por outro lado, com os avanos tecnolgicos verificados nos ltimos anos e
as tcnicas de produo intensiva, atravs de processos de irrigao e plantio
direto, permitem garantir sucesso econmico em reas pequenas, dependendo,
evidentemente, da localizao e do tipo de cultura explorada. Ainda assim, a
observncia de padres de rea mnima, que poderiam ser revistos periodicamente,
continua sendo importante na perspectiva da garantia da funo social da terra.
Nestas condies, o que vigora atualmente, so as regras relativas frao mnima
de parcelamento, conforme tabela verificvel nos cartrios de registros de imveis
e, de resto, na classificao dos imveis, aplica-se o instituto do mdulo fiscal.
4. CLASSIFICAO DOS IMVEIS RURAIS:
Conforme estabelecido pelo legislador, no Estatuto da Terra, existiam, ao menos at
1988, os seguintes tipos de imveis rurais: propriedade familiar, minifndio,
latifndio e empresa rural.
A CF/88 passou a utilizar novas terminologias, estabelecendo novos institutos ou
novas categorias de imveis rurais, como a pequena propriedade, a mdia
propriedade, a grande propriedade, a propriedade produtiva e, por via de
conseqncia, a propriedade improdutiva. Contudo, o texto constitucional no
definiu estas novas categorias, o que ficou para a legislao complementar, vindo
depois inserido no texto da Lei n0 8.629/93. Esta nova lei no se valeu dos mesmos
critrios utilizados pelo Estatuto da Terra, sobretudo no tocante ao fiel
cumprimento da funo social da terra pelas novas categorias definidas, uma vez
que a definio de propriedade produtiva ficou restrita ao aspecto econmico da
funo social da terra. Assim, para alguns autores no cabe mais falar em
minifndio e em latifndio. Contudo, os contornos dos novos institutos ainda no
esto bem definidos doutrinariamente. Estes tipos de imveis rurais, definidos no
ET e na Lei n0 8.629/93, sero objeto de estudo especfico.
4.1. Latifndio:
A denominao latifndio veio inserida nas definies do artigo 4 do Estatuto da
Terra. Porm, no foi repetida no texto constitucional e na Lei no 8.629/93, que
regulamenta os dispositivos constitucionais relativos poltica agrria, razo
porque alguns autores entendem que se trata de classificao em desuso na
atualidade.
4.1 .1 Conceito: o imvel rural que, com rea igual ou superior ao mdulo
rural, inexplorado ou explorado inadequada ou insuficientemente, ou ainda
porque tem grande dimenso a ponto de ser incompatvel com a justa distribuio
da terra.
4.1.2 Classificao: Nas prprias definies do Estatuto da Terra, h dois tipos
de latifndio: o latifndio por extenso e o latifndio por explorao.
O latifndio por extenso ou por dimenso est definido na letra a do inciso
V do artigo 4 do Estatuto da Terra, dizendo ser o imvel rural que exceda
dimenso mxima fixada na forma do art. 46, 1, alnea b desta mesma lei,
tendo-se em vista as condies ecolgicas, sistemas agrcolas regionais e o fim a
que se destine. Tb. Art. 22,II do Decreto 84.685/80. Porm, o Decreto n0
84.685/80, em seu artigo 22, dando regulamentao ao disposto nos artigos 40 e 46
da lei 4.504/64, com redao nova e mais clara, passou a classificar o latifndio por
dimenso como sendo o imvel rural que: art. 22, II, a) exceda a seiscentas vezes o
mdulo fiscal, calculado na forma do art. 5. Estes dispositivos evidenciam o
entendimento de que imveis rurais de grandes dimenses, alm de impedirem a
explorao de sua totalidade ante as possibilidades variadas de investimento que a
tecnologia oferece, caracterizando-se como antieconmico, tambm anti-social na
medida que o monoplio de terras nas mos de poucos significa a excluso social
de grandes contingentes de trabalhadores ou de agricultores por no terem acesso
terra, alm de propiciar a maior concentrao de renda.
Latifndio por explorao, o imvel de rea igual ou superior ao mdulo fiscal
que est inexplorado ou deficientemente explorado pelo mau uso da terra (artigo
4,V, alnea b do ET, combinado com o disposto no artigo 22,II, alnea b do Decreto
n 84.685/80). Aqui cabe tambm a explorao predatria do imvel, a falta
de uso de tcnicas de conservao, a manuteno do imvel para fins
especulativos, etc., o que impede a classificao do imvel como empresa rural.
Pelos conceitos estabelecidos possvel dizer que, tanto os imveis de grandes
dimenses, como aqueles de rea igual ou superior ao mdulo fiscal, inexplorados
ou inadequadamente explorados, devem ser considerados propriedade improdutiva.
Aqui a idia de produtividade tem dimenso mais ampla do que o simples aspecto
econmico. Por outro lado, o imvel de dimenso igual ou superior ao mdulo
fiscal, adequada e racionalmente explorado, equipara-se ao conceito de empresa
rural.
H instrumentos legais de combate ao latifndio. O principal deles o instituto da
desapropriao, objeto de estudo posterior. Alm deste, a lei ( ET, art. 49.) prev a
tributao progressiva de forma a ficar desvantajoso para o proprietrio a
manuteno de reas considerveis de terras de forma inexplorada. Contudo,
apesar da lei, o governo historicamente no foi capaz de tomar a deciso poltica de
sobretaxar os latifndios. Cabe lembrar, por oportuno, que existem reas onde no
se aplicam os conceitos de latifndio, mesmo sendo inexploradas, exemplo das
reas de preservao florestal, parques nacionais, etc.
4 2 Minifndio:
4 2 1 - Conceito: imvel rural de rea e possibilidades inferiores s da propriedade
familiar (art. 4, V do ET). Em outras palavras, o imvel com dimenso inferior
de um mdulo fiscal, traduzido na dimenso necessria e fixadora da propriedade
familiar. (art. 22,I do Dec. 84.685/80). Portanto, o imvel com dimenso inferior
ao necessrio para o progresso social e econmico do proprietrio e de sua famlia
(agricultor familiar). De qualquer forma, sabendo-se que o mdulo fiscal fixado
para o municpio, e tendo em vista as tecnologias disponveis, seria necessrio o
peridico reclculo do mdulo fiscal, mesmo porque, a depender do tipo de
explorao, do local e da qualidade da terra, possvel garantir progresso social e
econmico em reas menores que as do mdulo fiscal.
4.2.2 - Instrumentos de combate ao minifndio: restringem-se ao instrumento da
desapropriao (sem grande alcance social, a no ser com o objetivo de efetuar
remembramentos de imveis), e o estabelecimento de frao mnima de
parcelamento e a proibio de diviso dos imveis em reas inferiores.
4.3 - Propriedade familiar:
4 3 1 Conceito: a rea de terras compatvel com as necessidades do agricultor e
de sua famlia, que lhe garanta o progresso social e econmico, mesmo que com a
ajuda eventual de terceiros ( art. 4, II do ET). Da definio legal evidencia-se que,
alm das dimenses estabelecidas, deve ser explorada direta e pessoalmente pelo
agricultor e sua famlia, podendo contar apenas eventualmente com a ajuda de
terceiros.
4.3.2 - Elementos constitutivos: A prpria definio legal insere os elementos
constitutivos.
- titulao: em princpio a propriedade familiar supe a existncia do ttulo de
domnio do imvel em nome de um dos membros da entidade familiar. No entanto,
como a prpria lei permite a concesso de uso, inclusive na distribuio de terras
no processo de reforma agrria, o ttulo de domnio deixa de ser elemento
essencial.
- explorao direta e pessoal pelo agricultor e sua famlia: a prpria idia de
dimenso necessria compe a noo de propriedade familiar. Ou seja, parte-se da
caracterizao de propriedade familiar como tambm de mdulo, como sendo a
rea necessria ao progresso social e econmico do agricultor e de sua famlia.
Supe ento a rea que ele pessoalmente explorar. a perfeita noo de posse
agrria que no admite a idia de posse indireta.
- rea ideal para cada tipo de explorao: j foi discutida na definio dos
mdulos.
- possibilidade eventual de ajuda de terceiros: como se v, o normal a
dimenso da rea e o tipo de explorao absorver a fora dos membros da famlia.
Mas, como ocorre em algumas atividades, sobretudo em colheitas de produtos que
exigem maior quantidade de mo-de-obra em tempo exguo, a prpria lei permite a
ajuda eventual de terceiros, sem desnaturar a propriedade familiar. Observe-se,
contudo, que a propriedade familiar no comporta a ajuda do trabalho de
empregados.
Atualmente h certas polmicas, em funo dos novos conceitos de pequena e
media propriedade, em comparao com a definio de propriedade familiar,
principalmente para fins de obteno de recursos em condies especiais, para
definio de enquadramento na organizao e estrutura sindical do meio rural, e
para fins previdencirios enquanto categoria de segurados especiais.
4.3.3 - Importncia no processo de R. Agrria e de colonizao:
O instituto da propriedade familiar est diretamente relacionado com a
democratizao da terra, em atendimento a um dos princpios fundamentais do
Direito Agrrio brasileiro que visa garantir o acesso terra a um maior nmero
possvel de pessoas. Trata-se, portanto, de frmula que garante a melhor
distribuio da terra, ao mesmo tempo que viabiliza o progresso social e econmico
de seus possuidores e do pas, atravs da gerao, descentralizao e distribuio
de renda. Grandes extenses de terras, mesmo atendendo ao aspecto econmico da
produo, so socialmente incorretas ou injustas.
Este entendimento questionado por alguns autores, sobretudo os defensores dos
Complexos Agroindustriais, para quem a propriedade familiar no se encaixaria no
atual estgio de desenvolvimento tecnolgico experimentado pela agricultura. Cabe
lembrar, contudo, que o Direito Agrrio preocupa-se tanto com o aspecto
econmico da produo e da produtividade, como tambm das questes sociais.
Neste sentido, a propriedade familiar, em alguns pases (Europa) chamada de
empresa agrcola familiar, vivel do ponto de vista econmico e social. claro
que o aspecto organizativo, em associaes ou cooperativas, fundamental, alm
do efetivo investimento pblico que deve estar presente para garantir
competitividade a qualquer empreendimento rural. Ademais, nas condies
brasileiras, perfeitamente possvel a convivncia de complexos agroindustriais,
para o desenvolvimento de algumas atividades, com a agricultura familiar. Ver Lei
n 11.326, de 24/07/2006 Diretrizes para a agricultura familiar.
4.4 - Empresa rural ou empresa agrria:
4.4.1 - Conceitos: Utilizando a denominao empresa rural, o prprio Estatuto da
Terra se encarregou de conceitu-la no Inciso VI do Artigo 4. Porm, o artigo 22,
III do Decreto 84.685/80, retomando o conceito, trouxe mais detalhes, inserindo os
elementos caracterizadores da funo social do imvel rural. No aspecto
econmico, a regulamentao do ET, exigia a utilizao de 50%, depois passou para
70%, e por ltimo, pelo decreto supra citado, exigiu 80% de utilizao e 100% de
eficincia, alm dos outros elementos da funo social, inclusive o cumprimento
das obrigaes trabalhistas.
Como se pode verificar, sobretudo a partir da alterao conceitual introduzida pelo
Decreto 84.685/80, a empresa rural deve cumprir os requisitos da funo social.
Nestes se englobam os elementos econmicos (produo e produtividade) e os
elementos sociais.
4.4.2 Natureza: A empresa agrria tem natureza civil, com registro no INCRA (se
pessoa fsica), salvo a empresa SA que, por lei, tem natureza comercial. A empresa
rural pessoa jurdica, no sendo SA, tem registro no Cart. de Reg. de Pessoas
Jurdicas, Ttulos e Documentos.
4.4.3 - Elementos da empresa agrria: Trata-se de empreendimento que explora
atividades agrrias, podendo o empresrio ser, ou no, dono do estabelecimento ou
do imvel. Alm disso, o empreendimento, de natureza civil, tem finalidade de
lucro. A empresa rural tem, portanto caractersticas prprias, que a diferenciam
das demais empresas. A ao concreta da empresa rural na realizao da atividade
agrria, deve, portanto, atender aos requisitos econmicos mnimos estabelecidos
em lei, observar as justas relaes de trabalho e garantir o bem estar das pessoas
que vivem no empreendimento. Alem disso, deve atuar dentro dos padres de
rendimento tecnolgico e garantir a preservao ambiental atravs de prticas
conservacionistas. Historicamente, muitas empresas do setor industrial,
financeiro, etc, se beneficiaram com incentivos fiscais, adquirindo extensas reas
de terras e, apesar de no terem apresentado rendimento econmico e satisfatrio,
eram, perante o rgo competente, rotuladas como empresa rural. Ser que o
conceito de empresa rural equivalente ao de propriedade produtiva? Pelos
conceitos, a empresa rural mais do que a propriedade produtiva.
4.4.4 - Comparao com a propriedade familiar:
Entre a empresa rural e a propriedade familiar h diferenas e pontos de
identificao. A empresa rural, como empreendimento econmico, explora
atividade agrria mediante a fora de trabalho de terceiros, com o objetivo
principal de lucro, atravs da venda da produo. Na empresa rural ocorre a
associao da terra, capital, trabalho e as tcnicas empregadas na realizao da
atividade agrria, dentro de um fim econmico. Quanto ao tamanho da rea que
explora, pode ser igual ou superior ao da propriedade familiar. Contudo, alguns
entendem que necessariamente a rea deve ser superior da propriedade familiar.
A propriedade familiar, tem como elemento principal, a explorao direta e pessoal
do imvel pelos membros da famlia. Contudo, tanto a empresa como a propriedade
familiar precisam atuar dentro das condies de cumprimento da funo social, se
bem que este critrio mais rgido para com a empresa rural, uma vez que a
propriedade familiar, pela sua prpria constituio, j atende a vrios requisitos da
funo social.
4.4.5 - Importncia da empresa agrria no processo produtivo:
A empresa rural situa-se dentro de um modelo produtivo com o fim de atender s
necessidades de aumento da produo e da produtividade, com a adoo de
padres e processos tcnicos. De qualquer forma, a produo e a produtividade
devem ser alcanadas tambm com a adoo de prticas conservacionistas. A
pesquisa agropecuria tem favorecido o modelo de monocultura e de grande
empresa, a qual atua em grandes extenses, utilizando mquinas pesadas. Nestas
condies, os avanos tecnolgicos deixaram a desejar no que se refere ao
atendimento das necessidades dos agricultores familiares, que alguns preferem
chamar de empreendimento ou empresa agrcola familiar.
4.5 - Pequena propriedade rural:
Como j se afirmou, o legislador constituinte inovou nos conceitos e termos
utilizados, de forma que, no meio rural, passamos, a partir de 1988, a contar com
novas figuras jurdicas, ou novos institutos. A Constituio Federal, em diversos
artigos ( 5 , 185), refere-se pequena propriedade, mas no a define.
A definio do que pequena propriedade ficou por conta da regulamentao do
texto constitucional, e desta forma, estabelecida pelo artigo 4 ,II da Lei n
8.629/93, como sendo o imvel rural de rea compreendida entre um e quatro
mdulos fiscais. Como se pode verificar, esta definio foge do conceito de
propriedade familiar. Esta tida como compatvel com o mdulo rural ou fiscal. H
o entendimento de que, em funo desta nova definio, a propriedade familiar
pode alcanar at quatro mdulos fiscais. Agora, com a Lei 11.326/06, propriedade
familiar tida como aquela com at 04 mdulos fiscais.
4.6 - Mdia propriedade:
Nos termos do artigo 4,III, da mesma lei, o imvel rural com rea superior a
quatro e at quinze mdulos fiscais. Como j se disse, nos termos da legislao, a
propriedade familiar tambm deve cumprir a funo social. E a pequena e mdia
propriedade esto isentas desta obrigao? A mdia propriedade, pelas dimenses
que lhe foram conferidas, se no cumprir os requisitos da funo social, deveria ser
denominada de latifndio, nos termos do disposto no Estatuto da Terra e seus
regulamentos. E qual a consequncia que isto traria para referida propriedade? No
entanto, esta conceituao de pequena e mdia propriedade, est diretamente
relacionada com a iseno de desapropriao, a menos que o proprietrio tenha
outros imveis. Os menos preocupados com o resultado produtivo, com o bem estar
dos envolvidos no processo produtivo e com a preservao ambiental, entendem
que estas propriedades esto dispensadas do cumprimento da funo social. No
sendo assim, qual a sano cabvel ante o descumprimento da lei, alm de cobrana
de ITR com alquota maior?
4.7 - Grande Propriedade:
A lei no se encarregou de definir, mas, por deduo, o imvel que possui rea
acima de quinze mdulos fiscais.
4.8 - Propriedade produtiva:
a pequena, a mdia e a grande propriedade que atingem os nveis de produo e
produtividade exigidos por lei. Sendo propriedade que, ultrapassando as dimenses
de 15 mdulos fiscais e tendo grau de utilizao (GUT) de, no mnimo, 80%, e o
grau de eficincia na explorao (GEE) no mnimo de 100%, classificada como
grande propriedade produtiva, nos termos do disposto no art. 6 e pargrafos da
Lei n 8.629/93.
possvel dizer que a empresa rural se confunde com a propriedade produtiva,
tendo em vista os elementos que compem o conceito de propriedade produtiva. No
entanto, estes se restringem aos aspectos econmicos, de forma que d a
impresso de estar dispensada do cumprimento dos demais elementos da funo
social. Est a uma das contradies inseridas no texto constitucional, evidenciada
pela regulamentao posterior e objeto de controvrsias doutrinrias.
Neste especifico h um vazio legal, uma vez que o legislador ordinrio ainda no
regulamentou o disposto no pargrafo nico do artigo 185 da CF. Assim, ainda no
h lei estabelecendo o indicado tratamento especial e a fixao de normas para o
cumprimento dos requisitos relativos funo social para a propriedade produtiva.
Nem por isso a propriedade assim definida est isenta do cumprimento da funo
social, at porque se trata do princpio fundamental do Direito Agrrio e o seu
contedo est perfeitamente explicitado na lei.
4.9 - Propriedade improdutiva:
Por excluso, a propriedade que no alcana os ndices de produo e
produtividade estabelecidos em lei, independente do tamanho (pequena, mdia ou
grande propriedade) classificada como improdutiva. Tendo acima de 15 mdulos
fiscais, classifica-se como grande propriedade improdutiva, passvel de
desapropriao para fins de reforma agrria. Isto quer dizer que a propriedade,
mesmo no cumprindo todos os requisitos da funo social, se produtiva, no pode
ser desapropriada? Esta a interpretao majoritria atualmente na viso dos
tribunais. No entanto, h teses defendendo a posio de que, se o imvel no
cumpre os demais requisitos da funo social (aspecto social e ambiental), tambm
pode ser objeto de desapropriao, mesmo que no aspecto econmico seja
classificado como propriedade produtiva, em vista da exigncia constitucional de
aproveitamento racional e adequado, que no existe no descumprimento dos
aspectos social e ambiental. Sendo pequena ou mdia, para poder ser
desapropriada necessrio que o proprietrio tenha outra propriedade, conforme o
disposto no art. 185 da CF.
CAPITULO III A PROPRIEDADE DA TERRA NO BRASIL
1. TERRAS PUBLICAS OU PARTICULARES?
Logicamente, as terras brasileiras, a partir da descoberta, passaram integrar o
domnio da Coroa Portuguesa. Nas primeiras dcadas, pelo que consta nos estudos
histricos, no havia qualquer regra especfica disciplinando a ocupao deste solo
recm descoberto. Isto leva a concluir que a primeira experincia na terra
brasileira foi a de simples ocupao. Contudo, a partir de 1530, comeou a poltica
oficial ( da Coroa) de ocupao do solo, ficando o colonizador, a partir da carta
rgia, com o direito de ocupao do solo, numa espcie de doao que somente
valia pela vida do donatrio. As concesses feitas pelo colonizador ficavam sujeitas
a clusula resolutiva do aproveitamento no prazo de 6 anos, alm de dependerem
da aprovao do rei.
Da o questionamento, ao qual a doutrina no responde de maneira uniforme. A
terra brasileira era ento terra pblica ou particular? Para alguns a terra passou
efetivamente a integrar o patrimnio dos capites-donatrios, de forma que a coroa
praticamente no tivesse terra no Brasil. Este argumento se baseia nas cartas de
doao que falavam em irrevogvel doao entre vivos valedoira deste dia para
todo o sempre. ( Costa Porto - Formao Territorial - Fundao Petrnio Portela).
Para outros, a terra continuava pertencendo Ordem de Cristo ou em outras
palavras, ao Reino de Portugal. Na viso da poca, para que ocorresse a perfeio
no negcio, necessrio se fazia a convalidao pela religio. Segundo a histria, ao
iniciar o perodo expansionista, Portugal obteve da Santa S uma srie de bulas,
segundo as quais seriam do trono de Lisboa as terras descobertas e a descobrir no
caminho das ndias.
Por isso, pacfico que as terras descobertas por Portugal lhes pertenciam por
direito. que a doao feita aos colonizadores no se traduzia na transferncia do
domnio. No se transferia a propriedade pela doao. O Soberano dava o benefcio
da terra, o usufruto desta. Seria ento uma espcie de enfiteuse, ou de direito real
de uso da coisa alheia. como se recebesse um feudo do qual podia se beneficiar.
Nestas condies, os colonizadores se tornaram os distribuidores de terras,
conforme vinha indicado nas cartas rgias. Este processo deu origem ao histrico
sistema latifundista com o qual ainda convivemos em grande parte nos dias atuais,
mesmo porque, naquela poca se desobedeceu ordem estabelecida no Regimento
dado a Tom de Souza (primeiro Governador Geral do Brasil) em 1548,
determinando que no dareis a cada pessoa mais terra que aquela que boamente
e segundo sua possibilidade nos parecer que poder aproveitar... ( Sodero
Esboo Histrico da Formao do Direito Agrrio no Brasil). No entanto, a
preocupao com a ocupao do espao territorial era maior do que com a efetiva
utilizao da terra. Ao mesmo tempo que o sistema garantiu a formao de grandes
latifndios, permitiu o surgimento de pequenas posses em reas de terras entre as
sesmarias (sobras de sesmarias), normalmente prximas aos povoados, o que
acabou por garantir o abastecimento local. Sucessivas Cartas Rgias passaram
novas determinaes para os colonizadores, de forma que o regime de sesmarias
vigorou no Brasil at 1822. A partir da, o Brasil conviveu com um perodo
conhecido como de posses, por ausncia de uma regulamentao especfica
quanto ao uso e titulao das terras (perodo de vazio legal).
A lei de terras ( Lei n 601, de 1850), como j estudado, teve como objetivo a
definio dos direitos sobre as terras. Assim, o domnio, a partir desta data se
adquiria pela compra e registro. No entanto, a mesma lei confirmou os direitos de
donatrios de terras, os direitos sobre doaes feitas anteriormente, alm dos
direitos sobre as terras anteriormente ocupadas com posses reconhecidas at
ento. Isto possibilitou a confirmao das grandes extenses de terras. Nestas
condies, a partir da Lei 601, de 1850, passamos a ter um conjunto de
proprietrios de terras com seus direitos reconhecidos, e, por outro lado, mantinha-
se a existncia de enormes reas que ainda pertenciam ao poder pblico. Eram do
poder pblico as terras que ainda no tinham sido ocupadas a qualquer titulo
mantendo-se em sua forma original, como tambm aquelas que, ocupadas ou
recebidas por doao ou concesso, o beneficirio no tivesse cumprido as suas
obrigaes de cultivo e demarcao, conforme as normas da poca. Dai nasce a
expresso Terras Devolutas como sendo aquelas terras que volveram ou voltaram
para a Coroa por descumprimento de obrigao. Mas tarde a mesma expresso
Terras Devolutas passsou a significar tambm aquelas terras ainda pertencentes
ao poder pblico, no perfeitamente identificadas e demarcadas, ou seja, aquelas
terras ainda no incorporadas ao domnio particular. A Lei 601, no artigo 3o e seus
pargrafos, evidencia quais as terras que so consideradas devolutas.
2. DISCRIMINAO DE TERRAS:
Pela convivncia das terras pblicas com as particulares, surge o interesse na sua
separao, razo porque a mesma lei de terras ( artigo 1 ) trata da separao e
medio, descrio, conservao e colonizao sobre as terras devolutas. Pela
referida lei, a discriminao de terras era ato apenas administrativo. Portanto, o
processo de discriminao de terras, regulado por lei, o processo de identificao
de terras pblicas e particulares, com a conseqente arrecadao das terras
pblicas (devolutas) para posterior alienao a particulares, visando que passem a
cumprir a sua real destinao, a no ser que o poder pblico preveja finalidade
especfica (pesquisa, conservao) para ditas terras.
Atualmente, o Processo de discriminao de terras vem regulado pela Lei Federal
n 6.383/76, contendo uma fase administrativa e, para o caso de divergncias,
frustrao do procedimento administrativo ou inviabilidade deste, a fase judicial.
Porm, com a Constituio Federal de 1891, as terras devolutas passam ao domnio
dos Estados. Esta a razo pela qual os estados tambm se utilizam do instituto da
discriminao de terras.
No Estado de Gois, a Lei n 13.022 de 07/01/97, regulamentada pelo Decreto n
4.811, de 17/07/97, dispe sobre a discriminao e arrecadao de terras do
Estado. Esta Lei faz referncia ao IDAGO Instituto de Desenvolvimento Agrrio de
Gois (rgo de terras do Estado de Gois), como encarregado da funo
discriminatria. O IDAGO atualmente se encontra extinto, tendo as suas funes
sido transferidas para a AGENCIA RURAL. Ainda, a mesma Lei 13.022/97, prev o
processo discriminatrio administrativo e o judicial, tendo este aplicabilidade
quando o processo administrativo se torna ineficaz, como tambm nos casos de
ausncia, incapacidade ou oposio da totalidade ou maior nmero das pessoas
encontradas no permetro discriminado, ou ainda, em acaso de atentado em
qualquer fase do processo administrativo (art. 23 do referido decreto). O processo
discriminatrio administrativo feito a partir da nomeao de Comisso Especial,
integrada por um bacharel em Direito, um tcnico de nvel superior (agrnomo ou
agrimensor) e um servidor administrativo. Os procedimentos prticos foram
definidos por decreto.
A lei estadual no desce a detalhes sobre o processo discriminatrio judicial, mas
define ( no art. 3 , pargrafo nico) que se reger pelo disposto na Lei Federal n
6.383/76, combinada com as disposies da Lei de Organizao Judiciria do
Estado de Gois
3. A PROPRIEDADE DA TERRA NAS CONSTITUIES:
A primeira Constituio brasileira - de 1824, garantia o direito de propriedade sem
qualquer restrio, o mesmo ocorrendo com a Constituio Federal de 1891. O
Cdigo Civil, de 1916, cuidou da propriedade de forma genrica com regras que, a
partir de ento, tambm se aplicaram propriedade rural. No entanto, no entender
de Sodero a terra rural no foi considerada pois, no Cdigo Civil, como um bem de
produo que deveria ter normas diferentes para atender a problemas que no
eram da mesma natureza que o imvel urbano, da mesma natureza da terra que se
vende por metro quadrado. (Sodero - Esboo. P. 101). Para Jos Braga, o Cdigo
Civil de 1916 reflete o pensamento jurdico que coloca a propriedade como o
centro de todo o direito privado, longe de condicionar o exerccio daquele direito
ao bem comum, com reflexos extremamente danosos para o desenvolvimento
rural... ( in Introduo ao D. Agrrio - Ed. CEJUP, 1991, p. 56).
A Constituio Federal de 1934 insere pela primeira vez a idia de funo social,
alm de tratar o Direito Agrrio como ramo autnomo. A Constituio de 1946,
alm de se referir funo social, estabelece a possibilidade de desapropriao de
terras por interesse social, visando a justa distribuio da propriedade. No entanto,
este dispositivo somente foi regulamentado pela Lei n 4.132/62. Em seguida, em
1964, com a E. Constitucional n 10 (de 09/11), garantindo autonomia legislativa ao
Direito Agrrio, propiciou-se o surgimento do Estatuto da Terra (Lei 4.504/64).
4. LIMITAES (ATUAIS) AO DIREITO DE PROPRIEDADE:
O direito de propriedade sofreu constantes modificaes na histria. Em alguns
perodos, sobretudo na antigidade, tratava-se de direito absoluto. Ainda assim,
entre os romanos j era possvel constatar limitaes quanto ao exerccio do direito
de propriedade. O uso em condies que garantissem a preservao da terra,
sempre esteve presente na histria.
O Cdigo de Napoleo (Direito Francs), na viso do liberalismo, deu mais fora ao
direito de propriedade como direito absoluto. Em poca mais recente, possvel
constatar uma constante evoluo no conceito de propriedade. No direito
brasileiro, a Constituio imperial garantia o direito em toda a sua plenitude. O
Cdigo Civil de 1.916, mesmo no definindo o direito de propriedade, apresentava
as garantias dadas ao proprietrio, numa viso de direito natural, porm, sem a
conotao social que atualmente imprimida propriedade da terra. O C. Civil de
1.916 no diferenciava a propriedade urbana da rural no tocante sua funo
social. O atual Cdigo Civil, como se pode verificar em diversos dispositivos
relativos propriedade (ver artigos 1.228 a 1.247), insere o aspecto da funo
social para toda e qualquer propriedade. Ainda assim, questiona-se a aplicao do
Cdigo Civil naqueles aspectos especialmente regulamentados pela legislao
agrria. Contudo, coube Constituio Federal de 1.988 a tarefa de estasbelecer
limites mais precisos ao direito de propriedade, o que restou evidenciado para a
propriedade em geral ( incisos XXII e XXIII do artigo 5), para a atividade
econmica em geral (art. 170) e especificamente para a propriedade da terra rural
(art. 184 e seguintes). Ali o direito de propriedade est condicionado ao
cumprimento da funo social da terra. Tomando por base os dispositivos
constitucionais em vigor, que garantem e, ao mesmo tempo, condicionam o direito
de propriedade, possvel apresentar algumas caractersticas importantes:
- direito garantido a todos = artigo 5o cput da CF.
- princpio da ordem econmica, com contedo novo, devendo contribuir para a
existncia digna de todos e na busca da justia social (art. 170 da CF.).
- A garantia est condicionada ao cumprimento dos requisitos da funo social em
sua totalidade ( art. 184 e 186 da CF.).
A propriedade imvel rural, como fica evidente, tem uma concepo e finalidade
social diferentes dos demais tipos de propriedade. A terra rural, como integrante
do grupo de bens imveis, tem uma conotao especfica. Trata-se de um bem de
produo especial. O proprietrio da terra tem direitos e obrigaes em relao a
ela. Pelo fato de ser proprietrio, o que se caracteriza como um privilgio em
relao aos demais membros da comunidade da qual participa, este mesmo
proprietrio passa a ter obrigaes para com esta comunidade enquanto membro
de uma comunidade maior. A obrigao aqui referida a de produzir com
quantidade, qualidade, e com a preservao da qualidade da terra e do meio
ambiente, conforme os direitos e interesses maiores da comunidade. Como se pode
verificar nos dispositivos constitucionais (nos direitos e garantias fundamentais -
art. 5 XXII e XXIII; art. 170, II e III; e art. 184 e seguintes), h condicionamento
claro do direito de propriedade ao cumprimento da funo social da terra. H
autores que chegam a dizer que somente existe direito de propriedade para o
proprietrio se a terra, da qual detm o domnio, estiver cumprindo todos os
requisitos da funo social.
Esta anlise demonstra efetivamente que o nosso ordenamento jurdico, com os
novos dispositivos constitucionais, d mais nfase e proteo correta utilizao da
terra do que ao domnio dela. Em outras palavras, para o direito agrrio a posse
mais importante, sob o ponto de vista da proteo jurdica, do que o domnio (a
titularidade). claro que a conceituao de posse que se encaixa nesta viso vai
alm da conotao civilista, a qual define a posse como sendo o exerccio de fato de
algum dos poderes inerentes ao domnio. Pela viso civil, protege-se a posse em
razo do domnio. Posse agrria tem outros fundamentos. Esta merece ser
protegida em razo da posse mesma. Nesta viso, o fundamental a atividade
agrria, sobretudo aquela que desenvolvida dentro dos padres que atendam aos
requisitos da funo social da terra. Observe-se, contudo, que o Poder Judicirio,
salvo excees, ainda no conseguiu avanar significativamente neste
entendimento. Boa parte do poder judicirio inverte os valores, quando da
interpretao e aplicao da legislao. No a Norma Constitucional que deve ser
interpretada e aplicada luz das disposies do Cdigo Civil, e sim o inverso.
Pela melhor interpretao, fica (ou deveria ficar) sem proteo possessria a
propriedade imvel rural que no cumpre com sua funo social. A CF demonstra
que o no cumprimento da funo social est diretamente ligado perda da
propriedade, de forma indenizada. Este o verdadeiro sentido e alcance da funo
social da propriedade imobiliria rural. O direito privado de propriedade,
seguindo-se a dogmtica tradicional (Cd. Civil, arts. 524 e 527), luz da
Constituio Federal (art. 5 ,11), dentro das modernas relaes jurdicas,
polticas, sociais e econmicas, com limitaes de uso e gozo, deve ser reconhecido
com sujeio disciplina e exigncia da sua funo social. (arts. 170,II e III, 182,
183, 185 e 186, CF). (Acrdo Rip:20633, MS n. 1.835, Turma 1, Rel. Ministro
Garcia Vieira, STJ Julg. Em 11/05/93). Tendo em vista as necessidades sociais,
preciso repensar a titularidade dos bens e do uso destes, aspectos nos quais o
Poder Judicirio tem muito a caminhar.
5. USUCAPIO:
5.1. Formas de aquisio da propriedade imobiliria rural:
Conforme j foi estudado no Cdigo Civil, o qual traz regras para a aquisio da
propriedade imvel em geral, a forma principal e comum de aquisio da
propriedade imvel (inclusive a rural) atravs do registro, que supe a compra.
Alm desta forma principal, a lei civil prev a aquisio de propriedade imvel
rural pela acesso, pelo direito hereditrio, pela usucapio e pela desapropriao
( art. 1.228 do novo C. Civil).
A acesso e o direito hereditrio so, portanto, formas comuns de aquisio de
qualquer tipo de propriedade, conforme vem definido no Cdigo Civil. Porm, a
usucapio, em se tratando de rea rural, obedece a critrios prprios e tem entre
os seus pressupostos a existncia de posse que apresenta contornos diferentes da
posse civil (art. 1.196 e seguintes do novo C. Civil). Trata-se da posse agrria,
centrada na atividade agrria de produo e de conservao da terra em condies
que possam atender aos interesses sociais.
Conceito: Usucapio a aquisio do domnio (ou o direito de domnio ou
propriedade) resultante da posse, nas condies definidas por lei, prolongada pelo
tempo mnimo que a lei exige. Portanto, a usucapio a conjugao dos fatores
posse e o tempo. Alguns autores acrescentam que se trata de modo originrio de
aquisio da propriedade. A Constituio Federal de 1988 estabelece duas formas
de usucapio: a usucapio constitucional urbana (art. 183) e a usucapio
constitucional rural (art. 191), tambm chamada de usucapio agrria, trazendo
pequena alterao em relao ao disposto na Lei no 6.969/81, que regula a
usucapio especial. (objeto de estudo posterior). Tambm no novo Cdigo Civil, os
prazos foram reduzidos em 5 anos em relao s disposies anteriores.
5.2. Posse e Posse agrria: A posse civil tem um carter mais individual e
esttico, relacionado ao exerccio de algum dos poderes inerentes ao domnio (art.
1.196 CC). Ao proprietrio, por sua vez, o Cdigo Civil anterior assegurava o
direito de usar, gozar e dispor de seus bens, sem muita preocupao quanto ao
aspecto social, ou seja, sem o estabelecimento de critrios limitativos da utilizao
para o atendimento da funo social. Tratava-se de viso ultrapassada, com forte
contedo liberal do final do sculo XIX, aplicvel a qualquer imvel at o advento
da legislao agrria que passou a definir regras especiais para os imveis rurais.
Porm, agora os dispositivos do Novo Cdigo Civil que tratam da propriedade em
geral, tambm exigem do proprietrio o exerccio do direito em consonncia com
as finalidades econmicas e sociais ( art. 1.228, 1).
A posse agrria, contudo, traz maiores exigncias. Comea por exigir sujeito capaz
(pessoa fsica ou jurdica), que efetivamente tenha condies de desenvolver a
atividade agrria, que se manifesta sob diversas formas, principalmente a de
produo, como j estudado. Assim, a simples manuteno de uma ou algumas
benfeitorias, numa forma esttica, ou de atos meramente conservatrios da coisa,
no chegam a caracterizar a atividade agrria. Mais distante da caracterizao da
posse agrria fica a situao ftica de manter a terra inerte, baseada apenas no
domnio, numa espcie de inteno de possuir.
5.3. Posse que gera usucapio agrria: No qualquer posse que capaz de
gerar a usucapio agrria. Faz-se necessria a posse agrria que, como j dito,
supe a atividade agrria, dentro da finalidade social da terra.
Usucapio civil: A usucapio civil vem disciplinada no novo C. Civil, nos artigos
1.238 a 1.244, englobando a usucapio ordinria (que exige justo ttulo, boa f e
prazo de 10 anos art. 1.242) e a usucapio extraordinria (que exige o prazo de
15 anos ou 10 anos, sendo este ltimo com moradia habitual ou prova da realizao
de servios produtivos no imvel, independente de justo ttulo e boa f, conforme
previsto no artigo 1.238 e pargrafo nico) Alm disso, o novo Cd. Civil inseriu
nova modalidade de usucapio em relao ao cdigo anterior ( art. 1.239),
repetindo redao da usucapio constitucional ( art. 191 da CF). Nos termos do
disciplinamento anterior, a doutrina entendia ser possvel o exerccio da posse por
terceiros, o que agora questionado a partir do disposto no novo C. Civil. Por outro
lado, para algumas situaes, a lei no limita o direito usucapio apenas a quem
no possui outros imveis e que tenha no local da posse a sua moradia efetiva.
Aqui, o que se exige a posse incidente sobre imveis em geral, sobretudo
urbanos.
Usucapio Agrria: Tratando-se de usucapio agrria, conforme definida no
artigo 191 da Constituio Federal ( redao repetida no art. 1.239 do Cdigo
Civil), esta exige que o possuidor seja pessoa fsica, no titular de outra
propriedade, que desenvolva pessoal e diretamente a atividade agrria, com
animus domini (possuir como sua), em rea de no mximo 50 hectares, por si e sua
famlia, sem oposio nem interrupo e por um prazo mnimo de 5 anos, tendo ali
a sua moradia efetiva. H autores que entendem no ser requisito essencial a
realizao apenas pessoal da atividade agrria, admitindo tambm a atividade feita
por terceiros (contratados). O professor Targino define a posse agrria como
exerccio direto, continuo, racional e pacfico, pelo possuidor, de atividades
agrrias desempenhadas sobre os bens agrrios que integram a explorao rural a
que se dedique, gerando a seu favor um direito de natureza real especial, de
variadas conseqncias jurdicas, e visando ao atendimento de suas necessidades e
da humanidade. ( Lima, Getlio Targino - A posse agrria sobre bem imvel.
S.Paulo: Saraiva, 1992).
A posse agrria gera conseqncias, entre as quais o direito legitimao na posse
(artigo 99 do Estatuto da Terra), o direito regularizao ( Lei 6.383/76
legitimao da posse com licena de ocupao art. 29 em terra pblica), direito
de preferncia para a aquisio da propriedade, direito indenizao, direito
reteno do imvel, direito defesa da posse, e, cumprido o requisito tempo e
outras formalidades legais, o direito usucapio.
5.4. Usucapio e suas denominaes: A usucapio agrria tem sofrido vrias
denominaes, entre as quais: usucapio constitucional (porque prevista na CF),
usucapio pro-labore ( porque fundada principalmente no trabalho), usucapio
especial (conforme denominao feita na Lei 6.969/8), e a prpria usucapio
agrria ( pelo fato de esta expresso levar mais coerncia com o verdadeiro sentido
da aquisio da propriedade rural, mediante uma atividade agrria diuturnamente
exercida sobre a terra. Mesmo existindo os dispositivos constitucionais, ainda
assim, levando em conta o mbito agrrio, como contedo ou instituto do Direito
Agrrio, a melhor denominao de usucapio agrria.
Usucapio especial: Cabe observar que a usucapio especial (lei 6.969/81), a partir
do estabelecido no artigo 191 da Constituio Federal, sofreu alteraes,
notadamente no tocante rea usucapvel, aumentada de 25 para 50 hectares,
sendo que de resto dita lei continua com perfeita aplicao, menos em relao s
terras pblicas que no so mais usucapveis conforme pargrafo nico do art. 191
da Constituio Federal. A dvida doutrinria fica por conta do alcance da
expresso terras pblicas, entendendo alguns que as terras devolutas ainda
poderiam ser objeto de usucapio mesmo aps o advendo da CF/88.
5.5. A Usucapio Agrria e seus requisitos:
a) Em relao ao sujeito: A lei exige que seja pessoa fsica, nacional ou estrangeiro.
No pode ser proprietrio, nem rural e nem urbano, alm a exigncia de que tenha
a sua moradia no imvel objeto da posse e do usucapio. da prpria finalidade da
usucapio agrria, a destinao da terra pessoa que no possui imvel como seu (
priorizando o sem-terra) e que pessoalmente explore rea de posse usucapvel, o
que vai ao encontro da prpria finalidade do Direito Agrrio, visando fixar o homem
na terra e propiciando o seu desenvolvimento econmico e social.
b) Em relao posse e o seu tempo: A posse dever ser pacfica (sem oposio),
tratando o possuidor a terra como se fosse sua; explorao exercida diretamente
pelo possuidor e sua famlia, de modo a tornar produtivo o imvel, cuja posse
dever ter pelo menos 5 anos. claro que a posse, devendo ser sem oposio, no
pode ser sobre a coisa j possuda por outrem. A posse em rea que j vem sendo
efetivamente explorada com atividade agrria por outro possuidor, inclusive e
principalmente o proprietrio, no gera a posse e sim o esbulho e,
conseqentemente no gera direito a usucapio. A posse deve ser sem oposio
pelo prazo que a lei exige para a usucapio. Oposio supe ato concreto de outro
possuidor no sentido de refutar a posse exercida por terceiro. No mnimo, a
oposio exige ato oficial como o protesto judicial, ou, com mais garantias, atravs
da ao possessria. A propriedade sobre imvel de grandes extenses e a posse
sobre rea delimitada do imvel, deixando o restante inerte, ou seja, sem exercer
atos de posse, permite ao proprietrio argir a posse em toda a extenso do imvel
quando terceiro se apossa de rea delimitada e passa nela a exercer a atividade
agrria? Quanto ao animus domini (Savigny), este definido como requisito para a
usucapio definida no art. 1.238 do CC. No entanto, em se tratando de usucapio
agrria, normal que no haja documento e o possuidor sabe que o trato de terra
pertence a terceiro. Mas a exigncia que o possuidor cuide da terra e desenvolva
a sua atividade agrria como se o imvel fosse seu, o que significa o cuidado com a
preservao ambiental, edificao de benfeitorias e culturas permanentes, etc. O
que o Direito Agrrio exige do possuidor a atividade diuturna, dentro da
destinao social da terra. Mantida a posse nestas condies pelo prazo de 5 anos,
caracteriza-se o requisito de possuir como seu. Outra exigncia o trabalho
pessoal, seu e de sua famlia, de forma que o Direito Agrrio no aceita que a posse
a gerar usucapio seja efetuada por terceiros. Predomina o entendimento que, para
a usucapio agrria no vale a soma de tempos anteriores de posse, quando esta
adquirida de possuidor anterior. O prprio possuidor deve cumprir o tempo exigido
pela lei.
c) Em relao ao imvel: O imvel dever ser de natureza privada ( a CF, no Parg.
nico do Art. 191 veda expressamente a usucapio em terras pblicas), dever ser
imvel rural, de rea no superior a 50 hectares. O critrio definidor de imvel
rural o da destinao, como j visto. Quanto rea, ocorreu alterao em relao
ao disposto na Lei 6.969/81, uma vez que esta permitia usucapir rea de at 25
hectares, o que resultava na criao de minifndios, sobretudo em algumas regies
do pas onde o mdulo mnimo superior a esta rea.
Contudo, a determinao do prprio Estatuto da Terra era mais adequada, alm de
mais flexvel, como se pode verificar no artigo 98 da Lei 4.504/64. Ela fala em rea
suficiente sem indicar quantidade exata. Por outro lado, exigia prazo mnimo de 10
anos.
6. REGISTRO DE IMVEIS E REGISTRO TORRENS:
Como cedio, a forma mais comum de aquisio de imveis, sejam urbanos ou
rurais, atravs do registro.
Esta forma de aquisio exige a lavratura de Escritura pblica de compra e venda.
Para tanto, o tabelio e o registrador, nos termos da legislao, exigem uma srie
de documentos, entre os quais: ttulo de domnio da propriedade; certido negativa
de nus (inexistncia de ao real = de execuo, penhora, interdio, etc);
certido negativa da dvida ativa da unio, estado e municpio; quitao do ITR dos
cinco ltimos exerccios, ou certido de quitao de tributos e contribuies
federais da Receita Federal, e o Certificado de Cadastro de Imvel Rural (onde se
verifica se produtivo ou no); e a Averbao da Reserva Legal (exigida pelo
Ibama).
Se o vendedor for pessoa jurdica, so exigidos ainda a certido negativa do INSS,
Certido Negativa de tributos federais, e contrato social ou estatuto social da
pessoa jurdica. O adquirente pode exigir, ainda, certido negativa do cartrio
distribuidor judicial ( do Frum) e Certido Negativa do Distribuidor da J. Federal,
Certido Negativa de Protestos e Certido Negativa da Justia do Trabalho.
REGISTRO TORRENS:
Trata-se de um procedimento administrativo com interveno judicial regulado pela
Lei de Registros Pblicos ( Lei 6.015/73 artigos 277 a 288). um procedimento
especial de registro de imveis rurais, visando garantlo frente a qualquer dvida
quanto titularidade.
Finalidade dar qualidade de inquestionvel ao ttulo, no cabendo a sua anulao
posterior por ao prpria.
Procedimento Requerimento endereado ao Oficial do Cartrio de Reg. De
Imveis da situao da terra, instrudo com: documentos do domnio; prova de
eventuais limitaes sobre a propriedade (servido,usufruto, etc); memorial do
imvel, englobando enbcargos, ocupantes, confrontantes, interessados, etc.; e
planta do imvel. Tratando-se de imvel hipotecado, o Registro Trrens s
possvel com a anuncia do credor hipotecrio. No estando completamente
instrudo o processo, o cartrio d ao proprietrio o prazo de 30 dias para
completar a instruo. No o fazendo o oficial suscita a dvida ao juz.
Feita a instruo, o processo remetido ao juiz para despacho. Juiz manda publicar
Edital no Dirio Oficial e 3X na imprensa local, no prazo de 2 a 4 meses, para a
apresentao de eventual oposio. Ao mesmo tempo ocorre a notificao dos
nominados no memorial, para que respondam sobre seu eventual interesse,
apresentando contestao ao pedido em 15 dias. Oitiva do Ministrio Pblico. No
havendo impugnao, o juiz determina a inscrio do imvel com os efeitos
Torrens, a esta inscrio na matrcula do imvel e o arquivamento da
documentao em cartrio. Havendo contestao, o processo segue o rito
ordinrio.
CAPITULO IV - POLTICA AGRRIA E REFORMA AGRRIA:
1. Noes e conceito de Poltica Agrria
A expresso Poltica Agrria tem um sentido amplo, compreendendo a poltica
agrcola e a poltica fundiria e reforma agrria. A Constituio Federal, ao tratar
destes temas, a partir do artigo 184 at o art. 191(Cap. III do Ttulo VII),
apresentou um ttulo extenso, podendo ter reduzido o contedo denominao de
Poltica Agrria.
Conceito: A poltica agrria , na verdade, a ao do poder pblico no meio agrrio,
no sentido de estabelecer a melhor forma de distribuio, uso e explorao da
terra, a concesso dos recursos e instrumentos necessrios, visando a organizao
da produo, a comercializao da produo, a produtividade, a preservao
ambiental , o desenvolvimento scio-econmico do meio rural e o bem estar da
coletividade.
Este conceito, como evidente, comporta interpretao e aplicao prtica
diferenciadas, levando-se em conta principalmente a viso de quem est no poder,
a concepo de sociedade de cada grupo ou classe social e dos interesses que
busca defender. Os interesses dos grupos sociais na sociedade no so uniformes.
Assim, independentemente do ordenamento jurdico disponvel para a
implementao das polticas para determinado setor, no caso o rural, as polticas,
as estratgias e os objetivos perseguidos so variados.
2. Reforma Agrria:
2.1. Conceito e finalidade, conforme o Estatuto da Terra: O legislador se
encarregou de inserir no artigo 1. pargrafo 1, da Lei no 4 .504/64, a definio
legal de reforma agrria. No artigo 16 do mesmo diploma legal, por sua vez, inseriu
a finalidade essencial da reforma agrria, indicando que esta visa promover a
justia social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento
econmico do pais. claro que estas finalidades deveriam ser implementadas
acrescentando-se, ainda, a prtica da conservao dos recursos naturais renovveis
e a preservao do meio ambiente, preocupaes mais novas e cada vez mais
importantes nos dias atuais.
2.2. Diferentes concepes sobre reforma agrria e sua necessidade para o
desenvolvimento scio-econmico:
A viso de desenvolvimento, englobando o espao rural e sua funo neste
processo tambm no uniforme. O grupo que est no poder, com os setores que o
influenciam na direo poltica, alm da possvel interferncia dos interesses
internacionais, utiliza os instrumentos de poltica agrria disponveis em afinidade
com a viso dominante de desenvolvimento. Assim a reforma agrria, por exemplo,
independentemente do espao legal disponvel, vai ter maior ou menor
importncia, e ser implementada ou no, dependendo do modelo concebido como
ideal para o desenvolvimento scio-econmico.
Qual o papel do meio agrrio no desenvolvimento, no pas e em especial em nossa
regio? As definies e finalidades inseridas na Lei no 4.504/64, respondem a uma
viso de desenvolvimento, com fortes influncias externas e, por outro lado,
tinham, na ocasio da elaborao do Estatuto da Terra, uma finalidade clara de
servir de resposta s reivindicaes, s presses dos movimentos sociais e,
principalmente, perante as iniciativas prprias de soluo do problema agrrio que
vinham ocorrendo ao arrepio da lei, como era o caso das ligas camponesas e outros
movimentos sociais de reivindicao dos camponeses. Objetivava-se, ento,
apresentar um instrumental legal sobre a reforma agrria, dando uma satisfao
sociedade, de forma a desestimular a atuao dos movimentos sociais.
A realizao da reforma agrria, como j dito, pode comportar procedimentos
diversificados, concebendo-a como interveno pontual e momentnea na estrutura
fundiria, ou como prtica constante a acompanhar as polticas dos governos. Em
outras palavras, independente do contedo legislativo sobre o tema, a necessidade
ou no de realizao de uma reforma agrria, ou o tipo de reforma agrria a ser
implementada, esto diretamente ligadas concepo de desenvolvimento que
permeia o pensamento do grupo detentor do poder.
O que se pode perceber a partir de 1964, que os militares, apesar do
instrumental legal disponvel, optaram por incentivar um modelo de
desenvolvimento agropecurio baseado nos grandes projetos monocultores,
capazes de absorver um pacote tecnolgico completo e com direo prioritria para
o mercado externo. Neste
modelo, portanto, no cabia a democratizao da estrutura fundiria brasileira.
Alis, no perodo dos governos militares, ocorreu uma enorme e crescente
concentrao da propriedade da terra no Brasil e, por outro lado, milhes de
trabalhadores e/ou pequenos produtores rurais perderam suas terras e seus
espaos de trabalho no
meio rural exatamente em conseqncia da poltica desenvolvida pelo governo,
resultando no maior xodo rural da histria do pas e o inchao das cidades e
demais consequncias dali resultantes.
No fim dos governos militares, com a abertura democrtica o Brasil conviveu com
uma Proposta de Primeiro Plano Nac. de Reforma Agrria (1 PNRA), cuja
concepo inicial estava baseada na necessidade de efetiva democratizao da
terra, como condio para a democratizao do poder e da sociedade como um
todo. No entanto, este plano no obteve respaldo dentro do prprio poder. Os
setores de apoio ao governo da poca no tinham consenso quanto proposta
apresentada para a sociedade, de forma que o projeto no chegou a ser posto em
prtica e mais urna vez frustrou as expectativas dos trabalhadores.
Nos ltimos anos, apesar do maior volume de aes voltadas para a questo da
reforma agrria, o governo continuou oscilando entre atender as reivindicao dos
trabalhadores ou, por outro lado, buscar alternativas que justificassem perante a
sociedade a desnecessidade de realizao da reforma agrria como aspecto
importante para o desenvolvimento socio-econmico do meio rural e da sociedade
como um todo.
Agora, o novo governo, encabeado por quem sempre defendeu a necessidade de
realizao de uma ampla reforma agrria, como condio para o desenvolvimento
scio-econmico do pas, aumentou as expectativas dos trabalhadores. A
composio de governo com diversas foras polticas por certo interferir nas
decises quanto s prioridades e ao volume de aes governamentais neste campo.
Contudo, foi anunciado um Plano de Reforma Agrria cujas metas para 4 anos
resultariam no assentamento de 400 mil famlias de trabalhadores rurais em terras
desapropriadas e, alm disso, outras 130 mil seriam beneficiadas com o crdito
fundirio e mais 500 mil famlias de possuidores teriam suas terras legalizadas,
resultando no atendimento a mais de um milho de famlias.
Em 2002, por orientao do governo anterior, foi apresentado um Projeto de lei, em
tramitao no Congresso Nacional (Projeto de Novo Estatuto da Terra) cujo
contedo busca demonstrar a importncia secundria da reforma agrria no
processo de desenvolvimento agropecurio, em afinidade, principalmente, com o
modelo neo-liberal de desenvolvimento, levando em conta os interesses
internacionais. Informaes preliminares indicam que este projeto foi arquivado.
Paralelamente s polticas governamentais, os movimentos sociais, a exemplo do
Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais, liderado pela Confederao Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG),vm discutindo e buscando dar
concretude a seu Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentvel (PADRS), que tem como principal instrumento a realizao de uma
ampla reforma agrria com a democratizao da terra no Brasil, tendo na
agricultura familiar seu modelo ideal de distribuio da terra para, com a
organizao a produo e da comercializao atravs de cooperativas
agropecurias, garantir o pleno desenvolvimento agropecurio e a distribuio de
renda. Tambm o MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tem uma
poltica bem definida, reivindicando e lutando pela concretizao da reforma
agrria para permitir a democratizao da terra no Brasil e garantir distribuio de
renda atravs de um processo de organizao da produo e da comercializao.
H, ainda, pensamentos diferenciados acerca dos procedimentos da reforma
agrria. Para uns trata-se de interveno do poder pblico em determinado
momento da histria, com comeo e fim previstos, enquanto, para outros, trata-se
de uma poltica de permanente adequao da estrutura fundiria s necessidades
scio-econmicas do pas.
3. A luta pela Reforma Agrria no Brasil:
3.1- Retrospecto histrico As lutas e reivindicaes por reforma agrria so
histricas em nosso pas. Algumas lutas de conquista e resistncia foram
historicamente importantes, inclusive para o estabelecimento de um conjunto de
normas reguladoras do processo de realizao da reforma agrria. (revolta
farroupilha RS; Canudos; guerra do contestado PR; Ligas Camponesas; revolta
de Trombas GO).
No demais lembrar que o Estatuto da Terra ( Lei n0 4.504/64) foi elaborado pelo
governo militar, em 1964, em afinidade com os compromissos assumidos pelo Brasil
na Carta de Punta Del Este (Uruguai), no sentido de aprovar uma lei de suporte
realizao da reforma agrria, tendo como motivao a existncia de movimentos
sociais fortes ( ligas camponesas) capazes de conduzir o pas a uma alternativa de
poder no desejada pelos EUA e pelo governo brasileiro.
Neste sentido, o Estatuto da Terra surge mais como resposta s presses sociais da
poca do que como um compromisso efetivo do governo militar com a
democratizao da terra no pas. Isto ficou comprovado de fato nos anos que se
seguiram, onde os sucessivos governos militares se preocuparam em imprimir um
modelo de desenvolvimento agro-exportador com suporte na grande produo
monocultora.
Apesar deste sentido original do Estatuto da Terra, este serviu historicamente de
referencial para as reivindicaes dos trabalhadores. Tendo o instrumental legal
necessrio e, levando em conta que a reforma agrria um programa de governo,
os trabalhadores, com seus movimentos sociais, exigiam a aplicao do Estatuto da
Terra e a efetiva realizao da reforma agrria. As presses da poca trouxeram
como conseqncia o fechamento de sindicatos e a perseguio e priso de
lideranas sindicais.
O Brasil passou ento por um perodo de centralizao poltica, com cerceamento
de direitos polticos para os cidados, de forma que no existia a liberdade de
manifestao e de opinio. No final dos anos 70, com a abertura poltica, lenta e
gradual, os movimentos sociais se recompuseram para continuar reivindicando a
reforma agrria. Neste sentido a histrica bandeira da reforma agrria, mesmo em
perodos de menor espao de manifestao, nunca deixou de existir.
Levando em conta a existncia de um instrumental bsico para a realizao da
reforma agrria, o que no havia era a vontade poltica dos detentores do poder. De
fato, a concepo de desenvolvimento, afinado com interesses dos grandes grupos
econmicos, nacionais e internacionais, no comportava a proposta de
democratizao da terra, do poder e a efetiva distribuio de riqueza.
No incio dos anos 80 os trabalhadores rurais, atravs do Movimento Sindical e do
MST ( Mov. dos Trab. Rurais Sem Terra) retomaram a sua capacidade de
organizao, alm de adotar a ocupao de terras consideradas como latifndios
improdutivos (terras fora dos parmetros legais) como forma de presso para a
realizao da reforma agrria.
Entre 1984 e 1985 parecia que a to sonhada reforma agrria sairia mesmo do
papel. Neste sentido, no governo Sarney, foi elaborado o 1 PNRA (Plano Nacional
de Reforma Agrria), concebido com observncia dos espaos legais existentes,
mas com o propsito de avanar no campo da democratizao da terra.
Contudo, o prprio governo, com seus setores de apoio, no tinha unanimidade
sobre o assunto, de forma que a proposta no chegou a ser posta em prtica.
Frustrada mais uma expectativa dos trabalhadores, com advento da elaborao da
nova Constituio Federal, os movimentos concentraram grandes esforos na
Constituinte, acreditando que, com melhorias na legislao, seria possvel garantir
a efetiva realizao da reforma agrria. No entanto, o resultado do processo de
elaborao da Constituio Federal de 1988, sem desmerecer aspectos importantes
e inovadores, foi um efetivo retrocesso legal em comparao com a legislao
anterior, em relao reforma agrria, frustrando mais uma vez as expectativas
dos trabalhadores.
3.2 - Os retrocessos impostos pela Constituio Federal:
A- Em relao ao mbito de realizao da reforma agrria, o Estatuto da Terra e
seus regulamentos falavam em reas ou regies prioritrias. O poder pblico
competente podia, com isso, declarar, por decreto, uma determinada regio como
sendo prioritria e de interesse social para fins de reforma agrria e, a partir dali,
efetuar os ajustes necessrios. Neste sentido, a concepo de reforma agrria era
mais ampla, permitindo a interveno do poder pblico em determinada regio, ou
municpio, possibilitando-o adequar a forma de distribuio, pertena e uso da
terra s necessidades sociais, alm da vantagem que isto trazia no sentido de
permitir o planejamento de uma regio por inteiro e o fornecimento da necessria
infra-estrutura para o atendimento das necessidades produtivas.
Contudo, a determinao da CF/88 no sentido de declarar o imvel rural de
interesse social para fins de reforma agrria. Esta nova redao restringe
sobremaneira as possibilidades de ao do rgo expropriante, fazendo com que a
reforma agrria se transforme numa interveno apenas pontual e isolada na
estrutura fundiria do pas. Alm disso, esta interveno pontual exige
investimentos pblicos especficos em cada lugar de interveno estatal, de forma
que se aumentam os gastos pblicos enquanto diminuem os efetivos resultados.
B - Um segundo aspecto que merece destaque o estabelecimento de novas
denominaes ou nova classificao dos imveis rurais, inserindo a denominao
de propriedade produtiva, a qual, pela regulamentao que lhe foi dada com a Lei
n 8.629/93, foi dispensada do cumprimento de todos os requisitos da funo social.
Com isso, as denominaes e classificaes dos imveis constantes do Estatuto da
Terra, ao menos em parte, caram em desuso.
C A indenizao da terra desapropriada antes (pelo Dec.Lei 554/69) podia ser
efetuada tendo por base o valor declarado pelo proprietrio do imvel, para fins de
pagamento de imposto territorial rural, sendo assim considerado justo valor, ao
passo que, atualmente, a indenizao para ser considerada justa deve retratar o
valor de mercado do imvel.
3.3 - O fechamento dos espaos legais:
Mesmo sendo menor o alcance das regras constitucionais e da legislao que as
regulamenta, em comparao com a legislao anterior, ainda assim, havendo
vontade poltica, e tornando o problema da democratizao da
estrutura fundiria uma prioridade de governo, seria possvel atender s justas
reivindicaes dos trabalhadores sem terra. Contudo, no foi isto que se viu nos
anos que se seguiram promulgao da Constituio Federal. Nos primeiros anos,
usando como desculpa a inexistncia de lei regulamentadora, nada foi feito em
termos de reforma agrria. Porm, o Dec.Lei 554/69, definidor do procedimento de
desapropriao, estava perfeitamente em vigor, bastando ao governo utilizar a lei
existente.
Mesmo aps a regulamentao dos dispositivos constitucionais relativos reforma
agrria, o tema no chegou a ser prioridade, apesar de ter sido freqentemente
utilizado como objeto de propaganda das aes de governo. A poltica
governamental implementada entre os anos de 1995 a 2002 resultaram na
desapropriao de mais de 3.500 imveis, incorporando reforma agrria uma
rea de, mais de 18 milhes de hectares e beneficiando aproximadamente 450 mil
famlias. Levando em conta estes dados e comparando-os com o nmero de
trabalhadores rurais potenciais beneficirios da reforma agrria, tendo em conta
que a mdia anual de beneficiados foi de, aproximadamente 70 mil famlias de
trabalhadores, o governo levaria mais de 60 anos para concluir a reforma agrria,
isto se no aparecessem novos trabalhadores beneficirios e se neste perodo no
mais ocorresse o xodo rural.
Cabe observar que os resultados aqui apresentados no deixam de ser importantes,
levando-se em conta que foi a primeira vez na histria que um governo chegou a
incluir a reforma agrria na sua agenda. Contudo, em termos gerais, estes
resultados no foram iniciativa e mrito de ao do governo. Este acabou agindo e
apresentando resultados em funo da capacidade de presso e reivindicao dos
trabalhadores e de seus movimentos. A maioria das reas desapropriadas foram
fruto de reivindicao dos prprios trabalhadores interessados. Trata-se, portanto,
de conquista dos prprios beneficirios da reforma agrria, resultando de ocupao
de reas, de presso junto ao rgo encarregado da execuo do programa de
reforma agrria.
O que se pode constatar que as ocupaes e acampamentos de trabalhadores,
seja junto a rgos pblicos como nas margens de rodovias, para chamar a ateno
da opinio pblica e, ao mesmo tempo, possibilitar a maior capacidade de presso
para a conquista da reforma agrria, havia se transformado na principal
ferramenta presso para as conquistas dos trabalhadores, principalmente por falta
de um programa de governo claro que contemplasse as reivindicaes desta classe.
Por outro lado, o sinal mais claro de que a reforma agrria de fato no era
prioridade do governo, foi a sucessiva e crescente imposio de limites na ao dos
trabalhadores, com diversos retrocessos legais impostos sobretudo no ltimo
mandato do governo Fernando Henrique. Primeiramente, atravs do Decreto
2.250/97, determinou a no realizao de vistoria em imvel rural enquanto no
cessasse a ocupao ( ou esbulho, como prefere boa parte do poder judicirio, ou
ainda, invaso, que o termo preferido nos meios de comunicao e mesmo nas
aes judiciais). Posteriormente, em atendimento a reivindicaes dos
terratenientes, atravs de Medida Provisria 2027/99, proibiu a vistoria, por dois
anos, do imvel objeto de ocupao (esbulho), prorrogvel por mais dois anos em
caso de reincidncia na ocupao. Ainda no satisfeito com tamanha restrio
imposta contra esse legtimo instrumento de presso, por legislao capenga, o
governo tratou, em nova redao, dada pela Medida Provisria no 3.019/2001,
excluir do benefcio da reforma agrria aqueles trabalhadores que viessem a
participar de ocupao de terra, ou de ocupao de prdios pblicos ( exemplo do
INCRA) para fazer reivindicaes de seu interesse, inclusive os que j estivessem
assentados e beneficiados com a terra. Atualmente estes mesmos dispositivos
continuam inseridos no ordenamento jurdico ptrio atravs da MP. N 2.183 56,
de 24/08/01, com vigncia plena at a sua apreciao pelo Congresso Nacional,
modificando parte da Lei n 8.629/93, no se tendo notcia da eventual inteno do
atual governo de revogar tal medida.
Paralelamente legislao citada, o governo, a partir de 1998, buscou implementar
um novo modelo chamado de Novo Mundo Rural, ou Nova Reforma Agrria,
atravs do qual pretendia transferir responsabilidades para os Estados e
Municpios, no encaminhamento do processo de reforma agrria. Neste sentido
ainda h projeto de Lei Complementar tramitando no Congresso Nacional, com a
finalidade de autorizar os Estados a legislar sobre desapropriao e direito agrrio
(art. 22, pargrafo nico da CF/88) visando dar efetividade descentralizao da
reforma agrria.
Em outras palavras, a descentralizao significa transferir para Estados, e at os
Municpios, as atribuies que atualmente so reservadas Unio.
A transferncia, para os Estados, de aes complementares ao processo de reforma
agrria, entre as quais a implantao de infra-estrutura bsica ( escolas, estradas,
postos de sade, energia, gua, etc) deve ser vista como uma poltica normal e
correta.
No entanto, o que se pretende deixar que estados e municpios conduzam o
processo de definio de reas desapropriveis com critrios prprios alm de
passarem a ter competncia para a seleo dos beneficirios. Partindo-se do bvio
de que, a nvel local h interferncia maior do poder poltico, buscando direcionar o
processo conforme seus interesses, os trabalhadores potenciais beneficirios da
reforma agrria ficaro ainda mais prejudicados.
Nestas condies, descentralizar a reforma agrria bom ou ruim ? Alm destas
iniciativas, o governo passou a apresentar outra alternativa de acesso terra,
dentro do projeto de Novo Mundo Rural, definida como Banco da Terra (Lei
Complementar no 93, de 04/02/98). Trata-se da aquisio de imveis rurais, de
forma individual ou associada (associaes de interessados), mediante aprovao,
por rgo estadual competente, de projeto previamente elaborado. Este modelo,
financiado principalmente com recursos do Banco Mundial, visava deslocar a
reforma agrria do seu original e verdadeiro sentido. A desapropriao sempre foi
concebida como punio ao proprietrio descumpridor das obrigaes legais
relacionadas ao uso da terra, para, com isso, garantir a distribuio mais
democrtica deste bem de produo. A compra deixa de lado este esprito. Somente
vende a terra quem quer, com preo satisfatrio, de mercado, de forma que este
modelo acaba por alcanar terras inviveis, do ponto de vista tcnico, para o
estabelecimento de assentamentos, alm de no atingir os imveis que
efetivamente deveriam ser incorporados ao processo de reforma agrria.
Na viso dos movimentos sociais do campo o Banco da Terra no deveria ser usado
como ao prioritria, devendo ser reformulado quanto a seus objetivos. De fato,
passou a ser tratado mais como poltica complementar, sob nova regulamentao,
como Crdito Fundirio. Pelo Plano de Reforma Agrria do atual governo, o
Programa de Crdito Fundirio substitui o antigo Banco da Terra e dever ser
implementado como poltica complementar utilizada nas situaes em que no cabe
desapropriao da terra para fins de reforma agrria. Contudo, se no tiver
recursos necessrios para uma efetiva reforma agrria, corre-se o risco de, mais
uma vez, priorizar polticas e programas que no alteram efetivamente a estrutura
fundiria brasileira no sentido de democratiz-la, o que deveria ocorrer com o
programa de reforma agrria.
oportuno comparar a desapropriao e compra como alternativas para a
realizao da reforma agrria. A desapropriao tem (ou deve ter) um sentido
punitivo?
De qualquer forma, o grande objetivo das medidas adotadas nos ltimos anos, foi
tirar os trabalhadores da participao direta no processo, tolhendo os nas suas
legtimas formas de presso. Diante do novo governo, cabe aos movimentos sociais
repensar as suas formas de atuao, a depender das efetivas aes do governo,
tendo claro que o atendimento s necessidades continuar dependendo da
capacidade de organizao dos trabalhadores.
3.5 - Projetos de lei em tramitao:
Alm do Projeto de Lei Complementar que visa transferir competncias legislativas
e a realizao da reforma agrria para os Estados (j citado anteriormente), h
outros projetos de lei em tramitao no Congresso que podem interferir na
realizao da reforma agrria.
Um destes o Projeto de Lei Complementar, com a denominao de Novo Estatuto
da Terra, visando substituir a Lei n 4.504/64, a Lei n 8.171/91 (lei de poltica
agrcola), e a Lei n 8.629/93 (lei agrria), por um novo e nico instrumento legal.
Contudo, pelo seu contedo, em alguns aspectos inovador e mais atual, exclui
aspectos importantes regulados pelas citadas leis ( aspecto ambiental, prazos dos
contratos agrrios e clusulas obrigatrias), alm de manter efetiva restrio legal
para o processo de reforma agrria. Este projeto joga toda a questo da poltica
agrria, reforma agrria e a poltica agrcola para o mercado.
No interesse dos movimentos sociais do campo que lutam pela democratizao da
terra, tramita projeto de Emenda Constitucional que visa estabelecer um limite
(teto mximo) como direito de propriedade, de modo que, se aprovado, ningum
poderia possuir mais do que certo nmero de mdulos fiscais de terras. Aprovada
medida desta natureza, a conseqncia seria a destinao das reas excedentes
para a reforma agrria, o que garantiria um significativo estoque de terras para a
realizao de assentamentos, alm de interferir na atual e injusta estrutura
fundiria, onde menos de 5% dos proprietrios so titulares de mais de 50% das
terras do pas. Contudo, h dificuldade para aprovar medida desta natureza, seja
pela composio do Congresso Nacional, seja pela viso da sociedade, onde o
direito de propriedade visto como sendo sem limites, o que acaba por dificultar o
prprio desenvolvimento scio-econmico. Estabelecer um teto mximo de terras
que um pessoa pudesse possuir seria bom ou ruim para o pas?
4. Poltica Agrcola ou Poltica de Desenvolvimento Rural.
4.1. Legislao: - Artigo 187 da C. Federal; Art. 1, 2 e artigos 47 a 91 do ET, com
revogao parcial por legislao posterior; lei 8.171 e 8.174/91 Lei Agrcola. A
definio de poltica agrcola se encontra no artigo 1, 2 do Estatuto da Terra.
Contudo, como se v mais adiante, no Titulo III da mesma lei, principalmente nos
artigos (47 a 91,) a poltica agrcola compreende, tambm, a poltica de
desenvolvimento rural, com a finalidade principal de assistncia e proteo
economia rural, atravs da assistncia tcnica, financeira, creditcia e
comercializao; produo e distribuio de sementes e mudas, mecanizao,
seguro agrcola, cooperativismo, industrializao da produo; eletrificao e
outras obras de infra-estrutura; educao rural e profissional; garantia de preos
mnimos, entre outros (art. 73 do E.T.).
O artigo 187 da Constituio Federal, apesar de remeter o tema lei ordinria, que
foi elaborada mais tarde, estabeleceu alguns referenciais para o planejamento e
execuo da poltica agrcola, indicando que, tanto o planejamento como a
execuo, seriam efetuados com a participao efetiva do setor de produo, de
comercializao, de armazenamento e de transporte.
4.2. Princpios, objetivos e instrumentos da Pol. Agrcola:
A lei agrcola foi prevista no art. 50 do ADCT da CF, e o artigo 187 da CF, que trata
dos princpios, objetivos e instrumentos da poltica agrcola, foi regulamentado pela
Lei n 8.171/91, dispondo sobre os objetivos (art. 3) e instrumentos (art. 4) de
poltica agrcola, alm do complemento efetuado pela Lei no 8.174/91, fixando
outras atribuies do Conselho Nacional de Poltica Agrcola. (ver na lei).
Quanto aos objetivos e instrumentos de poltica agrcola, cabe observar que se
trata de aspecto importante do Direito Agrrio, sobretudo o que diz respeito s
regras e modalidades de crdito rural, seguro rural e cooperativismo. Contudo, o
tema vasto e deve ser aprofundado em estudo complementar.
4.3. Crdito Rural
A- Linhas:
- CUSTEIO: para 1 ou + perodos de produo agrcola ou pecuria.
- INVESTIMENTO: para culturas permanentes, construes, instalaes, infra-
estrutura produtiva (capital fixo) e semoventes, mquinas e equipamentos (capital
semi-fixo).
- COMERCIALIZAO: aramazenagem, frete.
B Linhas especiais para a Agricultura Familiar = PRONAF.
- Pronaf A (assentados), B (egressos), C (renda at 16 mil), D (renda de 16 a 45
mil), E (renda de 45 a 80 mil)
- Juros diferenciados para custeio Grupos A a C = 2% a/a; C e D+ 4% a/a e grupo
E = 7,5% a/a.
- Alm disso, h outras linhas especiais direcionadas para a agricultura familiar,
como o Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, Pronaf Agroindstria e o Pronaf Florestal.
- Procedimento DAP fornecida por INCRA, STR, Ag. Rural.
- Carto Pronaf.
- Na Agricultura Patronal o crdito de custeio tem, como regra , juros de 8,75% a/a,
o crdido de investimento tem juros de 8,75 a 13% ao ano e para a comercializao
(EGF) os juros so de 8,75% ao ano.
5. INSTRUMENTOS DE DISTRIBUIO DE TERRAS (DE REFORMA
AGRRIA?):
5.1. Desapropriao de terras:
A desapropriao que tem como objeto terras localizadas fora do permetro urbano
envolve vrias modalidades:
- desapropriao por necessidade ou utilidade pblica - regulada pelo Dec.-Lei n
3.365/41 e sob cuja modalidade todos os bens podem ser desapropriados. de
competncia de todas as esferas de poder. a desapropriao de bens com vistas
ao uso pblico especfico (prdios), ou para uso comum do povo (praas, ruas,
rodovias, etc.)
- desapropriao por interesse social ( modalidade genrica) - regulada pela Lei n
4.132/62. Visa promover a justa distribuio da propriedade ou condicionar o seu
uso ao bem-estar social. Tambm os estados podem desapropriar sob esta
modalidade (art. 23, VII e VIII da CF). Contudo, exige pagamento em dinheiro. Tem
amparo tambm no art. 5, XXIV da Constituio Federal. (Ver dispositivos tambm
da Constituio do Estado de Gois. ) . Atinge imveis urbanos e rurais
- desapropriao por interesse social para fins de reforma agrria - art 184 da
Constituio Federal; lei 8.629/93; Lei Complementar n 76/93, com alteraes
posteriores. Instruo Normativa n 36/99 = procedimentos tcnicos e
administrativos para a desapropriao por interesse social para fins de reforma
agrria. Instruo Normativa n34/99 = dispe sobre a implantao de projetos de
assentamento em terras obtidas pelo programa de reforma agrria. da
desapropriao de terras por interesse social para fins de reforma agrria que se
tratar neste item. A desapropriao , sem dvida, o principal instrumento de
obteno de terras para a realizao de assentamentos e a democratizao da
terra, com vistas a melhor distribuio de renda. H outros meios de obteno de
terra, utilizados pelo governo (aquisio com base no Decreto 433/92; via Banco da
Terra = Crdito Fundirio, etc), mas que no tm o mesmo poder de interferir na
estrutura fundiria no sentido de democratiz-la.
5.1.1 - Objeto da desapropriao para fins de reforma agrria:
Aqui cabe verificar quais so as terras que se enquadram nas regras legais de
desapropriao para fins de reforma agrria. Antes de 1988, a referncia para a
desapropriao de terras para fins de reforma agrria, eram os dispositivos da Lei
n 4.504/64, devendo, nos termos do artigo 20 desta lei, recair sobre minifndios e
latifndios, reas com desenvolvimento de atividades predatrias, reas com
grande incidncia de arrendatrios, parceiros e posseiros e reas no
adequadamente utilizadas de acordo com a sua vocao econmica.
Como se verifica, o Estatuto da Terra prev a realizao da desapropriao, tanto
do latifndio como do minifndio, ambos considerados contrrios aos interesses
sociais. Em reas de minifndios ( art. 21) o ET previa a organizao das terras em
unidades econmicas adequadas, desapropriando, glutinando e redistribuindo as
reas.
Atualmente, a regra bsica se encontra no artigo 184 da Constituio Federal,
indicando que objeto de desapropriao o imvel rural que no estiver cumprindo
a sua funo social. Os requisitos exigidos para o cumprimento da funo social da
terra esto inseridos no artigo 186 da Lei Maior, devendo ser cumpridos em
sua totalidade No entanto, o legislador constituinte, por razes polticas da poca
da elaborao do texto constitucional, deixou inserir uma regra conflitante com os
dois dispositivos constitucionais supra citados. que o artigo 185, destoando da
regra geral, isenta de desapropriao a pequena e a mdia propriedade, desde que
seu proprietrio no possua outra, e a propriedade produtiva (onde reside o maior
problema), cujas definies ficaram para a lei ordinria ( Lei n 8.629/93).
Conforme j estudado, a regulamentao dos dispositivos constitucionais acima
citados, pela Lei n 8.629/93, acabou por restringir sobremaneira as terras
disponveis para fins de reforma agrria. A legislao anterior falava em reas
declaradas como prioritrias para fins de reforma agrria (podendo recair sobre
determinada regio ou municpio, enquanto que a regra atual (art. 184, 2 da CF)
refere-se declarao (por decreto) do imvel rural como sendo de interesse social
para fins de reforma agrria. Esta nova regulamentao faz da reforma agrria
uma interveno pontual que no consegue readequar as regies produtivas sua
finalidade natural e racionalizar os investimentos pblicos.
A nova regulamentao, a partir da CF/88, dificulta a efetiva democratizao da
terra. No mesmo sentido foi a regulamentao do dispositivo constitucional
referente propriedade produtiva. Esta acabou sendo definida apenas pelo aspecto
econmico, estando pois isenta de desapropriao pelo simples fato de alcanar
80% de utilizao e 100% de produtividade, no mnimo, ndices estes cujos critrios
h tempos no so atualizados. Assim, o descumprimento dos demais requisitos da
funo social no trazem como conseqncia a possibilidade de desapropriao do
imvel rural.
Diante do exposto, e principalmente, levando em conta a interpretao dada
legislao pelo Poder Executivo e pelo Poder Judicirio, os imveis que de fato tm
sido objeto de desapropriao para fins de reforma agrria, so aqueles
considerados grande propriedade improdutiva.
5.1.2 - Finalidade da desapropriao:
A finalidade da desapropriao para fins de reforma agrria, conforme disposto no
art. 16 do ET, a promoo da justia social, o progresso e o bem-estar do
trabalhador rural e o desenvolvimento econmico do pas. Ainda, o art.18 da
mesma lei estabelece outras finalidades especficas da desapropriao por
interesse
social. (ver).
Pelo disposto na legislao, o que se percebe a inteno de democratizar a terra
de modo a priorizar a estrutura de propriedade familiar. Pelas regras atuais, as
dimenses de reas entregues aos parceleiros, para posterior pagamento, so
compatveis com esta medida, variando de tamanho em funo da qualidade da
terra e da distncia do centro consumidor, acompanhando de certo modo a noo
de mdulo rural (fiscal).
5.1.3 - Competncia para desapropriar
Como j dito, a desapropriao por necessidade ou utilidade pblica, assim como a
desapropriao por interesse social, so de competncia de qualquer esfera de
poder (federal, estadual e municipal). Esta viso no pacifica em meio doutrina
agrarista, entendendo alguns que a desapropriao por interesse social
competncia privativa da Unio. No entanto, desde que a desapropriao seja feita
por interesse social e indenizada em dinheiro, a competncia ampla.
Mas, competncia exclusiva da Unio desapropriar imveis rurais por interesse
social para fins de reforma agrria, com pagamento da terra com TDAs (ttulos da
divida agrria). Cabe, porm, lembrar, por oportuno, a tramitao de Projeto de Lei
Complementar no Congresso Nacional, objetivando transferir aos Estados
competncias atualmente restritas Unio, inclusive a competncia de
desapropriar para fins de reforma agrria. Esta possvel descentralizao do
processo de reforma agrria positiva e ajudar na real democratizao da terra
no pas?
5.1.4 - O procedimento da desapropriao:
a) Procedimento (fase) administrativo:
O procedimento judicial de desapropriao autorizado pelo Decreto Presidencial
que declara o imvel como sendo de interesse social para fins de reforma agrria
( 2 do art. 184 da CF). Contudo, antecede ao processo judicial, uma fase
administrativa da qual resulta a classificao do imvel como propriedade
produtiva ou improdutiva (esta desaproprivel) e, posteriormente, a expedio de
decreto declarando o imvel de interesse social para fins de reforma agrria, fase
esta que compreende basicamente as seguintes etapas:
- Abertura de processo administrativo e nomeao de equipe tcnica para
realizao de vistoria ( in loco) no imvel do proprietrio. Esta vistoria tcnica pode
decorrer de atividade de rotina do INCRA, a partir de verificao das declaraes
dos proprietrios em seus cadastros, ou mesmo por solicitao de grupos de
trabalhadores, sindicatos ou outros movimentos interessados na realizao da
reforma agrria. Paralelamente ao trabalho de vistoria feita pesquisa cartorial
sobre a situao dominial do imvel, e verificao de eventuais pendncias
jurdicas.
- A vistoria precedida de comunicao feita por escrito pelo INCRA (rgo
competente) ao proprietrio, preposto ou representante. Caso no sejam
encontrados, a comunicao ser feita mediante edital; (h proibio de
modificao no imvel no prazo de 6 meses aps notificao).
- realizao de vistoria tcnica que pode ser acompanhada pelo proprietrio ou por
tcnico por ele indicado; as representaes sindicais tambm podem indicar
tcnico habilitado para fazer o acompanhamento, se o desejarem;
- elaborao de Laudo de Vistoria, o qual indicar se o imvel produtivo ou
improdutivo, alm de elementos tcnicos referentes aos tipos de solos e o estado
em geral do imvel vistoriado e da eventual aptido para realizao de
assentamento. Em alguns casos, havendo concordncia do proprietrio, o trabalho
de vistoria j cumulado com a avaliao das benfeitorias e da terra nua para
acelerar o procedimento visando a posterior indenizao;
- comunicao, ao proprietrio, do resultado da vistoria realizada, concedendo-lhe
prazo de 15 dias, prorrogveis a pedido deste, para eventual impugnao do
resultado ou para solicitao de reavaliao e apresentao de documentos; se o
imvel (aps a defesa administrativa do proprietrio) considerado produtivo, o
processo administrativo arquivado; comum ocorrer, neste perodo, a diviso do
imvel, a averbao de rea maior como reserva, alm de outras prticas, visando
inviabilizar a desapropriao do imvel;
- ocorrendo impugnao, ou no, e mantido o resultado do laudo que conclui que o
imvel grande propriedade improdutiva, aps reviso, inclusive pelo
departamento jurdico e por equipe tcnica (comit de deciso regional), e sendo o
imvel apto realizao de assentamento elaborada minuta de Decreto e, em
seguida o processo encaminhado para o Governo Federal;
- expedido o decreto, declarando o imvel de interesse social para fins de reforma
agrria, o processo volta para a Superintendncia Regional do INCRA para que se
proceda avaliao do imvel ( caso no tenha sido feita junto com a vistoria).
Feita a avaliao, o processo encaminhado para o rgo nacional (INCRA) para
que seja providenciada, junto ao Tesouro Nacional, a expedio de TDAs (Ttulos da
Dvida Agrria) e a liberao do dinheiro para a parte referente ao valor das
benfeitorias;
- de posse destes elementos (ttulos e $), a Superintendncia Regional do INCRA
prope a ao de desapropriao, na Seo Judiciria da Justia Federal do Estado
respectivo.
- H, ainda, uma outra exigncia relacionada com a viabilidade ambiental, para a
qual exigida declarao favorvel de aptido ambiental, fornecida pelo municpio
no qual se situa o imvel, conforme resoluo do CONAMA.
Estes procedimentos aqui indicados so, normalmente permeados por embargos
judiciais (aes cautelares, ordinrias, mandados de segurana, etc),
principalmente quando o proprietrio se ope desapropriao do seu imvel, e
pretende provar antecipadamente, em juzo, que se trata de propriedade produtiva
e/ou quando o proprietrio pretende elevar o valor da indenizao a ser paga pela
desapropriao do seu imvel. Nestes casos comum o sobrestamento da atividade
administrativa (do INCRA), referente ao imvel em questo, at que se decida
judicialmente se o imvel propriedade produtiva ou no.
b) Procedimento (fase)Judicial:
Como j dito, o inicio ao de desapropriao supe a prvia declarao do imvel
como de interesse social para fins de reforma agrria, conforme o Art. 2 da Lei
Complementar n 76/93). A legislao anterior falava em reas declaradas de
interesse social.
A petio inicial, dirigida Justia Federal, rgo competente, instruda com os
documentos indicados no artigo 5 da referida Lei Complementar, devendo o juiz,
de plano, ou no prazo de 48 horas, mandar imitir o autor (INCRA) na posse do
imvel, alm de determinar a citao do expropriando e a averbao do
ajuizamento da ao no registro do imvel, para conhecimento de terceiros. Na
prtica, o procedimento do poder judicirio competente no tem sido uniforme nos
encaminhamentos concretos da ao de desapropriao, mesmo porque o Poder
Judicirio, na maioria dos casos no cumpre o prazo e procedimento acima
indicados.
A Seo Judiciria da Justia Federal em Gois tem tido como prtica solicitar
previamente o parecer do MPF para, apenas depois, se pronunciar acerca da
imisso ou no do INCRA na posse do imvel. O MPF, por sua vez, quando o GUT
ou o GEE forem relativamente prximos aos mnimos legais exigidos, tem dado
parecer contrrio imisso, requerendo a realizao de percia judicial para
comprovao dos graus de produo e eficincia, o que acaba por paralisar o
andamento normal da ao de desapropriao e, com o tempo, permite a alterao
do estado de fato do imvel, a realizao de novas percias e a completa
descaracterizao da situao original do imvel, inviabilizando a desapropriao.
Noutros casos, o proprietrio que prope a percia judicial, via cautelar e ao
ordinria, pretendendo provar que o imvel deve ser classificado como grande
propriedade produtiva. Nestes casos, a demora corre a favor do proprietrio que,
frequentemente, maqueia ou modifica o estado de fato do imvel de forma que,
com a percia judicial resulte modificada a classificao do imvel.
A realizao de percia normalmente paralisa e atrasa o andamento do feito,
ocorrendo a nomeao de perito de confiana do juiz, indicao de quesitos pelas
partes, realizao dos trabalhos de campo, produo de laudo pelo perito e de
parecer pelos assistentes indicados pelas partes, alm de realizao de audincias
para esclarecimento de dvidas e de quesitos suplementares, e mesmo para
inquirio de testemunhas, se for necessrio.
No despacho inicial, cabe ao juiz determinar, conforme a lei, alm da imisso do
INCRA na posse do imvel, a citao do expropriando e a notificao do cartrio de
registro de imveis da circunscrio onde se localiza o imvel para que ali se
proceda a averbao da ao expropriatria em andamento.
A contestao ao de desapropriao, conforme art. 9 deve versar sobre
matria de interesse da defesa, no podendo haver apreciao quanto ao interesse
social declarado. Trata-se, contudo, de redao dbia quanto ao contedo do
interesse social declarado. Se, por um lado, poderia supor que no caberia ao
expropriando questionar a desapropriao em si, porque resulta do interesse social
declarado, deveria se restringir aos valores indicados pelo rgo expropriante a
ttulo de indenizao. Por outro lado, e tendo a seu favor a garantia constitucional
do contraditrio e da ampla defesa ( art. 5o, LV), o expropriado acaba por contestar
todo o objeto da ao, contrapondo-se, inclusive ao Decreto Presidencial, via
Mandado de Segurana no STF, de forma que, na prtica, ocorre a mais ampla
defesa por parte do expropriando, com freqente reverso do quadro e a
consequente extino da ao de desapropriao. Isto tem ocorrido at mesmo
aps estar consolidado um projeto de assentamento em imveis onde o INCRA j
estava imitido na posse. Aps a apresentao da defesa, o juiz marcar audincia
para a tentativa de conciliao. Havendo acordo, este ser homologado por
sentena. O acordo quanto desapropriao e o valor da indenizao,
normalmente interfere no prazo para o resgate dos TDAs.
Havendo necessidade, ser marcada audincia de instruo e julgamento, na qual
podero ser ouvidas testemunhas. O juiz decidir na prpria audincia ou proferir
a sentena no prazo de 30 dias, conforme disposto no art. 12 da Lei Complementar.
Na prtica o poder judicirio no cumpre esta determinao legal. Nos termos do
art. 13, cabe apelao da sentena, apenas em efeito devolutivo para o expropriado
e em ambos os efeitos para o expropriante.
Cabe observar ainda, que, nos termos do art. 18 da Lei Complementar 76/93, as
aes de desapropriao so preferenciais e prejudiciais em relao a outras aes
referentes ao imvel expropriando, o que, na prtica, muitas vezes tambm no
levado em conta.
5.1.5 - A justa indenizao do imvel expropriado: - art 12 da Lei 8.629/93 e
art. 19, 2 do ET.
A CF/88, no artigo 184, refere-se desapropriao mediante prvia e justa
indenizao, com ttulos da dvida agrria, com clusula de preservao do valor
real, resgatveis no prazo de at 20 anos..,. O pargrafo primeiro deste artigo
ressalta que as benfeitorias sero pagas em dinheiro. O pargrafo 3 do artigo 5
da Lei no 8.629/93,com a redao que lhe dada pela MP no 2.183-56( de
agosto/2001) por sua vez, estabelece critrios e prazos para o resgate dos TDAs.
Alm destes critrios, nos casos de aquisio ou no havendo oposio aos valores
no processo de desapropriao e, desta forma, ocorrendo a conciliao, cabem
prazos inferiores (negociados), conforme indicado no 4 do art. 5 da Lei n
8.629/93, acrescido pela MP aqui referida. O prazo varia de acordo com o tamanho
do imvel e a forma negociada, havendo conciliao.
Quanto ao valor, em atendimento ao dispositivo constitucional que garante a
preservao do valor real, a indenizao deve representar o valor de mercado do
imvel. Este encontrado atravs de pesquisa efetuado junto a rgos pblicos e
particulares, locais ou regionais, ligados rea rural (Banco do Brasil, Escritrio
da Agncia Rural, Cartrio de R. de Imveis, sindicatos representativos das
categorias econmica e profissional do meio rural, entre outros).
Conforme a norma legal, o valor da indenizao a ser pago, somando-se a parte
indenizvel em dinheiro, correspondente s benfeitorias de qualquer natureza, e o
valor da terra nua, no pode superar o preo de mercado do imvel.
Assim, obtido o preo mdio de mercado, subtrai-se o valor das benfeitorias e o
restante pago em TDAs.
Neste sentido, no presente momento, a indenizao est um pouco melhor
disciplinada, dificultando a super-avaliao. Contudo, aps 1988, tivemos um
perodo em que o proprietrio expropriado se beneficiava com a dupla indenizao,
uma vez que os procedimentos judiciais acabavam por avaliar em separado a
cobertura florstica, de forma que o proprietrio era indenizado pelo valor da terra
nua e, em separado, recebia valores correspondentes a cada rvore de valor
econmico (mesmo que nativa) que se encontrava no imvel. Num caso concreto,
no Estado do Amazonas, a cobertura florstica foi avaliada em valor onze vezes
superior do que o valor da terra nua, sendo que o proprietrio adquiriu a terra do
governo ( 16 anos antes) e no efetuou qualquer benfeitoria nela. Trata-se,
evidentemente de desapropriao como prmio, de especulao e de
enriquecimento ilcito.
De qualquer forma, a indenizao, nos parmetros garantidos pela CF/88 e pela
legislao regulamentar, no significa mais qualquer punio ao proprietrio
faltoso pelo fato de no ter cumprido os requisitos da funo social da terra. Em
muitos casos, a desapropriao, ao contrrio de uma penalidade (o que deveria
significar), acaba por se tornar um prmio, principalmente quando a terra no tem
muita qualidade ou sua localizao no das melhores, o que justifica o volume de
terras que so oferecidas por particulares ao governo para fins de desapropriao.
Dentro destas prticas, o que significaria a justa indenizao ao proprietrio do
imvel que o tem desapropriado por no ter cumprido os requisitos da funo
social da terra?
Ressalte-se, ainda, que nos casos de imisso provisria do rgo expropriante na
posse do imvel, incidem juros compensatrios de at 06% ao ano, em favor do
expropriado a partir da data em que o expropriado perde a posse do imvel.
5.2 - Expropriao de reas com culturas de psicotrpicos - Lei 8.257/91
uma regra especifica que veio regulamentar o disposto no artigo 243 da
Constituio Federal, que prev a expropriao de reas onde forem encontradas
plantas psicotrpicas, sem que seja efetuada indenizao ao proprietrio. Trata-se
de verdadeiro confisco, cujo procedimento judicial de iniciativa da Unio,
conforme vem regulamentado nesta lei, com procedimento sumrio e destinao da
terra para a reforma agrria e para o cultivo de produtos alimentcios e
medicamentosos. O procedimento judicial antecedido de Inqurito Policial
( Polcia Federal). Apurados os fatos, a ao de autoria da Procuradoria da Unio.
5.3 - Colonizao: art. 188 da CF e Artigos 55 a 72 do ET.
5.3.1 - Conceito: o instrumento poltica agrria que tem por finalidade efetuar o
povoamento de reas de terras desabitadas, introduzindo a infraestrutura bsica e
demais servios pblicos necessrios para o processo produtivo, de forma a
possibilitar o efetivo cumprimento da funo social destas terras. O prprio
Estatuto da Terra apresentou uma definio de colonizao no artigo 4, inciso IX.
Porm, de forma mais abrangente, o Decreto regulamentar no 59.428/66, no artigo
5 , diz que colonizao toda atividade oficial ou particular destinada a dar acesso
propriedade da terra e a promover seu aproveitamento econmico, mediante o
exerccio de atividades agrcolas, pecurias e agroindustriais, atravs da diviso
em lotes ou parcelas, dimensionadas de acordo com as regies definidas na
regulamentao do Estatuto da Terra, ou atravs das cooperativas de produo
nela previstas.
5.3.2 - Objetivos: Como se pode observar pela conceituao, pacfico que a
colonizao visa a ocupao produtiva de espaos vazios. , portanto, poltica
agrria, pblica ou privada, apropriada para uso em reas de fronteira agrcola, em
regies de maior incidncia de terras pblicas devolutas.
A colonizao visa dar s terras devolutas a sua normal destinao, que a de
produzir, dentro dos padres da funo social da terra. Para tanto, prev a forma
individual ou via cooperativas de uso e explorao da terra. Neste sentido, a
legislao prev a ao planejada do poder pblico em reas vazias, previamente
definidas, de forma a incorpor-las no processo produtivo, garantindo progresso
social e econmico aos participantes ou beneficirios dos projetos de colonizao.
5.3.3. Modalidades:
Nos termos do que vem estabelecido no Estatuto da Terra (Art. 55 e seguintes da
Lei n 4.504/64), a colonizao pode ser oficial (art. 55) ou particular (art. 60). A
colonizao oficial tem por objeto terras integrantes do patrimnio pblico (terras
devolutas) e outras que vieram a ser incorporadas ao patrimnio pblico. A
colonizao articular feita em terras particulares. Neste caso de iniciativa do
proprietrio ou de empresa que tenha a finalidade de executar programas de
distribuio de terras.
Os projetos de colonizao particular, assim como as empresas de colonizao que
se dispem a executar tais projetos precisam ser previamente inscritos junto ao
INCRA, cabendo ao Min. da Agricultura a aprovao do projeto. Historicamente,
tem sido comum a prtica de concesso ou a alienao, pelo poder pblico, de
terras, a preos simblicos, para empresas de colonizao, as quais passavam a
lote-las e alien-las a colonos, aps aprovao dos projetos. Porm, na maioria dos
casos, as empresas deixavam de cumprir os requisitos do artigo 61 e seus
pargrafos, da Lei n 4 504/64. O art. 72 da mesma lei remete regulamentao o
estabelecimento de outras exigncias para os projetos de colonizao.
5.3.4 - Importncia histrica e resultados:
Legislao anterior ao Estatuto da Terra j previa a atividade pblica da
colonizao, perodo em que se justificava a existncia de regra especfica que
disciplinasse a forma de distribuio e uso de terras pblicas (devolutas), de forma
a incorpor-las ao processo produtivo. No perodo ps 64 esta prtica ainda tinha
significativa importncia. Alis, o governo, tendo em mos um instrumento legal
bastante completo, que pode ser chamado de cdigo agrrio, preferiu aplic-lo nos
aspectos referentes colonizao e poltica de desenvolvimento rural, via
implantao de grandes projetos agropecurios e a concesso de incentivos fiscais.
Assim, no perodo ps-64, os governos militares nada fizeram em termos de
reforma agrria atravs da desapropriao de terras. Porm, investiram em
projetos de colonizao, tanto de iniciativa pblica como particular. Foi a forma
encontrada na poca para fazer avanar a fronteira agrcola brasileira, perodo em
que passaram a ser desbravadas extensas regies de Mato Grosso, Par, Amazonas,
Rondnia e Acre, entre outras, cujo modelo atualmente questionado,
principalmente pelas consequncias ambientais que vem trazendo.
Contudo, na maioria dos projetos faltou o efetivo apoio pblico ou particular na
complementao da infra-estrutura ( estradas, escolas, energia, postos de sade,
armazns, etc.) de forma que a maioria dos projetos resultaram em fracasso
econmico e os colonos beneficirios se prestaram mais efetivamente para
desbravar o terreno ( fazendo derrubadas e limpando o solo) para a chegada
posterior dos grandes criadores de gado e donos de capitais para a realizao de
investimentos a baixo custo, sobretudo comprando a terra por pouco dinheiro.
Desta forma, a terra que deveria ser distribuda e democratizada, acabou, em
muitos projetos, nas mos de poucos. Assim, em grande parte dos casos, a poltica
de colonizao, oficial e particular, serviu para propiciar a maior concentrao da
terra em regies de fronteira agrcola.
5.4. Tributao:
CF art. 153,IV e 4; art. 49 e 50 do ET; Lei 5.172/66 (sistema tributrio nacional);
Lei 8.022/90 (competncia adm. Do ITR); Lei 9.393/96 (lei atual reguladora);
Decreto 4.382/02 (regulamento); I. Normativa 256/02.
Tendo como objetivo principal a cobrana de tributos, histrica a preocupao do
poder pblico com a realizao de cadastros os imveis rurais, dos seus
proprietrios ou possuidores a qualquer ttulo e das terras devolutas, cuja origem
remonta lei de terras.
5.4.1. Finalidade (conforme art. 153, 4 da Cf/88):
A tributao, nos termo do Estatuto da Terra, deveria servir de instrumento auxiliar
na poltica de desenvolvimento rural desestimulando o uso da terra de forma
incorreta e com descumprimento da funo social, alm de buscar a racionalizao
da atividade agropecuria. A partir destes parmetros, a lei define critrios de
progressividade e regressividade na cobrana do ITR, como se verifica nos artigos
49 e 50 do ET ( com redao dada mais recentemente), de forma que o imvel
correta e racionalmente aproveitado seria beneficiado com menor incidncia do
imposto, enquanto que os imveis que estivessem descumprindo a funo social
seriam mais pesadamente tributados. Por outro lado, como se v na tabela art 50 as
alcotas a serem cobradas sobre o valor da terra nua, obedeceriam a percentuais
mais elevados para os imveis de dimenses maiores.
A Lei n 5.868/72, regulamentada pelo Decreto n 72.106/73, criou o Sistema Nac.
de Cadastro Rural, visando racionalizar e aprimorar o sistema de tributao da
terra. Como se pode verificar, tanto nesta lei como no Estatuto da Terra, o cadastro
no restrito aos proprietrios. Alm destes, tambm os possuidores a qualquer
ttulo (arrendatrios, parceiros, possuidores em geral e titulares do domnio til)
devem efetuar o cadastro da rea que detm.
5.4.2. O novo ITR:
Com a Lei no 8.022/90 o INCRA perdeu a competncia para administrar o ITR,
sendo esta transferida para a Receita Federal. Contudo o INCRA mantm cadastro
prprio de imveis para o desempenho de suas funes e para a classificao dos
imveis e verificao do cumprimento da funo social. Com a vigncia da Lei no
9.393/96 o controle e cobrana do ITR feito a partir das informaes cadastrais
do prprio proprietrio, tendo por base dois documentos: o primeiro DIAC ( Doc. de
Informao e Atualizao Cadastral do ITR) obrigatrio no prazo de 60 dias aps
qualquer alterao na situao jurdica da terra; o segundo DIAT ( Doc. de
Informao e Apurao do ITR) feito anualmente e indicar o valor da terra nua,
a preo de mercado do imvel, com base na declarao do prprio proprietrio,
para fins de clculo e incidncia de ITR. Como se verifica pela nova sistemtica
legal, o valor do ITR apurado pelo prprio contribuinte, cuja alquota a ser
aplicada vem em anexo Lei no 9.393/96 (art. 10 da lei), verificando-se que o ITR
deve ter valores mais elevados conforme a rea total do imvel seja maior e quanto
menor for o grau de utilizao da terra.
5.4.3. IMUNIDADE E ISENES:
Lei no 5.868/72 (art. 7) isentava de ITR os imveis com rea no superior a 25
hectares. A Constituio Federal de 1988 (art. 153, 4) tornou imunes do ITR as
pequenas glebas rurais, o que, nos termos da lei n 9393/96 so reas inferiores a
100 hectares na Amaznia Ocidental, no pantanal matogrossense e sul-
matogrossense; reas inferiores a 50 hectares na Amaznia oriental e no polgono
das secas; e inferiores a 30 hectares nos demais municpios. Esta imunidade
incidncia de ITR est condicionada explorao pessoal do imvel, com sua
famlia, no podendo o proprietrio ter outro imvel. (art. 2 ). O artigo 3 desta
mesma lei estabelece outras isenes para proprietrios cujo conjunto de imveis
no excedam os limites estabelecidos no artigo anterior, quando os explora com sua
famlia, com ajuda apenas eventual de terceiros. Como se pode verificar, para fins
de iseno de ITR o conceito de pequena gleba rural diferente do conceito de
pequena propriedade.
5.4.4. -Tributao como instrumento reformista ou de distribuio de terras?:
Ao menos desde o Estatuto da Terra, a legislao sempre vem contemplando
dispositivos que demonstram a progressividade na cobrana de imposto de forma
que os imveis no explorados ou inadequadamente utilizados teriam incidncia
maior de ITR, de forma a desestimular a manuteno da terra ociosa. Isto faria com
que o proprietrio buscasse o cumprimento da funo social da terra ou, como
alternativa, a venderia a quem quisesse lhe dar tal destinao.
Ocorre que estes dispositivos legais nunca chegaram a se transformarem realidade
concreta, uma vez que a cobrana dos dbitos tributrios nunca se realizou de
forma efetiva principalmente em relao aos proprietrios de grandes extenses de
terras e em relao aos grandes devedores. comum a interferncia poltica dos
grandes devedores, junto aos rgos pblicos encarregados da cobrana.
Pelos dispositivos da lei atual, pelas alquotas que estabelece, e tendo em vista que
grande parte dos imveis no alcana os ndices de produtividade exigidos por lei
(algo em torno de 60% dos imveis), a efetiva cobrana de imposto progressivo
poderia se transformar em real instrumento de arrecadao e distribuio de
benefcios sociais e, por outro lado, como no compensa a manuteno da terra
ociosa, em forma efetiva de distribuio da terra em reas menores, o que ajudaria
na desconcentrao fundiria e na redistribuio de renda. H outras medidas
positivas que contribuem para forar a utilizao da terra e o pagamento dos
tributos, como por exemplo, a proibio de crdito pelos rgos oficiais, para o
inadimplente do ITR ( art. 20).
Contudo, com a lei determinando que a apurao do valor seja feita pelo prprio
proprietrio, a partir de sua declarao de contribuinte, h a possibilidade e a
prtica de prestao de informaes irreais quanto ao aproveitamento econmico
do imvel, quanto ao valor de mercado da terra nua e quanto rea do imvel, do
que resulta mais sonegao de impostos. Apesar da possibilidade de
estabelecimento de convnios entre INCRA e Receita Federal, conforme prev o
artigo 16 da Lei, no ocorre o cruzamento de dados para a fiscalizao da correta
apurao do tributo.
Mas o principal problema em relao ao ITR a falta de uma efetiva cobrana do
tributo dos contribuintes inadimplentes. H dados estatsticos indicando que a
evaso fiscal no campo, no ano de 2000, chegava a 68%.
Pelo exposto, no resta dvida que a atual legislao mais eficiente e possui
mecanismos concretos de aferimento do valor do ITR, de acordo com as
necessidades brasileiras, permitindo inclusive a adjudicao do imvel, no
interesse do INCRA para a instalao de assentamento nos termos do art. 18 da Lei
n 9.393/96. O grande problema atual a falta de aplicao prtica da lei e do
cumprimento, pelo prprio poder pblico, de suas obrigaes, tanto na
verificao/fiscalizao das informaes cadastrais e no cruzamento de dados,
como na efetiva cobrana dos tributos.
5.5. Aquisio:
A aquisio de terras tem sido utilizada pelo governo, principalmente nos ltimos
anos do governo FHC como outro instrumento para a posterior redistribuio de
terras. Anunciado como instrumento auxiliar no processo de reforma agrria, a
qual teria que ter como meio principal a desapropriao de imveis rurais que no
cumprem a sua funo social. No entanto, a prtica oficial, inclusive em
atendimento a interesses internacionais, tem demonstrado a inteno do governo
de fazer a gradativa substituio das desapropriaes pelo instrumento da compra
da terra.
5.5.1 - Decreto no 433, de 24/01/92:
A partir desta data o governo passou a contar com um instrumento legal para a
compra da terra e posterior utilizao para fins de reforma agrria. A finalidade
principal indicada nesse decreto seria a aquisio, por procedimento mais rpido,
de reas com manifesta tenso social. Pelo discurso oficial estas reas seriam
adquiridas por compra caso o imvel atendesse aos aspectos econmicos da funo
social. Caso contrrio deveria ser desapropriado. Tendo em vista que o pagamento
da terra seria feito em TDAs, conforme artigo 11 e pargrafos do Decreto, esta
modalidade obteve pouco sucesso, restringindo-se a alguns casos onde o
proprietrio tinha na venda ao poder pblico, a nica alternativa para se desfazer
do imvel. Outro entrave a exigncia de que o imvel no tenha qualquer
embarao jurdico, nus ou hipoteca.
5.5.2 - Banco da Terra ( Lei Complementar n 93/98 e Decreto Regulamentar n
4.892/2003) Atualmente CRDITO FUNDIRIO.
Este , sem dvida um instrumento mais ambicioso articulado na poca pelo
governo federal, com a incorporao de interesses internacionais e com o
financiamento garantido por recursos do Banco Mundial. Tratava-se de uma
estratgia de substituir a desapropriao pela aquisio da terra, com a garantia
de pagamento da terra e benfeitorias em dinheiro ao proprietrio que se dispusesse
a se desfazer do imvel. Com recursos suficientes e, por outro lado, sem destinar
recursos para as desapropriaes, esta ltima modalidade de obteno de terras
para a reforma agrria seria aos poucos substituda.
Este modelo se enquadrava na poltica governamental de descentralizao e
privatizao das aes denominadas de obteno e distribuio de terras atravs
de assentamentos. Assim, os recursos, em sua maior parte vindos do Banco
Mundial, eram repassados aos Estados. Organizados os Conselhos de
Desenvolvimento Rural, estes se encarregaram de efetuar a avaliao de reas e de
selecionar os beneficirios, cujos projetos, aps aprovados pelo referido conselho,
garantiam a liberao dos recursos, tendo o proprietrio a vantagem do pagamento
da terra e benfeitorias em dinheiro. Tendo em vista as vantagens do proprietrio
vender terras a preo de mercado, e por vezes acima do preo real, sobretudo
imveis de qualidade inferior ou localizao inadequada, esta modalidade tem
disponibilizado terras para a realizao de assentamentos, os quais, em Gois
vinham sendo efetuados pelo sistema de Agrovilas. Contudo, por este sistema as
terras em grandes extenses e com descumprimento da funo social acabaram por
no ser atingidas, mesmo porque o procedimento de venda voluntrio, enquanto
que a desapropriao de iniciativa do poder pblico.
Na prtica, o governo alegava no dispor de recursos para aplicao em
desapropriaes e a instalao da infra-estrutura bsica nos assentamentos. Porm,
para a aquisio de terras, os recursos tm sido disponibilizados. Com o atual
governo (gov. Lula), a espectativa dos movimentos sociais foi no sentido de que este
modelo de aquisio via Banco da Terra no fosse utilizado como instrumento
principal, dando-se ao processo de desapropriao de terras o espao que ele
merece. Pelos dados constantes do 2 Plano de Reforma Agrria, a desapropriao
de fato o instrumento principal e, para as situaes mais especficas de
determinadas regies em que no cabe desapropriao, seria utilizado o crdito
fundirio para viabilizar a aquisio de terras. Pela forma, inclusive
descentralizada, que est sendo utilizado, com critrios importantes entre os quais
a no aquisio de terra desaproprivel, o programa foi reformulado,
tranformando-se em programa de crdito fundirio, considerado complementar ao
processo de reforma agrria.
5.5.3 - Inscrio nos Correios: A inscrio de trabalhadores
interessados na obteno de uma parcela de terra em projetos de assentamentos,
atravs de preenchimento de formulrio nas Agncias dos Correios, efetuada entre
os anos de 2001 e 2002, no era nova modalidade de obteno de terras para
redistribuio. No h referencial legal claro, mas o instrumento de obteno de
terras neste caso seria a desapropriao. A real inteno do governo federal, com
este procedimento, foi a de isolar os movimentos sociais que se organizam e
utilizam as mais diversas e legtimas formas de presso para cobrar do governo a
realizao da reforma agrria.
Tratava-se, contudo, de forma anti-educativa e que orientava os trabalhadores a
buscar de forma isolada a soluo dos seus problemas, cujos reflexos seriam
sentidos na instalao dos projetos de assentamento. Contudo, esta prtica no
passou de promessa de obteno do benefcio da terra para os trabalhadores.
Pessoas desconhecidas se encontrando num mesmo projeto, necessitando de
planejamento comum, de coordenao, de decises coletivas e de trabalho
cooperado, teriam maiores problemas para desenvolver positivamente os projetos.
O atual governo trabalha com a idia de territrios, como sendo regies
prioritrias, escolhidas segundo critrios de maior necessidade de investimentos
que possam trazer resultados efetivos, combinado com a existncia de terras
desapropriveis, visando diminuir custos e investimentos e maximizar os
resultados. Alm disso, os investimentos de infra-estrutura e no acompanhamento
do assentado
visam garantir, j nos primeiros anos, que o assentado tenha uma renda mensal em
torno de 3,5 salrios mnimos.
CAPITULO V - CONTRATOS AGRRIOS
Legislao: Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) artigos 92 a 96
Lei n 4.947/66 artigos 13 a 15
Decreto n 59.566/66 regulamenta a legislao.
Cdigo Civil Orientao geral e aplicao subsidiria.
(arat. 421 f. Social do contrato).
1. CONSIDERAES GERAIS
1.1. Referncias histricas:
Nosso ordenamento jurdico, at o advento do cdigo Civil de 1.917, era
completamente omisso no tocante regulamentao das relaes jurdicas
contratuais relacionadas com as atividades agrrias. A Lei de Terras ( de 1850)
silenciou a respeito do tema. Nem mesmo a proclamao da repblica mudou este
quadro. Assim, as primeiras regras reguladoras dos contratos agrrios esto
inseridas no Cdigo Civil de 1.916/17, que estabelecia disposies especiais
aplicveis aos prdios rsticos (artigos 1.211 a 1215), e regras referentes
parceria agrcola (artigos 1.410 a 1.423).
O Cdigo Civil de 1.916, apesar da economia da poca ser essencialmente agrcola,
eminentemente urbano. Por isso estabeleceu poucas regras especificamente
aplicveis ao meio rural de forma a considerar proprietrios e parceiros ou
arrendatrios como se fossem efetivamente iguais. possvel identificar
considervel aperfeioamento na regulamentao dos contratos agrrios a partir
das normas editadas atravs do Estatuto da Terra, a partir do qual os contratos
agrrios passaram a ter regulamentao prpria. Ainda assim, mesmo levando-se
em conta maior limitao da liberdade contratual das partes envolvidas, dadas as
imposies legais, no possvel dizer que houve real evoluo dos contratos
agrrios a partir da Lei no 4.504/64, uma vez que esta no efetuou modificao
substancial nos contratos de arrendamento e de parceria.
O Novo Cdigo Civil (Lei n 10.406/02), que entrou em vigor em janeiro/2003, no
repetiu os dispositivos anteriores referentes locao de prdio rstico e em
relao parceria rural, em funo da legislao especfica ( Estatuto da Terra).
Quanto ao Comodato, tambm aplicvel ao meio rural, o novo cdigo repetiu a
redao anterior e, no que diz respeito empreitada, trouxe algumas alteraes,
como se pode ver no captulo especfico (art. 610 a 626).
Mas a grande inovao refere-se aos contratos em geral e, neste caso, serve como
orientao tambm para os contratos agrrios, sejam nominados ou inominados.
Trata-se da insero do princpio geral da funo social do contrato. O art. 421 do
novo Cdigo assim dispe: A liberdade de contratar ser exercida em razo e nos
limites da funo social do contrato. Em relao aos contratos agrrios, cujas
regras especficas esto no Estatuto da Terra e seus regulamentos, parte da
doutrina agrarista, mais crtica, entende que no contribuem para o alcance da
justia social no campo. Como bem ressalta Jos dos Santos Pereira Braga ( in Dir.
Agrrio Brasileiro - org. Raimundo Laranjeira - Ed. Ltr), os contratos de
arrendamento e parceria, como esto disciplinados no Estatuto da Terra,
constituem verdadeiros bices realizao dajustia social no campo e o
cumprimento da funo social na medida em que, garantindo o desempenho
econmico do imvel e sua excluso da reforma agrria, preterem o acesso do
trabalhador propriedade, com a negao do fundamental direito terra.
Neste sentido, o Estatuto da Terra traz contradies em seu texto. Se por um lado (
art. 2) assegura a todos a oportunidade de acesso terra, visando alcanar a
justia social (art. 16), por outro lado, na parte dedicada ao desenvolvimento rural,
mais especificamente nos contratos agrrios, acaba por estabelecer restries ao
acesso terra por parte de quem efetivamente trabalha a terra.
necessrio entender, contudo, que tanto a propriedade quanto a posse (agrria)
esto condicionados ao princpio da funo social e ao preceito bsico de justia
social. Mas, a posse agrria, de quem efetivamente trabalha a terra, tende a tornar-
se mais importante do que a propriedade esttica. No resta dvida, portanto, que
os contratos agrrios baseiam-se em princpios e regras especiais, diferentes
daquelas que regem os contratos em geral. Porm, com nova orientao inserida no
novo Cdigo civil (art. 421), o principio da autonomia da vontade e o princpio de
que o contrato faz lei entre as partes, que j no tinham o mesmo significado no
mbito dos contratos agrrios, agora, com maior nfase, devem se subordinar
orientao geral da funo social.
Quanto ao cumprimento das regras obrigatrias estabelecidas em relao aos
contratos agrrios, o judicirio tem uma importante tarefa, evidentemente levando
em conta os fins sociais da lei (art. 5 da L.I.C.C.), a efetiva
garantia da funo social do contrato e, em especial, levando em conta os objetivos
estabelecidos no artigo 103 do Estatuto da Terra.
1.2. Suporte legal atual dos contratos agrrios:
Atualmente, a Lei n 4.504/64 regula os contratos agrrios nos artigos (92 a 96,
alm das regras estabelecidas pela Lei n 4.947/66 (artigos 13 a 15), sendo que o
regulamento da matria est no Decreto n 59.566/66. As disposies do Cdigo
Civil, conforme disposto no art. 92, 9 da lei n 4504/64, continuam sendo de
aplicao subsidiria.
1.3. Caractersticas dos contratos agrrios:
- So consensuais: os direitos e obrigaes das partes surgem com o simples
consentimento das partes, aperfeioando-se com a integrao das declaraes de
vontade dos declarantes. Porm, para o registro do contrato e nos casos de
financiamento, evidente e necessrio que sejam feitos por escrito.
- Bilaterais: as partes se obrigam reciprocamente, com interdependncia entre as
obrigaes.
- Onerosos: ambas as partes visam obter benefcios numa relao de equivalncia,
com obrigaes de ambas as partes, o que apenas no ocorre no comodato, no
regulado pela legislao especfica.
- Comutativos: h benefcios recprocos certos, numa relao de equivalncia das
prestaes.
- De trato sucessivo: as obrigaes so continuadas e no se esgotam numa simples
operao de crdito.
- Formais: ao menos em sua maioria, uma vez que devem ser escritos e registrados.
Contudo, no h unanimidade neste aspecto, at porque a lei no exige forma
especial para a sua formao e validade.
- Maior limitao da liberdade de contratar, porque a lei estabelece clusulas
obrigatrias e, por outro lado, direitos e garantias irrenunciveis, visando a
proteo parte mais fraca.
2. CONCEITOS
Para Vivanco (apud Jos Braga - In D. Agrrio Brasileiro), contrato agrrio a
relao jurdica agrria convencional que consiste no acordo de vontade comum
destinado a reger os direitos e obrigaes dos sujeitos intervenientes na atividade
agrria, com relao a coisas e servios agrrios. Para Otvio M. Alvarenga ( apud
Benedito F.Marques - In Dir. Agrrio Brasileiro, AB Editora), por contrato agrrio
devem ser entendidas todas as formas de acordo de vontade que se celebrem,
segundo a lei, para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos
vinculados produtividade da terra. Este conceito, como se pode verificar,
abrange os contratos tpicos ( parceria e arrendamento) e os atpicos.
3. MODALIDADES
Os contratos agrrios, luz da legislao em vigor, podem ser divididos em
contratos nominados ou contratos tpicos, que englobam os contratos de
arrendamento e parceria, e os contratos inominados ou atpicos, do que so
exemplos o comodato, a empreitada, o compscuo, entre outros. Estes ltimos,
mesmo no havendo regra especial definida na lei, devem, como condio de
validade e no que lhes for aplicvel, cumprir as regras obrigatrias estabelecidas
para os contratos de parceria e arrendamento. o que vem disciplinado no art. 39
do Decreto n 59.566/66.
4. ELEMENTOS OBRIGATRIOS:
Qualquer que seja a forma do contrato e a modalidade adotada, ficam estabelecidas
s partes as seguintes obrigaes legais, independente de estarem inseridos na
redao do contrato:
- conservar os recursos naturais,
- dever de proteo ao mais fraco na relao contratual ( via de regra o
arrendatrio e o parceiro outorgado);
- Observncia dos prazos mnimos estabelecidos por lei;
- fixao do preo do aluguel dentro dos limites legais;
- indenizao, com direito de reteno das benfeitorias teis e necessrias;
- proibio de prestao de servios gratuitos pelo arrendatrio e parceiro
outorgado;
- proibio de obrigao do arrendatrio beneficiar seus produtos na usina do
arrendador e de vender a este os seus produtos. (art. 93 da Lei n 4.504/64);
- obrigatoriedade de clusulas que assegurem a conservao dos recursos naturais
(art. 13,111 da Lei n 4.947/66 e art. 13,11 do Decreto 59.566/66);
- proibio de usos e costumes predatrios da economia agrcola ( art. 92 do ET;
art. 13,I da Lei n 4.947/66 e art. 13,VII,b do Dec. N 59.566/66);
- irrenunciabilidade de direitos e vantagens legalmente definidos em prol do
arrendatrio e parceiro-outorgado (art. 13,IV da Lei n 4.947/66 e art. 13, I do Dec.
59.566/66).
Alm de buscar a preservao dos recursos naturais renovveis e do meio ambiente
em geral, as clusulas obrigatrias nos contratos tm tambm, como finalidade
garantir a proteo ao dbil econmico, com fundamento claro de ordem pblica,
como vem estabelecido no artigo 13 da Lei n 4.947/66.
5. PARTES:
Os contratos agrrios tm como partes contratantes, de um lado o proprietrio ou
quem detenha a posse, ou ainda, quem tenha a livre administrao do imvel rural.
Tratando-se de arrendamento, quem cede a terra denominado de arrendante e se
for parceria rural, ser denominado de parceiro outorgante (tambm chamado de
parceiro proprietrio).
Do outro lado da relao contratual situa-se quem vai exercer a atividade agrcola,
pecuria, agroindustrial, extrativa ou mista (art. 1 do Dec. N 59.566/66). Alm da
terra, o gado, isoladamente, tambm pode ser objeto de parceria rural,
especificamente a parceria pecuria. O contratante trabalhador, no arrendamento
rural denominado de arrendatrio e na parceria rural sua denominao
parceiro-outorgado. Tanto o arrendatrio como o parceiro outorgado, podem ser
uma pessoa ou o conjunto familiar.
6. DIFERENAS ENTRE ARRENDAMENTO E PARCERIA:
A diferena bsica est relacionada s vantagens auferidas pela parte que se
dedica explorao do imvel.
No contrato de arrendamento rural so cedidos uso e o gozo do imvel rural. Assim
o arrendatrio aufere todas as vantagens do imvel, de acordo com o que ficou
avenado. Na parceria cedido apenas o uso especfico do imvel rural. O
pagamento do arrendamento ajustado em quantia certa (em dinheiro), como valor
certo (art. 18 do Decreto), enquanto que na parceria, parceiro outorgante e
parceiro outorgado partilham o resultado obtido.
No arrendamento, os riscos correm por conta do arrendatrio; na parceria rural,
espcie de sociedade, os riscos correm por conta das duas partes, podendo ocorrer
a partilha de prejuzos.
7. FORMA DOS CONTRATOS:
Pode ser tanto escrita como verbal, de forma expressa ou tcita ( art. 92). Contudo,
para maior garantia, convm que os contratos sejam escritos. Nos contratos
verbais subentende-se estarem presentes todas as clusulas e condies
obrigatrias estabelecidas em lei. O contrato agrrio pode, portanto, ser provado
exclusivamente por testemunhas, independentemente do seu valor.
8. PRAZOS MNIMOS LEGAIS: ( regra geral o prazo mnimo de 3 anos)
Os contratos de arrendamento e de parceria podem ser celebrados por prazo
determinado ou indeterminado. De qualquer forma obrigatria a observncia dos
prazos mnimos estabelecidos na lei. Sendo de prazo indeterminado, no pode ser
extinto antes deste prazo mnimo estabelecido na lei, presumindo-se feito pelo
prazo mnimo de 3 anos. Quanto ao arrendamento (locao) por prazo
indeterminado, o Estatuto da Terra estabeleceu uma inovao em relao ao
Cdigo Civil de 1.916. Este, na falta de estipulao de prazo certo, previa a
durao necessria a uma colheita.
O artigo 95,I e II e o art. 96,I do ET fixam o prazo mnimo de 3 anos para os
contratos de arrendamento e de parceria, com a garantia de prorrogao at a
ultimao da colheita. A mesma regra vem estabelecida nos artigos 21 e 37 do
Regulamento. No caso da parceria, h o entendimento de que o prazo mnimo e
nico, de 3 anos. Porm, se a lavoura for permanente, ainda assim o prazo mnimo
deve ser de 5 anos. O art. 13,II do Regulamento ( Decreto n 59.566/66) se
encarregou de detalhar os prazos mnimos para as diversas modalidades de
arrendamento, assim estabelecendo:
- Prazo mnimo de 3 anos de arrendamento para lavoura temporria e/ou pecuria
de pequeno e mdio porte (art. 13,II,a);
- prazo mnimo de 5 anos, nos casos de arrendamento em que ocorram atividades
de explorao de lavoura permanente e ou de pecuria de grande porte para cria,
recria, engorda ou extrao de matrias primas de origem animal ;
- prazo mnimo de 7 anos, nos contratos em que ocorra atividade de explorao
florestal.
Os prazos mnimos tm, entre outras, as finalidades de proteger o dbil econmico,
ou seja, o arrendatrio ou o parceiro-outorgado e de evitar o mau uso da terra.
Neste sentido, quanto maior a durao do contrato, maior ser a possibilidade de
obteno de renda pelo contratado e, ao mesmo tempo, este se preocupar mais
com a preservao ambiental no imvel objeto do contrato.
9. ARRENDAMENTO RURAL:
9.1. Conceito:
Arrendamento rural o contrato agrrio pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a
outra, por tempo determinado ou no, o uso e gozo do imvel rural, parte ou partes
do mesmo, incluindo, ou no, outros bens, benfeitorias ou facilidades, com o
objetivo de nele ser exercida atividade de explorao agrcola, pecuria, agro-
industrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuio ou aluguel, observados os
limites percentuais da lei (art. 3 do Decreto n 59.566/66).
Como se verifica no conceito, o arrendatrio, em decorrncia do contrato, passa a
ter o uso e gozo do imvel, no estando definido o tipo de atividade a ser exercida.
O uso e gozo supe o livre exerccio de qualquer atividade agrria licita,
observadas as regras legais de uso do solo.
9.2. Valor mximo do arrendamento (preo):
Pelas regras especficas em vigor, o valor do arrendamento no pode ser ajustado
livremente, uma vez que h limites legais. (Estatuto da Terra, art. 95,XII e art. 17,
1 do Decreto ), no podendo ser superior a 15% (no caso de arrendamento total)
do valor cadastral do imvel (valor da terra nua), acrescido do valor das
benfeitorias que entrarem na composio do negcio. Valor da terra nua o valor
total do imvel, menos o valor das benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas e
florestas plantadas.
Tratando-se de arrendamento parcial, com explorao intensiva e alta
rentabilidade, o preo pode ir ao limite de 30% sobre o valor cadastral da parte que
for arrendada.
Ajuste e pagamento: O preo do arrendamento sempre deve ser ajustado em
dinheiro, em valor certo, mas o pagamento pode ser efetuado tanto em dinheiro,
como em produtos ou frutos, conforme preo de mercado local, nunca inferior ao
preo mnimo oficial. (art. 18 do Decreto 59.566/66).
9.3 Obrigaes das partes: art. 40 e 41 do Decreto 59.566/66
10. PARCERIA RURAL:
10.1. Conceito: Parceria rural o contrato agrrio pelo qual uma pessoa se obriga
a ceder outra, por tempo determinado ou no, o uso especfico de imvel rural, de
parte ou partes do mesmo, incluindo, ou no, benfeitorias, outros bens e ou
facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de explorao agrcola,
pecuria, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para
cria, recria, invernagem, engorda ou extrao de matrias primas de origem
animal, mediante partilha de riscos de caso fortuito e da fora maior do
empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas propores que
estipularem, observados os limites percentuais da Lei (art. 4 do Decreto
59.566/66).
10.2. Tipos de parceria rural
Parceria agrcola - quando o objeto a atividade de produo vegetal. Parceria
pecuria - quando so cedidos animais para cria, recria, invernagem ou engorda.
Parceria agro-industrial - quando se visa o uso do imvel rural e ou de mquinas e
implementos para a atividade de transformao de produto agrcola, pecurio ou
florestal.
Parceria extrativa - quando visa a atividade de extrao de produto agrcola, animal
ou florestal.
Parceria mista - quando o objeto for a realizao de mais de uma das modalidades
acima indicadas.
10.3. Percentuais de participao dos parceiros: art 96,VI e art. 35, 3 do
Decreto n 59.566/66 .
Apesar da cota mxima estabelecida para a participao do proprietrio nos frutos
da parceria, a prtica tem levado a relaes contratuais onde as regras legais no
so cumpridas. E muito comum a prtica da lavoura meia (50%), o que no deixa
de ser um tipo de parceria, porm, as condies no so aquelas estabelecidas pela
lei, de forma que o parceiro outorgado normalmente arca com todo o custo de
preparo do solo, plantio, sementes, adubo, etc, e ainda assim, entrega 50% do
resultado para o proprietrio.
Contudo, o art. 35, 3 do Decreto 59.566/66 claro ao dispor que no valero as
avenas de participao que contrariarem os percentuais fixados neste artigo,
podendo o parceiro prejudicado reclamar em Juzo contra isso e efetuar a
consignao judicial da cota que, ajustada aos limites permitidos neste artigo, for
devida ao outro parceiro, correndo por conta deste todos os riscos, despesas,
custas e honorrios advocatcios.
Caso o parceiro outorgado tenha entregue percentual maior do que o mximo
previsto por lei, ter direito ao ressarcimento do excedente ou correspondente
indenizao.
Em relao parceria, o legislador no desceu aos mesmos detalhes como fez em
relao ao arrendamento rural, mas indicou que as regras do arrendamento so de
aplicao subsidiria parceria, aplicando-se no que couber (art. 96,VII da Lei n
4.504/64).
10.4. A falsa parceria:
O Estatuto da Terra, atravs do disposto no pargrafo nico do artigo 96, busca
identificar a falsa parceria, nas situaes em que o trabalhador pago em parte em
dinheiro e parte em produto, sempre que a direo dos trabalhos seja de inteira
responsabilidade do proprietrio. Nestas condies, quando no vigoram, na
prtica, os elementos societrios caracterizadores da parceria, est-se
efetivamente diante de um contrato de trabalho, regulado pela legislao
trabalhista. Esta uma das razes do grande questionamento feito pelo agrarismo
legislao que disciplina a parceria, na medida que no se afina com a busca da
justia social e o
acesso do trabalhador propriedade da terra.
11. PRORROGAO DOS CONTRATOS
A prorrogao tem por finalidade assegurar ao arrendatrio e ao parceiro
outorgado os resultados do negcio, dilatando-se o prazo estipulado, nas mesmas
condies, por atraso na colheita, no abate dos animais ou na pario do rebanho.
12. RENOVAO DOS CONTRATOS E DIREITO DE PREFERNCIA:
A renovao consiste na repetio do contrato entre as mesmas partes, repetindo-
se as condies anteriores, ou com as modificaes que ficarem ajustadas.
No havendo prazo de durao estipulado para o contrato, subentende parte da
doutrina que, aps o decurso do prazo mnimo legal, sem que haja notificao no
prazo certo para a extino do contrato, este se renova nas mesmas condies para
mais um prazo mnimo estabelecido em lei. Para outros, uma vez ultrapassado o
prazo mnimo da lei, possvel, a qualquer tempo, o encerramento do contrato,
com a notificao pelo proprietrio, com antecedncia mnima de 6 meses.
Arrendatrio e parceiro outorgado tm preferncia em igualdade de condies com
terceiros, para a renovao do contrato. Neste sentido, havendo proposta oferecida
por terceiro, o arrendatrio ou o parceiro outorgado, deve ser notificado desta
inteno e das condies da oferta, no prazo de 6 meses antes do vencimento do
contrato (art. 95,IV do ET), tendo, aps notificado, 30 dias para requerer a sua
preferncia, sendo que o silncio traduzido em renncia do exerccio deste
direito.No havendo notificao, o contrato considera-se automaticamente
renovado. (art. 95,IV).A retomada para uso prprio obedece s mesmas regras, e
prazos de notificao, conforme disposto no art. 95,V do ET.
13. ALIENAO DO IMVEL: no interrupo do contrato. Preferncia.
Em caso de alienao do imvel, a lei (art. 92, 3 do ET) garante o direito de
preferncia ao arrendatrio, nas mesmas condies, para a aquisio do imvel.
Entende-se que esta garantia tambm extensiva parceria, por exegese do
disposto no artigo 96,VII do ET, uma vez que manda aplicar parceria, no que
couber, as normas pertinentes ao arrendamento rural.
Para o exerccio do direito de preferncia, o proprietrio dever dar conhecimento,
mediante notificao, do teor da proposta de aquisio (preo e demais condies)
oferecida por terceiro. Notificado, o ocupante do imvel ter o prazo de 30 dias
para se manifestar quanto ao seu interesse, sendo que o silncio importa em
renncia tcita. Esta simples preferncia, na prtica no d efetiva proteo ao
arrendatrio ou parceiro outorgado, alm de no considerar o trabalho
desenvolvido na terra, do qual resultou a efetiva valorizao da terra. De fato, a
regra da lei impe ao arrendatrio e ao parceiro outorgado, a nica vantagem de
comprar a terra a preo de mercado, depois de t-la beneficiado e valorizado, cuja
vantagem fica com o proprietrio e, eventualmente com terceiro. Como bvio, a
maioria dos trabalhadores no tm recursos para disputar a terra em igualdade de
condies com terceiros, razo porque a garantia do 4 do art. 92 do ET acaba no
sendo exercida. Nesta situao caberia a concesso de crdito especial para a
aquisio do imvel.
Sendo o imvel vendido a terceiro, no decorrer do contrato de arrendamento ou de
parceria, este fato no interrompe o contrato, ficando o adquirente sub-rogado nos
direitos e obrigaes do alienante (art. 92, 5 do ET).
14. EXTINO DOS CONTRATOS: (art. 26 a 34 do Dec. 59.566/66).
14.1. Causas de extino:
- Trmino do prazo contratual - no tendo ocorrido a renovao do mesmo por falta
de iniciativa do arrendatrio ou parceiro-outorgado, ou por no ter exercido o seu
direito de preferncia. No havendo interesse na renovao, o arrendatrio ou
parceiro outorgado dever notificar o outro contratante, no prazo dos 30 dias entre
os 6 meses e os 5 meses antes do trmino do prazo do contrato.
- Por efeito de retomada: quando o arrendador ou parceiro-outorgante quer o
imvel para cultivo prprio ou atravs de descendente seu ( art. 22, 2 e art. 26,II
do Decreto 59.566/66). A retomada depende de notificao ao arrendatrio ou
parceiro-outorgado at seis meses antes do vencimento do contrato, caso contrrio,
o contrato se renova automaticamente.
- Por efeito de confuso: quando a mesma pessoa passa posio de arrendador e
arrendatrio ou parceiro-outorgante e parceiro-outorgado.
- Pelo distrato: o acordo de vontades mediante o qual as partes pe fim ao
contrato.
- Por resciso: d-se por vontade e iniciativa de uma das partes, nos casos de
inadimplemento de obrigao contratual e de inobservncia de clusula
asseguradora dos recursos naturais, o que permite outra parte cobrar
indenizao por perdas e danos.
- Por resoluo ou extino do direito do arrendador ou do parceiro-outorgante:
possvel ocorrer nos casos de propriedade resolvel, com o advento da causa
resolutiva.
- Por motivo de forca maior: ocorrncia de fato imprevisto e impossvel de ser
evitado.
- Por sentena judicial irrecorrvel: podendo ocorrer nos casos de anulao de
contrato por vcio de origem.
- Pela perda do imvel rural: desaparecimento com vulco, ou por inundao.
- Em virtude de desapropriao: em qualquer de suas modalidades, ficando
garantido ao arrendatrio ou parceiro-outorgado o direito reduo proporcional
da renda ou a rescindir o contrato, em caso de desapropriao parcial.
- Por morte do arrendatrio.
- Por cesso do contrato sem prvio consentimento do arrendador ou
parceirooutorgante.
- Por falta de pagamento do aluguel ou renda: assegura o despejo, permitido
aoarrendatrio a purga da mora.
- Por dano causado gleba ou s colheitas, desde que caracterizado o dolo ou a
culpa do arrendatrio ou do outorgado, caso em que cabe ao de despejo.
- Por causa de mudana na destinao do imvel: ex. destruindo o capim (pecuria)
para desenvolver a agricultura.
- Por abandono do cultivo: quando arrendatrio ou parceiro-outorgado deixa de
cumprir sua obrigao no trato da terra e o cuidado com a produo.
Em diversas das hipteses de extino dos contratos, aqui relacionadas cabe a ao
de despejo para a retomada do imvel, seguindo o rito sumarssimo. O art. 32 do
Decreto n 59.566/66 prev as causas do despejo, cuja enumerao legal vale tanto
para os contratos de arrendamento como para os de parceria.
14.2. Direito indenizao por perdas e danos, benfeitorias ( e plantaes)
com direito de reteno.
O direito indenizao surge cada vez que uma das partes, em razo de
descumprimento de obrigao legal ou contratual causar prejuzo outra parte, ou
por benfeitorias que ficam no imvel. Indenizar significa tornar sem dano, no
sentido de reparar o dano que a parte sofreu. Envolve, portanto, o dano emergente
(dano ou prejuzo efetivo da parte) e o lucro cessante ( o que a parte deixou de
ganhar em razo do procedimento da outra parte).
As causas de extino dos contratos agrrios que resultam em prejuzo outra
parte, permitem cobrar indenizao. Quanto s benfeitorias, estas normalmente
pertencem ao proprietrio do imvel. No entanto, comum a realizao de
benfeitorias por parte do arrendatrio ou do parceiro-outorgado, podendo estas ser
classificadas em benfeitorias necessrias teis e voluntrias. O art. 6 do Decreto
n 84.685/80, inclui entre as benfeitorias as casas de moradia, galpes, banheiros
para gado, valas, silos, currais, audes, estradas de acesso e quaisquer edificaes
para instalaes do beneficiamento, industrializao, educao ou lazer. De
qualquer forma esta enumerao no conclusiva, mas exemplificativa. No Direito
Agrrio as plantaes tambm so tidas como benfeitorias quanto so de cunho
permanente e se traduzem em benefcio que fica para o proprietrio da terra e do
qual este passar a usufruir aps o trmino do contrato.
As benfeitorias necessrias so aquelas destinadas reparao de defeitos e
conservao das coisas, das instalaes, construes e equipamentos. As
benfeitorias teis so as que melhoram o uso e aproveitamento do imvel para os
fins do prprio contrato. As benfeitorias volupturias so aquelas relacionadas com
o embelezamento do lugar e aquelas que visam garantir mais conforto, porm no
diretamente relacionadas ao uso do empreendimento conforme o objeto do
contrato. (art. 24 do Dec. N 59.566/66)
Nos termos do artigo 95,VIII do ET, o arrendatrio, ao ttmino do contrato, tem
direito indenizao das benfeitorias necessrias e teis que edificou.
Segundo a lei, apenas as benfeitorias volupturias dependem de prvia autorizao
do proprietrio para que gerem direito indenizao. Em relao parceria, nas
suas diversas modalidades, a lei no garante claramente o direito indenizatrio.
Para que este fique garantido, em a qualquer tipo de benfeitoria, deve haver
consentimento expresso anterior do parceiro-outorgante. Contudo, levando em
conta a realidade anloga, a aplicao do principio de proteo do dbil econmico
e, principalmente, o disposto no inciso VII do art. 96 do ET (aplicam-se
parceria ... as normas pertinentes ao arrendamento rural, no que couber ..., no que
no estiver regulado pela presente lei), possvel concluir que o mesmo direito
indenizatrio garantido ao arrendatrio, cabe tambm ao parceiro-outorgado,
entendendo-se que houve aceitao tcita quando o outorgante no se manifesta
sobre as benfeitorias em edificao pelo outorgado.
Nos termos da lei, a indenizao faz referncia clara s benfeitorias. No entanto, as
plantaes, sobretudo aquelas relacionadas a culturas permanentes, como
fruteiras, etc, acabam sendo includas nos clculos de indenizao. Neste sentido
o entendimento pacfico dos tribunais, de forma a evitar o benefcio ou
enriquecimento ilcito a uma das partes e o prejuzo outra.
Ao parceiro-outorgado cabe, tambm, a indenizao quando o outorgante no
cumpre os prazos mnimos contratuais. Num contrato celebrado por dois anos,
sabendo-se que o prazo mnimo de 3 anos irrenuncivel, pode o parceiro-
outorgado pleitear, mesmo pela via judicial, o cumprimento do prazo legal ou, caso
isto se torne invivel, a indenizao pelo tempo que falta para o cumprimento do
contrato nas condies definidas em lei. Neste caso, o parmetro para a
indenizao a quantidade colhida no ano anterior.
14.3. Direito de reteno:
Na extino dos contratos, seja sem o cumprimento do prazo garantido por lei,
como nos casos de edificao de benfeitorias, o arrendatrio, assim como o
parceiro-outorgado, podem exercer o direito de reteno do imvel at serem
indenizados pelas benfeitorias, conforme estabelece a parte final do inciso VIII do
artigo 95 do ET. O 1 do art. 25 do Decreto n 59.566/66 reafirma este direito de
reteno.
O direito de reteno pode ser pleiteado em juzo e deferido liminarmente. Com
isso, o contratado fica no imvel at que se apure o valor das benfeitorias e lhe seja
efetuado o pagamento.
15. CONSIDERAES FINAIS:
Como j se disse no inicio, os contratos agrrios, com as regras do Estatuto da
Terra e seus regulamentos, estabeleceram significativos avanos em relao
legislao anterior. Atualmente, o novo Cdigo Civil fez importante acrscimo
referente funo social do contrato, dando novo enfoque tambm aos contratos
agrrios. De resto, o Cdigo Civil de aplicao subsidiria.
Cabe ressaltar, contudo, que as normas referentes aos contratos agrrios no
garantem efetivamente os direitos de quem cultiva a terra, principalmente no que
diz respeito ao acesso terra, constitucionalmente garantido a todos. Pelas regras
em vigor, o trabalhador da terra alheia acaba por contribuir com a produo, com o
progresso econmico do proprietrio e o cumprimento da funo social da terra,
mas tal prtica no lhe garante o acesso terra que cultiva.
Alm disso, com seu trabalho, contribui para no ter acesso definitivo terra em
que produz, uma vez que esta, com seu trabalho, passa a cumprir a funo social.
No este o modelo em vigor em todos os pases. As experincias so variadas e
vo desde a exigncia de cultivo direto da terra pelo proprietrio at a proibio de
realizao de contratos agrrios para a explorao da terra por terceiros.
Em relao aos prazos, apesar de serem definidos como mnimos na lei normal
que no sejam cumpridos pelos proprietrios, ou ento se transformam em prazos
mximos. De fato so prazos exguos, principalmente a se levar em conta a maior
preocupao com prticas conservacionistas. Neste sentido os contratos agrrios
deveriam ter durao maior, a exemplo do que ocorre em outros pases.
Você também pode gostar
- Soluções Tributárias À Luz Da JurisprudênciaNo EverandSoluções Tributárias À Luz Da JurisprudênciaAinda não há avaliações
- PosseDocumento10 páginasPosseAruanan Arruda100% (1)
- Apostila - Direito Imobiliário - Sumário e Casos ConcretosDocumento56 páginasApostila - Direito Imobiliário - Sumário e Casos ConcretosErnani PeraAinda não há avaliações
- Temas de Direito Ambiental e AdministrativoNo EverandTemas de Direito Ambiental e AdministrativoAinda não há avaliações
- Direito do Agronegócio: temas práticos e teóricos - Volume 1No EverandDireito do Agronegócio: temas práticos e teóricos - Volume 1Ainda não há avaliações
- Cadastro e Registro de Imóveis rurais e o direito à propriedade no Brasil: integração dos cadastros e segurança jurídicaNo EverandCadastro e Registro de Imóveis rurais e o direito à propriedade no Brasil: integração dos cadastros e segurança jurídicaAinda não há avaliações
- Miolo RPA ENEM (Questões para Revisão PDFDocumento712 páginasMiolo RPA ENEM (Questões para Revisão PDFIgor Gustavo0% (1)
- Princípios Constitucionais Do Direito AgrárioDocumento33 páginasPrincípios Constitucionais Do Direito AgrárioTiago Jeronimo Lopes100% (1)
- Cadastro de Imóvel Rural Atualização e Inclusão SNCR-Web. Murilo Zibetti Analista de Cadastro Incra - SPDocumento14 páginasCadastro de Imóvel Rural Atualização e Inclusão SNCR-Web. Murilo Zibetti Analista de Cadastro Incra - SPMárcio KörnerAinda não há avaliações
- Cartilha - CONCEITOS de IMÓVEL RURAL - Aplicações Na Certificação e No Registro de ImóveisDocumento20 páginasCartilha - CONCEITOS de IMÓVEL RURAL - Aplicações Na Certificação e No Registro de ImóveisMICHELEAinda não há avaliações
- PENHORDocumento16 páginasPENHORIris BritoAinda não há avaliações
- Propriedade Industrial e Intelectual USP 95Documento16 páginasPropriedade Industrial e Intelectual USP 95Joao CarlosAinda não há avaliações
- Resumo de SociologiaDocumento10 páginasResumo de SociologiaCorey HillAinda não há avaliações
- Manual de Regularizacao de Ocupacoes em Terras Publicas Rurais No Distrito FederalDocumento11 páginasManual de Regularizacao de Ocupacoes em Terras Publicas Rurais No Distrito FederalangelicasantosAinda não há avaliações
- História Do Direito Português - RUY de ALBUQUERQUEDocumento412 páginasHistória Do Direito Português - RUY de ALBUQUERQUEMirela de Cintra80% (5)
- A Propriedade Intelectual Como Fator de Diferenciação e o Papel para Assegurar A Livre ConcorrênciaDocumento17 páginasA Propriedade Intelectual Como Fator de Diferenciação e o Papel para Assegurar A Livre ConcorrênciaLucas BalconiAinda não há avaliações
- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas: Legislação ComplementarNo EverandLei Geral do Trabalho em Funções Públicas: Legislação ComplementarNota: 3 de 5 estrelas3/5 (1)
- A Problemática de Escassez de Água Potável: Caso Do Estudo Do Bairro de Muahivire-Expansão, Unidade Comunal de Mutotopi, Município Da Cidade de NampulaDocumento6 páginasA Problemática de Escassez de Água Potável: Caso Do Estudo Do Bairro de Muahivire-Expansão, Unidade Comunal de Mutotopi, Município Da Cidade de NampulaJúlia Jose Júlio50% (2)
- O Direito Ao Meio Ambiente Ecologicamente EquilibradoDocumento8 páginasO Direito Ao Meio Ambiente Ecologicamente EquilibradoFABIANA DIASAinda não há avaliações
- Taxatividade, tipicidade e autonomia privada: o direito real de multipropriedadeNo EverandTaxatividade, tipicidade e autonomia privada: o direito real de multipropriedadeAinda não há avaliações
- Tabelionato de Notas Aula 4Documento12 páginasTabelionato de Notas Aula 4Vanna CabralAinda não há avaliações
- manualDCR CCIRDocumento59 páginasmanualDCR CCIRBot LolAinda não há avaliações
- Manual Perícia Médica InssDocumento120 páginasManual Perícia Médica InssSuelicherie100% (2)
- Direito Agrário - Prof Scaff - ResumoDocumento68 páginasDireito Agrário - Prof Scaff - ResumoCarol BastosAinda não há avaliações
- Lei 13465-Regularização FundiáriaDocumento86 páginasLei 13465-Regularização FundiáriaEsio CordeiroAinda não há avaliações
- Evolução e Histórico Do Direito AgrárioDocumento18 páginasEvolução e Histórico Do Direito AgrárioSara Hellen100% (2)
- Historia Do Sistema Registral BrasileiroDocumento86 páginasHistoria Do Sistema Registral BrasileiroNassim FaresAinda não há avaliações
- Direito Agrário - Flávio TartuceDocumento46 páginasDireito Agrário - Flávio TartuceAnne TeodoraAinda não há avaliações
- Tese Angelo Adriano Faria de AssisDocumento449 páginasTese Angelo Adriano Faria de AssisLeonardoAinda não há avaliações
- Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo: Direitos Fundamentais, Políticas Públicas e Protagonismo JudiciárioNo EverandNeoconstitucionalismo e Neoprocessualismo: Direitos Fundamentais, Políticas Públicas e Protagonismo JudiciárioAinda não há avaliações
- Apostila de Direito Empresarial IIDocumento70 páginasApostila de Direito Empresarial IIFabiana Simões100% (1)
- Contratos AgráriosDocumento9 páginasContratos AgráriosSabrinaCortez100% (1)
- Lei 12527Documento21 páginasLei 12527Amanda OliveiraAinda não há avaliações
- Curso Direito Notarial Esjud 2016 Modulo 1 Conceito e Principios PDFDocumento96 páginasCurso Direito Notarial Esjud 2016 Modulo 1 Conceito e Principios PDFsofonias jose caetanoAinda não há avaliações
- CHRISPINO, Álvaro CHRISPINO, Raquel S. P. Políticas Educacionais de Redução Da ViolênciaDocumento13 páginasCHRISPINO, Álvaro CHRISPINO, Raquel S. P. Políticas Educacionais de Redução Da ViolênciaJeniffer VitorinoAinda não há avaliações
- O Direito Agrário No Brasil e Sua Evolução HistóricaDocumento23 páginasO Direito Agrário No Brasil e Sua Evolução HistóricaGoverno Distrito de NacalaAinda não há avaliações
- Garantias ContratuaisDocumento5 páginasGarantias ContratuaisLarissa KettlenAinda não há avaliações
- Temas e Questões para o Ensino de História Do Paraná EduelDocumento311 páginasTemas e Questões para o Ensino de História Do Paraná EduelMatrixtwo InfinityAinda não há avaliações
- Direito Agrário IDocumento16 páginasDireito Agrário ILorena Tomé0% (1)
- Questões AgrarioDocumento6 páginasQuestões AgrarioKel AlmeidaAinda não há avaliações
- Ral Do Direito Agrario Conceito e Principios FortiumDocumento13 páginasRal Do Direito Agrario Conceito e Principios FortiumTaciany Amaral De Figueiredo Brambilla100% (1)
- Direito AgrárioDocumento56 páginasDireito AgrárioDiego FernandesAinda não há avaliações
- Direito AgrárioDocumento6 páginasDireito AgráriomateusvilasboasAinda não há avaliações
- Apostila Direito AgrarioDocumento75 páginasApostila Direito AgrarioRafaela Galucio Coulamy100% (1)
- Certificação OrgânicaDocumento11 páginasCertificação OrgânicaIslan DiegoAinda não há avaliações
- Direito Agrário Dpe Ma 2015Documento20 páginasDireito Agrário Dpe Ma 2015Victor Santana100% (1)
- Direito Agrario - Dr. Francisco TaveiraDocumento12 páginasDireito Agrario - Dr. Francisco TaveiraBruno AraujoAinda não há avaliações
- Direito Agrário Questionário IIDocumento3 páginasDireito Agrário Questionário IIAngela RochaAinda não há avaliações
- 2.4AlfaCon Conceitos Da Lei 12 527 2011 Lei de Acesso A InformacaoDocumento8 páginas2.4AlfaCon Conceitos Da Lei 12 527 2011 Lei de Acesso A InformacaoVictor EmanuelAinda não há avaliações
- Direito de PassagemDocumento24 páginasDireito de PassagemMauricio Maccari100% (1)
- Contratos AgráriosDocumento12 páginasContratos AgráriosgabrielscfAinda não há avaliações
- Direito de SuperfícieDocumento3 páginasDireito de SuperfícieIan BritesAinda não há avaliações
- Direito Agrario Questionario IDocumento2 páginasDireito Agrario Questionario IAngela RochaAinda não há avaliações
- O CPC e A Ata NotarialDocumento3 páginasO CPC e A Ata NotarialMatheus QueirozAinda não há avaliações
- Os Tipos de UsucapiãoDocumento6 páginasOs Tipos de UsucapiãoDavid Fadul NetoAinda não há avaliações
- Módulos Rurais - Aspectos Práticos (Eduardo Augusto)Documento25 páginasMódulos Rurais - Aspectos Práticos (Eduardo Augusto)edaugusto100% (4)
- Common Law Direito InglesDocumento48 páginasCommon Law Direito Ingleschristiner7Ainda não há avaliações
- Açao Anulatoria de Ato de ExclusãoDocumento21 páginasAçao Anulatoria de Ato de ExclusãoAdriana Noia50% (2)
- UsufrutoDocumento18 páginasUsufrutoAndré Dissenha NegendankAinda não há avaliações
- Angola CodigoFamiliaDocumento28 páginasAngola CodigoFamiliagilcom20008589100% (2)
- Notificação Extrjudicial - Equipe 2 PDFDocumento2 páginasNotificação Extrjudicial - Equipe 2 PDFArtur CoelhoAinda não há avaliações
- PALESTRA 6. Registo PredialDocumento12 páginasPALESTRA 6. Registo PredialNelson RaulAinda não há avaliações
- Modelo de Petição Inicial No Novo CPCDocumento46 páginasModelo de Petição Inicial No Novo CPCBruna Viviane Carvalho100% (1)
- Esquema LegalDocumento4 páginasEsquema Legalbruna stfanyAinda não há avaliações
- Consórcio de empregadores: alternativa de relação de emprego na atividade ruralNo EverandConsórcio de empregadores: alternativa de relação de emprego na atividade ruralAinda não há avaliações
- Titanic para Flauta DoceDocumento1 páginaTitanic para Flauta DoceSuelicherieAinda não há avaliações
- Contrato Empregado-Meeiro RuralDocumento3 páginasContrato Empregado-Meeiro RuralSuelicherie100% (1)
- Petição Inicial - ConsideraçõesDocumento4 páginasPetição Inicial - ConsideraçõesIcaro Krass AndritsakisAinda não há avaliações
- Schussler - Fiorenza - P. 9-64Documento30 páginasSchussler - Fiorenza - P. 9-64Nathaly KaritasAinda não há avaliações
- IBGE. Deslocamentos PopulacionaisDocumento103 páginasIBGE. Deslocamentos PopulacionaisAdemar GraeffAinda não há avaliações
- 30 Redações Nota 1000Documento33 páginas30 Redações Nota 1000Anna paulaAinda não há avaliações
- Ferulas Impresas 3DDocumento112 páginasFerulas Impresas 3DLuis Kenny Rodriguez BarraganAinda não há avaliações
- Trabalho Critico EmancipatoriaDocumento18 páginasTrabalho Critico EmancipatoriaGerson SampaioAinda não há avaliações
- Conversão de Kardecistas À Umbanda Na Cidade de GoiâniaDocumento128 páginasConversão de Kardecistas À Umbanda Na Cidade de GoiâniacunhaleoAinda não há avaliações
- Escala SDocumento42 páginasEscala SVítor AlvesAinda não há avaliações
- Saúde, Mediação e MediadoresDocumento460 páginasSaúde, Mediação e MediadoresmonicafranchgAinda não há avaliações
- Manual de Fundamentos Da PedagogiaDocumento79 páginasManual de Fundamentos Da PedagogiaDércio PortugalAinda não há avaliações
- PESQUISA EM DIREITO E OS SITES DOS TRIBUNAIS: Análise Do Site Do Tribunal de Justiça Do Estado Do Maranhão Como Instrumento para A Investigação Científica em DireitoDocumento24 páginasPESQUISA EM DIREITO E OS SITES DOS TRIBUNAIS: Análise Do Site Do Tribunal de Justiça Do Estado Do Maranhão Como Instrumento para A Investigação Científica em DireitoCLAUDIO ALBERTO GABRIEL GUIMARÃESAinda não há avaliações
- Psicologia Comunitária e Educação Libertadora PDFDocumento15 páginasPsicologia Comunitária e Educação Libertadora PDFLivia Gomes Dos SantosAinda não há avaliações
- Costa Jurandir Freire A Etica Democratica e Seus InimigosDocumento6 páginasCosta Jurandir Freire A Etica Democratica e Seus Inimigosana_spoladore0% (1)
- Ed IcscDocumento15 páginasEd IcscNiara Rodrigues100% (1)
- Ação Social e Relação Social. Max WeberDocumento4 páginasAção Social e Relação Social. Max WeberJulia MirandaAinda não há avaliações
- Práticas PedagógicasDocumento20 páginasPráticas PedagógicasIsrael QuirogaAinda não há avaliações
- 01 Resumo Comportamento OrganizacionalDocumento8 páginas01 Resumo Comportamento Organizacionalsique24100% (2)
- As Difuasas Fronteiras Entre A Politica e o MercadoDocumento104 páginasAs Difuasas Fronteiras Entre A Politica e o MercadoLuciana FerreiraAinda não há avaliações
- Direito ComercialDocumento12 páginasDireito Comercialchelsia marisaAinda não há avaliações
- Weber e A Transformação SocialDocumento4 páginasWeber e A Transformação SocialKarol GerhardAinda não há avaliações
- Darwinismo Social Part 1Documento9 páginasDarwinismo Social Part 1Roberta DomingosAinda não há avaliações
- O Trabalho Com Familias No Cras QUILOMBOLA DA BACIA E VALE DO IGUAPEDocumento89 páginasO Trabalho Com Familias No Cras QUILOMBOLA DA BACIA E VALE DO IGUAPEJosé CarmoAinda não há avaliações
- Resumo Prova Movimentos SociaisDocumento6 páginasResumo Prova Movimentos SociaisFernanda MartinAinda não há avaliações
- Do Encanto Pela Leitura Aos Gêneros Textuais - Cielli - 1Documento13 páginasDo Encanto Pela Leitura Aos Gêneros Textuais - Cielli - 1Carolina MirandaAinda não há avaliações