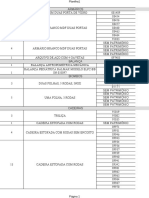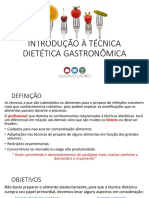Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Hegel Filosofia Da História PDF
Hegel Filosofia Da História PDF
Enviado por
Cristina ZecchinelliTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Hegel Filosofia Da História PDF
Hegel Filosofia Da História PDF
Enviado por
Cristina ZecchinelliDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FRIEDRICH
HEGEL
Hegel_NM.pmd 1 21/10/2010, 09:21
Ministrio da Educao | Fundao Joaquim Nabuco
Coordenao executiva
Carlos Alberto Ribeiro de Xavier e Isabela Cribari
Comisso tcnica
Carlos Alberto Ribeiro de Xavier (presidente)
Antonio Carlos Caruso Ronca, Atade Alves, Carmen Lcia Bueno Valle,
Clio da Cunha, Jane Cristina da Silva, Jos Carlos Wanderley Dias de Freitas,
Justina Iva de Arajo Silva, Lcia Lodi, Maria de Lourdes de Albuquerque Fvero
Reviso de contedo
Carlos Alberto Ribeiro de Xavier, Clio da Cunha, Jder de Medeiros Britto,
Jos Eustachio Romo, Larissa Vieira dos Santos, Suely Melo e Walter Garcia
Secretaria executiva
Ana Elizabete Negreiros Barroso
Conceio Silva
Alceu Amoroso Lima | Almeida Jnior | Ansio Teixeira
Aparecida Joly Gouveia | Armanda lvaro Alberto | Azeredo Coutinho
Bertha Lutz | Ceclia Meireles | Celso Suckow da Fonseca | Darcy Ribeiro
Durmeval Trigueiro Mendes | Fernando de Azevedo | Florestan Fernandes
Frota Pessoa | Gilberto Freyre | Gustavo Capanema | Heitor Villa-Lobos
Helena Antipoff | Humberto Mauro | Jos Mrio Pires Azanha
Julio de Mesquita Filho | Loureno Filho | Manoel Bomfim
Manuel da Nbrega | Nsia Floresta | Paschoal Lemme | Paulo Freire
Roquette-Pinto | Rui Barbosa | Sampaio Dria | Valnir Chagas
Alfred Binet | Andrs Bello
Anton Makarenko | Antonio Gramsci
Bogdan Suchodolski | Carl Rogers | Clestin Freinet
Domingo Sarmiento | douard Claparde | mile Durkheim
Frederic Skinner | Friedrich Frbel | Friedrich Hegel
Georg Kerschensteiner | Henri Wallon | Ivan Illich
Jan Amos Comnio | Jean Piaget | Jean-Jacques Rousseau
Jean-Ovide Decroly | Johann Herbart
Johann Pestalozzi | John Dewey | Jos Mart | Lev Vygotsky
Maria Montessori | Ortega y Gasset
Pedro Varela | Roger Cousinet | Sigmund Freud
Hegel_NM.pmd 2 21/10/2010, 09:22
FRIEDRICH
HEGEL
Jrgen-Eckardt Pleines
Traduo e organizao
Silvio Rosa Filho
Hegel_NM.pmd 3 21/10/2010, 09:22
ISBN 978-85-7019-553-1
2010 Coleo Educadores
MEC | Fundao Joaquim Nabuco/Editora Massangana
Esta publicao tem a cooperao da UNESCO no mbito
do Acordo de Cooperao Tcnica MEC/UNESCO, o qual tem o objetivo
a contribuio para a formulao e implementao de polticas integradas de melhoria
da equidade e qualidade da educao em todos os nveis de ensino formal e no
formal. Os autores so responsveis pela escolha e apresentao dos fatos contidos
neste livro, bem como pelas opinies nele expressas, que no so necessariamente as
da UNESCO, nem comprometem a Organizao.
As indicaes de nomes e a apresentao do material ao longo desta publicao
no implicam a manifestao de qualquer opinio por parte da UNESCO
a respeito da condio jurdica de qualquer pas, territrio, cidade, regio
ou de suas autoridades, tampouco da delimitao de suas fronteiras ou limites.
A reproduo deste volume, em qualquer meio, sem autorizao prvia,
estar sujeita s penalidades da Lei n 9.610 de 19/02/98.
Editora Massangana
Avenida 17 de Agosto, 2187 | Casa Forte | Recife | PE | CEP 52061-540
www.fundaj.gov.br
Coleo Educadores
Edio-geral
Sidney Rocha
Coordenao editorial
Selma Corra
Assessoria editorial
Antonio Laurentino
Patrcia Lima
Reviso
Sygma Comunicao
Reviso tcnica
Erick Calheiros de Lima
Ilustraes
Miguel Falco
Foi feito depsito legal
Impresso no Brasil
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
(Fundao Joaquim Nabuco. Biblioteca)
Pleines, Jrgen-Eckardt.
Friedrich Hegel / Jrgen-Eckardt Pleines; Slvio Rosa Filho (org.). Recife:
Fundao Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.
132 p.: il. (Coleo Educadores)
Inclui bibliografia.
ISBN 978-85-7019-553-1
1. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831. 2. Educao Pensadores
Histria. I. Rosa Filho, Slvio. II. Ttulo.
CDU 37
Hegel_NM.pmd 4 21/10/2010, 09:22
SUMRIO
Apresentao por Fernando Haddad, 7
Ensaio, por Jrgen-Eckardt Pleines, 11
A moderna cultura terica e a prtica, 19
A noo moderna de entendimento, 23
Hegel na sala de aula, por Slvio Rosa Filho, 27
A sombra de Hegel, 28
Temporada nas zonas de sombra, 33
Novos aspectos de Emlio, 38
Textos selecionados, 41
1. Transio a uma nova poca, 41
1.1. Nova educao do esprito, 41
1.2. O conceito do todo, o todo mesmo e o seu processo, 41
2. A meta da educao: fazer do homem um ser independente, 48
3. Mudanas naturais: uma visada antropolgica, 49
3.1. As idades da vida em geral, 49
3.2. As idades da vida: determinao da diferena, 50
3.3. As foras do hbito, 60
4. Luta e reconhecimento da autoconscincia, 61
5. Dominao e servido, 63
6. O esprito prtico, 64
6.1. Direito, 65
6.2. Moralidade, 66
7. Deveres para consigo, 67
Hegel_NM.pmd 5 21/10/2010, 09:22
8. O sistema das carncias, 70
8.1. As modalidades da carncia e da satisfao, 70
8.2. As modalidades do trabalho, 72
8.3. A riqueza patrimonial, 74
8.4. Os estamentos, 75
9. Estado, 78
9.1. Na filosofia do direito, 78
9.2. Na enciclopdia das cincias filosficas, 79
1) Direito poltico interno, 80
2) O direito poltico externo, 87
3) A histria mundial, 88
10. Histria, 90
10.1. O curso da histria do mundo, 90
10.2. Que a razo governa o mundo, 93
11. Filosofia da histria e revoluo francesa, 94
12. Arte, 96
12.1. Nas prelees sobre esttica, 96
12.2. Na enciclopdia das cincias filosficas, 99
13. Religio, 101
13.1. Religio e filosofia, 101
13.2. Religio revelada, 102
13.3. Passagem filosofia, 103
14. Filosofia, 104
14.1. Na enciclopdia, 104
14.2. Na histria da filosofia, 110
Cronologia, 115
Bibliografia, 119
Obras de Hegel, 119
Obras sobre Hegel, 119
Obras de Hegel em portugus, 128
Obras sobre Hegel em portugus, 128
Hegel_NM.pmd 6 21/10/2010, 09:22
APRESENTAO
O propsito de organizar uma coleo de livros sobre educa-
dores e pensadores da educao surgiu da necessidade de se colo-
car disposio dos professores e dirigentes da educao de todo
o pas obras de qualidade para mostrar o que pensaram e fizeram
alguns dos principais expoentes da histria educacional, nos pla-
nos nacional e internacional. A disseminao de conhecimentos
nessa rea, seguida de debates pblicos, constitui passo importante
para o amadurecimento de ideias e de alternativas com vistas ao
objetivo republicano de melhorar a qualidade das escolas e da
prtica pedaggica em nosso pas.
Para concretizar esse propsito, o Ministrio da Educao insti-
tuiu Comisso Tcnica em 2006, composta por representantes do
MEC, de instituies educacionais, de universidades e da Unesco
que, aps longas reunies, chegou a uma lista de trinta brasileiros e
trinta estrangeiros, cuja escolha teve por critrios o reconhecimento
histrico e o alcance de suas reflexes e contribuies para o avano
da educao. No plano internacional, optou-se por aproveitar a co-
leo Penseurs de lducation, organizada pelo International Bureau of
Education (IBE) da Unesco em Genebra, que rene alguns dos mai-
ores pensadores da educao de todos os tempos e culturas.
Para garantir o xito e a qualidade deste ambicioso projeto
editorial, o MEC recorreu aos pesquisadores do Instituto Paulo
Freire e de diversas universidades, em condies de cumprir os
objetivos previstos pelo projeto.
Hegel_NM.pmd 7 21/10/2010, 09:22
Ao se iniciar a publicao da Coleo Educadores*, o MEC,
em parceria com a Unesco e a Fundao Joaquim Nabuco, favo-
rece o aprofundamento das polticas educacionais no Brasil, como
tambm contribui para a unio indissocivel entre a teoria e a pr-
tica, que o de que mais necessitamos nestes tempos de transio
para cenrios mais promissores.
importante sublinhar que o lanamento desta Coleo coinci-
de com o 80 aniversrio de criao do Ministrio da Educao e
sugere reflexes oportunas. Ao tempo em que ele foi criado, em
novembro de 1930, a educao brasileira vivia um clima de espe-
ranas e expectativas alentadoras em decorrncia das mudanas que
se operavam nos campos poltico, econmico e cultural. A divulga-
o do Manifesto dos pioneiros em 1932, a fundao, em 1934, da Uni-
versidade de So Paulo e da Universidade do Distrito Federal, em
1935, so alguns dos exemplos anunciadores de novos tempos to
bem sintetizados por Fernando de Azevedo no Manifesto dos pioneiros.
Todavia, a imposio ao pas da Constituio de 1937 e do
Estado Novo, haveria de interromper por vrios anos a luta auspiciosa
do movimento educacional dos anos 1920 e 1930 do sculo passa-
do, que s seria retomada com a redemocratizao do pas, em
1945. Os anos que se seguiram, em clima de maior liberdade, possi-
bilitaram alguns avanos definitivos como as vrias campanhas edu-
cacionais nos anos 1950, a criao da Capes e do CNPq e a aprova-
o, aps muitos embates, da primeira Lei de Diretrizes e Bases no
comeo da dcada de 1960. No entanto, as grandes esperanas e
aspiraes retrabalhadas e reavivadas nessa fase e to bem sintetiza-
das pelo Manifesto dos Educadores de 1959, tambm redigido por
Fernando de Azevedo, haveriam de ser novamente interrompidas
em 1964 por uma nova ditadura de quase dois decnios.
*
A relao completa dos educadores que integram a coleo encontra-se no incio deste
volume.
Hegel_NM.pmd 8 21/10/2010, 09:22
Assim, pode-se dizer que, em certo sentido, o atual estgio da
educao brasileira representa uma retomada dos ideais dos mani-
festos de 1932 e de 1959, devidamente contextualizados com o
tempo presente. Estou certo de que o lanamento, em 2007, do
Plano de Desenvolvimento da Educao (PDE), como mecanis-
mo de estado para a implementao do Plano Nacional da Edu-
cao comeou a resgatar muitos dos objetivos da poltica educa-
cional presentes em ambos os manifestos. Acredito que no ser
demais afirmar que o grande argumento do Manifesto de 1932, cuja
reedio consta da presente Coleo, juntamente com o Manifesto
de 1959, de impressionante atualidade: Na hierarquia dos pro-
blemas de uma nao, nenhum sobreleva em importncia, ao da
educao. Esse lema inspira e d foras ao movimento de ideias
e de aes a que hoje assistimos em todo o pas para fazer da
educao uma prioridade de estado.
Fernando Haddad
Ministro de Estado da Educao
Hegel_NM.pmd 9 21/10/2010, 09:22
10
Hegel_NM.pmd 10 21/10/2010, 09:22
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL1
(1770-1831)
Jrgen-Eckardt Pleines2
Conforme ao uso da lngua alem, Hegel emprega o termo
Bildung em sentidos vrios: a ele recorre tanto nos juzos que profe-
re sobre a natureza, sobre a sociedade e sobre a civilizao (Kultur),
como nos desenvolvimentos e configuraes que delas apresenta.
Tal conceito, portanto, se estende, passando pelos processos de
maturao tica e espiritual [nisus formativus], at as formas espiri-
tuais mais elevadas da religio, da arte e da cincia, em que se ma-
nifesta o esprito de um indivduo, de um povo ou da humanida-
de. No caso, a acepo especificamente pedaggica ou educativa
da palavra desempenha um papel inteiramente subalterno.
No que se segue, portanto, se a obra de Hegel, sob seu as-
pecto pedaggico, primeiramente encarada na perspectiva de
uma teoria da educao, no se trata de uma deciso preconcebida
e arbitrria, em detrimento do contedo do texto e de sua inter-
pretao legtima. Ao contrrio, apenas encarando-a desse modo
que se est em condies de apreciar, justamente, a eventual im-
portncia de reflexes tipicamente hegelianas acerca do que hoje
comumente se chama de ao educativa e, nas circunstncias
atuais, fazer-lhes novamente justia, sob uma forma modificada.
1
Este perfil foi publicado em Perspectives: revue trimestrielle dducation compare.
Paris, Unesco: Escritrio Internacional de Educao, v. 23, n. 3-4, pp. 657-668, 1993.
2
Jrgen-Eckardt Pleines (Alemanha) professor nos departamentos de educao e de
filosofia da Universidade de Karlsruhe, assinou numerosas publicaes sobre a razo, a
esttica, a tica, e, em particular, o autor de Hegels Theorie der Bildung [A teoria
hegeliana da cultura] (dir. publ., 1983-1986) e de Begreifendes Denken: Vier Studien zu
Hegel (1990) [Compreender a filosofia: quatro estudos sobre Hegel (1990)].
11
Hegel_NM.pmd 11 21/10/2010, 09:22
A favor de Hegel, preciso notar que, por razes histricas e
atinentes lgica de sua exposio (diferentemente de Kant, por
exemplo), ele atribui ao conceito de Bildung um nus de prova muito
pesado, tanto na Fenomenologia do esprito como nos Princpios da filoso-
fia do direito. So esses os textos que permitem ver melhor de que
ngulo Hegel podia apreciar o ponto de vista da cultura e em
que ele enxergava os seus limites e problemas.3
Entretanto, para dispor de uma imagem de conjunto dos di-
ferentes ngulos a partir dos quais visto o problema da Bildung,
tanto em seu aspecto natural e intelectual como moral e cultural,
preciso ir alm das fontes mencionadas e tomar em considerao
textos concernentes esttica, filosofia da religio e mesmo
lgica, em que, constantemente, encontram-se vises espantosas
sobre a paideia grega e sobre o princpio de cultura tpica dos tem-
pos modernos. Em todo o caso, os mais distintos hegelianos no
domnio pedaggico sempre se pronunciaram nesse sentido; e nesse
nvel se permanece quando se chega a perguntar, com Willy Moog,
se o princpio mais totalizante da Bildung, quase inteiramente elabo-
rado por Hegel, no relativizaria a misso da educao (Erziehung),
ou mesmo a tornaria suprflua.4
O conceito de educao, no entanto, no era estranho a Hegel.
Fazia parte das grandes ideias da poca, mesmo se o seu lugar no
fosse inconteste na oposio entre educao, cultura e ensino, num
momento em que no era mais possvel abranger as orlas de toda
educao que se soubesse devedora do princpio da razo prtica.
Ao termo educao, Hegel associava tambm ideias mais slidas
3
Gustav Thaulow, Hegels Ansichten ber Erziehung und Unterricht [As opinies de Hegel
sobre a educao e o ensino], v. 4, Glashtten, 1974, (Kiel, 1853); J.-E. Pleines (dir.
publ.), Hegels Theorie der Bildung [A teoria hegeliana da cultura], v. 1: Materialen zu ihrer
Interpretation [Materiais de apoio interpretao]; v. 2: Kommentare [Comentrio];
Hildesheim/Zurique/Nova Iorque, 1983-1986. O primeiro volume contm textos originais,
provenientes de diversas edies da obra de Hegel; o segundo d conta das interpreta-
es importantes formuladas a partir de 1900.
4
Willy Moog, Grundfragen der Pdagogik der Gegenwart [As questes fundamentais em
pedagogia hoje], Osterwieck/Leipzig, 1923, p. 114.
12
Hegel_NM.pmd 12 21/10/2010, 09:22
que, na verdade, em nenhuma outra parte haviam sido desenvolvi-
das em contexto to amplo; o intrprete, portanto, se v obrigado
a recolher, na obra completa, anotaes isoladas, dispersas, oca-
sionalmente rapsdicas e reuni-las maneira de um mosaico, antes
de tirar delas as suas concluses. Assim, vamos nos ater antes de
tudo aos Escritos de Nuremberg e s passagens da Enciclopdia das
cincias filosficas, que do informaes sobre a evoluo natural,
intelectual e tica. A esse respeito, com efeito, tambm encontra-
mos reflexes sobre a necessidade e os limites das medidas a to-
mar em matria de educao, assim como sobre a misso de um
ensino geral, especializado e filosfico.
Mas, mesmo nesses escritos que em circunstncias diversas tra-
tam de questes pedaggicas, muitas expectativas sero frustra-
das, pois preciso no superestimar o interesse que Hegel dedica
ao que ordinariamente chamamos de educao da vontade ou
formao do carter. No sem razo, com efeito, ele receava que
esforos educativos desse tipo no recassem sub-repticiamente na
doutrinao ou no adestramento, abandonando, no meio do ca-
minho, a razo tal como ela se exprime no entendimento, na pru-
dncia e na sagacidade do indivduo. E no entanto, no domnio
mais restrito dos esforos intencionais e das atividades docentes,
possvel extrair, da obra de Hegel, os elementos de uma doutrina
da educao cuja meta mais nobre consiste em vencer, no plano
terico e no plano prtico, a teimosia e os interesses egostas, para
finalmente conduzi-los quela comunidade do saber e da vontade
que a condio primeira de toda via tica e civilizada.
significativo que Hegel assinale, para a pedagogia, a cultura
do esprito subjetivo5; que, a propsito da situao do docente,
ele recorde a que ponto Cristo, em seu ensino, s tinha em vista a
5
Lgica. II, 177. As citaes de Hegel so extradas de Theorie-Werkausgabe (obras de
Hegel em vinte volumes), Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1971 (citada com a abreviao
WW); ver, a seguir, a rubrica Principais obras de Hegel sobre a educao, ou, excepcio-
nalmente, da edio Meiner, Philosophische Bibliothek (PhB), Leipzig, 1928, e Hamburgo,
13
Hegel_NM.pmd 13 21/10/2010, 09:22
formao [Bildung] e a perfeio do indivduo.6 Nos dois casos,
segundo Hegel, a tarefa tornar os homens morais. Por conse-
guinte, a pedagogia considera o homem como um ser natural e
mostra a via para faz-lo renascer, para transformar sua primeira
natureza numa segunda que espiritual, de tal modo que esse ele-
mento espiritual se torne para ele um hbito.7 Por essa via, o ser
humano toma posse do que ele tem por natureza, e, assim,
esprito.8 Mas para chegar a tanto, preciso que inicialmente a sin-
gularidade da vontade se ponha a tremer; preciso que sobreve-
nha o sentimento da nulidade do egosmo e o hbito da obe-
dincia.9 No interesse de sua prpria educao, o homem deve
aprender a renunciar a suas representaes puramente subjetivas e
a acolher os pensamentos de outrem,10 se certo que estes so
superiores aos dele.
1962. Conservaram-se as referncias do original quando as obras ou passagem citadas
no foram traduzidas para o francs ou quando, como no caso da edio Meiner, o original
pde ser consultado. As referncias das obras citadas em sua traduo francesa so as
seguintes: Abrg: Encyclopdie des sciences philosophiques, trad. Bourgeois, Vrin,
Paris, 1970 A terceira parte: A filosofia do esprito, 1988, traduz a verso de 1817,
enquanto WW, X, reproduz a verso de 1830; manteve-se, no caso, a referncia do
original. Esthtique: Leons sur lesthtique, trad. Janklvitch, coll. Champs, Flammarion,
Paris, 1979; aqui tambm, a verso do texto traduzido em francs no a reproduzida em
WW, XII. Por isso, quando necessrio, foram traduzidas as citaes de Hegel, mantendo
em nota a referncia ao original. O mesmo ocorre, em certos casos, com outros textos.
HPh: Leons sur lhistoire de la philosophie, trad. Garniron, Vrin, Paris, 1985. Log: Science
de la logique, trad. Labarrire et Jarczyk, Aubier-Montaigne, Paris, 1972 e 1976. PhD:
Principes de la philosophie du droit, trad. Drath, Vrin, Pars, 1982. Phno: Phnomnologie
de lesprit, trad. Hyppolite, Aubier-Montaigne, s.d. Assinalemos a nova traduo de J.-
P. Lefebvre, Aubier, Paris, 1991. PhR: Leons sur la philosophie de la religion, trad.
Gibelin, Vrin, Paris, 1970-1971. Propd: Propdeutique philosophique, trad. Gandillac,
Editions Gonthier, coll. Mditations, Paris, 1963. RH: La raison dans lhistoire, trad.
Papaioannou, UGC, 10/18, Paris, 1979. Textes pdagogiques: crits de Nuremberg, in:
Textes pdagogiques, trad. Bourgeois, Vrin, Paris, 1978.
6
H. Nohl, Hegels theologische Jugendschriften [Escritos teolgicos de juventude], Tbingen,
1907, p. 360.
7
PhD, 196, ad.
8
HPh, II, 368.
9
WW, X, 225.
10
WW, XVIII, 228.
14
Hegel_NM.pmd 14 21/10/2010, 09:22
Por isso, no convm permitir que o homem se entregue
simplesmente a seu bel-prazer, o que deixaria as portas inteira-
mente abertas ao arbtrio. Tal capricho, que nele contm o germe
do mal, deve mesmo ser quebrado pela disciplina.11 em
considerao a essa tarefa que preciso compreender a passagem
do amor natural na famlia ao rigor e imparcialidade da escola,
onde a criana no somente amada, mas tambm criticada e
julgada segundo determinaes universais.12 Por conseguinte, a
escola se funda na vontade comum, e o interesse do ensino se
concentra unicamente na coisa que deve ser apresentada e captada.
Logo, a tarefa da educao consiste no somente em tomar as
medidas necessrias para que o desenvolvimento natural e espiritual
transcorra, tanto quanto possvel, sem entraves, mas, tambm, para
que a vida individual e comunitria seja conduzida a sua mais eleva-
da perfeio num discurso refletido, num pensamento penetrante e
numa ao conforme razo. Segundo a convico de Hegel, isso
s seria possvel se, de um ponto de vista ao mesmo tempo prtico
e potico, fossem ultrapassadas a separao psicolgica entre a von-
tade e a razo, assim como a disjuno, imposta pela moral moder-
na, entre virtudes ticas e dianoticas. Com efeito, essas duas oposi-
es tendem a destruir a unidade da ao e confinam na incapacida-
de de reconhecer-se em seus atos e em suas obras.
De um ponto de vista filosfico, essa alienao conduzira,
como se sabe, a uma tica superficial do sucesso, de um lado, e,
como reao, a uma tica da opinio, na interiorizao da qual
Hegel via o perigo do isolamento tico e moral. Da a dureza de
seu juzo sobre a ironia romntica e suas consequncias para a
tica filosfica. Desmembrada entre o alm desejado e o aqum
decepcionante, a nova filosofia moral refletia manifestamente uma
conscincia dilacerada e desbaratada, cuja certeza e cuja verdade
11
WW, X, 82.
12
Ibid.
15
Hegel_NM.pmd 15 21/10/2010, 09:22
eram, no fundo, a contradio em que ela se achava cativa, e a
esperana de sair, graas a um auxlio externo, dessa situao efeti-
vamente desesperada. Incrustada nesse horizonte de questes, que
conduz muito alm dos interesses pedaggicos, que preciso
compreender a anlise hegeliana da cultura: essa anlise buscava
elevar, ao plano do conceito, um problema simultaneamente his-
trico e sistemtico, que abrangia todas as formas da conscincia
da poca e impelia a uma mediao.
No que respeita s concepes antiga, medieval e moderna
da cultura, Hegel estudou a fundo as possibilidades e os limites,
sem dvida como nenhum outro, antes ou depois dele: no pro-
cesso de formao moral e intelectual, assim como em suas eta-
pas e em suas manifestaes, o filsofo distinguia lados diversos,
planos diversos, formas diversas. Em todo momento, via ali o
perigo do excesso de cultura (berbildung)13 ou da perverso
da cultura (Verbildung), e enumerava, tambm, as razes pelas quais
o ponto de vista esclarecido da cultura,14 apesar de sua im-
portncia absoluta e reconhecida,15 devia legitimamente cair em
descrdito.16 Assim, Hegel foi certamente o maior terico da cul-
tura do idealismo alemo, mas, ao mesmo tempo, o crtico mais
incisivo do princpio moderno de cultura, o qual ameaava ser
revertido em egosmo da cultura ou em puro meio para exer-
cer dominao e dar livre curso ao arbtrio.17
Quanto indispensvel aquisio de conhecimentos,18 que ao
mesmo tempo enriquece, transforma e libera o sujeito cognoscente
13
Esthtique, I, 339 e ss.
14
WW, VII, 345; cf., tambm, XII, 89.
15
WW, VII, 344.
16
WW, VII, 345.
17
PhD, 304.
18
O que o homem deve ser, ele no o sabe por instinto, mas preciso que o adquira.
nisso que se fundamenta o direito da criana a ser educada (PhD, 208, nota 26).
16
Hegel_NM.pmd 16 21/10/2010, 09:22
e agente,19 Hegel lembrava que era preciso, nesse processo, tomar
em considerao no apenas o lado subjetivo-formal da assimila-
o e do uso do saber absorvido, mas tambm refletir o seu
lado objetivo, pelo qual o prprio saber se torna vivo e remodelado
conforme ao esprito do tempo.20 Decerto, segundo Hegel, o ser
singular deve inicialmente percorrer, no processo de aprendizado,
os graus de cultura do esprito universal; porm, mediante consi-
derao refletida da natureza e razovel moldagem da histria, a
prpria substncia seria transformada. Nesse duplo sentido, o pro-
cesso da cultura no deve ser visto como o calmo rolamento dos
elos de uma cadeia; antes, a cultura deve ter uma matria e um obje-
to anteriores que, de maneira autnoma, ela trabalha, modifica e
reformula.21 Mas isso s ser possvel se o esprito, por sua vez, tiver
se desapegado da imediatez da vida substancial, adquirido o
conhecimento dos princpios fundamentais e dos pontos de vista
universais e elevado ao pensamento da coisa,22 que ento ele
manejar racionalmente, em pensamento e em ato. Por conseguinte,
o lado subjetivo do processo da cultura, que permite pr a condi-
o do ser humano numa base de livre esprito,23 descrito nos
seguintes termos: tal individualidade se cultiva ao que ela em si, e
somente assim ela em si um ser-a efetivo. Quanto mais cultura
tiver, maior a sua efetividade e a sua potncia.24
19
Meiner, PhB, 165, p. 311. Cf., tambm, PhD, 219: Em sua destinao absoluta, a
cultura , portanto, a libertao e o trabalho da libertao superior [...]
20
Phno, I, 12. Cf., ibid, p. 57: O que, sob o ngulo do indivduo singular, se manifesta
como sua cultura o momento essencial da prpria substncia, isto , a passagem
imediata de sua universalidade pensada na efetividade ou na alma simples da substn-
cia, aquilo mediante o qual o em-si um Reconhecido e um ser-a.
21
Meiner, PhB, 165, p. 311.
22
Phno, I, 8. Cf. HPh, I, 75: A verdadeira cultura [Bildung] no consiste tanto em dirigir
sua prpria ateno sobre si, ocupar-se de si como indivduo, o que vaidade, mas
esquecer-ser, aprofundar o universal na coisa, o que esquecimento de si.
23
WW, X, 52.
24
Phno, II, pp. 56-57.
17
Hegel_NM.pmd 17 21/10/2010, 09:22
Desses diversos pontos de vista e desses diversos nveis da ideia
moderna de cultura, ressalta-se tambm a distino decisiva entre
cultura terica e cultura prtica, distino que decorre da diferena
entre razo observadora e razo ativa;25 com isso, ela traz luz duas
formas do saber que se distinguem essencialmente, no somente do
ponto de vista de seu objeto e de sua gnese, mas, tambm, de sua
legitimao. Elas tm em comum, entretanto, a capacidade de re-
nunciar particularidade do saber como do querer, para impri-
mir em ambos o selo da universalidade. Considerada desse modo,
a cultura sempre uma forma do pensamento que consiste no
fato de que o homem sabe se conter, no se limita a agir segundo
suas inclinaes e desejos, mas se recolhe. Graas a isso, ele confere
ao objeto uma posio livre e habitua-se vida contemplativa.26
Tal produo da universalidade do pensamento, tal consumao
da abstrao racional o valor absoluto da cultura,27 valor que no
se instaura por si mesmo. Tendo em vista o saber terico e o saber
prtico, Hegel fala de um duro trabalho contra a subjetividade28
do sentimento e da conduta, da opinio e do querer enquanto segui-
rem o simples bel-prazer.29 A cultura terica comporta, antes de
tudo, conhecimentos variados e determinados, assim como a uni-
versalidade dos pontos de vista, a partir dos quais emitir juzo so-
bre as coisas; em outros termos: o sentido dos objetos em sua livre
autonomia, sem interesse subjetivo.30 Da cultura prtica, em com-
pensao, ressalta-se o fato de que o ser humano, ao satisfazer suas
25
PhD, 72, nota 19. Cf. Ibid. a concepo segundo a qual a diferena entre o
pensamento e a vontade somente a diferena entre a atualidade terica e a atitude
prtica [...], pois a vontade uma forma particular do pensamento: o pensamento que se
traduz na existncia emprica [Dasein], o pensamento como inclinao a dar-se uma
existncia emprica. Cf., tambm, WW, X, 240-246.
26
RH, 87.
27
PhD, 84 e 218-219.
28
PhD, 219; cf., tambm, as pginas seguintes.
29
Meiner, PhB, 165, pp. 184 e ss.
30
Propd., 42.
18
Hegel_NM.pmd 18 21/10/2010, 09:22
carncias naturais, d provas de sabedoria e de medida. Isso s
possvel se ele estiver liberto da natureza cega, se entregar-se a fundo
sua vocao e, finalmente, se for capaz no somente de limitar
suas carncias naturais ao estritamente necessrio, mas, tambm,
sacrific-las a tarefas mais elevadas.31
A moderna cultura terica e a prtica
O que Hegel soube apreciar, mas tambm lamentar, na forma
moderna da cultura terica e prtica, foi o seu carter puramente
formal e o seu subjetivismo estreito. Teoricamente, antes de tudo
o ponto de vista gnoseolgico da filosofia moderna da reflexo32
que, conjugado com a psicologia moderna do poder, turva o olhar
para a coisa mesma em sua originalidade e em sua adequao in-
terna.33 Praticamente, Hegel desaprovava, indo mais longe, a
incompreenso dos poderes do esprito objetivo, tais como eles se
manifestam publicamente nas instituies morais, com toda auto-
nomia e liberdade transmitidas pela lngua da sociedade e da civi-
lizao. Por isso, estimava altamente a originalidade da cultura
grega enquanto intelectualidade pessoal para si mesma;34 ao mes-
mo tempo, graas ao exemplo dos sofistas, advertia contra uma
cultura frouxa, subjetiva ou estrategicamente orientada, afirmando
que ela se confunde com o mal moderno.35 Esse ponto de
vista [...] da subjetividade s pode aparecer numa poca de alta
cultura, num momento em que a seriedade da f desapareceu e a
conscincia s tem sua essncia na vaidade de todas as coisas.36
31
Propd., 43.
32
PhD, 81 e WW, XII. pp. 25 e ss.
Cf. Kant, Critique du jugement, Vrin, Paris, 1928, 63 a 66 e o desenvolvimento de
33
Hegel: Log., II, 247-271; op. cit., II, pp. 177 e ss; Abrg, 184-187; WW, XVII, 31-45.
34
Hegel, Fragmente nos Hegelstudien, vol. 1, p. 18.
35
WW, VII, 283 (ad. Ao 140, no traduzido em PhD mas, cf., tambm, PhD, 189.
36
Ibid. ad.
19
Hegel_NM.pmd 19 21/10/2010, 09:22
Mas a esse mesmo ponto de vista que se dirige o reproche de
ceder lugar ao bel-prazer e ao arbtrio, tanto no plano terico como
no plano prtico.
Hegel tambm tinha conscincia da origem e da necessidade da
ideia de cultura: nos sofistas, aos quais a filosofia devia toda a sua
formao (Bildung)37, a posio intermediria da cultura chamava a
ateno para um dilema que haveria de permanecer at a poca
moderna. Com efeito, ao referir-se a Scrates, Hegel afirmava que
o esprito, subjetiva e objetivamente, deve ter atingido certo grau
de cultura intelectual antes de chegar filosofia;38 por isso, atribui
cultura um valor infinito.39 Por outro lado, fala de um absoluto
ponto de passagem, para indicar a fronteira de toda cultura que se
obstina em seu ponto de vista, no lugar de passar ao pensamento
conceitual.40 Tal perigo rondava j os sofistas;41 porm, ele s se
desenvolveu plenamente na escolstica tardia e na filosofia moderna
das luzes. Segundo essa opinio, a caracterstica comum s duas for-
mas da filosofia das luzes seria a de que s tiveram como objeto a
cultura formal do entendimento, mas no a razo.42
No que concerne ao princpio de cultura tpico da modernidade,
Hegel certamente reconhece que a cultura sempre teve significao
determinante, e que, na poca da Reforma, adquiriu uma significa-
o com valor particular.43 Ora, tal cultura da reflexo, precisa-
mente, engendrou, tanto no plano da vontade como no do juzo, a
necessidade de manter firmemente pontos de vista universais e, de
acordo com eles, regular o particular de tal modo que formas, leis,
37
HPh, II, 243; cf., tambm, pginas seguintes.
38
Cf. RH, 202-215.
39
PhD, 219.
40
Phno, pp. 50-51 e ss.
41
Cf. HPh, II, 239-378 e Meiner, PhB, 171, p. 915: Sophistik des Denkes.
42
Meiner, PhB, 165, p. 311.
43
Meiner, PhB, 165, p. 311.
20
Hegel_NM.pmd 20 21/10/2010, 09:22
deveres, direitos, mximas universais assumem valor bsico para de-
terminao e reinam essencialmente.44 Entretanto, essa cultura atin-
giu apenas o livre juzo, mas no o conceito que pensa a si mesmo.
Logo, permaneceu formal e apegada unilateralmente subjetivida-
de do sujeito que se sabe e que quer. Isso apareceu por ocasio da
anlise da conscincia cvica (brgerlich), assim como no juzo sobre a
Revoluo Francesa, que estava em condies de colocar o sujeito
em situao de liberdade absoluta, mas que no podia conferir
liberdade um sentido positivo, isto , um contedo firme e uma
forma objetivamente convincente. Por isso, sua cultura tornou-se a
fonte de sua runa45, cujos efeitos haveriam de se fazer sentir rapida-
mente nos domnios terico e prtico, ainda que de modo diferente.
Ao tomar como objeto de sua crtica essa ambiguidade de toda
cultura moderna, Hegel chegou a falar em problemas de cuja som-
bra, at hoje, no pudemos sair. Com efeito, o duplo sentido de
exteriorizao (Entusserung) e de alienao (Entfremdung), que consti-
tui algo prprio a toda cultura, inelutavelmente deixou os seus tra-
os na histria do esprito e se insinuou de modo igualmente
irrevogvel em nosso pensamento, em nosso discurso e em nosso
comportamento. Nesse sentido, como se sabe, Hegel considerava
que a tarefa primeira da Fenomenologia do esprito era a de conduzir o
indivduo de seu estado inculto ao saber46 , o que, naturalmente, s
parecia possvel pela exteriorizao de seu Si imediato.47 Hegel
tambm gostava de falar nesse contexto de alienao, que sempre
intervm praticamente quando o esprito descaiu da confiana na
moralidade imediata e tomou conscincia de si mesmo como de
um sujeito moral.48 Nesse mesmo movimento de bscula, a cultura
44
Cf. Esthtique, I, p. 27; cf., tambm, WW, XIII, pp. 80 e ss.
45
RH, 87.
46
Phno, I, p. 24; cf., tambm, pginas seguintes.
47
Meiner, PhB.
48
Meiner, PhB, 171, pp. 243 e ss. (em particular, p. 250).
21
Hegel_NM.pmd 21 21/10/2010, 09:22
consumada chega a ser posta em relao com os perigos da
morte,49 situao que, para a histria do esprito, se aproxima do
fenmeno da ironia romntica50 e ser discutida no quadro da
sociedade burguesa e de seus sucedneos.51
Entretanto, a contradio intrnseca na qual se achava o con-
junto da cultura moderna, e que ela no estava em condies de
compreender nem de ultrapassar, desviou a concepo do mun-
do moral, que nela se fundava, para uma autocerteza arrogante e
para uma crtica infundada de tudo o que estava presente e exis-
tente. Hegel exprimiu essa duvidosa certeza de toda cultura mo-
ral nos seguintes termos: Intrinsecamente, esse mesmo negativo
diz respeito, portanto, cultura; o carter do sentimento da mais
profunda revolta contra tudo o que est em vigor, o que quer
ser para a autoconscincia um ser estranho, o que quer ser sem ela,
ali onde ela no se encontra; uma segurana extrada da verdade
da razo, que, afrontando toda a perda de si que o mundo inte-
lectual, est certa da perda deste ltimo. A isso se acrescenta, de
modo significativo, o reverso do ponto de vista moral: O as-
pecto positivo, so pretensas verdades imediatamente evidentes
do grande bom senso [...], que no contm nada mais do que a
verdade e a exigncia de encontrar-se a si mesmo, e permanece
nessa exigncia.52 Contra essa irnica suspenso de todo dado,
suspenso que no deixa subsistir nada de real diante de seu pr-
prio juzo e que proclamou a si mesma como a nica medida do
Bem e do Justo, objeta Hegel: Os iniciantes so sempre levados a
criticar tudo; em contrapartida, os que tiverem uma cultura acaba-
da, em todas as coisas veem o que h de positivo.53
49
Cf. Phno, II, pp. 199-200.
50
Meiner, PhB, 171, p. 263.
51
WW, XVIII, 460; cf., tambm, PhD, pp. 186-189 (a propsito de Solger).
52
WW, XX, 291; HPh, VI, p. 1718.
53
PhD, 270, ad. (sobre a ironia, cf., tambm, HPh, II, 288 e ss.).
22
Hegel_NM.pmd 22 21/10/2010, 09:22
A noo moderna de entendimento
O problema da cultura tipicamente moderna captado de
maneira ainda mais fundamental, quando lhe feito o reproche de
se achar em estado de dilaceramento interno e manifest-lo em
sua linguagem.54 Essa crtica termina com a seguinte considerao:
A cultura intelectual, o entendimento moderno, suscita no ser hu-
mano essa oposio que faz dele um anfbio, no sentido de que
doravante ele deve viver em dois mundos que se contradizem
tanto que tambm a conscincia agora se arrasta nessa contradio
e, lanada de l para c, incapaz de encontrar para si mesma
satisfao aqui ou ali.55 Porm, se a cultura essa mesma contra-
dio, contradio que no sabe resolver racionalmente, ento ela
permaneceu guindada em seus juzos que emanam do entendi-
mento, que separam, enquanto oposies imediatas, essncia e fe-
nmeno, ser e dever-ser, o prosaico mundo terreno e o alm ideal,
o incomparavelmente divino e o deploravelmente humano.
Para Hegel, porm, isso era apenas a meia verdade dessa for-
ma de conscincia profundamente irnica ou mesmo desespera-
da: nessas mesmas oposies escondia-se a esperana de uma
mediao ou de uma reconciliao. Como se pode ler na
mesma passagem, um pouco adiante:
Ora, nessa dualidade da vida e da conscincia, para a cultura moderna
e para seu entendimento, h somente a exigncia de resolver tal con-
tradio. Porm, como o entendimento no pode desdizer a fixidez
das oposies, essa resoluo permanece, para a conscincia, um puro
dever [...]
Se, com Hegel, o ponto de vista da cultura for considerado
dessa maneira, tanto sob o aspecto da histria como sob o do siste-
ma, ento ele aparece como um momento necessrio no processo
de amadurecimento universal e simultaneamente individual do esp-
54
PhD, 270, ad.
55
WW, XIII, p. 82.
23
Hegel_NM.pmd 23 21/10/2010, 09:22
rito, que, na verdade, por causa de seu dilaceramento interior, ainda
no chegou a si mesmo e espera por sua consumao futura. Logo,
segundo a concepo de Hegel, essa conscincia no somente est
cindida, mas impele o seu automovimento mediao das prprias
oposies que ela mesma engendrou sem dar cabo delas. Como a
vida nesse mundo se revela afinal insuportvel,56 a cultura acabou
esperando que a filosofia oferecesse uma resposta para as questes
que ela prpria havia colocado, mas para as quais, nos limites de seu
horizonte, ela no podia responder:
Da a questo: tal oposio, to universal, to radical, que no vai
alm do puro dever-ser e do postulado da soluo, ser ela o verda-
deiro em si e para si, ser a suprema meta final? Se a cultura universal
caiu nessa mesma contradio, ento cabe filosofia superar esses
termos opostos, isto , mostrar que nem o primeiro deles, em sua
abstrao, nem o outro, em sua igual unilateralidade, tm verdade,
mas so aquilo que a si mesmo se dissolve; que a verdade s pode
residir na reconciliao e na mediao de ambos, e que tal mediao ,
no pura exigncia, mas o consumado em si e para si, o que sempre
est para se consumar.57
A fissura em dois mundos, profundamente sentida pela cultu-
ra, e a necessidade de filosofia,58 filosofia que devia regrar essa
contradio sem a negar simplesmente em nome de um saber
imediato ou absoluto, concernia em particular ao saber prtico.
Pois o crescente afastamento entre vida tica e moralidade, que
devia acelerar-se no mundo moderno, conduzia a uma falta de
orientao na palavra e na ao, onde a cultura estava profunda-
mente implicada.59 Assim, o reproche que Hegel j fizera cultura
dos sofistas, da qual a filosofia de um Plato ou de um Scrates
56
WW, XIII, p. 80.
57
WW, XIII, p. 81.
58
WW, XIII, pp. 81 e ss.
59
Diffrence des systmes de Fichte et de Schelling, trad., Mry, Ophrys, Gap-Paris,
1970, pp. 86-90: A necessidade de filosofia; cf., tambm, pginas seguintes.
24
Hegel_NM.pmd 24 21/10/2010, 09:22
permaneceu amplamente devedora, um reproche ainda mais forte
perante exigncias de uma pura moral que, lanada em nome do
absoluto, numa crtica radical das condies existentes, esquecia a
realidade e o presente.
A verdade dessa cultura que ou bem se comprazia em con-
tradies irreconciliveis ou bem, tomada de melancolia, esperava
nostalgicamente sua redeno vinda do exterior era ou o senti-
mento da mais profunda revolta,60 ou a incapacidade de agir61
em um mundo que no se dobrava a suas exigncias ideais e que,
legitimamente, impunha suas prprias exigncias a uma moral tor-
nada estranha a si mesma. Assim, mediante a cultura moderna como
porta-voz, foi suspensa a relao entre praxis e razo e abriram-se
as portas para ideologias que deviam se tornar, sob muitos as-
pectos, perigosas para a ao dos homens. Esse perigo concernia
igualmente a pedagogia, cuja defesa de uma cultura da personali-
dade62 aparece ocasionalmente to duvidosa quanto a tendncia a
uma doutrina da educao, que, h tempos, no est segura de seu
fundamento racional e que busca cada vez mais a sua salvao em
irracionalismos que, comparados posio hegeliana, ameaam re-
tirar o solo sob os seus ps.
60
Cf. Tp, pp. 147-153; HPh, VI, p. 1718.
61
Ibid.
62
WW, X, pp. 84 e ss.
25
Hegel_NM.pmd 25 21/10/2010, 09:22
Hegel_NM.pmd 26 21/10/2010, 09:22
HEGEL NA SALA DE AULA
(notas para leitura de uma pequena antologia)
Slvio Rosa Filho63
Houvesse uma filosofia hegeliana da educao, no Brasil ela
brilharia, justamente, pela ausncia. Afora evocaes avulsas ou
menes feitas de passagem, o sistema da cincia de Hegel no
enfibrou na modernizao conservadora destes trpicos, esforo
de construo nacional em que o positivismo, por exemplo, j
apareceu como protagonista. Sua dimenso mais assertiva no
comparece, tampouco, na oferta contempornea de doutrinas
pedaggicas, onde, facilmente, ela poderia ser confundida com
alguma forma remota de holismo, ou com alguma oportunida-
de para substituir refis de propostas generalistas.
Acresce que, se os textos de Hegel no dedicam tratamento
explcito a problemas de natureza pedaggica, a frequentao mais
assdua de suas obras tende a confirmar as dificuldades proverbi-
ais de um mtodo que nem sempre responde pelo nome de
dialtica. Esta palavra-chave, com efeito, no obedece a trata-
mentos hermenuticos convencionais, nem se presta a abrir as
portas e os portais de uma instituio de ensino mdio ou su-
perior. Palavras, frases e excertos, isolados do movimento argumen-
63
Slvio Rosa Filho (Brasil). Professor de filosofia na Universidade Federal de So Paulo.
Publicou Eclipse da moral: Kant, Hegel e o nascimento do cinismo contemporneo (So
Paulo, Discurso Editorial Barcarolla, 2009) e estudos sobre Hegel como O sentido do
engajamento (In: Questes de filosofia contempornea; So Paulo, Discurso Editorial,
2006; org. Anderson Gonalves et. al.) e Martial Guroult, crtico da crtica hegeliana:
observaes sobre o lugar da exegese em filosofia (In: Cadernos de filosofia alem; So
Paulo, Publicao do Departamento de Filosofia FFLCH-USP, 1996; n. 1).
Hegel_NM.pmd 27 21/10/2010, 09:22
tativo em que se poderia colher o seu sentido, permitiriam antever,
de sada, mais uma srie de lugares comuns que por toda a parte
assolam as filosofias da educao.
Na melhor das hipteses, estaria o pensamento hegeliano cum-
prindo o destino moderno de permanecer onde sempre esteve.
Certamente, desde o fim da filosofia clssica alem, trata-se de uma
fora histrico-cultural considervel, confinada no locus amoenus das
virtudes e virtualidades especulativas. Como se ficasse, nas altitudes
de um estado em potncia, preservado das desventuras de uma
efetiva passagem ao ato: exumado, mas no submetido prova dos
nove de uma realidade local que lhe seria cordialmente avessa ou
francamente inspita; mas privando, em contrapartida, da boa com-
panhia de Goethe e de Humboldt, ideais altivos de um humanismo
em que ocorre ao pensamento de Hegel ser subsumido64 e fazer, ali,
as vezes de um autor bem comportado. Promessa no cumprida
da modernidade, portanto, poderia esta situao desfavorvel de fato
ser revertida em benefcio de direito? Pelo sim ou pelo no, vantagens
de um atraso que se prolonga por mais de dois sculos?
A sombra de Hegel
No incio do sculo passado, mile Chartier, mais conhecido
pelo pseudnimo de Alain, prope a seu pblico leitor o tema da
criana como aspirante vida adulta.65 Empenhado em condensar a
crtica hegeliana ao ideal iluminista que tentara reunir aprendizado e
divertimento, imagina um dilogo entre o filsofo alemo e um
64
Como, por exemplo, na obra de Franco Cambi, Histria da pedagogia; So Paulo,
Edunesp, 1999; trad lvaro Lorencini; pp. 416-420.
65
Alain, Propos sur lducation. Paris, PUF, 1932; pp. 17-18. No Brasil, Maria Elisa
Mascarenhas traduziu o livro com o ttulo de Reflexes sobre a educao (So Paulo,
Saraiva, 1978; cf. pp. 1-2). Originalmente, o texto em pauta foi publicado em 16 de
agosto de 1913. Trata-se, na verdade, de um livre comentrio da Enciclopdia das
cincias filosficas ( 396 e adendo; v. 3, trad. bras., pp. 76 e ss.).
28
Hegel_NM.pmd 28 21/10/2010, 09:22
ensasta em plena crise da Terceira Repblica Francesa.66 Para incio
de conversa, Alain segue a encantadora ideia de construir, para a
criana, uma ponte que v de seus jogos s nossas cincias. Passa,
ento, a enumerar as serventias providas por tal engenho: excitar
prodigiosamente a ateno a primeira; a segunda, permitir, desde
os primeiros hbitos de infncia e durante toda a vida adulta, a asso-
ciao entre o estudo, o repouso e a alegria; exorcizar, de resto, o
fantasma medieval que fizesse confundir os labores modernos do
estudo com as prticas tenebrosas do suplcio. Desse modo o jorna-
lista de ideias palmilhava o seu caminho, ao lado de Montaigne.67
A sombra de Hegel, entretanto, comea a falar mais alto. Por
mais zeloso e simptico que parea o jogo sugerido pelo pedagogo
ilustrado, importa advertir que o ardil pode voltar-se contra si
mesmo: o educador, ao fazer de conta que no ensina, provvel
que, de fato, no ensine nada; e o mesmo pode valer para a criana
ao fazer de conta que, por sua vez, no aprende. Antes de haver
um processo civilizatrio que ultrapassasse a barbrie, haveria, no
limite, um tipo de passagem no contrrio, o que os estudiosos de
Hegel conhecem, precisamente, como interverso:68 nesses termos,
a civilizao se interverte em barbrie, e a prpria barbrie se
interverte em barbrie, ou seja, no mesmo. O que assim se anun-
cia, de sada, so as iluses perdidas do educador iluminista, pois,
no fundo, o que civilizao e barbrie dizem uma da outra seria
verdade, mas no exatamente o que cada uma diz de si mesma.
No segundo movimento desse dilogo interior, revolve-se, en-
to, o problema da alteridade: a criana, tal como surge para o edu-
66
A este respeito, ver o estudo de Philippe Foray, Alain et lducation. In: Perspectives:
Revue trimestrielle dducation compare; Paris, Unesco: Bureau international dducation,
v. 23, n. 1-2, 1993, pp. 21-36.
67
Deste ltimo, por exemplo, cf. Livro I, captulos XXV e XXVI, de seus Ensaios (So
Paulo, Abril Cultura, 1972; pp. 73-93; coleo Os Pensadores).
68
Graas, antes de tudo, aos trabalhos de Ruy Fausto. Cf., notadamente, a primeira
parte de Marx: lgica e poltica; So Paulo, Brasiliense, 1987; tomo I.
29
Hegel_NM.pmd 29 21/10/2010, 09:22
cador, no apenas diferente da criana tal como ela para si mesma,
porm, ainda, oposta. Visto que no se trata de um ser esttico, visto
estar ela em movimento entenda-se: em processo de cresci-
mento , totalmente criana enquanto j se encontra nessa curiosa
dinmica pela qual est em vias de rejeitar seu estado de criana.
Graas ao exerccio da reflexo que peculiar a sua idade, quer j
tornar-se homem. As alegrias especficas da criana, contudo, no se
confundem com as alegrias um tanto vagas, e raras, do educador.
Quando, por exemplo, brinca de ser adulto, sem dvida ela genu-
inamente criana; ao passo que o educador, quando busca colocar-
se na posio da criana, no apenas emerge para ela sob os as-
pectos de uma criana deslocada e postia, como tambm corre o
risco de parecer-lhe, simplesmente, adulto ridculo. Numa palavra, a
astcia da criana veraz zomba dos ardis do iluminista contumaz.
Ora, comprazer-se na representao nostlgica da infncia, no
tarefa do educador propriamente dito, mas caso discutvel de re-
gresso, aparentado aos prazeres de uma vida vegetativa ou estrita-
mente animal. Distinto, em contrapartida, o prazer do ser que se
eleva acima de si mesmo, pois o estado de homem belo para
quem a ele chega com todas as foras da infncia.
Para essa grande sombra, com efeito, instruir no embalar.
quela ponte que iria do jogo s cincias, o filsofo prefere
algo como um fosso entre a brincadeira e o estudo, entre a serie-
dade singular na infncia e a seriedade de emprstimo na idiotice.
Quem com tudo se diverte, de todos merece o nome de idiota:
brincar com pigmentos como se fossem pintura, com sons como
se fossem notas musicais, uma pitada de poltica ali, outra de reli-
gio acol, captar o incognoscvel em seis palavras, encenar seri-
edade e multiplicar atarefamentos, sempre dizer-se contente con-
sigo mesmo, eis uma sada da infncia que s cumpre a promes-
sa da educao como desdobramento de uma domesticao. No
lugar de formar-se um homem, o que se amolda , com efeito,
30
Hegel_NM.pmd 30 21/10/2010, 09:22
um escravo feliz. Distinta, todavia, a criana que, uma vez mais e
por si mesma, no confunde a seriedade de suas brincadeiras com
a seriedade do estudo. Com algum paradoxo, portanto, passemos
de novo a palavra a Alain: aprender dificilmente as coisas fceis.
Depois, saltar e gritar, segundo a natureza animal. Progresso, disse
a Sombra, por oposies e negaes.69
Assim, quer diante do educador que imita (e mal) a criana, quer
diante do idiota que desempenha (e mal) papis de autocomplacente
seriedade, o ensasta assumia uma voz interposta e uma posio
situada altura de seu tempo, limitada perante os dias que estavam
por vir e que ele no estaria em condies de prever. Dizia, s vspe-
ras da Primeira Guerra Mundial, como num aparte: tenho medo
desse selvagem disfarado de homem.70
Do incio do sculo XX ao incio do XXI, a passagem que na
escola se enforma da famlia sociedade civil e a oposio do
cidado moderno ao indivduo contemporneo, por certo, no
tero se tornado menos problemticas. No incio do sculo XIX,
Hegel costumava recordar que, quando o menino se torna um
jovem, o mundo emerge para ele como um mundo fora dos ei-
xos, o ideal, que aparecia criana personalizado em um ho-
mem, apreendido pelo jovem como ideal independente da-
quela personificao em um homem singular em suma: o ide-
al aparece como universalidade abstrata.
De l para c, a escola perdeu a prerrogativa de proporcionar
os primeiros passos que iam da famlia sociedade civil.71 Agora, a
69
Alain, op. cit.; p. 18.
70
Idem, ibidem.
71
O que se encerra com a crise de 1968, assinala Bento Prado Jr., bem o sculo da
generalizao da escola burguesa para a totalidade da sociedade, a inflao sempre
crescente desse espao apartado da produo e que, ao explodir, pe em xeque o todo
da sociedade. Termina a tambm a iluso, partilhada por liberais e por socialistas, que
atribua escola o privilgio da produo e da difuso do saber, assim como das vrias
sabedorias (A educao depois de 1968, ou cem anos de iluso. In: Alguns ensaios:
filosofia, literatura e psicanlise; So Paulo, Ed. Max Limonad, 1985; p. 111).
31
Hegel_NM.pmd 31 21/10/2010, 09:22
prpria educao pelo jogo precedida de uma domesticao pelo
dinheiro e ambas se mostram propensas s metamorfoses de uma
educao por meios da paleotecnologia, obsolescncia programada
para reciclar a infraestrutura das instituies de ensino. E se o estu-
dante ingressar no mercado como consumidor cujo objeto de dese-
jo recebe o apelido de diploma, por seu turno, o educador aparece-
r velado pelas roupagens de um prestador de servios, se no for
reduzido a mero obstculo entre o consumidor precoce e a realiza-
o deformada de seu desejo de consumo. Nesse campo de viso
hoje comprimido pela contraluz do imediatismo, a universidade,
como miragem paradisaca, evaporou-se no sonho por assim dizer
acordado das classes mdias. No apenas porque, a rigor, classes
mdias no constituem uma classe, mas ainda porque os ritmos
cadenciados que no ensino e na pesquisa ainda seriam de rigor
tendem a fazer que a universidade, agora com letras maisculas,
cada vez mais se assemelhe a um purgatrio para as massas.
No meio desse caminho, sobre o fundo da longa e sinuosa du-
rao da modernidade, da ideia de educao como meio propcio
para a compreenso do mundo, seguia-se, em primeiro lugar, que a
tarefa da escola no era informar, mas, sobretudo, instruir; im-
punha-se, em segundo lugar, a necessidade de recapitular o ideal
enciclopdico do sculo das luzes, pondo a criana e o jovem em
condies de discernir, por si mesmos, entre o mundo das coisas e o
mundo dos homens.72 Antes que fosse dito adeus ao iluminismo, sem
precisar reeditar a paideia christiana, Hegel, enciclopedista do sculo
XIX, balizara o solo da transio ao novo tempo73 e cuidara de
72
Acerca destes ltimos, Hegel dir: As relaes que cada homem mantm consigo
mesmo consistem para ele: a) em conservar-se a si mesmo, o indivduo submetendo a
natureza fsica exterior e adaptando-a sua medida; b) em assegurar independncia de
sua natureza espiritual em relao sua natureza fsica; c) em submeter-se e em tornar-
se conforme sua essncia espiritual universal, o que o papel da formao [Bildung]
no sentido mais geral do termo (Enciclopdia filosfica de 1808, 191).
73
Ver, a este respeito, o ensaio de Paulo Eduardo Arantes, Quem pensa abstratamen-
te?. In: Ressentimento da dialtica; So Paulo, Paz e Terra, 1996; sobretudo pp. 93-95.
32
Hegel_NM.pmd 32 21/10/2010, 09:22
pensar os prolongamentos poltico-jurdicos da Revoluo Francesa
em solos que no fossem apenas franceses. Desse modo, quando o
processo de hominizao do homem pressupe a sada da pr-
histria da humanidade, tempo de dar voz, uma vez mais, ao livre
exerccio do pensamento. Entre a desqualificao sumria da tristeza
e a valorizao abstrata da alegria, por exemplo, no poderemos
continuar dizendo que prefervel, ao mesmo tempo, averiguar o
sentido da apatia e tomar a medida da insatisfao? Entre a recusa dos
suplcios e a aceitao dos jogos de adestramento social, no ter se
tornado indispensvel acompanhar as metamorfoses da luta pela
realizao da liberdade e a cristalizao das formas poltico-jurdicas
do reconhecimento? Se assim for, far algum sentido tomarmos
distncia frente ao andaimaria dos formalismos voltarmos sala
de aula, com dico hegeliana.
Temporada nas zonas de sombra
Que a escola no constitui uma instncia absolutamente aut-
noma. Que a sala de aula o lugar onde se condensa e se reflete a
realidade efetiva na qual ela se insere. Basta admitir tais proposi-
es para reconhecer, de sada, que a instncia escolar s joga um
papel relativo perante a exigente completude da formao, deli-
mitao que, longe de constituir sua fraqueza, pode guardar o se-
gredo de uma fora inusitada. Que, em segundo lugar, o ex-aluno
egresso, na acepo hegeliana nunca ser redutvel figura do
diplomado, mas apresentado sob o ttulo ambivalente de um
formando, ampliao que assinala o teor de sua autodestinao e d
notcia do que est em jogo na luta pela realizao efetiva da liber-
dade. Que, em terceiro lugar, o educador poder estimar a gran-
deza de sua perda74, justamente na medida da formao
hegeliana ou no com a qual ele se der por satisfeito, tenso no
74
No contexto da representao nostlgica do mundo, Hegel assinala: naquilo com que
o esprito se satisfaz, pode-se medir a grandeza do que perdeu. (Fenomenologia do
esprito; Petrpolis, Vozes, 1992; v. 1, p. 25, 8.3).
33
Hegel_NM.pmd 33 21/10/2010, 09:22
menos exigente entre o exerccio da autoridade e a promoo da
autonomia, entre a educao que for dispositivo de controle e a
formao que for prtica de emancipao.
Relativizao da instncia escolar, o que implica identificao de
outras instncias educativas; irredutibilidade do formando microfi-
gura do aluno, o que requer uma anteviso de seu ingresso em ou-
tras instncias formadoras, situadas na vida extraescolar; cultivo das
insatisfaes do educador que sinaliza para um autoaprimoramento
do inconformismo; seria o caso de passar em exame, imediata-
mente, o sentido dessas ponderaes e o alcance de seu valor. O
sentido, no entanto, no retilneo e o alcance no est decidido de
antemo. Logo, importa no perder de vista que, sendo adverso o
pas, luzes atenuadas e zonas de sombra no dispensam uma leitura
distinta, que refrate a gama de tal sentido, que vislumbre o alcance de
tal discernimento e os retome em considerao, de modo diverso e
redobrado: pelo vis de seu avesso ultra ou ps-moderno e pelo
prisma de uma descontinuidade bastante singular.
Diante do fenmeno do no conformismo, por exemplo, a
constelao semntica das instncias formadoras vai solicitar uma
ateno flutuante e peculiar, que lhe anote as emergncias e as rup-
turas, desenhe a sua relevncia em processo e d testemunho de
sua verdade como resultado. Diante do conformismo, por seu
turno, a passagem pelas instncias formadoras tende a configurar-
se como processo seletivo e quase natural, que ao mesmo tem-
po interroga o discurso da meritocracia e parece condenar o jo-
vem inicialmente rebelde a se tornar um adulto finalmente adapta-
do, ou, o que d no mesmo, resignado. Teoria dos jogos que
calcula uma acomodao abstrata e funcional ou coreografia da
luta que encena uma irreconciliao latente e imprevisvel? De fato,
a mobilizao de pressupostos hegelianos d conta de palcos mveis
e permite evocar invisibilidades vrias, flor da pele. Quando,
vindo de remotos dias coloniais, o passado sobrecarrega a juven-
34
Hegel_NM.pmd 34 21/10/2010, 09:22
tude, as posies do senhor e do escravo aparecem recortadas
num estilo paradoxal: se este ou aquele prestador de servios fo-
rem mais que um Ersatz do escravo forro, nem sempre certo
que este ou aquele badboy queiram respirar os mesmos ares de fa-
mlia de um senhorzinho urbanizado. Mas assim como a humanida-
de do aluno no reside exclusivamente na provenincia familiar em
que o seu nascimento foi certificado, assim tambm no tem cabi-
mento minimizar as dificuldades de instaurao do ideal repu-
blicano de igualdade que lhe faz frente e que documenta sua dis-
tncia face iniquidade real.
Voltemo-nos, ento, para o formando cuja vida recorre a
uma instncia distinta da vida escolar. Parece que o mundo da indi-
vidualidade moderna contm tantos centros quantos so os homens
que dizem Eu, um crculo apropriado para cada um desses egos
atomizados. Trata-se, claro, de tomos sociais; e, simultaneamente,
da excentricidade da formao. Entre o hedonismo do indivduo
recluso e o mal-disfarado sofrimento geral, os perfis dos egressos
descrevem itinerrios elpticos, do mercado de ensino para o ensino
de mercado, inter-seccionados. Antes e durante a permanncia na
instncia escolar, o aprendizado passa a coabitar com a diverso
como parque escolar de diverso, walterdisneyzao do ensino
que merece, portanto, negao concreta e oposio efetiva. Durante
e depois da instncia escolar, a crescente prevalncia do privatismo
favorece a percepo das instituies de ensino sob a forma do
consumo de marcas administrveis, sejam elas privadas ou pblicas,
bigmacdonaldizao do ensino que merece, igualmente, negao
concreta e oposio efetiva.
Ora, em tempos de mnimo superego, a justeza da severidade
no precisa ser desautorizada nem pela rigidez nem pela flexibilida-
de de equivalentes funcionais. Assim como, na instncia escolar, a
humanidade da criana e do adolescente no se encerra nas figuras do
aluno e do estudante, assim tambm, na instncia formadora da so-
35
Hegel_NM.pmd 35 21/10/2010, 09:22
ciedade civil, a humanidade do jovem no se esgotar na profisso para
a qual ele ter sido educado. Sem dvida, a educao por assim
dizer informal da instncia mercadolgica concorre com a educa-
o formal da instncia escolar propriamente dita. No obstante,
entre a desalienao e a autonomizao das intersubjetividades, de
um lado, e, de outro, a desresponsabilizao e a desobrigao dos
tomos sociais, o processo das primeiras no precisa seguir as linhas
involutivas das segundas, nem o Selbst carece de ser nelas traduzido,
literalmente, como emplasto de um self-made man. Somadas umas e
outras coisas, a riqueza da sociedade civil burguesa no rica o bas-
tante para remediar a misria de sua prpria condio.
Em termos hegelianos, se houver soluo para o problema das
contradies da sociabilidade civil, certo que ela no se dar na
instncia particular da sociedade civil burguesa.75 Na medida em que
as contradies da sociabilidade civil s se superam politicamente, a
soluo do problema scio-poltico moderno correlata amplitu-
de e complexidade do problema posto pela formao. A esta
altura, sem dvida, toma-se considervel distncia em relao aos
tomaladacs em que valores so desvalorizados, como se nasces-
sem prontos para serem negociados e trocados; entretanto, a
interseco dos planos do assunto real no cancela antes, acentua
as interferncias da economia na poltica e, desta ltima, naquela.
Acuidade redobrada, portanto, se for o caso de passar uma tempo-
rada nessa zona de sombra onde segue seu curso a chamada plutocracia.
Talvez seja possvel torn-la menos invisvel, recorrendo, por
exemplo, aos bloqueios estruturais que a poltica, com letras mi-
nsculas, contribui para reproduzir e fomentar. Face s foras de
mobilidade e mobilizao sociais, a instncia escolar, ainda que a
contragosto de suas melhores intenes crticas, participa da manu-
teno de um monoplio social das oportunidades, como se sabe,
75
Por isso, Hegel poder afirmar com todas as letras: O interesse da ideia no reside na
conscincia desses membros da sociedade civil burguesa como tais. (Princpios da
filosofia do direito, 187; trad. bras., p. 17.)
36
Hegel_NM.pmd 36 21/10/2010, 09:22
de fundas razes. Do lado da ordem, multiplicar-se-iam laboratrios
para o exerccio da dominao: seus ocupantes estariam destinados
a repetir e aprimorar as faanhas e capitulaes de seus antepassados
de classe. De outro lado, progressos seriam mais ou menos inofen-
sivos, consoante dispositivos de intimidao cada vez mais sofistica-
dos: quando a ameaa bem encenada, avisava Rousseau, ela pro-
voca mais estragos do que o golpe menos ineficiente.
Na instncia formadora da poltica, a humanidade do recm-che-
gado vida adulta ir, sem dvida, mais longe do que a sua vida
cidad; com dois porns que a condicionam simultaneamente. A pri-
meira condio: contanto que, na tenso entre as instncias
infrapolticas e as suprapolticas, o adulto formando no se contente
com as rotas de fuga que, abstratamente, acenam para que ele se
torne um ensimo candidato evaso. Sirva aqui, guisa de
contraexemplo, a negao abstrata e a oposio-no-real que se
podem esboar a partir da subcultura de massas, mais especifica-
mente, no caso da crescente ficcionalizao da realidade. Hegel, quan-
do se ps a pensar na passagem da Revoluo Francesa para o solo
alemo, apresentou seu espectro de modo singular: na suprema
ambivalncia dessa passagem, a irrealidade assumira, com efeito,
o lugar do verdadeiro.76 Hoje, quando a contrarrevoluo se quer
permanente e mesmo o empenho por reformas estruturais, via de
regra, carece do sopro da utopia, as distopias miditicas, esse misto
de pequenas rebeldias e adeses colossais, parecem ter se tornado
ocupantes do lugar outrora reservado ao justo, ao belo e ao verda-
deiro: no impossvel que jamais sejam representadas como apare-
lhos de entretenimento imperial, ou ainda, expostas como videologias.77
Segunda condio: a humanidade do formando vai mais lon-
ge do que sua cidadania, contanto que, tendo-se demorado nessa
instncia de alfabetizao poltica para adultos, saiba ento reco-
76
Cf. Fenomenologia do esprito; ed. cit., v. 2, p. 100, 595.2.
77
Cf., de Eugnio Bucci e Maria Rita Kehl, Videologias: ensaios sobre televiso; So
Paulo, Boitempo Editorial, 2004.
37
Hegel_NM.pmd 37 21/10/2010, 09:22
nhecer, nas dimenses coextensivas ao chamado esprito objeti-
vo na famlia e na escola, na sociedade e no estado , instncias
formadoras, necessrias e limitadas; e, precisamente por que se
mostram insuficientes, no deixariam de impelir o ser do forman-
do a elevar-se acima de si mesmo. Na Arte, na Religio e na Filo-
sofia, delineiam-se, justamente, aquelas instncias suprapolticas e
trans-histricas, em que a nova estrutura da sensibilidade e a dis-
posio tica do esprito dariam voz a seu prprio sentimento do
mundo. Assim, nessas regies coextensivas ao esprito absoluto,
elevadas e hoje quase proibitivas, poderia o formando encontrar-
se junto a si mesmo. Saber-se, afinal, em casa.
Novos aspectos de Emlio
Como si resultar de notas demasiado breves, de se esperar
que o leitor termine com um sentimento de insatisfao. Para
mostrarmos descontinuidades e avessos do texto hegeliano, pro-
pusemos um prisma a partir do qual ele pudesse refratar-se em
pas adverso; deixamos de lado, deliberadamente, a anlise dos
descompassos entre a amplitude das estratgias pedaggicas e as
especificidades das tticas didticas; no rememoramos momen-
tos exemplares da vasta tradio de vidas paralelas, em que coube,
figura do filsofo, a tarefa de reeducar o tirano e a si mesmo,
formar o general e futuro imperador, fazer-se conselheiro dos
csares ou dos imitadores de Cristo, preceptor da aristocracia ou
de herdeiros que, fossem regentes ou delfins, disputariam o trono
ungido com um direito dito divino. Ficar, pois, o leitor entregue
a si mesmo, com a impresso de havermos mostrado apenas o
vestbulo, sem ingressar no interior da casa.
E mesmo dentro das molduras aqui estabelecidas, teria sido
oportuno desenvolver certas reapropriaes alems dos cdigos que
reconfiguram a individualidade moderna. Mostrar, por exemplo,
como elas afirmam a destinao histrico-social e poltica da prole
38
Hegel_NM.pmd 38 21/10/2010, 09:22
de Emlio e Sofia, casal cuja vida Rousseau preferiu recolher numa
ilha. Ou ainda, investigar como os princpios que desenhavam o tipo
expressivo de um homem integralmente formado foram transpos-
tos e remanejados, da estrutura em crise do jusnaturalismo, para
uma arquitetnica do saber fenomnico, em que a dinmica do indi-
vduo moderno enveredou pelas trilhas de uma autodeterminao
conceitual. Teria sido preciso mostrar, e no apenas indicar, de que
maneira a elaborao hegeliana acompanha o sentido moderno do
romanesco, critica a exaltao romntica da paixo amorosa e as-
siste, no decursus vitae dos indivduos divididos, s tendncias para a
sua converso filistina78. Talvez evitssemos, desse modo, a surpresa
ou o escndalo de uma constatao subjacente mas quase visvel a
olho nu, a de que o ideal do humanismo integral, intercindido,
desapareceu. Que, em pedagogia, a formao vai mais longe do
que a pedagogia.
S de relance o leitor ter entrevisto, ademais, desdobramen-
tos da exigncia hegeliana, endereados para uma efetiva realiza-
o da Filosofia.79 Processo cumulativo do moderno, decomposi-
o ultramoderna do esprito absoluto e desvalorizao con-
tempornea de seu valor? Da a persistncia em sugerir que, na
78
Aqui, todavia, pode-se assinalar uma pista para inteligir essa reverso moderna do
herosmo, em que, de resto, o andamento prosaico no desculpado em favor do
cabimento bem pensante: por mais que algum tenha combatido o mundo, tendo sido
empurrado para l e para c, por fim ele encontra, na maior parte das vezes, contudo, sua
moa e alguma posio, casa-se e tambm se torna um filisteu [ein Philister] do mesmo
modo que os outros; a mulher se ocupa do governo domstico, os filhos no faltam, a
mulher adorada, que primeiramente era nica, um anjo, se apresenta mais ou menos
como todas as outras, o emprego d trabalho e aborrecimentos, o casamento a cruz
domstica, e assim se apresenta toda a lamria dos restantes (G.W.F. Hegel, Esttica;
So Paulo: Edusp, 2000; v. 2, p. 329).
79
Nas palavras de Vittorio Hsle: Na ala esquerda da escola hegeliana, que desenvolveu
a concepo de uma necessria realizao da filosofia possuda de inusitada radicalidade,
justamente esse efeito do pensamento hegeliano mostra, alm disso, que a filosofia no
deve compreender apenas um tempo decadente: decerto no h praticamente nenhuma
filosofia que tenha exercido tanta influncia sobre a realidade efetiva quanto a filosofia
hegeliana. (O sistema de Hegel: o idealismo da subjetividade e o problema da
intersubjetividade; So Paulo, Loyola, 2007; p. 492.)
39
Hegel_NM.pmd 39 21/10/2010, 09:22
atual formao do discernimento,80 a expresso Hegel na sala de
aula seja apreendida cum grano salis, devidamente colocada entre
aspas e seguida de um ponto de interrogao. Ou por outra: teria
tudo se banhado nas primeiras guas do voto piedoso da filosofia
prtica e no anonimato compensatrio de cidadanias cosmopoli-
tas? Da, tambm, a dificuldade em circunscrever tal universo
insinuante e multiforme. Em todo caso, a verso lacunar que aca-
ba de ser exposta no causar grandes males, se o leitor se dispuser
leitura paciente dos textos e ao exerccio indispensvel da refle-
xo: com a certeza de que a realizao efetiva da liberdade de
fato muito mais complexa do que as limitaes que assumem estas
notas, a Ausbildung, enquanto aprimoramento do senso dos extre-
mos e das propores, convidar o educador historicamente res-
ponsvel quem sabe? a decidir-se pela forma da ao.81
Chegando ao fim, convm retornar ao que foi sugerido no co-
meo e devolver a palavra ao professor mile Chartier. Fiel aos
propsitos educacionais do esprito positivo e interessado em res-
saltar como a metafsica crist se encarnara em politesmos subalter-
nos, Alain no hesitava em recomendar a leitura de Chateaubriand a
seus estudantes: Encontro, em Les Martyrs, uma bela sentena.
Eudoro, cristo, agasalha um pobre com o seu manto. Sem dvida
voc acreditou, disse a pag, que este escravo fosse algum deus
oculto? No, respondeu Eudoro, acreditei que fosse um homem.82
80
Ser proveitoso, nesse sentido, consultar a tese de doutoramento de Denlson Soares
Cordeiro, A formao do discernimento: Jean Maug a gnese de uma experincia
filosfica no Brasil. So Paulo, Departamento de Filosofia da FFLCH-USP, 2008.
81
Assim como a tradio, adequadamente interrogada, libera a atualidade da reflexo,
assim tambm a crtica do presente, lcida e penetrante, projeta as possibilidades
histricas da filosofia no horizonte da cultura (Franklin Leopoldo e Silva, Filosofia e
forma da ao. In: Cadernos de filosofia alem; So Paulo, Publicao do Departamento
de Filosofia da USP, 1997; n. 2, p. 77).
82
Alain, op. cit., p. 111.
40
Hegel_NM.pmd 40 21/10/2010, 09:22
TEXTOS SELECIONADOS
1. Transio a uma nova poca
1.1. Nova educao do esprito
Alis, no difcil ver que nosso tempo um tempo de nasci-
mento e trnsito para uma nova poca. O esprito rompeu com o
mundo de seu ser-a e de seu representar, que at hoje durou; est a
ponto de submergi-lo no passado, e se entrega tarefa de sua trans-
formao. Certamente, o esprito nunca est em repouso, mas sem-
pre tomado por um movimento para a frente. Na criana, depois
de longo perodo de nutrio tranquila, a primeira respirao um
salto qualitativo interrompe o lento processo do puro crescimen-
to quantitativo; e a criana est nascida. Do mesmo modo, o esprito
que se forma lentamente, tranquilamente, em direo sua nova
figura, vai desmanchando tijolo por tijolo o edifcio de seu mundo
anterior. Seu abalo se revela apenas por sintomas isolados; a frivoli-
dade e o tdio que invadem o que ainda subsiste, o pressentimento
vago de um desconhecido so os sinais precursores de algo que se
avizinha. Esse desmoronar gradual, que no altera a fisionomia do
todo, interrompido pelo sol nascente, que revela num claro a
imagem do mundo novo. (Fenomenologia do esprito, I, p. 26)
1.2. O conceito do todo, o todo mesmo e o seu processo
12 Falta, porm, a esse mundo novo como falta criana
recm-nascida uma efetividade acabada; ponto essencial a no
41
Hegel_NM.pmd 41 21/10/2010, 09:22
ser descuidado. O primeiro despontar , de incio, a imediatez do
mundo novo o seu conceito: como um edifcio no est pronto
quando se pe o seu alicerce, tambm esse conceito do todo, que
foi alcanado, no o todo mesmo.
Quando queremos ver um carvalho na robustez de seu tronco,
na expanso de seus ramos, na massa de sua folhagem, no nos da-
mos por satisfeitos se em seu lugar nos mostram uma bolota. Assim
a cincia, que a coroa de um mundo do esprito, no est completa
em seu comeo. O comeo do novo esprito o produto de uma
ampla transformao de mltiplas formas de cultura, o prmio de
um itinerrio muito complexo, e tambm de um esforo e de uma
fadiga multiformes. Esse comeo o todo, que retornou a si mesmo
de sua sucesso [no tempo] e de sua extenso [no espao]; o concei-
to que-veio-a-ser conceito simples do todo. Mas a efetividade desse todo
simples consiste em que aquelas figuras, que se tornaram momentos,
de novo se desenvolvem e se do nova figurao; mas no seu novo
elemento, e no sentido que resultou do processo.
13 Embora a primeira apario de um mundo novo seja
somente o todo envolvido em sua simplicidade, ou seu fundamento
universal, no entanto, para a conscincia, a riqueza do ser-a anteri-
or ainda est presente na rememorao. Na figura que acaba de
aparecer, a conscincia sente falta da expanso e da particulariza-
o do contedo; ainda mais: falta-lhe aquele aprimoramento da
forma, mediante o qual as diferenas so determinadas com segu-
rana e ordenadas segundo suas slidas relaes.
Sem tal aprimoramento, carece a cincia da inteligibilidade uni-
versal; e tem a aparncia de ser uma posse esotrica de uns tantos
indivduos. Digo posse esotrica porque s dada no seu inte-
rior; e uns tantos indivduos, pois seu aparecimento, sem difu-
so, torna singular seu ser-a. S o que perfeitamente determina-
do ao mesmo tempo exotrico, conceitual, capaz de ser ensina-
do a todos e de ser a propriedade de todos. A forma inteligvel da
42
Hegel_NM.pmd 42 21/10/2010, 09:22
cincia o caminho para ela, a todas aberto e igual para todos. A
justa exigncia da conscincia, que aborda a cincia, chegar por
meio do entendimento ao saber racional: j que o entendimento
o pensar, o puro Eu em geral. O inteligvel o que j conheci-
do, o que comum cincia e conscincia no-cientfica, a qual
pode atravs dele imediatamente adentrar-se na cincia.
14 A cincia que recm comea, e assim no chegou ainda ao
remate dos detalhes nem perfeio da forma, est exposta a [sofrer]
crtica por isso. Caso porm tal crtica devesse atingir a essncia mes-
ma da cincia, seria to injusta quanto inadmissvel no querer reco-
nhecer a exigncia do processo de formao cultural. Essa oposio
parece ser o n grdio que a cultura cientfica de nosso tempo se
esfora por desatar, sem ter ainda chegado a um consenso nesse pon-
to. Uma corrente insiste na riqueza dos materiais e na inteligibilidade; a
outra despreza, no mnimo, essa inteligibilidade e se arroga a
racionalidade imediata e a divindade. Se uma corrente for reduzida ao
silncio ou s pela fora da verdade, ou tambm pelo mpeto da
outra, e se sentir suplantada no que toca ao fundamento da Coisa,
nem por isso se d por satisfeita quanto a suas exigncias: pois so
justas, mas no foram atendidas. Seu silncio s pela metade se deve
vitria [do adversrio] a outra metade deriva do tdio e da indife-
rena, resultantes de uma expectativa sem cessar estimulada, mas no
seguida pelo cumprimento das promessas.
15 No que diz respeito ao contedo, os outros recorrem a
um mtodo fcil demais para disporem de uma grande extenso.
Trazem para seu terreno material em quantidade, isto , tudo o
que j foi conhecido e classificado. Ocupam-se especialmente com
peculiaridades e curiosidades; do mostras de possuir tudo o mais,
cujo saber especializado j coisa adquirida, e tambm de domi-
nar o que ainda no foi classificado. Submetem tudo ideia abso-
luta, que desse modo parece ser reconhecida em tudo e desenvol-
vida numa cincia amplamente realizada.
43
Hegel_NM.pmd 43 21/10/2010, 09:22
Porm, examinando mais de perto esse desenvolvimento, salta
vista que no ocorreu porque uma s e a mesma coisa se tenha
modelado em diferentes figuras; ao contrrio, a repetio infor-
me do idntico, apenas aplicado de fora a materiais diversos, ob-
tendo assim uma aparncia tediosa de diversidade. Se o desenvol-
vimento no passa da repetio da mesma frmula, a ideia, em-
bora para si bem verdadeira, de fato fica sempre em seu comeo.
A forma, nica e imvel, adaptada pelo sujeito sabedor aos da-
dos presentes: o material mergulhado de fora nesse elemento
tranquilo. Isso porm e menos ainda fantasias arbitrrias sobre o
contedo no constitui o cumprimento do que se exige; a saber,
a riqueza que jorra de si mesma, a diferena das figuras que a si
mesmas se determinam. Trata-se antes de um formalismo de uma
s cor, que apenas atinge a diferena do contedo, e ainda assim
porque j o encontra pronto e conhecido.
16 Ainda mais: tal formalismo sustenta que essa monotonia e
universalidade abstrata so o absoluto; garante que o descontenta-
mento com essa universalidade incapacidade de galgar o ponto de
vista absoluto e de manter-se firme nele. Outrora, para refutar uma
representao, era suficiente a possibilidade vazia de representar-se
algo de outra maneira; ento essa simples possibilidade [ou] o pen-
samento universal tinha todo o valor positivo do conhecimento efe-
tivo. Agora, vemos tambm todo o valor atribudo ideia universal
nessa forma da inefetividade: assistimos dissoluo do que dife-
renciado e determinado, ou, antes, deparamos com um mtodo
especulativo onde vlido precipitar no abismo vazio o que dife-
rente e determinado, sem que isso seja consequncia do desenvolvi-
mento nem se justifique em si mesmo. Aqui, considerar um ser-a
qualquer, como no absoluto, no consiste em outra coisa seno em
dizer que dele se falou como se fosse um certo algo; mas que no
absoluto, no A = A, no h nada disso, pois l tudo uma coisa s.
ingenuidade de quem est no vazio de conhecimento pr esse
44
Hegel_NM.pmd 44 21/10/2010, 09:22
saber nico de que tudo igual no absoluto em oposio ao
conhecimento diferenciador e pleno (ou buscando a plenitude); ou
ento fazer de conta que seu absoluto a noite em que todos os
gatos so pardos, como se costuma dizer.
O formalismo, que a filosofia dos novos tempos denuncia e
despreza (mas que nela renasce), no desaparecer da cincia, em-
bora sua insuficincia seja bem conhecida e sentida, at que o co-
nhecer da efetividade absoluta se torne perfeitamente claro quanto
sua natureza.
Uma representao geral, vinda antes da tentativa de sua reali-
zao pormenorizada, pode servir para sua compreenso. Com
vistas a isso, parece til indicar aqui um esboo aproximado desse
desenvolvimento, tambm no intuito de descartar, na oportunida-
de, algumas formas, cuja utilizao constitui um obstculo ao co-
nhecimento filosfico.
17 Segundo minha concepo que s deve ser justificada pela
apresentao do prprio sistema , tudo decorre de entender e expri-
mir o verdadeiro no como substncia, mas tambm, precisamente,
como sujeito. Ao mesmo tempo, deve-se observar que a substancialidade
inclui em si no s o universal ou a imediatez do saber mesmo, mas
tambm aquela imediatez que o ser, ou a imediatez para o saber.
Se apreender Deus como substncia nica pareceu to revol-
tante para a poca em que tal determinao foi expressa, o motivo
disso residia em parte no instinto de que a a conscincia-de-si no
se mantinha: apenas soobrava. De outra parte, a posio contr-
ria, que mantm com firmeza o pensamento como pensamento, a
universalidade como tal, vem a dar na mesma simplicidade, quer
dizer, na mesma substancialidade imvel e indiferenciada. E se
numa terceira posio o pensar unifica consigo o ser da substn-
cia e compreende a imediatez e o intuir como pensar, o problema
saber se esse intuir intelectual no uma recada na simplicidade
inerte; se no apresenta, de maneira inefetiva, a efetividade mesma.
45
Hegel_NM.pmd 45 21/10/2010, 09:22
18 Alis, a substncia viva o ser, que na verdade sujeito, ou
o que significa o mesmo que na verdade efetivo, mas s medi-
da que o movimento de pr-se-a-si-mesmo, ou a mediao con-
sigo mesmo do tornar-se-outro. Como sujeito, a negatividade pura e
simples, e justamente por isso o fracionamento do simples ou a
duplicao oponente, que de novo a negao dessa diversidade
indiferente e de seu oposto. S essa igualdade reinstaurando-se, ou s a
reflexo em si mesmo no seu ser-Outro, que so o verdadeiro; e
no uma unidade originria enquanto tal, ou uma unidade imediata
enquanto tal. O verdadeiro o vir-a-ser de si mesmo, o crculo que
pressupe seu fim como sua meta, que o tem como princpio, e que
s efetivo mediante sua atualizao e seu fim.
19 Assim, a vida de Deus e o conhecimento divino bem que
podem exprimir-se como um jogo do amor consigo mesmo; mas
uma ideia que baixa ao nvel da edificao e at da insipidez
quando lhe falta o srio, a dor, a pacincia e o trabalho do negati-
vo. De certo, a vida de Deus , em si, tranquila igualdade e unidade
consigo mesma; no lida seriamente com o ser-Outro e a aliena-
o, nem tampouco com o superar dessa alienao. Mas esse em-si
[divino] a universalidade abstrata, que no leva em conta sua natu-
reza de ser-para-si e, portanto, o movimento da forma em geral.
Uma vez que foi enunciada a igualdade da forma com a essncia,
por isso mesmo um engano acreditar que o conhecimento pode
se contentar com o Em-si ou a essncia, e dispensar a forma
como se o princpio absoluto da intuio absoluta pudesse tornar
suprfluos a atualizao progressiva da essncia e o desenvolvimen-
to da forma. Justamente por ser a forma to essencial essncia
quanto esta essencial a si mesma, no se pode apreender e exprimir
a essncia como essncia apenas, isto , como substncia imediata
ou pura autointuio do divino. Deve exprimir-se igualmente como
forma e em toda a riqueza da forma desenvolvida, pois s assim a
essncia captada e expressa como algo efetivo.
46
Hegel_NM.pmd 46 21/10/2010, 09:22
20 O verdadeiro o todo. Mas o todo somente a essncia
que se implementa atravs de seu desenvolvimento. Sobre o absolu-
to, deve-se dizer que essencialmente resultado; que s no fim o que
na verdade. Sua natureza consiste justo nisso: em ser algo efetivo,
em ser sujeito ou vir-a-ser-de-si-mesmo. Embora parea contradi-
trio conceber o absoluto essencialmente como resultado, um pou-
co de reflexo basta para dissipar esse semblante de contradio. O
comeo, o princpio ou o absoluto como de incio se enuncia
imediatamente so apenas o universal. Se digo: todos os animais,
essas palavras no podem valer por uma zoologia. Do mesmo modo,
as palavras divino, absoluto, eterno etc. no exprimem o que
nelas se contm; de fato, tais palavras s exprimem a intuio
como algo imediato. A passagem que mais que uma palavra
dessas contm um tornar-se Outro que deve ser retomado, e uma
mediao; mesmo que seja apenas passagem a outra proposio.
Mas o que horroriza essa mediao: como se fazer uso dela fosse
abandonar o conhecimento absoluto a no ser para dizer que a
mediao no nada de absoluto e que no tem lugar no absoluto.
21 Na verdade, esse horror se origina da ignorncia a respei-
to da natureza da mediao e do prprio conhecimento absoluto.
Com efeito, a mediao no outra coisa seno a igualdade-con-
sigo-mesmo semovente, ou a reflexo sobre si mesmo, o mo-
mento do Eu para-si-essente, a negatividade pura ou reduzida
sua pura abstrao, o simples vir-a-ser. O Eu, ou o vir-a-ser em geral
esse mediatizar , justamente por causa de sua simplicidade, a
imediatez que vem-a-ser, e o imediato mesmo.
, portanto, um desconhecer da razo [o que se faz] quando a
reflexo excluda do verdadeiro e no compreendida como
um momento positivo do absoluto. a reflexo que faz do ver-
dadeiro um resultado, mas que ao mesmo tempo suprassume essa
oposio ao seu vir-a-ser; pois esse vir-a-ser igualmente simples,
e no difere por isso da forma do verdadeiro, [que consiste] em
47
Hegel_NM.pmd 47 21/10/2010, 09:22
mostrar-se como simples no resultado ou, melhor, que justa-
mente esse Ser-retornado simplicidade.
Se o embrio de fato homem em si, contudo no o para si.
Somente como razo cultivada e desenvolvida que se fez a si
mesma o que em si homem para si; s essa sua efetividade.
Porm esse resultado por sua vez imediatez simples, pois liber-
dade consciente-de-si que em si repousa, e que no deixou de lado
a oposio e ali a abandonou, mas se reconciliou com ela.
22 Pode exprimir-se tambm o acima exposto dizendo que
a razo o agir conforme a um fim. A forma do fim em geral foi
levada ao descrdito pela exaltao de uma pretendida natureza aci-
ma do pensamento mal compreendido , mas, sobretudo, pela
proscrio de toda a finalidade externa. Mas importa notar que como
Aristteles tambm determina a natureza como um agir conforme a
um fim o fim o imediato, o-que-est-em-repouso, o imvel que ele
mesmo motor, e que assim sujeito. Sua fora motriz, tomada abstrata-
mente, o ser-para-si ou a negatividade pura. Portanto, o resultado
somente o mesmo que o comeo, porque o comeo fim; ou, [por
outra], o efetivo s o mesmo que o seu conceito, porque o imedi-
ato como fim tem nele mesmo o Si ou a efetividade pura.
O fim implementado, ou o efetivo essente movimento e vir-
a-ser desenvolvido. Ora, essa inquietude justamente o Si; logo, o
Si igual quela imediatez e simplicidade do comeo, por ser o
resultado que a si mesmo retornou. Mas o que retornou a si o Si,
exatamente; e o Si igualdade e simplicidade, consigo mesmo
relacionadas. (Fenomenologia do esprito, I, pp. 26-32)
2. A meta da educao: fazer do homem um ser independente
A vontade no tem a ver com qualquer particularidade. En-
quanto a vontade estiver nesse caso arbtrio, pois este tem um
interesse limitado e tira as suas determinaes dos impulsos e ten-
dncias naturais. Semelhante contedo dado e no posto absoluta-
48
Hegel_NM.pmd 48 21/10/2010, 09:22
mente pela vontade. O princpio fundamental da vontade , pois,
que a sua liberdade tenha lugar e se mantenha. Sem dvida, ela exige,
alm disso, ainda outras determinaes. Tem ainda muitos fins de-
terminados, disposies, circunstncias etc.; estes, porm, no so
fins da vontade em si e para si, mas constituem fins porque so meios
e condies para a realizao da liberdade e da vontade, a qual faz
necessariamente disposies e leis para a limitao do arbtrio, das
inclinaes e do simples prazer, sobretudo dos impulsos e dos dese-
jos que se referem apenas a fins naturais; por exemplo, a educao tem
o fim de fazer do homem um ser independente, isto , dotado de
vontade livre. Com este propsito, impem-se s crianas muitas
limitaes do seu prazer. Devem aprender a obedecer para que seja
superada a sua vontade singular ou prpria, ademais, a tendncia
das inclinaes e dos desejos sensveis, e assim se liberte, portanto, a
sua vontade. (Propedutica Filosfica, p. 280)
3. Mudanas naturais: uma visada antropolgica83
3.1. As idades da vida em geral
O processo-de-desenvolvimento do indivduo humano natural
decompe-se em uma srie de processos, cuja diversidade se baseia
sobre a relao diversa do indivduo para com o gnero, e funda a
diferena da criana, do homem e do ancio. Essas diferenas so as
apresentaes das diferenas do conceito. Por isso a idade da infn-
cia o tempo da harmonia natural, da paz do sujeito consigo mes-
mo e com o mundo um comeo to sem-oposio quanto a
velhice um fim sem-oposio. As oposies que surgem, eventual-
mente, na infncia ficam sem interesse mais profundo. A criana
vive na inocncia, sem sofrimento durvel; no amor a seus pais, e no
sentimento de ser amado por eles. Deve ser suprassumida essa uni-
dade imediata portanto, no-espiritual, simplesmente natural do
indivduo com seu gnero e com o mundo em geral; preciso que
83
Os ttulos e interttulos das sees 3, 9, 10, 11, 13 e 14 so indicados pelo organizador.
49
Hegel_NM.pmd 49 21/10/2010, 09:22
o indivduo progrida a ponto de se contrapor ao universal, com a
Coisa essente-para-si, pronta e subsistente; e de aprender-se em sua
autonomia. (Enciclopdia, III, 396, Adendo, p. 73).
3.2. As idades da vida: determinao da diferena
Queremos agora determinar mais rigorosamente a diferena
indicada assim de modo geral, das idades-da-vida. A infncia, po-
demos por sua vez diferenci-la em trs, ou em quatro etapas se
quisermos trazer para o mbito de nosso exame a criana ainda
no nascida, idntica com sua me.
A criana no-nascida: um estado de vida vegetativa. A criana no-nasci-
da ainda no tem absolutamente nenhuma individualidade propria-
mente dita, nenhuma individualidade que se refira de maneira particu-
lar a objetos particulares, que recolha algo exterior em um determina-
do ponto do organismo. A vida da criana no-nascida equipara-se
vida da planta. Assim como a planta no tem nenhuma intussuscepo
com soluo de continuidade, mas uma nutrio de fluxo contnuo,
assim tambm a criana a princpio se alimenta por uma suco per-
manente e no possui ainda uma respirao que se interrompe.
Passagem da criana ao modo animal de vida. Quando a criana [sai]
desse estado vegetativo, em que se encontra no seio materno, [e]
posta no mundo, ela passa para o modo animal de vida. Por isso o
nascimento um salto colossal. A criana sai, pelo nascimento, de
um estado completamente sem oposio para entrar em um esta-
do de separao, na relao luz e ao ar, e em uma relao, que se
desenvolve sempre mais, objetividade singularizada em geral, e
especialmente alimentao singularizada. A primeira maneira como
a criana se constitui em um [ser] autnomo a respirao, o absor-
ver e o expulsar do ar, em um ponto singular de seu corpo inter-
rompendo o fluxo elementar. J logo depois do nascimento da
criana, mostra-se seu corpo quase perfeitamente organizado; o
que nela muda somente singular; assim, por exemplo, s mais
50
Hegel_NM.pmd 50 21/10/2010, 09:22
tarde se fecha o chamado foramen ovale. A mudana principal do
corpo da criana consiste no crescer. Quanto a essa mudana, temos
apenas de lembrar que na vida animal em geral em oposio
vida vegetal o crescimento no um ir-fora-de-si, um ser-
arrancadado-para-fora-de-si, um produzir de novas forma-
es, mas somente um desenvolvimento do organismo; e que pro-
duz uma diferena simplesmente quantitativa formal, que se refere
tanto ao grau da fora quanto extenso. [...]
Direito satisfao das necessidades. Aqui temos de ressaltar que no
homem o organismo animal atinge a sua forma mais perfeita. Nem
mesmo o animal mais perfeito pode mostrar esse corpo finamente
organizado, infinitamente flexvel, que percebemos j na criana
recm-nascida. Contudo a criana aparece inicialmente em uma
dependncia e carncia bem maior que os animais. No entanto,
revela-se tambm aqui sua natureza superior. Na criana, a necessi-
dade [Bedrfnis] se faz logo conhecer, rudemente, raivosamente,
imperiosamente. Enquanto o animal mudo, ou s exprime sua
dor por gemidos, a criana exterioriza suas necessidades por gritos.
Por essa atividade ideal, mostra-se a criana penetrada logo pela
certeza de que tem um direito a exigir do mundo externo a satisfa-
o de suas necessidades; e que a autonomia do mundo externo
diante do homem, nada .
Do desenvolvimento espiritual da criana. Quanto ao desenvolvimento
espiritual da criana nessa primeira fase de sua vida, pode-se dizer
que o homem nunca aprender mais do que nesse tempo. A criana
familiariza-se pouco a pouco com todas as especificaes do sens-
vel. Aqui, o mundo externo se lhe torna algo real. A criana progride
da sensao intuio. Inicialmente ela tem apenas uma sensao da
luz pela qual as coisas se tornam manifestas. Essa simples sensao
induz a criana a [querer] agarrar o que est longe como o que est
perto. Mas pelo sentido do tato a criana se orienta quanto s distn-
cias. Assim chega medida-a-olho; projeta, de modo geral, o exte-
51
Hegel_NM.pmd 51 21/10/2010, 09:22
rior para fora de si mesmo. Tambm nessa idade a criana aprende
que as coisas externas oferecem resistncia.
Contraste com o mundo externo. A passagem da idade da infncia
adolescncia deve-se situar no fato de que a atividade da criana se
desenvolve em contraste com o mundo externo, e que quando a
criana alcana o sentimento da efetividade do mundo externo
comea a tornar-se ela mesma um homem efetivo, e a sentir-se
como tal; mas assim passa tendncia prtica de pr-se prova
nessa efetividade. A criana se habilita para essa atividade prtica
porque ganha dentes, aprende a estar de p, a andar e a falar. A
primeira coisa que aqui se lhe deve ensinar o ficar de p. Isso
peculiar ao homem e s pode ser produzido por sua vontade: o
homem s fica de p quando o quer, ns camos no cho desde
que no queiramos ficar de p: o hbito de estar de p , pois, o
hbito da vontade de estar de p.
Apreenso da egoidade: os primeiros passos da autonomia ao brincar.
Uma relao ainda mais livre com o mundo externo, adquire-a o
homem por meio do andar; por ele, o homem elimina o fora-
um-do-outro do espao e d a si mesmo o seu lugar. Mas a
linguagem torna o homem capaz de apreender as coisas como
universais e de chegar conscincia de sua prpria universalidade,
enunciao do Eu. Esse apreender de sua egoidade [Ichtheit]
um ponto extremamente importante no desenvolvimento da cri-
ana: com esse ponto ela comea a sair de seu ser-submerso no
mundo externo para refletir-se sobre si mesma. Inicialmente, essa
autonomia incipiente se exterioriza no fato de que a criana apren-
de a brincar com as coisas sensveis. Contudo, a coisa mais racional
que as crianas podem fazer com seus brinquedos quebr-los.
Passagem do jogo aprendizagem e o movimento imanente da educao. Ao
passar a criana do jogo seriedade do aprender, torna-se um me-
nino [Knabe]. Nessa idade, os meninos comeam a tornar-se curio-
sos, sobretudo de histrias; o que lhes interessa so as representa-
52
Hegel_NM.pmd 52 21/10/2010, 09:22
es que se lhes oferecem imediatamente. Mas o principal aqui o
sentimento que neles desperta, de que ainda no so o que devem ser;
e o vivo desejo de tornar-se como so os adultos em cujo mbito
eles vivem. Da nasce a mania-de-imitar dos meninos. Enquanto o
sentimento da unidade imediata com os pais o leite materno espi-
ritual por cuja suco as crianas se desenvolvem, sua prpria neces-
sidade [Bedrfnis] de se tornarem grandes os educa84. Essa aspirao,
prpria das crianas, a serem educadas o movimento imanente de
toda a educao. Mas, como o menino se mantm ainda no ponto
de vista da imediatez, o [nvel] mais alto a que deve elevar-se no lhe
pertence ainda na forma da universalidade ou da Coisa, mas na
figura de um dado, de um singular, de uma autoridade. este e
aquele homem que forma o ideal que o adolescente se esfora por
conhecer e imitar: s concretamente, desse ponto de vista, o menino
intui a sua prpria essncia. O que o menino tem de aprender deve
pois lhe ser dado de autoridade e com autoridade; ele tem [o] senti-
mento de que esse dado algo superior relativamente a ele. Esse
sentimento h de ser fixado cuidadosamente na educao.
Crtica educao pelo jogo. Por isso deve-se declarar como um
completo absurdo a pedagogia do jogo, que pretende saber que o
que srio deve ser levado s crianas como um jogo, e exige dos
educadores que desam ao nvel da inteligncia infantil, em vez de a
elevar seriedade da Coisa. Essa educao pelo jogo pode ter sobre
toda a vida do menino a consequncia de que ele considere tudo
com esprito de desprezo. Tal resultado triste pode tambm ser pro-
vocado por uma incitao [feita] aos meninos para raciocinar, reco-
mendada constantemente por pedagogos insensatos; dessa maneira,
[o que] eles adquirem facilmente [] algo de petulante. Sem dvida,
o pensar prprio dos meninos deve ser despertado; mas no lcito
entregar a dignidade da Coisa a seu entendimento imaturo e frvolo.
84
Trocadilho em alemo: gro werden = ficar grande, groiehen = educar, criar (nota do
tradutor).
53
Hegel_NM.pmd 53 21/10/2010, 09:22
O combate da disciplina: contra os caprichos e o interesse egosta. No que
toca mais precisamente a um dos lados da educao disciplina
no se h de permitir ao adolescente abandonar-se a seu bel-prazer;
ele deve obedecer para aprender a mandar. A obedincia o come-
o de toda a sabedoria; pois, por ela, a vontade que ainda no co-
nhece o verdadeiro, o objetivo, e no faz deles o seu fim pelo que
ainda no verdadeiramente autnoma e livre, mas, antes, uma von-
tade despreparada faz que em si vigore a vontade racional que lhe
vem de fora, e que pouco a pouco esta se torne a sua vontade. Pelo
contrrio, se se permite aos meninos fazerem o que lhes apraz, co-
mete-se ainda por cima a tolice de lhes dar de bandeja razes para
seus caprichos, e assim se cai na pior maneira da educao; ento
nasce nos meninos a atividade lamentvel de alojar-se no bel-prazer
particular, na sagacidade esquisita, no interesse egosta [que so] a
raiz de todo o mal. Por natureza, o menino nem mau nem bom;
pois, para comear, nem tem conhecimento do bem nem do mal.
Ter essa inocncia ignorante por um ideal, e desejar voltar para ela,
seria idiota; ela sem valor e de curta durao. Logo se manifesta no
menino o capricho e o mal. O capricho deve ser quebrado pela
disciplina; por ela deve ser aniquilado esse grmen do mal.
Instruo: do sensvel s representaes do supra-sensvel. Quanto ao
outro lado da educao a instruo , h que notar que ela come-
a de modo racional pelo mais abstrato que possa ser captado
pelo esprito do menino. So isso as letras. Elas pressupem uma
abstrao qual povos inteiros, mesmo os chineses, por exemplo,
no chegaram. A linguagem, em geral, esse elemento areo, esse
sensvel no-sensvel, por cujo conhecimento progressivo o espri-
to do menino elevado sempre mais para alm do sensvel, do
singular ao universal, ao pensar. Contudo, o menino s chega at
o pensar representativo; o mundo somente para a sua representa-
o; aprende as naturezas constitutivas das coisas, familiariza-se
com as relaes do mundo natural e do mundo espiritual, interes-
54
Hegel_NM.pmd 54 21/10/2010, 09:22
sa-se pelas Coisas; mas todavia ainda no conhece o mundo em
sua conexo interior. S o homem chega a esse conhecimento.
Mas no se pode negar ao menino uma inteligncia imperfeita do
natural e do espiritual. Portanto, deve-se designar como um erro a
afirmao de que o menino nada absolutamente entenderia de
religio e de direito e por isso no h por que aborrec-lo com
esses assuntos; no se deve em geral impingir-lhe representaes,
mas proporcionar-lhe experincias prprias e contentar-se com
deix-lo estimular-se pelo sensivelmente presente. J a Antiguida-
de no permitia permanecerem longamente as crianas no sens-
vel; mas o esprito moderno contm ainda uma elevao total-
mente outra sobre o sensvel, um aprofundamento muito maior
em sua interioridade, do que [tinha] o esprito antigo. O mundo
supra-sensvel j deve, portanto, ser posto desde logo cedo ao
alcance da representao do menino. Isso acontece por meio da
escola em um grau muito mais amplo do que na famlia.
Da famlia escola: formando a passagem para a sociedade. A criana
valorizada na famlia em sua singularidade imediata: amada, quer
seu comportamento seja bom quer seja mau. Ao contrrio, na
escola a imediatez da criana perde sua validade, aqui a criana s
estimada enquanto tem valor, enquanto realiza algo; aqui no
simplesmente amada, mas criticada e orientada de acordo com
determinaes universais, segundo regras fixadas pelos objetos do
ensino, submetida, de modo geral, a uma ordem universal que
probe muita coisa [que ] em si inocente, porque no se pode
permitir que todos o faam. Assim a escola forma a passagem da
famlia sociedade civil. No entanto, o menino tem para com essa
[sociedade] somente uma relao indeterminada; sua ateno ain-
da se divide entre o aprender e o jogar.
Quando o menino se torna um jovem e o mundo parece fora dos eixos. O
menino torna-se um jovem quando na entrada da puberdade a vida
do gnero comea nele a movimentar-se e a lhe proporcionar satisfa-
55
Hegel_NM.pmd 55 21/10/2010, 09:22
o. O jovem se volta, de modo geral, para o Universal substancial;
seu ideal no lhe aparece mais, como aparecia criana, na pessoa de
um homem, mas apreendido por ele como um universal indepen-
dente de tal singularidade. Porm esse ideal tem ainda no jovem uma
figura mais ou menos subjetiva, que vive nele como ideal do amor e
da amizade, ou como ideal de um estado-do-mundo universal. Nessa
subjetividade do contedo substancial, situa-se no s sua oposio
ao mundo presente, mas tambm o esforo por suprassumir essa
oposio por meio da efetivao do ideal. O contedo do ideal in-
funde no jovem o sentimento da fora-de-agir; por isso o jovem se
julga chamado e apto a transformar o mundo, ou pelo menos
redirecionar o mundo que parece ter sado fora dos eixos.
Ideais de juventude e tentativas de efetivao. No enxergado pelo
esprito apaixonado do jovem que o Universal substancial, conti-
do em seu ideal, j tenha chegado quanto sua essncia a seu de-
senvolvimento e efetivao no mundo. A efetivao desse univer-
sal se lhe afigura [antes] uma queda universal do mesmo. Por isso
sente que no so reconhecidos pelo mundo tanto seu ideal como
sua personalidade prpria. Assim a paz em que a criana vivia
com o mundo rompida pelo jovem. Por causa dessa orientao
para o ideal, a juventude d a aparncia de um sentido mais nobre
e de um interesse maior do que se mostram no homem que cuida
de seus interesses particulares, temporais. Ao contrrio, no entanto,
deve ser notado que o homem no est mais preso a seus impul-
sos particulares e a suas vises subjetivas, nem preocupado so-
mente com seu desenvolvimento pessoal, mas est mergulhado na
razo da efetividade e se mostra ativo para o mundo. O jovem
chega necessariamente a esse termo. Seu fim imediato o de for-
mar-se para capacitar-se efetivao de seus ideais. Na tentativa
dessa efetivao, torna-se o homem [adulto].
Ingresso na vida prtica: da averso contra a efetividade ao reconhecimento
da autonomia do mundo. No comeo, a passagem de sua vida ideal
56
Hegel_NM.pmd 56 21/10/2010, 09:22
sociedade civil pode parecer ao jovem como uma dolorosa pas-
sagem vida de filisteu. At ento preocupado apenas com obje-
tivos universais, e trabalhando s para si mesmo, o jovem que se
torna homem deve, ao entrar na vida prtica, ser ativo para os
outros e ocupar-se com singularidades.
Ora, por mais que isso resida na natureza da Coisa j que, se
se deve agir, tem-se de avanar em direo ao singular , no come-
o a preocupao com singularidades pode ser muito penosa para
o homem, e a impossibilidade da efetivao imediata de seus ide-
ais pode faz-lo hipocondraco. Ningum pode escapar com faci-
lidade dessa hipocondria por invisvel que possa ser em muitos
[casos]. Quanto mais tarde o homem for acometido por ela, mais
graves seus sintomas. Nas naturezas fracas, a hipocondria pode
estender-se pela vida inteira. Nesse humor doentio, o homem no
quer renunciar sua subjetividade, no pode superar sua averso
contra a efetividade, e se encontra, justamente por isso, no estado
de incapacidade relativa, que facilmente se torna uma efetiva inca-
pacidade. Se, portanto, o homem no quer arruinar-se, deve reco-
nhecer o mundo como um mundo autnomo, concludo quanto ao
essencial; aceitar as condies que lhe so postas por ele e arrancar
de sua dureza o que quer ter para si mesmo. S por necessidade
[Notwendigkeit] o homem acredita prestar-se a essa obedincia, em
regra [geral]. Mas na verdade essa unidade com o mundo no deve
ser reconhecida como uma relao de necessidade [Notwendigkeit],
mas como a relao racional. O racional, o divino, possui o poder
de efetivar-se, e desde sempre se realizou: no importante que
primeiro tivesse de esperar pelo comeo de sua efetivao. O mun-
do essa efetivao da razo divina: apenas na sua superfcie reina o
jogo dos acasos sem-razo.
Espao para uma atividade honrosa, de largo alcance e criativa. Pode
portanto o mundo, pelo menos com tanto direito e, sem dvida,
com mais direito ainda que o indivduo que se torna um homem, ter
57
Hegel_NM.pmd 57 21/10/2010, 09:22
a pretenso de valer como [algo todo] pronto e autnomo; e o
homem, por isso, age de modo totalmente racional ao renunciar ao
plano de uma completa transformao do mundo; e ao esforar-se
por efetivar seus fins, paixes e interesses pessoais unicamente em
seu entrosamento com o mundo. Assim tambm lhe resta espao
para sua atividade honrosa, de largo alcance, e criativa. Com efeito,
embora o mundo deva ser reconhecido como j pronto no essenci-
al, no nada de morto, nada de absolutamente em repouso; mas,
como o processo vital, algo que sempre se produz de novo; algo
que, enquanto apenas se conserva, ao mesmo tempo progride. Nes-
sa conservadora produo e desenvolvimento do mundo consiste
o trabalho do homem. Podemos, pois, de um lado, dizer que o
homem s produz o que j existe. Por outro, contudo, necessrio
tambm que um progresso seja efetuado por sua atividade. Mas o
progredir do mundo s ocorre nas massas enormes, e s se faz
notar em uma grande soma de coisas produzidas.
O olhar retrospectivo do homem adulto. Se o homem, depois de um
trabalho de cinquenta anos, lana um olhar para trs sobre seu
passado, j reconhecer o progresso [feito]. Esse conhecimento,
assim como a inteligncia da racionalidade do mundo, liberta-o da
tristeza pela destruio de seus ideais. O que nesses ideais verdadei-
ro conserva-se na atividade prtica; s o no-verdadeiro, as abstra-
es vazias, [ que] o homem deve desgastar. O mbito e a espcie
de sua tarefa podem ser muitos diversos; mas o substancial o
mesmo em todas as tarefas humanas; a saber, o jurdico, o tico e
o religioso. Por isso, podem os homens encontrar em todas as
esferas de sua atividade prtica satisfao e honra, se eles em toda
a parte cumprem o que lhes exige na esfera particular a que perten-
cem por casualidade, por necessidade exterior, ou por livre esco-
lha. Por isso preciso, antes de todas as coisas, que a cultura do
jovem que se torna um homem seja implementada, e que tenha
concludo os estudos; e, em segundo lugar, que se decida a cuidar
58
Hegel_NM.pmd 58 21/10/2010, 09:22
ele mesmo de sua subsistncia, de modo que comece a tornar-se
ativo para com os outros. A simples cultura no faz dele ainda um
homem perfeitamente acabado; isso s vem a ser mediante o pr-
prio cuidado inteligente de seus interesses temporais; assim como
tambm os povos s aparecem na sua maioridade quando conse-
guiram no ser excludos de tomar conta de seus interesses mate-
riais e espirituais por um governo que se chama paternalista.
O homem adulto e totalmente vontade em sua profisso. Ora, quando o
homem passa para a vida prtica, pode certamente ficar triste e in-
dignado com a situao do mundo, e perder a esperana em sua
melhora; mas apesar disso ele se instala dentro de relaes objetivas,
e vive na familiaridade com elas e com suas tarefas. Os objetos com
que tem de se ocupar so, decerto, objetos singulares, mutveis; em
sua peculiaridade, mais ou menos novos. Mas ao mesmo tempo
essas singularidades tm em si um universal, uma regra, algo confor-
me sua lei. Ora, quanto mais tempo o homem ativo em sua
tarefa, tanto mais esse universal se lhe desprende de todas as particu-
laridades. Desse modo chega a estar totalmente vontade na sua
profisso, a se familiarizar completamente com sua determinao.
O essencial, em todos os objetos de sua tarefa, lhe ento totalmen-
te bvio; e s o individual, o inessencial pode por vezes conter algo
de novo para ele. Mas justamente porque sua atividade se tornou
to completamente ajustada sua tarefa, que j no encontra mais
resistncia alguma em seus objetos, justamente por esse perfeito ser-
formado de sua atividade, extingue-se sua vitalidade; pois, ao mes-
mo tempo, com a oposio do sujeito e do objeto desaparece o
interesse do primeiro pelo segundo. Assim, pela rotinizao da vida
espiritual, como tambm pelo embotamento da atividade de seu
organismo fsico, o homem se torna um ancio.
Vida e sabedoria do ancio. O ancio vive sem interesse determi-
nado, porque renunciou esperana de poder efetivar os ideais
antes cultivados, e o futuro no lhe parece prometer nada de novo,
59
Hegel_NM.pmd 59 21/10/2010, 09:22
[pois] ele acredita, antes, j conhecer o universal, o essencial, de
tudo o que eventualmente pode acontecer-lhe. Assim o sentido do
ancio est somente voltado para esse universal e para o passado
ao qual deve o conhecimento desse universal. Mas ao viver assim,
recordao do passado e do substancial, esquece o singular do
presente e do arbitrrio, por exemplo [esquece] os nomes, tanto
como, inversamente, fixa em seu esprito os sbios ensinamentos
da experincia e se tem por obrigado a fazer sermes aos mais
jovens. No entanto, essa sabedoria essa conscincia perfeita da
atividade subjetiva com o seu mundo conduz de volta infncia,
carente-de-oposies, no menos que a atividade de seu organis-
mo fsico, tornada rotina carente-de-processos, passa negao
abstrata da singularidade viva, passa morte.
Limites da visada antropolgica. Assim, o curso das idades da vida
humana se conclui em uma totalidade, determinada pelo conceito,
de mudanas que so produzidas pelo processo do gnero [em
relao] com a singularidade. Como na descrio da diversidade
das raas humanas, e na caracterizao do esprito nacional tambm
para poder falar de uma maneira determinada no curso das ida-
des da vida do indivduo humano , devemos antecipar o conheci-
mento do esprito concreto, que ainda no considerado na antro-
pologia, porque ele se insere naquele processo de desenvolvimento,
e fazer uso desse conhecimento para a diferenciao dos diversos
graus desse processo. (Enciclopdia, III, 396, Adendo, pp. 74-81).
3.3. As foras do hbito
O hbito como segunda natureza. As qualidades e mudanas natu-
rais da idade, do sono e da viglia so imediatamente naturais [...].
O hbito foi chamado, com razo, uma segunda natureza: nature-
za, porque um ser imediato da alma; uma segunda [natureza] por-
que uma imediatez posta pela alma, uma introjeo e uma pene-
trao da corporeidade, que pertence s determinaes-do-senti-
60
Hegel_NM.pmd 60 21/10/2010, 09:22
mento como tais, e s determinidades da representao enquanto
corporificadas. (Enciclopdia, III, 410, p. 169)
Libertao racional por meio do hbito. A determinao essencial a
libertao, que o homem por meio do hbito adquire, das sensaes
enquanto afetado por elas. As diferentes formas de hbito po-
dem ser determinadas assim. 1) A sensao imediata, enquanto ne-
gada, enquanto posta [como] indiferente. O endurecimento contra
sensaes exteriores (frio intenso, calor, fadiga dos membros etc.,
sabor agradvel etc.) assim como o endurecimento da alma diante
da desgraa so uma fora, [fazendo] que, enquanto o frio intenso,
a desgraa, so decerto sentidos pelo homem, tal impresso re-
baixada a uma exterioridade e imediatez: o ser universal da alma ali
se conserva enquanto abstrato para si mesmo, e o sentimento-de-
si como tal, a conscincia, reflexo, [qualquer] outro fim e ativida-
de, no esto mais mesclados com isso. 2) Indiferena para com a
satisfao: os desejos, os impulsos so embotados pelo hbito de
sua satisfao; esta libertao racional em relao a esse hbitos
[...]. 3) No hbito como habilidade, o ser abstrato da alma no deve
ser apenas sustentado por si mesmo, mas tambm fazer-se valer
como um fim subjetivo na corporeidade, que se lhe torne submis-
sa e totalmente permevel. (Enciclopdia, III, 410, pp. 169-170)
4. Luta e reconhecimento da autoconscincia85
18
A autoconscincia , primeiramente, sensvel e concreta e para si
e para uma outra conscincia como um tal objeto sensvel e concreto.
19
A autoconscincia tem um ser determinado em virtude de ser
reconhecida por uma outra autoconscincia. Mas, enquanto est
85
Nesta seo 4, a numerao dos pargrafos corresponde da Doutrina da conscincia
de 1808/1809, publicados em Propedutica filosfica, pp. 96-99.
61
Hegel_NM.pmd 61 21/10/2010, 09:22
imersa na matria concreta, no reconhecida como autoconscincia,
pois a sua essncia consiste em no ser diferente de si no seu distinto
ser determinado, ou em ser Eu livre como objeto.
20
O reconhecimento da autoconscincia consiste em que cada
um para o outro o mesmo que ele prprio , sabe ser o mesmo
para o outro e, assim, intui-se a si mesmo no que dele diferente.
21
A imediata comprovao e o reconhecimento da autocons-
cincia tem lugar graas ao combate de vida e morte em que cada
um se manifesta como livre da existncia sensvel e assim intui o
outro no como uma coisa existente, no como algo de estranho,
mas intui-se nele a si.
22
Esse natural reconhecer e ser-reconhecido, porm, imedia-
tamente evanescente, porque a prova, que eles a si proporcio-
nam da negatividade da existncia sensvel, que o Si-mesmo, s
se leva a cabo pela sua secesso e representa a liberdade quanto
ao ser determinado sensvel, no a liberdade do mesmo.
23
Cada qual , sem dvida, consciente de si, mas no do outro;
por isso, a sua prpria certeza de si no tem ainda verdade alguma;
com efeito, a sua verdade seria apenas que o seu prprio ser-para-
si se teria apresentado como objeto independente ou, o que o
mesmo, o objeto se teria apresentado como esta pura certeza de si
mesmo. Que cada um em si, por meio de sua ao prpria e, de
novo, por meio da ao do outro, leva a cabo a pura abstrao, o
ser-para-si ao do outro e risco da sua prpria vida. Devem
62
Hegel_NM.pmd 62 21/10/2010, 09:22
comprovar a certeza de si mesmos em si e nos outros. Cada um est
fora de si, deve superar o seu ser-fora-de-si, a outra conscincia
multimodamente confusa, o seu ser-outro enquanto pura negao.
26
Portanto, visto que o ser sensvel pertence ao mesmo tempo
essencialmente ao reconhecimento e se pe, antes de mais, a desi-
gualdade de que para uma autoconscincia a sua existncia sensvel
o essencial, para a outra, porm, o inessencial, surge assim da-
quela primeira conexo de duas autoconscincias a relao da do-
minao e da servido, em que reside o incio de uma libertao
do Si-mesmo da sua sensibilidade interna.
5. Dominao e servido86
27
O senhor intui no servo o seu prprio ser-para-si, mas no
inversamente; o servo tem em si a vontade do senhor e tem apenas
na coisa o objeto em que ele pode alcanar a intuio de si mesmo.
Porque o servo tem nele um ser-para-si estranho, como ser-
para-si atividade em geral, isto , um pr de si mesmo mediante a
superao objetal; mas porque um ser-para-si estranho, em parte
no so autodeterminaes ou os seus prprios fins que ele traz
existncia pela sua atividade, em parte so a produo de uma
vontade comum.
28
O senhor, a autoconscincia que no verificou em si a sua li-
berdade em relao existncia sensvel, mas apenas na oposio
ao outro, permanece uma vontade particular, confinada aos seus
fins sensveis. Intui a mesma ou o seu Si-mesmo no outro e por
86
Nesta seo 5, a numerao dos pargrafos corresponde da Doutrina da conscincia
de 1808/1809, publicados em Propedutica filosfica, pp. 99-100.
63
Hegel_NM.pmd 63 21/10/2010, 09:22
este reconhecido, mas no o reconhece; realizou-se uma vontade
comum, mas nenhuma vontade universal.
29
O servo tem nele um Si-mesmo estranho e a sua vontade
externa; o senhor religa-se com as coisas por meio desta sua
vontade externa. Enquanto vontade que para si, comporta-se
perante elas como desejo consumidor; o servo, porm, como
vontade que no para si, comporta-se pelo contrrio como
quem trabalha e d forma.
30
O trabalho, segundo uma vontade estranha, : a) abolio da
prpria particularidade da mesma; b) um processamento das coi-
sas ou uma tal referncia do Si-mesmo a elas, que se faz forma das
coisas, recebe a objectualidade das mesmas e proporciona a si
mesmo um tal ser determinado.
6. O esprito prtico87
173
O esprito prtico no tem apenas ideias, mas a prpria Ideia
viva. o esprito que se determina a partir de si mesmo e propor-
ciona realidade externa s suas determinaes. preciso distinguir
o eu enquanto se pe como objeto, como objetividade, s terica
e idealmente, e tambm como se pe prtica ou realmente.
180
As determinaes do esprito constituem as suas leis. Estas,
porm, no so determinaes externas ou naturais do mesmo; a
sua nica determinao, na qual se contm todas, a sua liberdade, que
87
Nesta seo 6, a numerao dos pargrafos corresponde da Enciclopdia filosfica
para a classe superior de 1808, publicados em Propedutica filosfica, pp. 72-77.
64
Hegel_NM.pmd 64 21/10/2010, 09:22
tanto a forma como contedo da sua lei, a qual pode ser jurdica,
moral ou poltica.
6.1. Direito
181
O esprito, como essncia livre, autoconsciente, o eu igual a si
mesmo, que na sua relao absolutamente negativa , em primeiro
lugar, eu exclusivo, singular essncia livre ou pessoa.
182
O direito a relao dos homens enquanto so pessoas abstra-
tas. Ilegal a ao pela qual o homem no respeitado como pes-
soa, ou que constitui uma interferncia na esfera da sua liberdade.
Esta relao, pois, segundo a sua determinao fundamental, de
natureza negativa e no pretende mostrar ao outro em rigor algo de
positivo, mas apenas deix-lo como pessoa.
186
A esfera da minha liberdade compreende a minha personalida-
de e a relao de uma coisa com a mesma; quando esta esfera
violada por outro, isso pode acontecer ou s no sentido de que esta
coisa, em virtude da qual a minha personalidade reconhecida, no
me pertence; ou ento no sentido de que ela prpria no reconhe-
cida, como acontece na ofensa mais violenta ao meu corpo e
minha vida.
187
Na minha personalidade, o outro ofende imediatamente a sua
prpria. Nisso no faz algo de simplesmente individual contra mim,
mas algo de universal. O que ele segundo o conceito fez contra si
mesmo deve trazer-se realidade efetiva. Enquanto tal acontece
por meio da prpria pessoa lesada, vingana; enquanto esta
65
Hegel_NM.pmd 65 21/10/2010, 09:22
levada a cabo por meio de uma vontade universal e em nome da
mesma, o castigo.
6.2. Moralidade
189
A moralidade encerra a proposio: no teu agir, considera-te
como essncia livre; ou acrescenta ao agir o momento da subjetivi-
dade, a saber, que 1) o subjetivo, enquanto disposio e inteno,
corresponde ao que em si mandamento, e que o que dever no
se faz por inclinao ou em virtude de qualquer dever heterogneo,
ou com vaidade de ser bom, mas por disposio de nimo, porque
dever; 2) ela concerne assim ao homem, segundo a sua particulari-
dade e no meramente negativa, como o direito. Uma essncia
livre pode apenas deixar-se andar, mas ao homem particular pode
demonstrar-se algo.
191
As relaes humanas necessrias de cada homem consigo mes-
mo consistem a) na autoconservao, pela qual o indivduo submete e
ajusta a si a natureza fsica externa; b) a partir de si enquanto sua
prpria natureza fsica deve criar a independncia da sua natureza
espiritual; c) deve submeter-se e ajustar-se sua essncia espiritual
universal: formao (Bildung) em geral.
192
A relao familiar a unidade natural dos indivduos. O vncu-
lo desta sociedade natural o amor e a confiana, o conhecimento
da unidade primordial e do agir no sentido da mesma. Segundo
sua determinao particular, cabem aos indivduos que constituem
essa sociedade direitos especiais; mas, se se afirmassem na forma
de direitos, romper-se-ia o vnculo moral desta sociedade, em que
cada um recebe essencialmente na disposio anmica do amor o
que em si lhe devido.
66
Hegel_NM.pmd 66 21/10/2010, 09:22
7. Deveres para consigo88
41
Adendo. O homem , por um lado, um ser natural. Como tal,
comporta-se segundo o arbtrio e o acaso, como um ser instvel,
subjetivo. No distingue o essencial do inessencial. Em segundo
lugar, um ser espiritual, racional. Nesta acepo, no por natureza
o que deve ser. O animal no precisa de cultura, pois por natureza
o que deve ser. unicamente um ser natural. O homem, porm,
deve levar consonncia os seus dois lados, harmonizar a sua sin-
gularidade com o seu lado racional, ou tornar predominante o lti-
mo. O homem, por exemplo, no tem formao quando se aban-
dona sua ira e age cegamente segundo a sua paixo, porque ento
considera um dano ou uma ofensa como uma ofensa infinita e
procura compens-la sem medida e fim, por meio de uma ofensa
a quem o ofendeu ou com outros objetos. No tem formao
quem afirma um interesse que no lhe diz respeito algum ou no qual
no pode influir com a sua atividade; porque racionalmente s pode
transformar-se em interesse prprio aquilo que se leva a cabo com
a prpria atividade. Alm disso, quando o homem se torna impa-
ciente perante os eventos do destino, faz do prprio interesse parti-
cular um afazer supremamente importante, como algo pelo qual os
homens e as circunstncias se deveriam regular.
42
Pertence cultura o sentido para o objetivo na sua liberdade. Con-
siste em que eu no busco no objeto o meu sujeito particular, mas
considero e trato os objetos como so em si e para si, na sua
peculiaridade livre, e me interesso por eles sem uma particular
utilidade. Semelhante interesse desinteressado reside no estudo das
cincias, sobretudo quando se cultivam por si mesmas. O desejo de
tirar utilidade dos objetos da natureza est ligado sua destruio.
88
Nesta seo 7, a numerao dos pargrafos corresponde da Doutrina do direito, dos
deveres e da religio de 1810, publicados em Propedutica filosfica, pp. 310-315.
67
Hegel_NM.pmd 67 21/10/2010, 09:22
Tambm o interesse pela beleza da arte desinteressado. Ela
representa as coisas na sua independncia viva e subtrai-lhes a mes-
quinhez e a perturbao, que elas sofrem nas circunstncias exteri-
ores. A ao objetiva consiste em que ela, 1) tambm segundo o
seu lado indiferente, tem a forma do universal, sem arbtrio, mau
humor e capricho, liberta do particular, etc.; 2) segundo o seu
lado interno, essencial, o objetivo, quando tem como seu fim a
prpria coisa verdadeira, sem interesse egosta.
43
A formao prtica implica que o homem, na satisfao das
necessidades e impulsos naturais, demonstra a circunspeco e a
moderao que reside nos limites da sua necessidade, a saber, da
autoconservao. Ele deve 1) estar fora do natural, ser dele liberto;
2) pelo contrrio, deve estar imerso na sua misso, o essencial; e,
portanto, 3) no confinar a satisfao do elemento natural apenas
aos limites da necessidade, mas ser tambm capaz de sacrificar a
deveres mais altos.
44
No tocante profisso determinada, que aparece como um des-
tino, necessrio em geral eliminar nela a forma de uma necessida-
de externa. Importa assumi-la com liberdade e com a mesma li-
berdade perseverar nela e lev-la realizao.
O homem, relativamente s circunstncias externas do destino e
de tudo o que ele em geral imediatamente , deve comportar-se de
modo a faz-lo seu, de maneira a tirar a forma de um ser determina-
do externo. No interessa em que estado externo o homem se en-
contra em virtude do destino, se ele autenticamente o que , ou seja, se
cumpre todos os aspectos de sua profisso. A vocao para um
estamento uma substncia multilateral. como que uma matria
ou elemento que se deve elaborar em todas as direes, e assim
68
Hegel_NM.pmd 68 21/10/2010, 09:22
nada em si tem de estranho, de esquivo e hostil. Ao faz-la para mim
totalidade minha, sou nela livre. O homem est sobretudo insatisfeito,
quando no realiza a sua vocao. Proporciona a si mesmo uma relao
que ele no possui verdadeiramente como sua. Ao mesmo tempo
pertence a esta condio. No se pode dela libertar. Vive e age, pois,
numa relao adversa consigo mesmo.
45
A vocao algo de universal e necessrio e constitui um certo
lado da convivncia humana. , portanto, uma parte de toda a obra
humana. Quando o homem tem uma vocao, ingressa na partici-
pao e na colaborao no universal. Torna-se deste modo algo
de objetivo. A profisso , sem dvida, uma esfera singular limita-
da, mas constitui no entanto um membro necessrio do todo e
tambm em si mesma, por seu turno, um todo. Se o homem deve
tornar-se algo, deve saber limitar-se, isto , fazer da sua profisso
uma coisa inteiramente sua. No ento para ele um limite. Ele ,
ento, uno consigo mesmo, com a sua exterioridade, com a sua
esfera. um universal, um todo. Quando o homem para si
transforma em fim algo de ftil, isto , de inessencial, de nulo, subjaz
a no o interesse numa coisa, mas na sua coisa. O ftil nada de
existente em si e para si, mas mantm-se apenas em virtude do
sujeito. O homem v-se a apenas a si mesmo; por exemplo, pode
haver uma futilidade moral, quando o homem em geral, no seu agir,
consciente da prpria excelncia e tem mais interesse em si do
que na coisa. O homem que cumpre fielmente afazeres meno-
res mostra-se capaz dos maiores, porque mostrou obedincia, uma
renncia aos seus desejos, inclinaes e imaginaes.
46
Mediante a cultura intelectual e moral, o homem obtm a ca-
pacidade de cumprir os deveres para com os outros, deveres que po-
69
Hegel_NM.pmd 69 21/10/2010, 09:22
dem chamar-se reais, ao passo que, pelo contrrio, os deveres que
se referem cultura so de natureza mais formal.
8. O sistema das carncias89
A economia como sistema de satisfao reciprocamente mediada das carnci-
as. H certas carncias universais como comer, beber, vestir-se etc. e
a maneira como elas so satisfeitas depende inteiramente de circuns-
tncias contingentes. O solo aqui ou l mais ou menos frtil, os
anos so diversos no seu rendimento, um homem diligente, outro
preguioso; mas este pulular de arbtrios engendra a partir de si de-
terminaes universais, e isto que aparentemente disperso e priva-
do de pensamento mantido por uma necessidade, que intervm
de si mesma. Descobrir a este elemento necessrio o objeto da
Economia Poltica, uma cincia que honra o pensamento, porque ela
encontra as leis para uma massa de contingncias. um espetculo
interessante observar como todas as conexes so, aqui, retroativas,
como as esferas particulares se agrupam, tm influncia sobre as
outras e delas experimentam o seu fomento ou o seu impedimento.
Este entrosamento, em que inicialmente no se acredita, porque tudo
parece entregue ao arbtrio da singularidade, especialmente notvel
e tem semelhana com o sistema planetrio, que ao olho sempre
mostra somente movimentos irregulares, mas cujas leis podem, con-
tudo, ser conhecidas. (Filosofia do direito, 189, Adendo, pp. 21-22)
8.1. As modalidades da carncia e da satisfao
A satisfao das carncias no homem e no animal. O animal um ser
particular, ele tem o seu instinto e os meios de satisfao delimita-
dos e inultrapassveis. H insetos que esto ligados a determinadas
89
Nesta seo 8, a numerao dos pargrafos e os interttulos correspondem traduo
de Marcos Lutz Mller de A sociedade civil-burguesa, segunda seo de A eticidade, de
Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, publicado pelo Departamento de Filosofia do
Instituto de Filosofia e Cincias Humanas da Unicamp, na coleo Textos Didticos, n.
21, maro de 1996.
70
Hegel_NM.pmd 70 21/10/2010, 09:22
plantas, outros animais que tm um crculo mais amplo, que po-
dem viver em climas diversos; mas sempre intervm algo restrito
face ao crculo que existe para o homem. A carncia de habitao
e vesturio, a necessidade de no deixar o alimento cru, mas de
torn-lo adequado a si e de destruir a sua naturalidade imediata,
faz com que a existncia no seja ao homem to cmoda quanto
ao animal e que, como esprito, ela tambm no lhe deva ser to
cmoda. O entendimento, que apreende as diferenas, introduz a
multiplicao nessas carncias, e, enquanto o gosto e a utilidade
tornam-se critrios de apreciao, as prprias carncias so, tam-
bm, por eles afetadas. No fim das contas, no tanto aquilo de
que se carece, mas a opinio que tem de ser satisfeita, e precisa-
mente ao cultivo formador que cabe decompor o concreto nas
suas particularizaes. Na multiplicao das carncias reside exata-
mente uma inibio do desejo, pois, quando os homens conso-
mem muitas coisas, o mpeto para uma delas, de que careciam,
no to forte, e isso um sinal de que a urgncia no to
imperiosa. (Filosofia do direito, 190, Adendo, pp. 22-23)
Diferenciao e refinamento dos bens. Aquilo que os ingleses cha-
mam comfortable algo inteiramente inesgotvel e que prossegue
ao infinito, pois cada conforto mostra novamente o seu descon-
forto, e essas inovaes no tm fim. Uma carncia , portanto,
produzida no tanto por aqueles que a tm de modo imediato,
quanto, muito mais, por aqueles que graas ao seu surgimento bus-
cam um lucro. (Filosofia do direito, 191, Adendo, p. 23)
O carter social das carncias, dos meios e modos da sua satisfao. As
carncias e os meios, como ser-a real, tornam-se um ser para ou-
tros, por cujas carncias e trabalho a satisfao est reciprocamente
condicionada. A abstrao, que se torna uma qualidade das carn-
cias e dos meios, torna-se, tambm, uma determinao da relao
recproca dos indivduos uns aos outros; essa universalidade como
ser reconhecido o momento que as converte, no seu isolamento e na
71
Hegel_NM.pmd 71 21/10/2010, 09:22
sua abstrao, em carncias, meios e maneiras de satisfao concretas,
enquanto sociais.
Adendo. pelo fato de eu ter de me orientar em funo do
outro que se introduz aqui a forma da universalidade. Adquiro
dos outros os meios da satisfao e tenho de aceitar, por conse-
guinte, a sua opinio. Ao mesmo tempo sou obrigado a produzir
os meios para a satisfao dos outros. Uma coisa remete outra e
se conecta com ela. Tudo o que particular torna-se nessa medida
algo social; na maneira de vestir, na hora de comer reside uma
certa convenincia, que se tem de aceitar, porque nessas coisas no
vale a pena querer mostrar a sua maneira de ver, mas nisso o mais
sensato proceder como os outros. (Filosofia do direito, 192, p. 24).
A moda e a exclusividade como causas de ulterior diferenciao. Esse
momento [da universalidade] torna-se, assim, uma determina-
o finalista particular para os meios e por si e para a sua posse,
assim como para a espcie e o modo de satisfao das carncias.
Ele contm, ademais, imediatamente, a exigncia da igualdade com
os outros neste campo; carecer dessa igualdade e tornar-se igual,
a imitao, por um lado, bem como carecer da particularidade, a
igualmente presente, de se fazer valer por uma distino, por
outro, tornam-se, eles prprios, uma fonte efetivamente real da
multiplicao das carncias e da sua expanso. (Filosofia do direito,
193, pp. 24-25)
8.2. As modalidades do trabalho
O trabalho como mediao entre as carncias e os meios da satisfao das
carncias. A mediao que consiste em preparar e obter para as carn-
cias particularizadas meios adequados, igualmente particularizados, o
trabalho, que especifica atravs dos mais variados processos o material
imediatamente fornecido pela natureza para os mltiplos fins. Este
dar forma confere, ento, ao meio o valor e a sua conformidade ao
fim, de sorte que o homem no seu consumo se relaciona precipuamente
72
Hegel_NM.pmd 72 21/10/2010, 09:22
a produes humanas, e o que ele consome so precisamente tais es-
foros. (Filosofia do direito, 196, pp. 26-27)
A formao terica e prtica pelo trabalho. Em contato com a
multiplicidade das determinaes e dos objetos que despertam
interesse desenvolve-se a formao terica, que no s uma
multiplicidade de representaes e conhecimentos, mas, tambm,
uma mobilidade e uma rapidez do representar e do passar de uma
representao a outra, o captar relaes intrincadas e universais
etc., a formao do entendimento em geral, por conseguinte,
tambm, a da linguagem. A formao prtica pelo trabalho consis-
te na carncia autogeradora da ocupao em geral e no hbito da
mesma, depois, na restrio do seu fazer, em parte segundo a natureza
do material, em parte, sobretudo, segundo o arbtrio dos outros, e
num hbito de atividade objetiva e de habilidades universalmente vli-
das, o qual se adquire por essa disciplina.
Adendo. O brbaro diferencia-se do homem cultivado por fi-
car ruminando s tontas no seu embotamento, pois a formao
prtica consiste, precisamente, no hbito e no carecer de uma ocu-
pao. O inbil produz sempre algo diferente do que ele quer,
porque ele no senhor do seu fazer, ao passo que pode ser cha-
mado hbil o trabalhador que produz a coisa como ela deve ser e
que no seu fazer subjetivo no encontra nada de esquivo face ao
fim. (Filosofia do direito, 197, p. 27)
A dependncia recproca dos homens na sociedade industrial determinada
pela diviso do trabalho. O universal e objetivo no trabalho reside,
porm, na abstrao, que efetua a especificao dos meios e das
carncias e, precisamente com isso, especifica a produo e pro-
duz a diviso dos trabalhos. Pela diviso tornar-se mais simples o tra-
balho do singular e graas a isso torna-se maior a sua habilidade
no trabalho abstrato bem como o conjunto das suas produes.
Ao mesmo tempo, essa abstrao da habilidade e do meio com-
pleta at torn-la uma necessidade total a dependncia e a relao rec-
73
Hegel_NM.pmd 73 21/10/2010, 09:22
proca entre homens em vista da satisfao das demais carncias. A
abstrao do produzir torna o trabalho, alm disso, sempre mais
mecnico e, com isso, ao fim, apto para que o homem dele se retire
e a mquina possa entrar em seu lugar. (Filosofia do direito, 198, p 28)
8.3. A riqueza patrimonial
A participao no produto social. Nessa dependncia e reciprocidade
do trabalho e da satisfao das carncias o egosmo subjetivo se inverte
na contribuio para a satisfao das carncias de todos os outros, na medi-
ao do particular pelo universal como movimento dialtico, de
modo que, ao mesmo tempo em que cada um adquire, produz e
frui por si, justamente com isso produz e adquire para a fruio dos
demais. Esta necessidade, que reside no omnmodo entrelaamento
da dependncia de todos, , doravante, para cada um a riqueza
patrimonial universal, permanente, que contm para cada um a possibili-
dade de nele participar pela sua formao e habilidade, a fim de
estar assegurado em sua subsistncia, assim como isso que foi
adquirido pela mediao do seu trabalho conserva e aumenta a ri-
queza patrimonial universal. (Filosofia do direito, 199, pp. 28-29)
A desigualdade social: capital e trabalho. Mas a possibilidade de parti-
cipao na riqueza patrimonial universal, a riqueza patrimonial par-
ticular, est condicionada, em parte por uma base [patrimonial] pr-
pria imediata (capital), em parte pela habilidade que, por sua vez,
est ela prpria condicionada novamente pela riqueza patrimonial
particular, em seguida, porm, pelas circunstncias contingentes,
cuja multiplicidade produz a diversidade no desenvolvimento das dis-
posies naturais, corporais, e espirituais, j por si desiguais uma
diversidade que, nesta esfera da particularidade, se salienta em
todas as direes e em todos os nveis e que, junto com a contin-
gncia e o arbtrio restantes, tem por consequncia necessria a
desigualdade da riqueza patrimonial e das habilidades dos indivduos.
(Filosofia do direito, 200, p. 29)
74
Hegel_NM.pmd 74 21/10/2010, 09:22
A luta pela existncia como resto do estado de natureza (hobbesiano) e a
exigncia (moral) de igualdade social. Contrapor o direito objetivo da
particularidade do esprito contido na Ideia, o qual na sociedade
civil-burguesa no s no suprime a desigualdade dos homens
posta pela natureza que o elemento da desigualdade , mas a
produz a partir do esprito e a eleva a uma desigualdade da habi-
lidade, da riqueza patrimonial e mesmo da formao intelectual e
moral, contrapor esse direito a exigncia de igualdade prprio
do entendimento vazio, que toma esse abstractum e esse dever-ser
seus pelo real e racional. Essa esfera da particularidade, que se
imagina ser o universal, guarda dentro de si nessa identidade so-
mente relativa com esse universal, tanto a particularidade natural,
quanto a particularidade arbitrria, por conseguinte, o resto do
estado de natureza. Alm disso, a razo imanente no sistema das
carncias e no seu movimento que articula esse sistema num todo
orgnico de diferenas. (Filosofia do direito, 200, pp. 29-30)
8.4. Os estamentos
Os estamentos como sistemas particulares de carncias e trabalhos. Os mei-
os infinitamente variados e o seu movimento de entrecruzamento
igualmente infinito na produo e na troca recproca renem-se graas
universalidade nsita no seu contedo e diferenciam-se em massas uni-
versais, de sorte que essa conexo toda se desenvolve resultando em
sistemas particulares de carncias, de meios e de trabalhos correspon-
dentes, de espcies e modos de satisfao e de formao terica e
prtica sistemas entre os quais os indivduos esto repartidos ,
em diferenas dos estamentos.
Adendo. A espcie e o modo de participao na riqueza
patrimonial universal deixado particularidade de cada indiv-
duo, mas a diversificao geral da sociedade civil-burguesa em
sistemas particulares algo necessrio. Se a primeira base do es-
tado a famlia, a segunda so os estamentos. Esta to impor-
75
Hegel_NM.pmd 75 21/10/2010, 09:22
tante, porque as pessoas privadas, embora egostas, tm a neces-
sidade de se voltarem para os outros. Aqui est, portanto, a raiz
graas qual o egosmo se liga ao universal, ao estado, cujo cui-
dado tem de ser o de que esta conexo seja slida e firme. (Filo-
sofia do direito, 201, p. 30)
O princpio da livre escolha da profisso. Por um lado, o estamento, como
particularidade que se tornou objetiva, divide-se, segundo o concei-
to em suas diferenas universais. Por outro lado, porm, a que
estamento particular o indivduo pertence, sobre isso tm influncia as
disposies naturais, o nascimento e as circunstncias, mas a deter-
minao ltima e essencial reside na opinio subjetiva e no arbtrio parti-
cular, que se d nessa esfera o seu direito, o seu mrito e a sua honra,
de modo que o que nela acontece por necessidade interna, ao mesmo
tempo mediado pelo arbtrio, e tem para a conscincia subjetiva a
figura de uma obra de sua vontade. (Filosofia do direito, 206, p. 34)
A livre escolha da profisso como princpio do mundo moderno. Tambm a
esse respeito se destaca a diferena entre vida poltica do Oriente e
do Ocidente, e entre o mundo antigo e o mundo moderno. A divi-
so do todo em estamentos se engendra no Oriente e no mundo
antigo, na verdade, objetivamente por si mesma, porque ela racional em
si; mas o princpio da particularidade subjetiva no contm a, simul-
taneamente, o seu direito, j que, por exemplo, a repartio dos indi-
vduos em estados est entregue aos governantes, como no estado
platnico (De Republica III [415], p. 320, ed. Bip. T. VI), ou ao mero
nascimento, como nas castas hindus. Dessa maneira, no sendo assu-
mida na organizao do todo e no sendo reconciliada nele, a parti-
cularidade subjetiva, porque ela igualmente sobressai como momento
essencial, como algo hostil, mostra-se, por essa razo, como corrupo
da ordem social, seja subvertendo-a, como [ocorreu] nos estados
gregos e na repblica romana, seja, se essa ordem se mantm por
deter o poder ou, porventura, pela autoridade religiosa, como
corrupo interna ou completa degradao, tal como foi o caso, de
76
Hegel_NM.pmd 76 21/10/2010, 09:22
certa maneira, dos Lacedemnios, e, agora, o , da maneira mais com-
pleta, dos hindus. (Filosofia do direito, 206, pp. 34-35)
A liberdade na sociedade civil-burguesa. Mantida, porm, pela ordem
objetiva, em conformidade com ela e, ao mesmo tempo, no seu
direito, a particularidade subjetiva torna-se o princpio de toda a
animao da sociedade civil-burguesa, do desenvolvimento da ativi-
dade pensante, do mrito e da honra. O reconhecimento e o direito
de que aquilo que na sociedade civil-burguesa e no estado necess-
rio pela razo simultaneamente acontea pela mediao do arbtrio
uma determinao mais precisa daquilo que, nomeadamente na re-
presentao geral, chama-se liberdade. (Filosofia do direito, 206, p. 35)
A retido e a honra ligadas ao estamento: a realizao efetiva da moralidade
abstrata. O indivduo se d realidade objetiva somente entrando no
ser-a em geral, por conseguinte, na particularidade determinada, e com
isso, restringindo-se exclusivamente a uma das esferas particulares da
carncia. A disposio de esprito tica nesse sistema , por isso, a
retido e a honra ligada ao estamento, fazer de si e por determinao
prpria, por sua atividade, diligncia e habilidade, membro de um
dos momentos da sociedade civil-burguesa e manter-se como tal e
prover para si somente por essa mediao com o universal, assim
como ser reconhecido na sua representao e na representao dos
outros somente por essa mediao. A moralidade tem a sua posio
prpria nessa esfera em que dominam a reflexo sobre o seu fazer,
o fim das carncias particulares e do bem-prprio e em que a con-
tingncia na satisfao dessas carncias torna dever uma ajuda tam-
bm contingente e singular. (Filosofia do direito, 207, p. 36)
A necessidade de restringir-se. O fato de o indivduo recalcitrar
num primeiro momento (isto , particularmente na juventude)
contra a representao de ter de decidir-se por um estamento par-
ticular, e encarar isso como uma restrio da sua determinao
universal e como uma necessidade meramente exterior, repousa
sobre o pensamento abstrato, que se detm no universal e, por
77
Hegel_NM.pmd 77 21/10/2010, 09:22
isso, no inefetivo e no reconhece que o conceito em geral, para ser-
a, entra na diferena entre o conceito e a sua realidade e, portanto,
na determinidade e na particularidade, e que s com isso o indiv-
duo pode ganhar realidade efetiva e objetividade tica.
Adendo. Quando dizemos que o homem tem de ser alguma
coisa, entendemos que ele deve pertencer a um estamento determi-
nado; pois essa alguma coisa quer dizer que ele, ento algo de
substancial. Um homem sem estamento uma mera pessoa priva-
da e no est numa universalidade efetivamente real. Por outro
lado, o singular na sua particularidade pode tomar-se pelo univer-
sal e presumir erradamente, que se ele se inserisse num estamento,
ele se entregaria ao inferior. Essa a falsa representao, segundo a
qual, quando algo obtm um ser-a que lhe necessrio, graas a
isso se restringe e abdica de si. (Filosofia do direito, 207, pp. 36-37).
9. Estado
9.1. Na filosofia do direito
O estado como o verdadeiro fundamento da famlia e da sociedade civil-
burguesa. A cidade e o campo aquela, a sede da industriosidade
burguesa, da reflexo que se absorve e consuma dentro de si e que
se singulariza, este, a sede da eticidade que assenta na natureza , os
indivduos que medeiam a sua autoconservao na relao s ou-
tras pessoas jurdicas e a famlia constituem os dois momentos, em
princpio ainda ideais, a partir dos quais procede como o ser verda-
deiro fundamento o estado. (Filosofia do direito, 256, p. 86)
A demonstrao cientfica do estado. Esse desenvolvimento da
eticidade imediata atravs da ciso da sociedade civil-burguesa at
o estado, que se mostra como o verdadeiro fundamento de ambas
e que somente esse desenvolvimento, a demonstrao cientfica
do conceito do estado. (Filosofia do direito, 256, p. 86)
O estado como o que na realidade efetiva primeiro. Porque no anda-
mento do conceito cientfico do estado aparece como resultado,
78
Hegel_NM.pmd 78 21/10/2010, 09:22
ao demonstrar-se como o verdadeiro fundamento, segue-se que essa
mediao [atravs da sociedade civil-burguesa] e essa aparncia [do
estado como resultado] igualmente se suprimem e erguem imediatez.
Por isso, na realidade efetiva, o estado em geral , muito mais, o
que primeiro, sendo que somente no seu interior a famlia, pela
primeira vez, plenamente se forma e transforma em sociedade
civil-burguesa, e a prpria Ideia do estado que se divide nesses
momentos; no desenvolvimento da sociedade civil-burguesa a
substncia tica adquire a sua forma infinita, que contm dentro
de si os dois momentos seguintes: 1) o da diferenciao infinita at
o ser-dentro-de-si sendo-por-si-mesmo da autoconscincia; e 2) o
da forma da universalidade, que est no cultivo, a forma do pen-
samento, pelo que o esprito, em leis e instituies, a sua vontade pensada,
torna-se objetivo e efetivamente real como totalidade orgnica.
(Filosofia do direito, 256, pp. 86-87)
9.2. Na enciclopdia das cincias filosficas
535
O estado a substncia tica consciente-de-si, a unio dos princ-
pios da famlia e da sociedade civil; a mesma unidade que na fam-
lia est como sentimento do amor sua essncia; mas que, ao
mesmo tempo, mediante o segundo princpio, do querer que-sabe
e por si mesmo atua, recebe a forma de universalidade [que ] sabida;
esta, como suas determinaes que se desenvolvem no saber, tem,
para o contedo e fim absoluto, a subjetividade que-sabe, isto ,
quer para si mesma esse racional.
536
O estado 1) primeiro, sua configurao interior enquanto
desenvolvimento que se refere a si mesmo: o Direito poltico inter-
no, ou a Constituio; 2) [um] indivduo particular, e assim em
relao com outros indivduos particulares, o direito poltico exter-
79
Hegel_NM.pmd 79 21/10/2010, 09:22
no; 3) mas esses indivduos particulares so apenas momentos no
desenvolvimento da ideia universal do esprito em sua efetividade:
[] a histria mundial.
1) Direito poltico interno
539
Adendo. Liberdade e igualdade so as categorias simples nas quais
com frequncia se resumiu o que deveria constituir a determina-
o fundamental, o fim ltimo e o resultado da Constituio. Tan-
to isso verdade, tanto mais h o defeito de serem essas determi-
naes, antes de tudo, totalmente abstratas: fixadas nessa forma da
abstrao, so elas que no deixam de realizar-se ou que estorvam
o concreto, isto , uma Constituio ou governo em geral. Com o
estado, entra em cena [a] desigualdade: a diferena entre poderes
governantes e os governados, as autoridades, as magistraturas, pre-
sidncias etc. o princpio consequente da igualdade rejeita todas as
diferenas, e assim no deixa subsistir nenhuma espcie de
ordenamento estatal. Essas determinaes, sem dvida, so as bases
dessa esfera; mas, enquanto so as mais abstratas, so tambm as
mais superficiais, e justamente por isso, facilmente, as determina-
es mais correntes: interessa, pois, consider-las ainda um pouco
mais de perto. Antes de tudo, no que toca igualdade, a proposio
corrente de que todos os homens so iguais por natureza encerra o
mal-entendido de confundir o natural com o conceito; deve-se
dizer que por natureza os homens so, antes, somente desiguais. Mas
o conceito da liberdade como inicialmente, sem outra determina-
o ou desenvolvimento, existe enquanto tal a subjetividade
abstrata, como pessoa que capaz de propriedade; essa nica deter-
minao abstrata da personalidade constitui a igualdade efetiva dos
homens. Mas que essa igualdade esteja presente, que seja o homem
e no somente alguns homens como na Grcia, Roma etc. , que se
reconhea como pessoa, e faa valer legalmente, eis algo que to
80
Hegel_NM.pmd 80 21/10/2010, 09:22
pouco de natureza, que antes s produto e resultado da conscin-
cia e da universalidade e avano cultural dessa conscincia. Que os
cidados so iguais perante a lei [isto] encerra uma alta verdade;
mas que, assim expressa, uma tautologia; pois por ela s se ex-
prime o estado legal em geral: que as leis imperam. Mas, no que diz
respeito ao concreto, os cidados, fora da personalidade, s so
iguais diante da lei no que, alis, so iguais fora da lei. Somente a
igualdade, presente alis casualmente, de qualquer maneira que seja, da
riqueza, da idade, da fora fsica, do talento, da habilidade etc., ou
ainda dos crimes etc., pode e deve, no concreto, fazer capaz de
um igual tratamento perante a lei, com referncia aos impostos,
deveres militares, acesso aos empregos pblicos etc., sano pe-
nal etc. As leis mesmas, exceto no que concerne quele estreito
crculo da personalidade, pressupem situaes desiguais, e deter-
minam as competncias e os direitos desiguais que da resultam.
No que toca liberdade, ela tomada mais precisamente, de
um lado, no sentido negativo em oposio ao arbtrio alheio e ao
tratamento fora-de-lei; de outro lado, no sentido afirmativo da li-
berdade subjetiva. Mas dada uma grande latitude a essa liberdade,
tanto para o prprio arbtrio e atividade em vista a seus fins parti-
culares, quanto no que se refere reivindicao do discernimento
prprio, e da operosidade e participao nos negcios universais.
Outrora, os direitos legalmente determinados, tanto privados como
pblicos, de uma nao, cidade etc., chamavam-se suas liberda-
des. De fato, toda lei verdadeira uma liberdade, pois ela contm
uma determinao racional do esprito objetivo; portanto, um
contedo da liberdade. Ao contrrio, nada se tornou mais corren-
te do que a representao de que cada um deveria limitar sua liber-
dade em relao liberdade dos outros; e de que o estado seria a
condio dessa limitao recproca, e as leis seriam as limitaes.
Em tais representaes, a liberdade s apreendida como bel-
prazer e arbtrio contingentes.
81
Hegel_NM.pmd 81 21/10/2010, 09:22
Foi tambm dito que os povos modernos s eram capazes da
igualdade, ou que eram mais capazes dela que da liberdade, e isso, na
verdade, por nenhuma outra razo a no ser porque, tratando-se de
uma determinao admitida da liberdade (principalmente da parti-
cipao de todos nos negcios e aes do estado), no se poderia
contudo consegui-la na efetividade, enquanto ela mais racional e
ao mesmo tempo mais poderosa que as pressuposies abstratas.
preciso dizer, ao contrrio, que justamente o mais alto desenvol-
vimento e aprimoramento dos estados modernos produz na
efetividade a suprema desigualdade concreta dos indivduos; e, em
contrapartida, por meio da racionalidade mais profunda das leis e
da consolidao da legalidade, realiza uma liberdade tanto maior e
mais fundamentada, e pode permiti-la e toler-la. J a diferenciao
superficial que reside nas palavras liberdade e igualdade sugere
que a primeira tende desigualdade; mas, inversamente, os concei-
tos correntes da liberdade contudo s reconduzem igualdade.
Porm, quanto mais ganha firmeza a liberdade, como segurana da
propriedade, como possibilidade de desenvolver e de fazer valer
seus talentos e boas qualidades pessoais etc., tanto mais ela aparece
como algo que se entende por si mesmo; a conscincia e a apreciao da
liberdade voltam-se ento, sobretudo, para o seu sentido subjetivo.
No entanto, a liberdade da atividade que se tenta por todos os la-
dos, que se distribui a seu bel-prazer entre interesses espirituais uni-
versais e pessoais, a independncia da particularidade individual e
tambm a liberdade interior em que o sujeito tem princpios,
discernimento e convico prprios, e por isso obtm autonomia
moral essa mesma liberdade encerra, de um lado para si, o extre-
mo aprimoramento da particularidade daquilo em que os homens
so desiguais, e se tornam mais desiguais ainda por essa formao;
por outra parte, [essa liberdade subjetiva] somente cresce sob a con-
dio daquela liberdade objetiva e s existe e pode crescer at essa
altura nos estados modernos. Se com esse aprimoramento da parti-
82
Hegel_NM.pmd 82 21/10/2010, 09:22
cularidade, a multido das necessidades e a dificuldade de satisfaz-
las, o raciocinar e o saber-mais e sua vaidade insatisfeita, crescem de
modo indefinvel, isso pertence particularidade abandonada [a si
mesma], e fica a seu critrio engendrar em sua esfera todas as com-
binaes possveis e acomodar-se com elas. Na verdade, essa esfera
ento, ao mesmo tempo, o campo das limitaes, porque a liber-
dade est presa na naturalidade, no bel-prazer e no arbtrio, e assim
tem de se limitar; e isso tambm segundo a naturalidade, o bel-
prazer e o arbtrio dos outros, mas, principalmente e essencialmente,
segundo a liberdade racional.
Mas no que concerne liberdade poltica quer dizer, no senti-
do de uma participao formal, por parte da vontade e da
operosidade tambm daqueles indivduos que fazem dos fins e
negcios particulares da sociedade civil sua destinao principal,
nos assuntos pblicos do estado tornou-se, em parte, usual no-
mear Constituio somente o lado do estado que concerne a uma
tal participao daqueles indivduos nos assuntos universais, e con-
siderar um estado em que isso no ocorre formalmente, como
um estado sem Constituio. Quanto a essa significao, deve-se
antes de tudo dizer somente que por Constituio deve-se enten-
der a determinao dos direitos, isto , das liberdades em geral, e a
organizao de sua efetivao; e que a liberdade poltica s pode,
em todo caso, formar uma parte dela.
541
A totalidade viva, a conservao, isto , a produo constante
do estado em geral e de sua Constituio, o Governo. A organiza-
o necessria naturalmente o nascimento da famlia e dos estamentos
da sociedade civil. O governo a parte universal da Constituio,
isto , a parte que tem por fim intencional a conservao dessas
partes, mas ao mesmo tempo apreende e pe em atividade os fins
universais do todo, que esto acima da determinao da famlia e
83
Hegel_NM.pmd 83 21/10/2010, 09:22
a da sociedade civil. A organizao do Governo igualmente sua
diferenciao em poderes, tais como suas peculiaridades so de-
terminadas pelo conceito, mas que se compenetram, na subjetivi-
dade do conceito, em uma unidade efetiva.
Adendo. Como as categorias do conceito que primeiro [se apre-
sentam] so as da universalidade e da singularidade, e sua relao a da
subsuno da singularidade sob a universalidade, assim aconteceu
que no estado, poder legislativo e poder executivo tenham sido dife-
renciados, mas de tal modo que o poder legislativo existisse para si
como absolutamente supremo, e o poder executivo, por sua vez,
se dividisse em poder governamental ou administrativo, e em poder
judicirio, conforme a aplicao das leis [se fizesse] em assuntos
universais ou em assuntos privados. Considerou-se como relao
essencial a diviso desses poderes no sentido de sua independncia
recproca na existncia, porm com a conexo mencionada da
subsuno dos poderes do singular sob o poder do universal. No
se pode desconhecer, nessas determinaes, os elementos do con-
ceito; mas eles esto ligados pelo entendimento em uma relao
irracional em lugar do concluir-se-consigo-mesmo do esprito
vivo. Que os assuntos dos interesses universais do estado em sua
diferena necessria, tambm se organizem separados uns dos outros,
tal diviso um momento absoluto da profundeza e da efetividade
da liberdade; pois ela s tem profundez na medida em que desen-
volveu suas diferenas e chegou sua existncia. Mas fazer da fun-
o legislativa (e ainda mais com a representao de que um certo
momento seriam a fazer primeiro uma Constituio e leis funda-
mentais, em uma situao em que se coloca um desenvolvimento
j presente nas diferenas) um poder autnomo e na verdade o
primeiro poder com a determinao mais estrita de que todos
participem dele, e fazer o governo dependente do mesmo, sim-
plesmente executante, isso pressupe a falta do conhecimento de
que a ideia verdadeira, e por isso a efetividade viva e espiritual o
84
Hegel_NM.pmd 84 21/10/2010, 09:22
conceito concluindo-se consigo mesmo, e assim, e a subjetividade
que nela contm a universalidade como apenas um de seus mo-
mentos. A individualidade a primeira e a suprema determinao que-
prevalece na organizao do estado. S pelo poder governamental e
porque em si abarca as funes particulares, a que tambm perten-
ce a funo, que ela mesma particular, para si abstrata, da legisla-
o, [ que] o estado uno. To essencial quanto verdadeira, em
toda a parte e unicamente, a relao racional do lgico ante a
relao exterior do entendimento, que s chega ao subsumir do
singular e do universal sob o particular. O que desorganiza a uni-
dade do lgico, racional, desorganiza tambm a efetividade.
542
Adendo. A reunio de todos os poderes estatais concretos em
uma s existncia como no estado patriarcal; ou, como na Consti-
tuio democrtica, da participao de todos em todos os assun-
tos, contradiz, para si, o princpio da diviso dos poderes, isto , a
liberdade desenvolvida dos momentos da ideia. Mas, igualmente,
a diviso dos momentos, seu aprimoramento prosseguido at a
totalidade livre, devem ser reconduzidos a uma unidade ideal, isto ,
subjetividade. A diferenciao cultivada, a realizao da ideia, con-
tm essencialmente que essa subjetividade seja desenvolvida em
existncia efetiva como momento real, e essa efetividade unicamente
[a] individualidade do monarca, a subjetividade, presente em uma
s pessoa do decidir ltimo, abstrato. A todas aquelas formas de
um querer coletivo, que deve provir, e ser computado da atomstica
das vontades singulares, democraticamente ou aristocraticamente,
adere a inefetividade de algo abstrato. O que s importa so as duas
determinaes necessidade de um momento-do-Conceito e a forma
de sua efetividade. Verdadeiramente, s a natureza do conceito
especulativo pode fazer-se entender a respeito disso. Aquela subje-
tividade, enquanto o momento do decidir abstrato em geral, de
85
Hegel_NM.pmd 85 21/10/2010, 09:22
um lado, avana at a determinao de que o nome do monarca
aparea como o lao exterior e a sano sob que em geral tudo se
faz no governo; de outro lado, j que tem nela, enquanto relao
simples a si, a determinao da imediatez e, por isso, da natureza,
assim a determinao dos indivduos para a dignidade do poder
principesco fixada pela hereditariedade.
543
No poder governamental particular, por uma parte se eviden-
ciam a diviso da funo estatal em seus ramos alis determinados
o poder legislativo, a administrao da justia ou o judicirio, o
poder administrativo e de polcia etc.; e com isso, a repartio desses
poderes em autoridades particulares que, destinadas nas leis para
suas funes, para isso e por isso tanto possuem independncia de
sua atuao, quanto ao mesmo tempo esto sob fiscalizao supe-
rior; por outra parte, entra em cena com a participao de muitos
na funo estatal: esses, em conjunto, constituem o estamento uni-
versal, na medida em que fazem que a determinao essencial de
sua vida particular seja uma ocupao com os fins universais, da
qual, para se poder participar individualmente, a outra condio
a preparao e a habilidade.
544
A autoridade estamental imposta em uma participao de to-
dos os que pertencem sociedade civil em geral, e nessa medida
so pessoas privadas, no poder governamental, e na verdade na
legislao, isto : no universal dos interesses que no concernem ao
intervir e ao atuar do estado enquanto indivduo (como a guerra e
a paz) e por isso no pertencem exclusivamente natureza do
poder do prncipe. Em virtude dessa participao, a liberdade e a
imaginao subjetivas, e sua opinio universal, mostram-se em uma
eficincia existente e gozam da satisfao de valer alguma coisa.
86
Hegel_NM.pmd 86 21/10/2010, 09:22
Adendo. A classificao das constituies em democracia, aristo-
cracia, monarquia indica ainda sempre, da maneira mais determina-
da, sua diferena em relao ao poder do estado. Devem ao mes-
mo tempo ser vistas como configuraes necessrias
545
O estado tem o lado, enfim, de ser a efetividade imediata de um
povo singular e naturalmente determinado. Enquanto ele indivduo
singular, ele exclusivo em relao aos outros indivduos da mesma
espcie. No seu relacionamento, de uns com os outros, tem lugar o
arbitrrio e a contingncia, porque o universal do direito, em razo da
totalidade autnoma dessas pessoas, somente deve ser entre elas, no
efetivo. Essa independncia faz do conflito entre elas uma relao de
violncia, um estado de guerra, para o qual a situao universal se
determina em vista do fim particular da conservao da autonomia
do estado perante os outros, em um estado de bravura.
546
Essa situao mostra a substncia do estado, em sua indivi-
dualidade que avana rumo negatividade abstrata, como a po-
tncia em que a autonomia particular dos Singulares e a situao
de seu ser-imerso no ser-a exterior da posse, e na vida natural, se
sente como algo nulo. A substncia do estado mediatiza a conser-
vao da substncia universal pelo sacrifcio (que ocorre em sua
disposio) desse ser-a natural e particular [sacrifcio que consis-
te] em tornar vo o que vo.
2) O direito poltico externo
547
Pelo estado de guerra, pe-se em jogo a autonomia dos esta-
dos, e segundo um lado se efetua o reconhecimento recproco das
livres individualidades dos povos, e pelos acordos de paz, que devem
durar eternamente, fixam-se tanto esse reconhecimento universal,
87
Hegel_NM.pmd 87 21/10/2010, 09:22
quanto as autorizaes particulares que os povos se do uns aos
outros. O direito poltico externo repousa, de uma parte, nesses trata-
dos positivos, mas nessa medida contm s direitos a que falta
verdadeira efetividade; de outra parte, [repousa] sobre o que se
chama direito das gentes, cujo princpio universal o ser-reconhecido
pressuposto dos estados, e portanto limita suas aes que de
outro modo seriam ilimitadas umas em relao s outras, de
forma que fique a possibilidade da paz; [direito] que tambm dis-
tingue do estado os indivduos enquanto pessoas privadas, e que
de modo geral repousa nos costumes [ethos].
3) A histria mundial
548
O Esprito-do-povo, determinado, porque efetivo, e [porque]
sua liberdade enquanto natureza, tem segundo esse lado natural o
momento de uma determinidade geogrfica e climtica. Ele est no
tempo e segundo o contedo tem essencialmente um princpio parti-
cular, assim como tem de percorrer um desenvolvimento, por isso
determinado, de sua conscincia e de sua efetividade: tem uma hist-
ria no interior de si. Enquanto esprito limitado, sua autonomia
algo subordinado; ele passa para a histria mundial universal, cujos
acontecimentos so representados pela dialtica dos espritos parti-
culares dos povos, pelo tribunal do mundo.
549
Esse movimento a via da libertao da substncia espiritual, o
ato pelo qual o fim ltimo absoluto do mundo nele se cumpre,
[pelo qual] o esprito que primeiro s essente em si, se eleva cons-
cincia e conscincia-de-si, e assim revelao e efetividade de
sua essncia essente em si e para si, e se torna para si mesmo, o
esprito exteriormente universal, o esprito-do-mundo. Enquanto esse
desenvolvimento no tempo e no ser-a, e por isso, enquanto his-
88
Hegel_NM.pmd 88 21/10/2010, 09:22
tria, seus momentos e graus singulares so os espritos-dos-povos;
cada um, como esprito singular e natural em uma determinidade
qualitativa, determinado para ocupar somente um grau, e para s
cumprir uma tarefa do ato total.
550
Essa libertao do esprito, em que procede a alcanar-se a si
mesmo e a efetivar sua verdade, e a tarefa [de desempenhar-se]
disso so o direito supremo e absoluto. A conscincia-de-si de um
povo particular portadora do grau de desenvolvimento desta
vez [alcanado] pelo esprito universal em seu ser-a, e a efetividade
objetiva em que ele coloca sua vontade. Perante essa vontade
absoluta, a vontade dos outros espritos-dos-povos particulares
e sem-direito; aquele povo o que domina o mundo; mas, igual-
mente, o esprito progride para alm de sua propriedade cada
vez, como alm de um grau particular, e o abandona ento sua
sorte e [ao seu] tribunal.
551
Enquanto tal tarefa de [produzir] efetividade aparece como
ao, e por isso como uma obra de Singulares, estes, em vista do
contedo substancial de seu trabalho, so instrumentos, e sua subje-
tividade que para eles [o] peculiar a forma vazia da atividade.
O que, portanto, obtiveram para si mesmos, mediante a parte in-
dividual que tomaram na tarefa substancial preparada e determi-
nada sem depender deles, uma universalidade formal de repre-
sentao subjetiva: a glria, que sua remunerao.
552
O esprito-do-povo encerra uma necessidade-de-natureza, e
est em um ser-a exterior; a substncia tica infinita em si uma
substncia tica particular e limitada para si, e seu lado subjetivo
89
Hegel_NM.pmd 89 21/10/2010, 09:22
afetado de contingncia: costume inconsciente, conscincia do seu
contedo como de um contedo presente no tempo, e em relao
contra uma natureza e um mundo exteriores. Mas, na eticidade,
o esprito pensante que suprassume em si mesmo a finitude que
possui enquanto esprito-de-um-povo em seu estado, e nos inte-
resses temporais deste, no sistema das leis e dos costumes, e que se
eleva ao saber de si em sua essencialidade saber que no entanto
tem ele mesmo a limitao do esprito-do-povo. Mas o esprito
pensante da histria do mundo, enquanto ao mesmo tempo despe
aquelas limitaes dos espritos-dos-povos particulares, e sua pr-
pria mundanidade, apreende sua universalidade concreta e se eleva
ao saber do esprito absoluto, como [saber] da verdade eternamente
efetiva, em que a razo que-sabe livre para si mesma, e a necessi-
dade e a histria so s para servir a revelao desse esprito, e
vasos de sua glria.
10. Histria
10.1. O curso da histria do mundo
A histria do mundo em geral o desenvolvimento do espri-
to no tempo, assim como a natureza o desenvolvimento da ideia
no espao.
Quadro geral de transformaes e atuaes. Quando lanamos um
olhar na histria do mundo de maneira geral, vemos um enorme
quadro de transformaes e atuaes, uma infinidade de povos,
estados e indivduos diversificados, em contnua sucesso. Tudo
aquilo que pode entrar e interessar mente do homem, todo o
sentimento de bondade, beleza ou grandiosidade entra em jogo.
Por toda a parte so adotados e perseguidos objetivos que reco-
nhecemos, cuja realizao desejamos temos expectativas e recei-
os por eles. Em todos estes acontecimentos e mutaes vemos a
atividade humana e o sofrimento predominando, por toda a parte
existe algo que nos pertence, por toda a parte h algo que nos leva
90
Hegel_NM.pmd 90 21/10/2010, 09:22
a tomar partido a favor ou contra. s vezes somos atrados pela
beleza, a liberdade e a riqueza, outras vezes pela energia, atravs
dos quais at o vcio se torna interessante. Em outros momentos
vemos a imensa massa de um interesse universal movimentar-se
pesadamente para diante, apenas para ser abandonada e pulveriza-
da por uma complexidade infinita de circunstncias insignificantes.
Vemos novamente ento os resultados diminutos de gigantescos
gastos de foras ou imensos resultados de causas aparentemente
mnimas. Por toda a parte, a mais variegada multido de aconteci-
mentos nos atrai para o seu crculo quando desaparece, outro
rapidamente toma o seu lugar. (A razo na histria, pp. 123-124)
A categoria da mutao e uma meditao sobre as runas. Esta incessante
sucesso de indivduos e povos existindo por algum tempo e desa-
parecendo em seguida nos apresenta um pensamento universal, uma
categoria: a da mutao, em geral. Para compreender essa mutao
em seu lado negativo, temos apenas de olhar para as runas do es-
plendor passado. Que viajante no se emocionou com as runas de
Cartago, Palmira, Perspolis ou Roma, entristecendo-se ao pensa-
mento de uma vida florescente e cheia de energia agora encerrada?
Essa tristeza no reside em uma perda pessoal e na efemeridade dos
prprios objetivos, uma tristeza desinteressada pelo fim de uma
vida humana esplndida e muito desenvolvida. Mas passamos a um
outro pensamento da mesma forma associado intimamente ideia
de mutao, o fato positivo de que a runa tambm ao mesmo
tempo o surgimento de uma vida nova, de que da vida surge a
morte e da morte, a vida. Este um grande pensamento que os
orientais compreenderam plenamente e que o mais elevado pensa-
mento de sua metafsica. Na ideia da migrao das almas ela se
refere aos indivduos. Em sua imagem talvez mais conhecida a Fnix
est relacionada a toda a vida natural, eternamente preparando a sua
pira e se consumindo de maneira a que de suas cinzas surja sempre a
vida nova e rejuvenescida. Mas este quadro asitico e no ociden-
91
Hegel_NM.pmd 91 21/10/2010, 09:22
tal. O esprito, devorando seu envoltrio mundano, no passa ape-
nas para um outro envoltrio, no renasce rejuvenescido das cinzas
de seu corpo, mas delas surge glorificado, transfigurado, num espri-
to mais puro. verdade que ele age contra si mesmo, devora sua
prpria existncia mas, ao fazer isso, elabora essa existncia, o
corpo se torna material para o trabalho de elevar-se para um novo
corpo. (A razo na histria, p. 124)
O teor das transformaes: autoaperfeioamento do esprito. Devemos ento
refletir sobre o esprito neste aspecto. Suas transformaes no so
simples transies rejuvenescedoras, retornos mesma forma. Elas
so aperfeioamentos de si mesmo, atravs dos quais multiplica o
material para seus esforos. Assim, ele experimenta muitas dimen-
ses e vrias direes, desenvolvendo e exercitando-se, satisfazendo
a si mesmo incansavelmente. Cada uma de suas criaes, que j o
satisfizeram, apresenta um novo material, um novo desafio para um
aperfeioamento maior. O pensamento abstrato da simples muta-
o d lugar ao pensamento do esprito que se manifesta, se desen-
volve e aperfeioa suas foras em todas as direes que sua natureza
multiforme pode seguir. (A razo na histria, pp. 124-125)
Trabalho do esprito. A prpria essncia do esprito a ao. Ele se
torna o que essencialmente ele o seu produto, o seu prprio
trabalho. Assim, ele se torna o objeto de si mesmo, v-se como uma
existncia exterior e, da mesma forma, o esprito de um povo: um
esprito de caractersticas muito bem definidas, que se constri em
um mundo objetivo. Este mundo existe e permanece em sua reli-
gio, seu culto, seus costumes, sua constituio e suas leis polticas em
toda a esfera de suas instituies, seus acontecimentos e seus feitos.
Este o seu trabalho. (A razo na histria, p. 125)
O esprito universal no morre de morte natural. [O esprito univer-
sal] no desaparece apenas na vida senil da rotina. Enquanto um
esprito nacional, parte da histria universal, mas conhece o seu
trabalho e tem conscincia de si mesmo. Ele parte da histria do
92
Hegel_NM.pmd 92 21/10/2010, 09:22
mundo enquanto houver em seus elementos fundamentais, seu
objetivo essencial, um princpio universal somente at esse pon-
to o trabalho pelo qual esse esprito produz uma moral organi-
zao poltica. Se so os simples desejos que impelem os povos
ao, essas aes passaro sem deixar traos, ou melhor, seus tra-
os so apenas a corrupo e a runa. (A razo na histria, p. 127)
10.2. Que a razo governa o mundo
Primeiro aspecto. O primeiro aspecto o fato histrico do grego
Anaxgoras, o primeiro a mostrar que a mente (nous), a compreen-
so em geral ou a razo, domina o mundo mas no uma inteli-
gncia no sentido de uma conscincia individual, no um esprito
como tal. Os dois devem ser cuidadosamente distinguidos. O
movimento do sistema solar continua segundo leis imutveis e es-
tas leis so a sua razo. Mas, nem o sol nem os planetas, que, se-
gundo tais leis, giram em torno dele, tm qualquer conscincia dis-
so. Assim, no nos surpreende a ideia de que h razo na natureza,
de que a natureza governada por leis universais e imutveis
estamos habituados a isso e no lhe damos muita importncia.
Esta circunstncia histrica tambm nos ensina uma lio de hist-
ria: as coisas que parecem comuns para ns nem sempre estiveram
no mundo; um pensamento novo como esse marca uma poca
no desenvolvimento do esprito humano. Aristteles diz que
Anaxgoras, como originador deste pensamento, parecia um ho-
mem sbrio entre os bbados. (A razo na histria, p. 55)
Segundo aspecto. O segundo aspecto a ligao histrica do pen-
samento de que a razo governa o mundo com uma outra forma,
bem conhecida para ns a forma da verdade religiosa: o mundo
no est abandonado ao acaso e a acidentes externos, mas con-
trolado pela Providncia. Eu j disse antes que no exijo a crena no
princpio anunciado, mas penso que poderia apelar a esta crena
em sua forma religiosa, a menos que a natureza da filosofia cient-
93
Hegel_NM.pmd 93 21/10/2010, 09:22
fica impea, como regra geral, a aceitao de quaisquer pressupo-
sies; ou, visto por outro ngulo, a menos que a prpria cincia
que desejamos desenvolver d provas, seno da verdade, pelo
menos da exatido de nosso princpio. A verdade de que uma
Providncia, ou seja, uma Providncia divina, preside aos aconte-
cimentos do mundo corresponde ao nosso princpio, pois a Pro-
vidncia divina a sabedoria dotada de infinito poder que realiza
o seu objetivo, ou seja, o objetivo final, racional e absoluto do
mundo. A razo o pensamento determinando-se em absoluta
liberdade. (A razo na histria, pp. 55-56)
11. Filosofia da histria e revoluo francesa
Filosofia e Revoluo Francesa. Diz-se que a Revoluo Francesa saiu
da filosofia que se denominou a filosofia sabedoria universal, pois ela
no somente a verdade em si e para si, como pura essencialidade,
mas tambm a verdade na medida em que ela se torna viva em sua
mundanidade. Portanto, no se deve contestar, quando dito que
a Revoluo recebeu seu incitamento inicial da filosofia. Mas essa
filosofia s pensamento abstrato, no compreenso concreta
da verdade absoluta, o que constitui uma imensa diferena. (Filo-
sofia da histria, p. 365)
O princpio da liberdade contra o direito existente. O princpio da
liberdade da vontade faz-se ento valer contra o direito existente.
Mesmo antes da Revoluo Francesa, os grandes foram reprimi-
dos por Richelieu e tiveram abolidos os seus privilgios; mas, as-
sim como o clero, eles mantiveram todos os seus direitos perante
a classe inferior. Toda a situao da Frana naquela poca , na
verdade, um agregado de privilgios contra o pensamento e a
razo, uma situao absurda, qual est ligada toda a perversidade
dos costumes e do esprito um reino da injustia, que se torna,
com a conscientizao da mesma, uma injustia vergonhosa. A
terrvel opresso sofrida pelo povo e o descaso do governo, per-
94
Hegel_NM.pmd 94 21/10/2010, 09:22
mitindo na corte a opulncia e o esbanjamento, foram os princi-
pais motivos para a insatisfao. O novo esprito comeou a agitar
as mentes dos homens, e a opresso levou-os investigao. Des-
cobriu-se ento que as quantias extorquidas do povo no eram
utilizadas para os fins do estado, mas gasta do modo mais absur-
do. Todo o sistema do estado manifestava-se como uma injustia.
(Filosofia da histria, p. 365)
Da mudana violenta nova constituio. A mudana foi necessaria-
mente violenta, porque a transformao no partiu do governo, e
ela no foi iniciativa do governo porque a corte, o clero, a nobreza
e o prprio parlamento no queriam abdicar de seus privilgios,
nem por necessidade, nem pelo direito em si e para si; alm disso,
o governo, como centro concreto do poder estatal, no podia
tomar os desejos abstratos e individuais como princpio e a partir
deles reconstruir o estado; finalmente, pelo fato de o governo ser
catlico, e, em funo disso, no prevalecer o conceito da liberda-
de e da razo das leis como o ltimo e absoluto compromisso
pois o sagrado e a conscincia religiosa estavam dele separados. O
pensamento, o conceito de direito, finalmente se fez valer, e aqui a
antiga estrutura da injustia no pde mais resistir. Na concepo
do direito criou-se, portanto, uma constituio, e por esse motivo
tudo deve ser baseado nela. (Filosofia da histria, pp. 365-366)
Razo e revoluo. Nunca, desde que o Sol comeou a brilhar
no firmamento e os planetas comearam a girar ao seu redor, se
havia percebido que a existncia do homem est centrada em sua
cabea, isto , no pensamento, a partir do qual ele constri a
realidade efetiva. Anaxgoras foi o primeiro a dizer que o nous
rege o mundo; mas s agora o homem reconheceu que o pensa-
mento deve governar a efetiva realidade espiritual. Assim se deu
um glorioso amanhecer. Todos os seres pensantes comemoram
essa poca. Uma sublime comoo dominou naquele tempo, um
entusiasmo do esprito estremeceu o mundo, como se s agora
95
Hegel_NM.pmd 95 21/10/2010, 09:22
tivesse acontecido a efetiva reconciliao do divino com o mundo.
(Filosofia da histria, p. 366)
12. Arte
12.1. Nas prelees sobre esttica
Arquitetura, escultura, pintura. O templo da arquitetura clssica
reclama por um deus que habite em seu interior; a escultura apre-
senta o mesmo, em beleza plstica e fornece ao material, que em-
prega, para isso, Formas [Formen].
que permanecem exteriores ao espiritual segundo sua natureza,
mas so forma [Gestalt] imanente ao contedo determinado mes-
mo. Mas a corporalidade e a sensibilidade, bem como a universali-
dade ideal da forma escultrica, tm, diante de si, em parte, o inte-
rior subjetivo, em parte a particularidade [Partikularitt] do particu-
lar [Besonderen], em cujos elementos tanto o Contedo da vida religi-
osa quanto o da vida mundana devem ganhar efetividade por meio
de uma nova arte. Este modo de expresso tanto subjetivo quanto
particular-caracterstico introduzido pela pintura no princpio das
artes plsticas mesmas, na medida em que ela rebaixa a exterioridade
real da forma ao fenmeno mais ideal da cor e faz da expresso da
alma interior o centro da exposio. A esfera universal, todavia, em
que se movem estas artes uma no tipo simblico, a outra no pls-
tico-ideal, a terceira no romntico a forma exterior sensvel do
esprito e das coisas naturais. (Esttica, trad. bras., p. 11)
Msica. Como essencialmente pertencente ao interior da cons-
cincia, o contedo espiritual tem ento no mero elemento da apa-
rio exterior e no intuir ao qual se oferece a forma exterior
uma existncia ao mesmo tempo estranha para o interior, a partir
da qual a arte deve novamente extrair as suas concepes a fim de
transp-las para um mbito que , tanto segundo o material quan-
to a espcie da expresso, para si mesmo de espcie mais interior e
mais ideal [ideeller]. Este o passo que vimos ser posteriormente
96
Hegel_NM.pmd 96 21/10/2010, 09:22
dado pela msica, na medida em que ela tornou o interior enquanto
tal e o sentimento subjetivo algo de interior, em vez das formas
intuveis, nas figuraes do soar em si mesmo vibrante. Contudo,
ela passou, com isso, para um outro extremo, para a concentrao
subjetiva no explicitada, cujo contedo encontrou novamente nos
sons uma exteriorizao ela mesma apenas simblica. Pois o som
tomado por si mesmo destitudo de contedo e encontra a sua
determinidade em relaes numricas, de modo que o elemento
quantitativo do Contedo espiritual certamente corresponde em geral
a estas relaes quantitativas, as quais se estabelecem como diferen-
as essenciais, oposies e mediaes, mas em sua determinidade
qualitativa no pode ser marcado completamente por meio do som.
Se este aspecto no deve faltar de todo, ento a msica deve, por
causa de sua unilateralidade, buscar ajuda na designao mais exata
da palavra e requer, para referncia mais firme particularidade e
expresso caracterstica do contedo, um texto que fornea pri-
meiro o preenchimento mais preciso em relao ao subjetivo, o
qual vertido por meio dos sons. Por meio deste proferimento de
representaes e sentimentos evidencia-se certamente a interioridade
abstrata da msica como uma explicao mais clara e mais firme;
mas o que configurado por ela no em parte o lado da sua
representao e Forma adequada arte, e sim apenas a interioridade
que acompanha enquanto tal, em parte a msica se livra geralmente
da ligao com a palavra, a fim de se movimentar desimpedidamente
em seu prprio crculo do soar. Desse modo, separa-se o mbito da
representao, que no permanece na interioridade mais abstrata
como tal, mas que configura o seu mundo como uma efetividade
concreta, tambm livre por seu lado da msica, e se d para si mes-
ma na arte da poesia uma existncia adequada arte. (Esttica, trad.
bras., pp. 11-12)
Poesia. A poesia, a arte discursiva, o terceiro, a totalidade que
unifica em si mesma os extremos das artes plsticas e da msica em
97
Hegel_NM.pmd 97 21/10/2010, 09:22
um estgio superior, no mbito da interioridade espiritual mesma.
Pois, por um lado, a arte da poesia, tal como a msica, contm o
princpio do perceber-se a si do interior enquanto interior, o qual
escapa arquitetura, escultura e pintura; por outro lado, expan-
de-se no campo do representar interior, do intuir e do sentir para
um mundo objetivo que no perde inteiramente a determinidade
da escultura e da pintura e capaz de desdobrar mais completa-
mente do que qualquer outra arte a totalidade de um acontecimen-
to, de sua sequncia, de uma alternncia de movimentos do nimo,
de paixes, de representaes e o decurso fechado de uma ao.
(Esttica, trad. bras., pp. 12-13)
Destinao da arte. A bela arte [...] leva a termo a sua mais alta
tarefa quando se situa na mesma esfera da religio e da filosofia e
torna-se apenas um modo de trazer conscincia e exprimir o
divino [das Gttliche], os interesses mais profundos da humanidade,
as verdades mais abrangentes do esprito. Os povos depositaram
nas obras de arte as suas intuies interiores e representaes mais
substanciais, sendo que para a compreenso da sabedoria e da
religio a bela arte muitas vezes a chave para muitos povos
inclusive a nica. Esta determinao a arte possui em comum com
a religio e com a filosofia, mas de um modo peculiar, pois expe
sensivelmente o que superior e assim o aproxima da maneira de
aparecer da natureza, dos sentidos e da sensao [Empfindung]. Tra-
ta-se da profundidade de um mundo supra-sensvel no qual penetra o
pensamento e o apresenta primeiramente como um alm para a cons-
cincia imediata e para a sensao [Empfindung] presente; trata-se da
liberdade do conhecimento pensante, que se desobriga do aqum,
ou seja, da efetividade sensvel e da finitude. Este corte, porm,
para o qual o esprito se dirige, ele prprio sabe o modo de cur-
lo; ele gera a partir de si mesmo as obras da arte bela como o
primeiro elo intermedirio entre o que meramente exterior, sen-
svel e passageiro e o puro pensar, entre a natureza e a efetividade
98
Hegel_NM.pmd 98 21/10/2010, 09:22
finita e a liberdade infinita do pensamento conceitual (Esttica, I,
trad. bras., pp. 32-33).
12.2. Na enciclopdia das cincias filosficas
A filosofia da religio tem de reconhecer a necessidade lgica
no progresso das determinaes da essncia sabida como absolu-
to; determinaes a que corresponde, primeiro, o modo do culto
assim como, em seguida, a conscincia-de-si do mundo, a consci-
ncia sobre o que seja a mais alta determinao no homem, e
assim a natureza da eticidade de um povo, o princpio do seu
direito, de sua liberdade efetiva e de sua Constituio, como tam-
bm de sua arte e de sua cincia; [todas essas coisas] correspondem
ao princpio que constitui a substncia de uma religio. Que todos
esses momentos da efetividade de um povo constituam uma s
totalidade sistemtica, e que um s esprito os crie e configure, esse
discernimento reside no fundamento do discernimento ulterior de
que a histria das religies coincide com a histria do mundo.
A propsito da conexo estreita da arte com a religio, h
que fazer a observao mais precisa de que a bela arte s pode
pertencer quelas religies cujo princpio a espiritualidade concreta
tornada livre em si mesma, mas que no ainda a espiritualidade
absoluta. Nas religies em que a ideia ainda no se tornou mani-
festa e sabida em sua livre determinidade, evidencia-se a necessi-
dade [Bedrfnis] de que a arte traga conscincia, na intuio e na
fantasia, a representao da essncia; alis a arte mesmo o nico
rgo em que o contedo abstrato, em si nada claro, intrincado
de elementos naturais e espirituais, pode aspirar a elevar-se cons-
cincia. Mas essa arte falha; por ter um to falho contedo, a
forma falha tambm; com efeito, esse contedo tal, por no
ter a forma imanente nele. A exposio conserva um lado de
falta de gosto e de esprito, porque o interior mesmo ainda
afetado pela falta de esprito, por isso no tem o poder de pene-
99
Hegel_NM.pmd 99 21/10/2010, 09:22
trar livremente o exterior para [dar-lhe] significao e figurao.
A bela arte, ao contrrio, tem por condio a conscincia-de-si
do esprito livre, e com isso a conscincia da no-autonomia do
sensvel e do simplesmente natural diante do esprito livre, e faz
do sensvel e natural, totalmente, apenas uma expresso desse
esprito: a forma interior que s exterioriza a si mesma. A isso
se liga a considerao ulterior, mais elevada, de que o surgimento
da arte indica o declnio de uma religio ainda presa a uma
exterioridade sensvel. Ao mesmo tempo, parecendo dar reli-
gio a mais alta transfigurao, expresso e esplendor, a arte a
elevou acima de sua limitao. O gnio do artista e dos especta-
dores, na sublime divindade cuja expresso alcanada pela obra
de arte, est com o prprio esprito e sensao como em casa,
satisfeito e liberado: a intuio e a conscincia do esprito livre
est proporcionada e conseguida. A bela arte, de seu lado, efe-
tuou o mesmo que a filosofia: a purificao do esprito, da [sua]
no-liberdade. Aquela religio, em que a necessidade [Bedrfnis]
da bela arte se engendra primeiro e justamente por este motivo
tem no seu princpio um alm sem-pensamento, e sensvel: as
imagens devotamente veneradas so os dolos sem-beleza, como
talisms milagrosos, que visam a uma objetividade que est no
alm sem esprito; e relquias prestam o mesmo servio, ou at
melhor, que tais imagens. Mas as belas-artes so apenas um grau
da libertao, no a libertao suprema mesma. A objetividade
verdadeira que s est no elemento do pensamento, em que s o
esprito puro , para o esprito, a libertao com a venerao ao
mesmo tempo falta tambm no belo-sensvel da obra de arte,
ainda mais naquela realidade sensvel exterior, sem-beleza. (Enci-
clopdia, III, 563, Adendo, pp. 344-345)
100
Hegel_NM.pmd 100 21/10/2010, 09:22
13. Religio
13.1. Religio e filosofia
Conhecimento filosfico e religio. Comparando-se umas com as
outras essas diversas formas de conhecer, pode ser que a primeira,
a forma do saber imediato, aparea facilmente como a mais ade-
quada, a mais bela e a mais alta. Recai nessa forma tudo o que se
chama, na considerao moral, inocncia; e depois, sentimento re-
ligioso, confiana ingnua, fidelidade e f natural. As duas outras
formas, primeiro o conhecer que reflete, e depois tambm o co-
nhecer filosfico, saem dessa unidade natural imediata. Tendo isso
de comum, uma com a outra, a maneira de conhecer que quer
apreender o verdadeiro por meio do pensar pode aparecer facil-
mente como um orgulho do homem que quer conhecer o verda-
deiro por sua prpria fora. Como ponto de vista da separao
universal, esse ponto de vista pode ser visto como a origem de
todo o mal e de todo o maligno, como o pecado original; e, de
acordo com isso, parece que se deva renunciar ao pensar e ao
conhecer, para chegar ao retorno [ unidade] e reconciliao. No
que toca ao abandonar da unidade natural, essa portentosa ciso
do espiritual dentro de si mesmo tem sido desde sempre um ob-
jeto da conscincia dos povos. Na natureza no ocorre tal ciso
interior, e as coisas-da-natureza no fazem nada de mal. (Enciclop-
dia, I, 24, Adendo 3, pp. 83-84)
Cincia da lgica, mito mosaico e conhecimento. Uma antiga represen-
tao sobre a origem e as sequelas dessa ciso nos dada no mito
mosaico da queda de Ado. O contedo desse mito forma a base
de uma doutrina essencial da f, a doutrina da pecabilidade natural
do homem e a necessidade de um socorro para obviar isso. Pare-
ce adequado considerar o mito da queda logo no incio da [cincia
da] lgica, pois ela diz respeito ao conhecer, e tambm nesse mito
se trata do conhecer, de sua origem e significao. A filosofia no
pode ter medo da religio; nem pode assumir a posio de que
101
Hegel_NM.pmd 101 21/10/2010, 09:22
devesse estar contente, se a religio apenas a tolerasse. Mas igual-
mente, de outro lado, deve rejeitar a maneira de ver segundo a
qual semelhantes mitos e representaes religiosas so algo sem
importncia; pois eles tm entre os povos uma dignidade milenar.
(Enciclopdia, I, 24, Adendo 3, p. 84)
13.2. Religio revelada
Est implcito essencialmente no conceito da religio verda-
deira, isto , da religio cujo contedo o esprito absoluto, que ela
seja revelada, e em verdade, revelada por Deus. Com efeito, sendo o
saber o princpio pelo qual a substncia esprito, enquanto forma
infinita essente para si o autodeterminante, o saber pura e simples-
mente [o] manifestar. O esprito s esprito na medida em que
para o esprito; e na religio absoluta o esprito absoluto que se
manifesta, no mais seus momentos abstratos, mas a si mesmo.
Adendo. antiga representao da Nmesis, em que pelo enten-
dimento ainda abstrato se apreendia o divino e sua atividade no
mundo somente como poder igualador que arrasaria o que h de alto
e de grande, Plato e Aristteles opuseram que Deus no invejoso.
Isso pode opor-se tambm s novas asseveraes segundo as quais
o homem no poderia conhecer a Deus. Essas asseveraes pois
mais no so essas afirmaes so tanto mais inconsequentes quando
feitas no interior de uma religio que expressamente se chama a
religio revelada; de modo que, segundo aquelas asseveraes, seria
antes a religio em que Deus nada seria revelado, em que Deus no teria
se revelado, e assim seus adeptos seriam os pagos que de Deus
nada sabem (I Tessalonicenses, 4, 5 e 6). Se na religio se toma a
srio a palavra Deus, em geral, pode-se e deve-se comear tam-
bm por Deus a determinao, o contedo e o princpio da religio,
caso se lhe recuse o revelar-se, s restaria, quanto ao seu contedo,
atribuir-lhe inveja. Mas, se absolutamente a palavra esprito deve ter
um sentido, este contm o revelar de si mesmo.
102
Hegel_NM.pmd 102 21/10/2010, 09:22
Refletindo-se sobre a dificuldade do conhecimento de Deus
como esprito conhecimento este que no se pode contentar
mais com as representaes simples da f, seno que vai adiante
at o pensar: primeiro at o entendimento reflexivo, mas que deve
avanar at o pensar conceituante , quase no pode algum es-
pantar-se de que tantas pessoas, especialmente os telogos, en-
quanto mais solicitados a ocupar-se com essas ideias, tenham ca-
do no acomodar-se facilmente com isso, e aceitado de to boa
vontade o que se lhes prescrevia para esse fim; o mais fcil de
todos o resultado indicado: de que o homem nada saberia de
Deus. Requer-se uma especulao aprofundada para apreender
correta e determinadamente no pensamento o que Deus como
esprito. A se encontram contidas, antes de tudo, as proposies:
Deus somente Deus enquanto ele sabe a si mesmo; seu saber-se
alm disso sua conscincia-de-si no homem, e o saber do ho-
mem sobre Deus: saber que avana para o saber-se homem em Deus
(Ver a elucidao profunda dessas proposies no escrito donde
foram extradas: Carl, Friedrich Gschel, Aphorismen ber Nichtwissen
und absolutes Wissen im Verhltnisse zur christilichen Glaubenerkenntnis;
Berlim, 1829). (Enciclopdia, III, 564 e Adendo, pp. 346-347)
13.3. Passagem filosofia
Se o resultado, o esprito essente para si, em que toda a medi-
ao se suprassumiu, for tomado em sentido apenas formal, sem
contedo, de modo que o esprito, ao mesmo tempo, no sabi-
do como essente em si e desdobrando-se objetivamente, ento aque-
la subjetividade infinita a conscincia-de-si somente formal, que
se sabe em si mesma como absoluta: a ironia. A ironia aniquila para
si todo o contedo objetivo, sabe fazer dele um contedo vo, por
isso ela mesma carncia-de-contedo, e a vaidade que d assim,
a partir de si mesma, um contedo contingente e arbitrrio como
determinao; fica por isso dona desse contedo, no est presa
103
Hegel_NM.pmd 103 21/10/2010, 09:22
por ele, e, com a segurana de se manter no mais alto pncaro da
religio e da filosofia, antes recai no oco [do] arbtrio. Somente
enquanto a pura forma infinita, a automanifestao essente junto a
si, depe a unilateralidade do subjetivo em que est a vaidade do
pensar [ que] ela o livre pensar, que tem sua determinao infi-
nita ao mesmo tempo como contedo absoluto, essente em si e
para si, e que o tem como objeto no qual ela tambm livre. O
pensar, nessa medida, ele mesmo, somente o formal do conte-
do absoluto. (Enciclopdia, III, 571, Adendo, p. 350)
14. Filosofia
14.1. Na enciclopdia
572
Essa cincia a unidade da arte e da religio, enquanto o modo
de intuio da arte, exterior quanto forma, o seu produzir subjeti-
vo e o fracionar do contedo substancial em muitas figuras autno-
mas so reunidos na totalidade da religio; e o dispersar-se que se
desdobra na representao da religio e a mediao dos [elementos]
que se desdobram no s so recolhidos em um todo, mas tambm
unidos na intuio espiritual simples, e elevados depois ao pensar consci-
ente-de-si. Por isso esse saber o conceito, conhecido pelo pensamen-
to, da arte e da religio, em que o diverso no contedo conhecido
como necessrio, e esse necessrio como livre. (p. 351)
573
Adendo. [...] Abstenho-me de multiplicar os exemplos de re-
presentaes religiosas e poticas que se costumam chamar
pantesticas. Quanto s filosofias a que se deu precisamente esse
nome, por exemplo a eletica ou a espinosista, j se lembrou antes
(Enciclopdia, I, 50, nota) que identificam to pouco Deus com o
mundo, e fazem to pouco caso do finito, que nessas filosofias
esse todo, antes, no tem verdade alguma, a ponto que elas teriam
104
Hegel_NM.pmd 104 21/10/2010, 09:22
de chamar-se com mais exatido monotesmos, e, em relao com a
representao do mundo, como acosmismos. Num mximo de exa-
tido seriam determinadas como os sistemas que apreendem o
absoluto somente como substncia. Quanto aos modos de repre-
sentaes orientais, em particular maometanos, pode-se dizer ain-
da que o absoluto aparece como o gnero pura e simplesmente universal,
que habita as espcies, as existncias, mas de modo que no lhes
compete nenhuma realidade efetiva. O defeito do conjunto desses
modos de representao e sistemas de no avanar at a deter-
minao da substncia como sujeito e como esprito.
Esses modos de representao e sistemas procedem da nica e
comum necessidade [Bedrfnis] de todas as filosofias, assim como de
todas as religies, de apreender uma representao de Deus e, em
seguida, da relao de Deus e do mundo. Na filosofia se reconhece
mais precisamente que a partir da determinao da natureza de Deus
se determina sua relao para com o mundo. O entendimento refle-
xivo comea assim por registrar os modos de representao e os
sistemas do sentimento, da fantasia e da especulao que exprimem
a conexo de Deus e do mundo; e, para ter Deus puramente na f
ou na conscincia, ele separado, enquanto essncia do fenmeno,
como o infinito do finito. Porm, segundo essa separao, se apre-
sentam tambm a convico da relao do fenmeno para com a
essncia, do finito para com o infinito etc., e com ela a questo,
agora reflexiva, sobre a natureza dessa relao. na forma da refle-
xo sobre ela que se situa toda a dificuldade da Coisa. Essa relao
o que se chama inconcebvel por aqueles que nada querem saber da
natureza de Deus. Na concluso da filosofia, no mais o lugar
ainda mais em uma considerao exotrica de gastar uma palavra
sobre o que significa conceber. Mas j que com o apreender dessa
relao esto ligadas a apreenso da cincia em geral, e todas as
acusaes contra ela, ento pode-se ainda lembrar a propsito que
enquanto a filosofia tem, decerto, a ver-se com a unidade em geral,
105
Hegel_NM.pmd 105 21/10/2010, 09:22
no porm com a unidade abstrata, com a mera identidade e com o
Absoluto vazio, mas com a unidade concreta (o conceito), e que em
todo o seu curso s tem que ver-se com essa unidade cada degrau
de sua marcha para a frente uma determinao peculiar dessa unidade
concreta; e a mais profunda e ltima das determinaes da unidade
a do prprio absoluto. Ora, dos que querem julgar da filosofia e
pronunciar-se sobre ela, seria de exigir que se encaixem nessas deter-
minaes da unidade e se esforcem por lhes adquirir a noo; pelo
menos que saibam que h uma grande multido dessas determinaes,
e que entre elas h uma grande diversidade. Mas eles se mostram ter
to pouco uma noo a respeito, e menos ainda uma preocupao
com isso, que antes, quando ouvem falar de unidade e a relao
contm, de entrada, unidade , eles se atm unidade totalmente abs-
trata, indeterminada e abstraem daquilo em que somente incide todo o
interesse, a saber, no modo da determinidade da unidade. Assim
nada sabem enunciar sobre a filosofia, a no ser que a sua identidade
seu princpio e resultado, e que ela o sistema da identidade. Man-
tendo-se nesse pensamento, sem-conceito, da identidade, nada com-
preendem justamente da identidade concreta, do conceito e do con-
tedo da filosofia, mas antes o que apreenderam foi seu contrrio.
Procedem nesse campo como fazem no campo da fsica os fsicos
que igualmente sabem muito bem que tm diante de si proprieda-
des e matrias sensveis variadas ou, ordinariamente, s matrias
(pois para eles as propriedades se mudam igualmente em matrias)
e que essas matrias esto tambm em relao umas com as outras.
Ora, a questo de saber de espcie essa relao; e a peculiaridade
da diferena completa de todas as coisas naturais, inorgnicas e vi-
ventes, repousam somente na determinidade diversa dessa unidade. Po-
rm, em vez de conhecer essa unidade em suas diversas
determinidades, a fsica ordinria (inclusive a qumica) apreende ape-
nas uma dessas determinidades, a mais exterior, a pior, a saber, a
composio; somente a aplica srie inteira das formaes naturais, e
106
Hegel_NM.pmd 106 21/10/2010, 09:22
torna assim impossvel compreender uma qualquer delas. Aquele
pantesmo inspido deriva, assim, imediatamente daquela inspida
unidade: os que utilizam esse seu prprio produto para acusao da
filosofia retm da considerao da relao de Deus ao mundo, que
desta categoria, relao, a identidade um momento, mas tambm s
um momento, e na verdade o momento da indeterminidade. Ora, eles
ficam nessa metade de apreenso, e asseguram, de fato falsamente,
que a filosofia afirma a identidade de Deus e do mundo; e enquanto
para eles, ao mesmo tempo, os dois, o mundo tanto como Deus,
tm firme substancialidade, eles descobrem que na ideia filosfica
Deus seria composto de Deus e do mundo; e essa a representao
que eles fazem do pantesmo e que atribuem filosofia, os que em
seu pensar, e apreender dos pensamentos no vo alm de tais cate-
gorias, e a partir delas, que introduzem na filosofia onde nada
existe desse tipo , lhe arranjam sarna para poder co-la, evitam
todas as dificuldades que surgem no apreender da relao de Deus
para com o mundo, ao confessar que essa relao contm para eles
uma contradio, da qual nada entendem; portanto devem deixar-se
ficar na representao totalmente indeterminada de tal relao, e igual-
mente de suas modalidades mais prximas: por exemplo, a
onipresena, a providncia etc. Nesse sentido, crer no significa outra
coisa que no querer avanar at uma representao determinada,
no querer entrar ainda mais no contedo. consensual que ho-
mens e estamentos, de entendimento inculto, se contentem com re-
presentaes determinadas. Mas, quando o entendimento cultivado
e interesse [cultivado] para a considerao reflexiva querem, no que
reconhecido como interesse superior e o [interesse] supremo, con-
tentar-se com representaes indeterminadas, ento difcil distin-
guir se de fato o esprito toma o contedo a srio. Mas se os que
ficam presos quele entendimento rido acima aludido tomassem a
srio, por exemplo, a afirmao da onipresena de Deus, no sentido em
que fizessem presente sua crena em uma representao determina-
107
Hegel_NM.pmd 107 21/10/2010, 09:22
da, em que dificuldade se enredaria a crena que eles tm na realidade
verdadeira das coisas sensveis? Na certa, no quereriam, como
Epicuro, fazer Deus habitar nos interstcios das coisas, isto , nos
poros dos fsicos, enquanto esses poros so o negativo que deve exis-
tir ao lado do que materialmente real. J nesse ao lado teriam o seu
pantesmo da espacialidade seu tudo determinado como o fora-
um-do-outro do espao. Porm, ao atribuir a Deus uma eficincia
sobre o espao e no espao preenchido, sobre o mundo e no mun-
do, na relao de Deus com eles, teriam a infinita fragmentao da
efetividade divina na materialidade infinita, teriam a m representa-
o que denominam pantesmo ou doutrina do tudo um, de
fato s como consequncia necessria de suas ms representaes
de Deus e do mundo. Contudo, coisas tais como a unidade ou
identidade to faladas, imput-las filosofia um to grande desca-
so da justia e da verdade, que s poderia fazer-se concebvel pela
dificuldade de pr na cabea pensamentos e conceitos, isto , no a
unidade abstrata, mas os modos pluralmente configurados, de sua
determinidade. Se as afirmaes fticas so postas, e se os fatos so
pensamentos e conceitos, ento indispensvel apreend-los. Mas
tambm o cumprimento dessa exigncia se tornou suprfluo j que
h muito se tornou um procedimento indiscutido de a filosofia
pantesmo, sistema-da-identidade, doutrina do tudo um assim
que, quem no soubesse desse fato seria tratado ou s como igno-
rante de uma Coisa notria, ou como buscando escapatrias para
um fim qualquer. Por causa desse coro, eu pensei que devia explicar-
me de modo mais pormenorizado e exotrico sobre a inverdade
externa e interna desse pretenso fato; porque, sobre a apreenso
exterior de conceitos como simples fatos, pela qual precisamente os
conceitos so convertidos em seu contrrio, s se pode falar primeiro
tambm exotericamente. Mas a considerao esotrica de Deus e da
identidade, assim como do conhecimento dos conceitos, a pr-
pria filosofia. (pp. 359-363)
108
Hegel_NM.pmd 108 21/10/2010, 09:22
574
Esse conceito da filosofia a ideia que se pensa, a verdade que
sabe: o lgico com a significao de ser a universalidade verificada no
contedo concreto como em sua efetividade. Desse modo, a cincia
retornou ao seu comeo; e o lgico assim seu resultado; enquanto
[] o espiritual, que do julgar pressuponente, no qual o conceito era
somente em si, e o comeo, algo imediato se elevou desse modo
ao seu puro princpio, ao mesmo tempo como ao seu elemento, a
partir da apario que nele tinha, nesse julgar. (p. 363)
575
esse aparecer que funda, antes de tudo, o desenvolvimento
ulterior. A primeira apario constituda pelo silogismo que tem o
lgico como fundamento, enquanto ponto de partida, e a natureza
como meio termo que conclui o esprito com o mesmo. Torna-se o
lgico, natureza e a natureza, esprito. A natureza, que se situa entre o
esprito e sua essncia, no os separa, decerto, em extremos de abs-
trao finita, nem se separa deles para [ser] algo autnomo, que como
Outro s concluiria Outros; porque o silogismo na ideia, e a natu-
reza essencialmente s determinada como ponto-de-passagem e
momento negativo: ela , em si, a ideia. Mas a mediao do conceito
tem a forma exterior do passar, e a cincia, a do curso da necessida-
de; de modo que somente em um extremo posta a liberdade do
conceito, enquanto seu concluir-se consigo mesmo. (pp. 363-364)
576
Essa apario suprassumida no segundo silogismo, porquanto esse
j o ponto de vista do esprito mesmo, que o mediatizante do
processo: pressupe a natureza e a conclui com o lgico. o silogismo
da reflexo espiritual na ideia: a cincia aparece como um conhecimento
subjetivo que tem por fim a liberdade, e que , ele prprio, o cami-
nho de produzir-se a liberdade [a si mesma]. (p. 364)
109
Hegel_NM.pmd 109 21/10/2010, 09:22
577
O terceiro silogismo a ideia da filosofia, que tem a razo que
se sabe, o absolutamente universal, por seu meio termo que se cinde
em esprito e natureza; que faz do esprito a pressuposio, enquanto
[] o processo da atividade subjetiva da ideia, e faz da natureza o
extremo universal, enquanto [] o processo da ideia essente em si,
objetivamente. O julgar-se pelo qual a ideia se reparte nas duas apa-
ries ( 575-576), as determina como manifestaes suas (as da
razo que se sabe), e o que se rene nela que a natureza da Coisa
o conceito o que se move para a frente e se desenvolve; e
esse movimento igualmente a atividade do conhecimento, a ideia
eterna essente em si e para si, que eternamente se ativa, engendra, e
desfruta, como esprito absoluto. (p. 364)
14.2. Na histria da filosofia
Diversidade e unidade da filosofia. na figura peculiar de uma histria
exterior que o nascimento e o desenvolvimento so representados como
histria dessa cincia. Essa figura d, aos graus de desenvolvimento da
ideia, a forma de sucesso contingente e, digamos, de uma simples diver-
sidade dos princpios e de seus desenvolvimentos nas respectivas filo-
sofias. Mas o arteso desse trabalho de milnios o esprito vivo e uno,
cuja natureza pensante trazer sua conscincia o que ele ; e quando isso
se tornou assim seu objeto, [sua natureza pensante ] ser, ao mesmo
tempo, elevado acima dele, e ser em um grau superior. A histria da filosofia
mostra nas filosofias diversamente emergentes que, de um lado, so-
mente aparece uma filosofia em diversos graus de desenvolvimento, e
de outro lado que os princpios particulares cada um dos quais est na
base de um sistema so apenas ramos de um s e mesmo todo. A
filosofia ltima no tempo o resultado de todas as filosofias prece-
dentes, e deve por isso conter os princpios de todas. Por este motivo,
se ela filosofia de outra maneira, a mais desenvolvida, a mais rica e
a mais concreta. (Enciclopdia, I, 13, p. 54)
110
Hegel_NM.pmd 110 21/10/2010, 09:22
Totalidade. O mesmo desenvolvimento do pensar, que ex-
posto na histria da filosofia, expe-se na prpria filosofia, mas
liberto da exterioridade histrica puramente no elemento do pensar. O
pensamento livre e verdadeiro em si concreto, e assim ideia, e em
sua universalidade total a ideia ou o absoluto. A cincia [que trata]
dele essencialmente sistema, porque o verdadeiro, enquanto concre-
to, s enquanto desdobrando-se em si mesmo, e recolhendo-se e
mantendo-se junto na unidade isto , como totalidade; e s pela
diferenciao e determinao de suas diferenas pode existir a ne-
cessidade delas e a liberdade do todo. (Enciclopdia, I, 14, p. 55)
Resultado. A meta e o interesse ltimos da filosofia reconciliar o
pensamento, o conceito, com a realidade efetiva. Comparada com
a arte e a religio com suas sensaes e sentimentos, a filosofia a
verdadeira teodiceia [ela ] essa reconciliao do esprito que se
apreendeu em sua liberdade e na riqueza de sua realidade efetiva.
fcil, alis, encontrar satisfao em pontos de vista subordina-
dos, em modos da intuio, do sentimento. Quanto maior a
profundidade na qual o esprito ingressou em si mesmo, tanto
mais forte a oposio: a profundidade se mede pela grandeza da
oposio, da necessidade: quanto mais profundamente est em si
mesmo, tanto maior a sua necessidade de buscar no exterior
para se encontrar, tanto mais ampla a sua riqueza no exterior.
O que como natureza efetiva imagem da razo divina; as
formas da razo autoconsciente so tambm formas da natureza.
A natureza e o mundo espiritual, a histria, so as duas realidades
efetivas. Vimos surgir o pensamento que apreende a si mesmo;
buscava tornar-se concreto nele mesmo. Sua primeira atividade
formal, Aristteles foi o primeiro a dizer que o nous o pensar do
pensar. O resultado o pensamento que a si est presente e que nisso
abrange ao mesmo tempo o universo, transforma-o em mundo
inteligvel. Na concepo, universo espiritual e universo natural se
interpenetram para formar um nico e harmonioso universo que
111
Hegel_NM.pmd 111 21/10/2010, 09:22
se retira nele mesmo e que, nesses lados, desenvolve o absoluto
at a totalidade, para tornar-se autoconsciente de sua unidade,
no pensamento.
Eis at onde chegou o esprito do mundo. A ltima filosofia
o resultado de todas as filosofias anteriores; nada se perdeu, todos
os princpios esto conservados. Esta ideia concreta o resultado
dos esforos do esprito durante cerca de dois mil e quinhentos
anos , de seu trabalho mais srio: tornar-se objetivo a seus pr-
prios olhos, conhecer-se: Tantae molis erat, se ipsam cognoscere mentem.90
[...] Este trabalho do esprito do homem em seu pensar interi-
or paralelo a todos os graus da realidade efetiva. Nenhuma filo-
sofia ultrapassa o seu tempo. A histria da filosofia o que a hist-
ria do mundo tem de mais interior. Que as determinaes do
pensamento tenham tal importncia, isso o objeto de um outro
conhecimento, que no pertence histria da filosofia. Esses con-
ceitos so a mais simples revelao do esprito do mundo: revela-
o [que ], em sua figura mais concreta, histria. (Histria da filoso-
fia, edio K. Michelet, XV, pp. 684-686)
90
To grande era para o esprito o labor de conhecer-se a si mesmo. Hegel transpe,
para a histria da filosofia, a exclamao de Virglio, no incio de Eneida (I, 33), sobre a
fundao de Roma: Tantae molis erat Romanam condere gentem! To grande era o labor
de fundar a nao romana!). (Nota do organizador.)
112
Hegel_NM.pmd 112 21/10/2010, 09:22
113
Hegel_NM.pmd 113 21/10/2010, 09:22
114
Hegel_NM.pmd 114 21/10/2010, 09:22
CRONOLOGIA
1770 - Em 27 de agosto, em Stuttgart, nasce Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
1775 - Ingressa na Escola Latina.
1777-1788 - Ingressa no Gymnasium de Stuttgart, onde receber uma formao
clssica, fortemente marcada pela problemtica do iluminismo.
1783 - Morre a me de Hegel, Maria Madalena, nascida Fromm.
1785 - Hegel comea um dirio intelectual em alemo e latim: Conversa com
Otvio, Antnio e Lpido.
1787 - Redige Sobre a religio dos gregos e dos romanos.
1788-1793 - Recebe o diploma de estudos secundrios (Maturum). Na qualidade
de bolsista ducal, inscreve-se no Stift de Tbingen, seminrio de teologia
protestante. Mantm assduas leituras de Kant e Rousseau. Redige Sobre
algumas diferenas entre os poetas antigos e modernos: este texto e os dois
citados acima sero publicados por Hoffmeister em 1936.
1790 - Em 27 de setembro, obtm o grau de Magister philosophiae.
1793 - Defende sua dissertao perante o consistrio do Stift e renuncia profisso
de pastor. At 1796, preceptor em Berna, onde desenvolve leituras de
Gibbon, Montesquieu, Hume, Kant e Schiller. Mantm intensa correspon-
dncia com Schelling e Hlderlin. Faz passeios frequentes nos Alpes.
1795 - Escreve A vida de Jesus e A positividade da religio crist, publicados por H.
Nohl, em 1907.
1796 - Transcreve O mais antigo programa sistemtico do idealismo alemo, manuscri-
to do qual talvez tenha sido, tambm, o autor. Redige um dirio de
viagem no Oberland.
1797 - Em Frankfurt, a partir de janeiro e at o fim de 1799, preceptor na
famlia de um negociante, Gogel. Frequenta assiduamentre Hlderlin, ele
prprio preceptor na famlia de um banqueiro frankfurtiano, Gontard.
Desenvolve trabalhos acerca da tradio judaica e das Investigaes sobre os
princpios da economia poltica de Stewart.
115
Hegel_NM.pmd 115 21/10/2010, 09:22
1798 - Redige A nova situao de Wurtemberg. Publica Cartas confidenciais sobre o
estatuto jurdico da relao entre o canto de Vaud e a cidade de Berna, apresen-
tada, anonimamente, como obra traduzida do francs.
1799 - Morre o pai, Georg-Ludwig Hegel. Ele redige o manuscrito de O esprito
do cristianismo e seu destino.
1800 - Torna-se Privatdozent na Universidade de Iena, ento considerada o centro
da vida filosfica alem: nela ensinara Fichte; nela j ensinava Schelling;
Schiller e Goethe estavam nas proximidades.
1801 - Em julho, d acabamento e publica Diferena entre os sistemas filosficos de
Fichte e de Schelling. Entre julho e agosto, faz a redao e a defesa da tese de
habilitao De orbitis planetarum.
1802 - Funda, com Schelling, o Dirio crtico de filosofia, no qual publica cinco
ensaios: Sobre a essncia da crtica filosfica, Como o senso comum compreende a
filosofia, A relao do ceticismo com a filosofia, F e saber, Sobre as maneiras de
tratar cientificamente do direito natural.
1803 - No incio deste ano, termina o manuscrito Sistema da eticidade, publicado
postumamente por G. Lasson. At 1806, leciona lgica, metafsica, direi-
to natural e filosofia da natureza: estas aulas sero publicadas, em trs
volumes, tambm por Lasson.
1805 - Sob a recomendao de Goethe, nomeado professor extraordinrio em
Iena. Desenvolve trabalhos preparatrios para a Fenomenologia do esprito.
1806-1807 - Redige e publica a Fenomenologia do esprito.
1807-1808 - Atua como jornalista e diretor da Gazeta de Bamberg. Publica o
artigo Quem pensa abstratamente. Em novembro de 1808, devido
censura poltica, obrigado a deixar o cargo.
1808-1816 - Em Nuremberg, nomeado professor e depois diretor do ginsio.
Redige a Cincia da lgica e publica sua primeira edio em trs volumes:
1812, 1815 e 1816. Ministra aulas de filosofia, compiladas e publicadas
postumamente por K. Rosenkranz, com o ttulo de Propedutica filosfica.
1811 - Em setembro, casa-se com Marie von Tucher; dessa unio nascero dois
filhos Karl e Immanuel.
1816 - nomeado cadeira de filosofia da Universidade de Heidelberg. Em 28
de outubro, ministra a primeira aula, sobre a histria da filosofia.
1817 - Primeira edio dos trs volumes da Enciclopdia das cincias filosficas: em
compndio (reeditada em 1827 e 1830). Publica dois artigos nos Anais
literrios de Heidelberg: Sobre as obras de Jacobi e Sobre os debates da
Assembleia de Wurtemberg de 1815 e 1816.
1818 - nomeado para a cadeira de filosofia da Universidade de Berlim, vaga
desde a morte de Fichte (1814). At 1831, Hegel assume, cada vez mais,
116
Hegel_NM.pmd 116 21/10/2010, 09:22
responsabilidades universitrias. Suas aulas abrangem todos os domnios
do sistema. Os estudantes so cada vez mais numerosos, principalmente
nos cursos sobre filosofia da histria; dentre eles, o poeta Heinrich Heine,
que ele encontra tambm no salo de Raquel von Varnhagen.
1819 - Apresenta Lies sobre a histria da filosofia, proferidas em Berlim, publicadas
postumamente por K.-L. Michelet.
1820 - Hegel designado membro da comisso de pesquisa cientfica de
Brandemburgo.
1820-1829 - Apresenta Lies sobre esttica, publicadas postumamente, em trs
volumes, por E. Hotho.
1820 - Publica Linhas fundamentais da filosofia do direito. Oferece Prelees sobre a
filosofia da religio, publicadas postumamente, em dois volumes, por P.
Marheineke.
1822 - Viaja Blgica e aos Pases Baixos. Ministra aulas sobre filosofia da
histria, publicadas postumamente por E. Gans.
1824 - Viaja a Praga e a Viena.
1827 - Viaja a Paris, onde se encontra com Victor Cousin. Na volta, passa por
Weimar, onde Goethe oferece um ch em sua homenagem. Participa nos
Anais de crtica cientfica, revista que ajudou a fundar e na qual publicou, entre
outros textos, uma longa resenha sobre Bhagavad-Gita de Humboldt (1827),
estudos sobre Solger (1828), ensaios sobre os Escritos de Hamann (1828).
1829 - Hegel eleito reitor da Universidade de Berlim.
1831 - feita a publicao da primeira parte de um artigo no Dirio do estado
Prussiano sobre o Bill de reforma ingls, interrompida pela censura.
1831 - Em 14 de novembro, Hegel morre de clera.
117
Hegel_NM.pmd 117 21/10/2010, 09:22
118
Hegel_NM.pmd 118 21/10/2010, 09:22
BIBLIOGRAFIA
Obras de Hegel
HEGEL, G. W. F. Werke: Theorie Werkausgabe. Francfort: Suhrkamp Verlag,
1971. 20v.
______. Phnomnologie de lesprit, 1807. In: ______. Werke : Theorie
Wekausgabe, v.2. Francfort : Suhrkamp Verlag, 1971. pp. 50-84.
______. Lesprit devenu tranger soi-mme : la culture. In: ______. Werke :
Theorie Wekausgabe, v.3. Francfort : Suhrkamp Verlag, 1971. pp. 359-398.
______. Nrnberger Schriften ,1808-1817. In: ______. Werke : Theorie Wekausgabe,
v.4. Francfort : Suhrkamp Verlag, 1971. pp. 305-376.
______. Principes de la philosophie du droit. In: ______. Werke : Theorie Wekausgabe,
v.7. Francfort : Suhrkamp Verlag, 1971. pp. 325-345.
______. Encyclopdie des sciences philosophiques en abrg, 1830. In: ______.
Werke : Theorie Wekausgabe, v.7. Francfort : Suhrkamp Verlag, 1971. pp. 393-
437.
_______Psychologie: lesprit. In: Encyclopdie des sciences philosophiques. Paris
: Vrin, 1988. partie 3.
_______ La philosophie de lesprit. In: ______. Werke : Theorie Wekausgabe,
v.10. Francfort : Suhrkamp Verlag, 1971. pp. 229-302.
Obras sobre Hegel
ABECASSIS, N. Hegel: cours desthtique. Paris: Bral, 2004.
ADORNO, T. W. Trois tudes sur Hegel. Paris: Payot, 1979.
ALTHAUS, H. Hegel: an intellectual biography. [New York]: Polity, 2000.
______. Hegel: naissance dune philosophie. Paris: Seuil, 1999.
ANDREUCCI, C. Niente da ricordare: la vita di Hegel del Rosenkranz e altri
fantasmi. Milo: Corponove, 2008.
ANGELI, F. Hegel e Il nichilismo. Roma: Franco Angeli, 2003.
119
Hegel_NM.pmd 119 21/10/2010, 09:22
AVINERI, S. La teoria hegeliana dello stato. Roma: Laterza, 1973.
BARNETT, S. Hegel After Derrida. New York: Routledge, 1998.
BEDESCHI, G. Politica e storia in Hegel. Roma: Laterza, 1973.
BEISER, F. The Cambridge Companion to Hegel. Cambridge: Cambridge University
Press, 1993.
BIANCHI, O. Hegel et la peinture. Paris: LHarmattan, 2003.
BODEI, R. Sistema ed epoca. Bolonha: Il Mulino, 1975.
_______; CASSANO, F. Hegel e Weber: egenonia e legittimazione. Bari: Donato, 1977.
BONITO, O. R. Lindividuo moderno e la nuova comunit: ricerche sul significato
della liberta in Hegel. Npole: Guida, 2000.
______. Labirinti e costellazioni: um percorso al margini di Hegel. Milo: Mimesis,
2008.
BOURGEOIS, B. Le droit naturel de Hegel, 1802-1803. Paris: Vrin, 1986.
______. tudes hgliennes. Paris: PUF, 1992.
______. Hegel. In: ENCYCLOPDIE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES.
Paris: Ellipses, 2004.
______ (Org.). Hegel: bicentenaire de la Phnomnologie de lesprit. Paris: Vrin,
2008.
______. Hegel Francfort. Paris: Vrin, 1970.
______. Prsentation. In: ENCYCLOPDIE DES SCIENCES PHILOSO-
PHIQUES, v. 1. Hegel. Paris: Vrin, 1970.
______. Prsentation. In: ENCYCLOPDIE DES SCIENCES PHILOSO-
PHIQUES, v. 2. Hegel. Paris: Vrin, 2004.
______. Prsentation. In: ENCYCLOPDIE DES SCIENCES PHILOSO-
PHIQUES, v. 3. Hegel. Paris: Vrin, 1988.
BOUTON, C. Le process de lhistoire: fondements et postrit de lidalisme
historique de Hegel. Paris: Vrin, 2004.
BUTLER, J. Subjects of Desire. Columbia: Columbia University, Press, 1999.
CANTILLO, C. Concetto e metfora: saggio sulla storia della filosofia di Hegel.
Npole: Loffredo, 2007.
______. Le forme dellumano: studi su Hegel. Npole: Scientifiche Italiane, 1996.
CERRONI, U. Societa civile e stato politico in Hegel. Bari: De Donato, 1974.
CESA, C. (Org.). Guida a Hegel: fenomenologia, logica, filosofia della natura,
morale, politica, estetica, religione, storia. Bari: Laterza, 1997.
______. Hegel filosofo politico. Npole: Guida, 1976.
120
Hegel_NM.pmd 120 21/10/2010, 09:22
______. Le origini dellidealismo tra Kant e Hegel. Torino: Loescher, 1981.
CHIEREGHIN, F. Dialettica dellassoluto e ontologia della soggettivita in Hegel: dallideale
giovanile alla fenomenologia dello spirito. Trento: Verifiche, 1980.
______. La Fenomenologia dello spirito di Hegel: introduzione alla lettura. Roma:
Carocci, 2008.
______. Hegel e la metafisica classica. Pdova: CEDAM, 1966.
COCCOLI, G. Arte, religione, sapere: um commento alla Fenomenologia dello
spirito di Hegel. Milo: Stamen, 2008.
COLETIVO. Hegel contemporneo: la ricezione americana di Hegel a confronto
com la tradizione europea. Milo: Guerini e Associati, 2003.
COLLIOT-THLNE, C. Le dsenchantement de ltat: de Hegel Max Weber.
Paris: Ed. de Minuit, 1992.
COPLESTON, F. A history of philosophy: modern philosophy Fichte to Hegel.
New York: Image Books, 1965.
CORTELLA, L. Dopo il sapere assoluto: leredita hegeliana nellepoca post-
metafisica. Milo: Guerini e Associati, 1995.
COSTANTINO, S. Hegel la dialettica come linguaggio: il problema dellindividuo
nella Fenomenologia dello spirito. Milo: Mursia, 1980.
CROCE, B. Cio che e vivo e cio che e morto della filosofia de Hegel. Bari: Laterza, 1907.
______. Saggi filosofici: saggio sullo Hegel seguito da altri scritti di storia della
filosofia. Bari: Laterza, 1913.
DABBIERO, M. Alienazione in Hegel: usi e significati di Entausserung,
Entfremdung, Verausserung. Roma: Ateneo, 1970.
DE FEDERICIS, N. Moralit ed eticit nella filosofia poltica di Hegel. Npole:
Edizioni Scientifiche Italiane, 2001.
DEL SILENZIO, G. La parbola della modernit da Cartesio a Hegel. [Roma]:
Boopen, 2008.
DENKER, A.; VATER, M. Hegels Phenomenology of Spirit: new critical essays.
New York: Humanity Books, 2003.
DRANTY, J.-P. Prsentatio. In: LEONS SUR LE DROIT NATUREL ET
LA SCIENCE DE LTAT. Hegel. Paris: Vrin, 2002.
DERRIDA, J. Glas. Paris: Galilee, 2004.
DESMOND, W. Art and the Absolute: A Study of Hegels Aesthetics. New York,
State University of New York Press, 1986.
______. Beyond Hegel and dialectic: speculation, cult, and comedy. New York:
State University of New York Press, 1992.
121
Hegel_NM.pmd 121 21/10/2010, 09:22
DHONDT, J. Hegel. Paris: Calman-Lvy, 1998.
______. Hegel, sa vie, son oeuvre. Paris: PUF, 1975.
DI CARLO, L. Sistema giuridico e interazione sociale in Hegel: Dagli scritti jenesi ai
lineamenti di filosofia del diritto. [Roma]: ETS, 2006.
DICKEY, L. Religion, Economics, and the Politics of Spirit, 1770-1807. Cambridge:
Cambridge University Press, 1987.
FABBRI, V.; VIEIILARD-BARON, J.-L. (Org.). Esthtique de Hegel. Paris:
LHarmattan, 2000.
FERRARIN, A. Hegel interprete di Aristotele. Pisa: ETS, 1990.
FESSARD, G. Hegel, le christianisme et lhistoire. Paris: PUF, 1990.
FETSCHER, I. (Org.). Hegel in der Sicht der neuern Forschung. Frankfurt: Detmold,
1973.
FINDLAY, J.N. Hegel: a re-examination. London: Colliers, 1958.
FINESCHI, R. Marx e Hegel: contributi a una rilettura. Roma: Carocci, 2006.
FISCHBACH, F. Du commencement en philosophie: etude sur Hegel et Schelling.
Paris: Vrin, 1999.
______. Fichte et Hegel: etude sur la reconnaissance. Paris: PUF, 1999.
FORSTER, M. N. Hegel and Skepticism. Cambridge: Har vard University
Press,1989.
______. Hegels Idea of a Phenomenology of Spirit. Chicago: University of Chicago
Press, 1998.
FULDA, H. F.; HENRICH, D. Materialen zu Hegels Phnomenologie des Geistes.
Frankfurt: Suhrkamp, 1973.
GIOVANNI, B. de. Hegel e il tempo storico della societa borghese. Bari: De Donato, 1970.
GODARD, J.-C. Hegel et lhglianisme. Paris: Armand Colin, 1998.
GOLDONI, D. Filosofia e paradosso: il pensiero di Hlderlin e il problema del
linguaggio da Herder a Hegel. Npole: Edizioni Scientifiche Italiane, 1990.
HARRIS, H. S. Hegels ladder: the odyssey of spirit. Indianapolis: Hackett, 1997.
______. Hegels ladder: the pilgrimage of reason. Indianapolis:, Hackett, 1997.
______. Hegels development: toward the sunlight, 1770-1801. Oxford: Clarendon
Press, 1972.
HEEDE, R.; RITTER J. (Org.). Hegel: bilanz; zur Aktualitt und Inaktualitt
der Philosophie Hegels. Frankfurt: Klostermann, 1973.
HEIDTMANN, B. (Org.). Hegel: perspektiven seiner Philosophie heute. Colnia:
Pahl-Rgenstein, 1981.
122
Hegel_NM.pmd 122 21/10/2010, 09:22
HELFERICH, C. G.W.Fr. Hegel. Stuttgart: Metzler, 1979.
HENRICH, D.; PACINI, D. Between Kant and Hegel: lectures on German Idealism.
Cambridge: Harvard University Press, 2008.
HONNETH, A. The Fragmented World of the Social: Essays in Social and Political
Philosophy. New York: State University of New York Press, 1995.
HOULGATE, S. An introduction to Hegel: freedom, truth and history. Oxford:
Blackwell Publishing, 2005.
HYPPOLITE, J. Figures de la pense philosophique, tomo 1. Paris: PUF, 1972.
ILLETTERATI, L. Natura e ragione: sullo sviluppo dellidea di natura in Hegel.
Trento: Verifiche, 1995.
INWOOD, M. Hegel. New York: Routledge, 2002. (The Argument of the
philosophers).
JAMES, D. Art, Myth and Society in Hegels Aesthetics. [London]: Continuum,
2009. (Continuum studies in Philosophy).
JANICAUD, D. Hegel et le destin de la Grce. Paris: Vrin, 1975.
JARCZYK, G.; LABARRIRE, P.-J. Les premiers combats de la reconnaissance.
Paris: Aubier-Montaigne, 1987.
______. De Kojve Hegel: 150 ans de pense hglienne. Paris: Albin Michel,
1997.
JURIST, E. L. Beyond Hegel and Nietzsche: Philosophy, Culture and agency. London:
The MIT Press, 2002.
KAINZ, H. P. Introduction to Hegel: stages of modern Philosophy. Cleveland:
Ohio University Press, 1996.
KAUFMANN, W. Hegel: a reinterpretation. Garden City: Anchor Books, 1966.
KEDNEY, J. S.. Hegels Aesthetics: a critical exposition. London: Kessinger
Publishing, 2007.
KERVGAN, J.-F. Prsentation: linstitution de la libert. In: ______. Hegel:
principes de la philosophie du droit. Paris: PUF, 2003.
KNOX, T.M. Introduction to the Lectures on the History. Oxford: Oxford University
Press, 1987.
KOBAU, P. La disciplina dellanima: genesi e funzione della dottrina hegeliana
dello spirito soggettivo. Milano: Guerini e Associati, 1993.
KRASNOFF, L. Hegels Phenomenology of Spirit: an introduction. Cambridge:
Cambridge University Press, 2008.
LABARRIRE, P.-J. Introduction une lecture de la Phnomnologie de lesprit de
Hegel. Paris: Aubier-Montaigne, 1979.
123
Hegel_NM.pmd 123 21/10/2010, 09:22
______. Structures et mouvement dialectique dans la Phnomnologie de lesprit de Hegel.
Paris: Aubier-Montaigne, 1968.
LAMB, D. Language and Perception in Hegel and Wittgenstein. Palgrave: Macmillan,
1980.
LANDUCCI, S. Hegel: la coscienza e la storia. Florena: La Nuova Italia, 1976.
______. La contradizione in Hegel. Florena: La Nuova Italia, 1978.
LAUER, Q. A Reading of Hegels: phenomenology of spirit. New York: Fordham
University Press, 1978.
______. Hegels Concept of God. Albany: State University of New York Press,
1982.
LAUTH, R. Hegel critique de la Doctrine de la science de Fichte. Paris: Vrin, 1987.
LI VIGNI, F. La dialettica delletico: lessico ragionato della filosofia etico-politica
hegeliana nel periodo di Jena. Milano: Guerini e Associati, 1992.
______. Attualit di Hegel. Reggio Calabria: La Citt del Sole, 1998.
LOSURDO, D. Hegel e la Germania: filosofia e questione nazionale tra rivoluzione
e reazione. Milano: Guerini e Associati, 1997.
LOWITH, K. De Hegel Nietzsche. Paris: Gallimard, 1969.
______. La sinistra hegeliana. Bari: Laterza, 1960.
LUGARINI, L. Hegel dal mondo storico alla filosofia. Roma: Armando Armando,
1973.
LUQUEER, F. L. Hegel as Educator. London: Kessinger Publishing, 2008.
MARCUSE, H. Lontologie de Hegel et la thorie de lhistoricit. Paris: Ed. de Minuit,
1972.
MASULLO, A. La potenza della scissione: letture hegeliane. Npole: Scientifiche
Italiane, 1997.
MAURO, B. Conflito esttico: Hlderlin, Hegel e il problema del linguaggio. Gnova:
Il Nuovo Melangolo, 2004.
MENEGONI, F. Soggetto e struttura dellagire in Hegel. Trento: Verifiche, 1993.
MERCIER-JOSA, S. La lutte pour la reconnaissance et la notion de peuple dans la
Premire Philosophie de lesprit de Hegel. Paris: Centre de Sociologie Historique,
2003.
MOYAR, D.; QUANTE, M. Hegels Phenomenology of Spirit: a critical guide.
Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
NANCY, J.-L. Hegel. Linquitude du ngatif. Paris: Hachette, 1997.
NEGT, O. (Org.). Aktualitt und Folgen der Philosophie Hegels. Frankfurt: Suhrkamp,
1970.
124
Hegel_NM.pmd 124 21/10/2010, 09:22
NEUHOUSER, F. Foundations of Hegels Social Theory. Cambridge: Harvard
University Press, 2000.
OLIVIER, A.-P. Hegel et la musique: de lexprience esthtique la spculation
philosophique. Paris: Honor Champion, 2003.
ONEILL, J. (Org.). Hegels Dialectic of Desire and Recognition. New York: State
University of New York Press, 1996.
PAPA, F. Logica e Stato in Hegel. Bari: De Donato, 1973.
PARINETTO, L.; SICHIROLLO, L. Marx e Schylock: Kant, Hegel, Marx e il
mondo ebraicoLa questione ebraica. Milo: Unicopli, 1982.
PELCZYNSKI, Z. A. (Ed.). Hegels political philosophy: problems and perspectives.
Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
PETRINI, F. Lidea di Dio en Hegel: Stoccarda e Tubinga. Roma: Citta Nuova,
1976.
PETRY, J. M. (Org.). G.W.F Hegel: the Berlin phenomenology. Dordrecht:
Springer, 1981.
PHILONENKO, A. Lecture de la Phnomnologie de lesprit: prface, introduction.
Paris: Vrin, 1994.
______. Commentaire de la Phnomnologie de Hegel: de la certitude sensible au
savoir absolu. Paris: Vrin, 2001.
PINKARD, T. Hegel: a biography. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
______. Hegels Phenomenology: the sociality of reason. Cambridge: Cambridge
University Press, 2005.
PIPPIN, R. B. Hegels Idealism: the satisfactions of self-conciousness. Cambridge:
Cambridge University Press, 1989.
______. Hegels Practical Philosophy: rational agency as ethical life. Cambridge:
Cambridge University Press, 2008.
PLANT, R. Hegel. Paris: Seuil, 2000.
PLANTY BONJOUR, G. Hegel e il pensiero filosfico in Russia, 1830-1917. Milo:
Guerini e Associati, 1995.
PLEINES, J.-E. Hegels Theorie der Bildung. Zurique: Hildsheim, 1983-1986. 2v.
PGGELER, O. (Org.). Hegel: einfhrung in seine Philosophie. Friburgo: Karl
Alber, 1977.
PONSO, M. Cosmopoliti e patrioti: transformazioni dellideologia nazionale tedesca
tra Kant e Hegel, 1795-1815. Roma: Franco Angeli, 2005.
RACINARO, R. Realt e conciliazione in Hegel. Bari: De Donato,1975.
RIEDEL, M. Hegel fra tradizione e rivoluzione. Bari: Laterza, 1975.
125
Hegel_NM.pmd 125 21/10/2010, 09:22
______. Materialen zu Hegels Rechtsphilosophie. Frankfurt: Suhrkamp, 1975. 2v.
RITTER, J. Hegel et la Rvolution franaise. Paris: Beauchesne, 1970.
ROCKMORE, T. Cognition: an introduction to Hegels Phenomenology of spirit.
Berkeley: University of California Press, 1997.
______. Hegel: idealism, and analytic philosophy. Yale: Yale University Press,
2005.
______. Hegel et la tradition philosophique allemande. Bruxelles: Ousia, 1994.
RODESCHINI, S. Costituzione e popolo: lo stato moderno nella filosofia della
storia di Hegel, 1818-1830. Macerata: Quodlibet, 2006.
ROSENKRANZ, K. Vie de Hegel. Paris: Gallimard, 2004.
ROSSI, M. Da Hegel a Marx. Milo: Feltrinelli, 1975. 4v.
ROUSSET, B. Le savoir absolu. Paris: Aubier-Montaigne, 1977.
ROVIGHI, S. V. Da Hegel al positivismo: appunti del corso di Storia della Filosofia
1971-72. Milo: CELUC, 1972.
SALVADORI, R. Hegel in Francia: filosofia e poltica nella cultura francese del
novecento. Bari: De Donato, 1974.
SEDDONE, G. Condivisione ed impegno: linguaggio, pratica e riconoscimento in
Brandom, Hegel e Heidegger. Milo: Polimetrica, 2006.
SEDGWICK, S. The Reception of Kants Critical Philosophy: Fichte, Schelling and
Hegel. Cambridge: Cambridge University Press 2007.
SICHIROLLO, L. Per una storiografia filosofica: Platone, Descartes, Kant, Hegel.
Urbino: Argalia, 1970.
______. Ritratto di Hegel: con le testimonianze dei suoi contemporanei. Roma:
Manifestolibri, 1996.
SIEP, L. Il riconoscimento come principio della filosofia pratica: richerche sulla filoso-
fia dello spirito jenese di Hegel. Lecce: Pensa Multimedia, 2007.
SMITH, S. B. Hegels Critique of Liberalism: rights in context. Chicago: University
of Chicago Press, 1991.
SOLOMON, R. C. In the Spirit of Hegel. Oxford: Oxford University Press,
1985.
______. From Hegel to existencialism. New York: Oxford University Press, 1987.
SOUAL, P. Le sens de letat: commentaire des Principes de la philosophie du droit
de Hegel. Louvain: Peeters, 2006.
STACE, W. T. The philosophy of Hegel: a systematic exposition. New York: Dover,
1955.
126
Hegel_NM.pmd 126 21/10/2010, 09:22
STANGUENEC, A. Hegel. Paris: Vrin, 1997.
STEINHAUSER, K. Hegel Bibliography. [London]: Gruyter, 1981.
SUMMER, C. The philosophy of man: related readings. Addis Abada: Central,
1975.
SZONDI, P. La potica di Hegel. Roma: Einaudi, 2007.
TAMINIAUX. Naissance de la philosophie hglienne de ltat. Paris: Payot, 1984.
TASSI, A. Hegel in chiaroscuro. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2008.
______. Teologia e Aufklrung: le radici del giovane Hegel. Reggio Calabria: La
Citt del Sole, 1998.
TAYLOR, C. Hegel. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
______. A secular age. Cambridge: Harvard University Press, 2007.
TESTA, I. Hegel critico e scettico: iIlluminismo, repubblicanismo e antinomia alle
origini della dialettica, 1785-1800. Pdua: Il Poligrafo, 2002.
THAULOW, G. Hegels Ansichten ber Erz iehung und Unterricht. Frankfurt:
Glashtten, 1974. 4v.
TILLIETTE, X. Recherches sur lintuition intellectuelle de Kant Hegel. Paris: Vrin,
1995.
TINLAND, O. (Org.). Lectures de Hegel. Paris: Le Livre de Poche, 2005.
______. Hegel: matrise et servitude. Paris: Ellipses, 2003.
VERRA, V. Letture hegeliane: idea, natura e storia. Bolonha: Il Mulino, 1992.
______. Su Hegel. Bolonha: Il Mulino, 2007.
VERSTRAETEN, P. (Org.). Hegel aujourdhui. Paris: Vrin, 1995.
VINCENZO, V. Hegel in Italia: dalla storia alla logica. Milo: Guerini e Associati.
2003.
VINCI, P. Cosczienza infelice e anima bella: commentario della Fenomenologia
dello Spirito di Hegel. Milo: Guerini e Associati, 1999.
WAHL, J. Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel. Paris: Rieder, 1929.
WARMINSKI A.; GASCHE, R. Readings in Interpretation: Hlderlin, Hegel,
Heidegger. Minnesota: University of Minnesota Press, 1987. (Theory and history
of literature).
WEIL, . Hegel et ltat. Paris: Vrin, 1950.
______ (Org.). Hegel et la philosophie du droit. Paris: PUF, 1979.
WESTPHAL, K. R. The Blackwell Guide to Hegels Phenomenology of Spirit. London:
Willey Blackwell, 2009.
127
Hegel_NM.pmd 127 21/10/2010, 09:22
WIEDMANN, F. Hegel. Reinbeck: Rowohlt, 1965.
WOOD, A. W. Hegels Ethical Thought. Cambridge: Cambridge University Press,
1990.
Obras de Hegel em portugus
HEGEL, G. W. F. Como o senso comum compreende a filosofia. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1994.
______. Cursos de esttica. So Paulo: Edusp, 2000-2005. 5v.
______. Diferena entre os sistemas filosficos de Fichte e de Schelling. Lisboa: Casa da
Moeda, 2003.
______. Discursos sobre a educao. Lisboa: Colibri, 1994.
______. Enciclopdia das cincias filosficas em compndio. So Paulo: Loyola, 1995-
1997. 3v.
______. F e saber. So Paulo: Hedra, 2007.
______. Fenomenologia do esprito. Petrpolis: Vozes, 2007.
______. Filosofia da histria. Braslia: UnB, 1999.
______. Introduo histria da filosofia. Lisboa: Edies 70, 2007.
______. Propedutica filosfica. Lisboa: Edies 70, 1989.
______. A razo na histria. So Paulo: Centauro, 2001.
______. A sociedade civil-burguesa. So Paulo: IFCH, Unicamp, 1996. (Coleo
textos didticos; 21).
______. Sobre as maneiras cientficas de tratar do direito natural. So Paulo: Loyola,
2007.
Obras sobre Hegel em portugus
ALAIN. Ideias: introduo filosofia; Plato, Descartes, Hegel, Comte. So
Paulo: Martins Fontes, 1993.
ALMEIDA, C. Hermenutica e dialtica: dos estudos platnicos ao encontro com
Hegel, v. 1. Porto Alegre: Edipucrs, 2002.
ANDERSON, P. O fim da histria: de Hegel a Fukuyama. Rio de Janeiro: Zahar,
1992.
AQUINO, M. F. de. O conceito de religio em Hegel. So Paulo: Loyola, 1989.
ARANTES, P. E. Um departamento francs de ultramar: estudos sobre a formao
da cultura filosfica uspiana; uma experincia dos anos 60. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1994.
128
Hegel_NM.pmd 128 21/10/2010, 09:22
______. Ressentimento da dialtica: dialtica e experincia intelectual em Hegel:
antigos estudos sobre o ABC da misria alem. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
______. O fio da meada: uma conversa e quatro entrevistas sobre filosofia e vida
nacional. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
______. Hegel: a ordem do tempo. 2.ed. So Paulo: Hucitec, Polis, 2000.
ARANTES, P. E. et al. A filosofia e seu ensino. Petrpolis: Vozes, 1995.
BAVARESCO, A. A fenomenologia da opinio pblica: a teoria hegeliana. So Paulo:
Loyola, 2003.
BICCA, L. Racionalidade moderna e subjetividade. So Paulo: Loyola, 1997.
BOBBIO, N. Estudos sobre Hegel: direito, sociedade civil, estado. So Paulo: Unesp,
1989.
BORGES, M. de L. A. Histria e metafsica em Hegel: sobre a noo de esprito do
mundo. Porto Alegre: Edipucrs, 1998.
BOURGEOIS, B. O pensamento poltico de Hegel. So Leopoldo: Unisinos, 2000.
______. Hegel: os atos do esprito. So Leopoldo: Unisinos, 2004.
BRITO, E. Hegel e a tarefa atual da cristologia. So Paulo: Loyola, 1983.
CHTELET, F. Hegel. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.
FELIPPI, M. C. P. O esprito como herana: as origens do sujeito contemporneo na
obra de Hegel. Porto Alegre: Edipucrs, 1998.
FERREIRA GONALVES, M. G. O belo e o destino: uma introduo filosofia
de Hegel. So Paulo: Loyola, 2001.
FIORI, E. M. Metafsica e histria. Porto Alegre: L&PM, 1987.
FITZGERALD, R. (Org.). Hegel: pensadores polticos comparados. Braslia:
Universidade de Braslia, 1983.
FLICKINGER. H.-G. Marx e Hegel: o poro de uma filosofia social. Porto
Alegre: LPM & CNPQ, 1986.
______. Hegel: a lgica ambgua da Revoluo Francesa. In: RIBEIRO, R. J.
(Org.). Sombra e luzes. So Paulo: Edusp, 1989. pp. 33-38.
GARAUDY, R. Para conhecer o pensamento de Hegel. Porto Alegre: LPM, 1983.
HABERMAS, J. Discurso filosfico da modernidade. So Paulo: Martins Fontes,
2002.
HEIDEGGER, M. Sobre a essncia do fundamento: a determinao do ser do ente
segundo Leibniz, Hegel e os gregos. So Paulo: Duas Cidades, 1971.
HONNETH, A. Luta por reconhecimento: a gramtica moral dos conflitos sociais.
So Paulo: Editora 34, 2003.
129
Hegel_NM.pmd 129 21/10/2010, 09:22
______. Sofrimento de indeterminao: uma reatualizao da filosofia do direito de
Hegel. So Paulo: Esfera Pblica, 2007.
HSLE, V. O sistema de Hegel: o idealismo da subjetividade e o problema da
intersubjetividade. So Paulo: Loyola, 2007.
HYPPOLITE, J. Gnese e estrutura da fenomenologia do esprito de Hegel. 2.ed. So
Paulo: Discurso Editorial, 2003.
______. Introduo filosofia da histria. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1971.
INWOOD, M. Dicionrio de Hegel. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
KERVGAN, J.-F. Hegel, Carl Schmitt: o poltico entre a especulao e a
positividade. Barueri: Manole, 2006.
______. Hegel e o hegelianismo. So Paulo: Loyola, 2008.
KOJVE, A. Introduo leitura de Hegel: aulas sobre a fenomenologia do Espri-
to ministradas de 1933 a 1939 na cole Pratique des Hautes tudes. Rio de
Janeiro: Eduerj 2002.
KONDER, L. Hegel: a razo quase enlouquecida. Rio de Janeiro: Campus, 1979.
LEBRUN, G. O avesso da dialtica: Hegel luz de Nietzsche. So Paulo: Compa-
nhia das letras, 1988.
______. A pacincia do conceito: ensaio sobre o discurso hegeliano. So Paulo:
Edunesp, 2006.
MENESES, P. Para ler a fenomenologia do esprito. So Paulo: Loyola, 1985.
______. Hegel e a fenomenologia do esprito. So Paulo: Zahar, 2003.
______. Abordagens hegelianas. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2006.
LEFEBVRE, J.-P.; MACHEREY, P. Hegel e a sociedade. So Paulo: Discurso, 1999.
LOSURDO, D. Hegel, Marx e a tradio liberal: liberdade, igualdade, estado. So
Paulo: Edunesp, 1998.
LUFT, E. As sementes da dvida: investigao crtica dos fundamentos da filosofia
hegeliana. So Paulo: Mandarim, 2001.
MARCUSE, H. Razo e revoluo: Hegel e o advento da teoria social. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2004.
MORAES, A. de O. A metafsica do conceito: sobre o problema do conhecimento
de Deus na Enciclopdia das cincias filosficas de Hegel. Porto Alegre: Edipucrs,
2003.
NUNES, R. A. da C. A ideia da verdade e a educao. So Paulo: Convivio, 1978.
OLIVEIRA, M. A. A filosofia na crise da modernidade. So Paulo: Loyola, 1989.
OLIVEIRA, R. C. F. de. Infinidade e historicidade em Hegel. Rio de Janeiro: UFRJ-
IFCS, 1990.
130
Hegel_NM.pmd 130 21/10/2010, 09:22
PALACIO, C. (Org.). Cristianismo e histria. So Paulo: Loyola, 1982.
PAPAIOANNOU, K. Hegel. Lisboa: Presena, 1964.
RAMOS, C. A. Liberdade subjetiva e estado na filosofia poltica de Hegel. Curitiba:
UFPR, 2000.
ROSA FILHO, S. Eclipse da moral: Kant, Hegel e o nascimento do cinismo
contemporneo. So Paulo: Discurso Editorial Barcarolla, 2009.
ROSENFIELD, D. L. Poltica e liberdade em Hegel. So Paulo: Brasiliense, 1983.
______. Hegel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
ROSENZWEIG, F. Hegel e o estado. So Paulo: Perspectiva, 2008.
SALGADO, J. C. A ideia de justia em Hegel. So Paulo: Loyola, 1996.
SANTOS, J. H. O trabalho do negativo: ensaios sobre a Fenomenologia do esprito.
So Paulo: Loyola, 2007.
SCHMIED-KOWARZIK, W. Praxis e responsabilidade. Porto Alegre: Edipucrs,
2002.
SINGER, P. Hegel. So Paulo: Loyola, 2003.
SOARES, M. C. Direito e sociedade segundo Hegel: sociedade civil e sociedade
poltica. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1987.
TAYLOR, C. As fontes do self: a construo da identidade moderna. So Paulo:
Loyola, 1997.
______. Hegel e a sociedade moderna. So Paulo: Loyola, 2005.
VAZ, H. C. de L. Escritos de filosofia I: problemas de fronteira. So Paulo: Loyola,
1986.
______. Escritos de filosofia II. So Paulo: Loyola, 1988.
______. Escritos de filosofia III. So Paulo: Loyola, 1997.
______. Escritos de filosofia IV. So Paulo: Loyola, 1999.
______. Escritos de filosofia V. So Paulo: Loyola, 2000.
______. Escritos de filosofia VII. So Paulo: Loyola, 2002.
______. tica e direito. Belo Horizonte: Landy, 2002.
______. Antropologia filosfica I. 8.ed. So Paulo: Loyola, 2006.
______. Antropologia filosfica II. 2.ed. So Paulo: Loyola, 1995.
VIEIRA, L. A. A desdita do discurso. So Paulo: Loyola, 2008.
WEBER, T. Hegel: liberdade, estado e histria. Petrpolis: Vozes, 1993.
______. tica e filosofia poltica: Hegel e o formalismo kantiano. Porto Alegre:
Edipucrs, 1999.
131
Hegel_NM.pmd 131 21/10/2010, 09:22
Este volume faz parte da Coleo Educadores,
do Ministrio da Educao do Brasil, e foi composto nas fontes
Garamond e BellGothic, pela Sygma Comunicao,
para a Editora Massangana da Fundao Joaquim Nabuco
e impresso no Brasil em 2010.
Hegel_NM.pmd 132 21/10/2010, 09:22
Você também pode gostar
- Fitoterapia NaturalDocumento41 páginasFitoterapia NaturalDirceuAinda não há avaliações
- Johann PestalozziDocumento112 páginasJohann PestalozziMara Brum100% (1)
- NumerologiaDocumento39 páginasNumerologiaKennnydAinda não há avaliações
- Jan Amos Comenio PDFDocumento136 páginasJan Amos Comenio PDFCARLOS AUGUSTO VASCONCELOS PIRESAinda não há avaliações
- ImpartiçãoDocumento8 páginasImpartiçãoEzequias AnacletoAinda não há avaliações
- Artigo Que Relaciona Lilith Judaica e Pomba GiraDocumento8 páginasArtigo Que Relaciona Lilith Judaica e Pomba GiraCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho Sobre CoesãoDocumento4 páginasFicha de Trabalho Sobre CoesãoMaria Ferreira FernandesAinda não há avaliações
- Com Quem Os Filhos de Adão Se CasaramDocumento10 páginasCom Quem Os Filhos de Adão Se CasaramMilton Manoel de SantanaAinda não há avaliações
- Alberto Munari - Jean PiagetDocumento156 páginasAlberto Munari - Jean PiagetPablo NunesAinda não há avaliações
- Fernando de AzevedoDocumento162 páginasFernando de AzevedoMara Brum0% (1)
- As Estereotipias O Que São 2023 Por Ivanilson GomesDocumento5 páginasAs Estereotipias O Que São 2023 Por Ivanilson GomesIvanilson Gomes CostaAinda não há avaliações
- XV ENDIPE Livro - 5Documento694 páginasXV ENDIPE Livro - 5Mara Brum100% (2)
- Valnir ChagasDocumento166 páginasValnir ChagasMara Brum100% (1)
- New York New York - Judith KrantzDocumento311 páginasNew York New York - Judith KrantzNishely100% (2)
- Livro - 1 ENDIPEDocumento632 páginasLivro - 1 ENDIPETerena Cartaxo100% (2)
- Carl Rogers - Fred ZimringDocumento145 páginasCarl Rogers - Fred ZimringMiguel PlenoAinda não há avaliações
- A Busca Do Tema Gerador Na Praxis Da Educação PopularDocumento207 páginasA Busca Do Tema Gerador Na Praxis Da Educação PopularRonaldo Augusto de Alcantara100% (1)
- Anton MakarenkoDocumento138 páginasAnton MakarenkoMara Brum100% (1)
- Trabalho de Historia 11 ClasseDocumento12 páginasTrabalho de Historia 11 ClassePaulo Benigno Xavier100% (1)
- A Crise Dos ParadigmasDocumento11 páginasA Crise Dos ParadigmasMara Brum100% (1)
- John DeweyDocumento136 páginasJohn DeweyMara BrumAinda não há avaliações
- Convergências e Tensões No Campo Da Formação e Do Trabalho DocenteDocumento871 páginasConvergências e Tensões No Campo Da Formação e Do Trabalho DocenteBarbara Cristine100% (5)
- Tecnologia e Educacao o Futuro Da Escola Na Sociedade Da InformacaoDocumento194 páginasTecnologia e Educacao o Futuro Da Escola Na Sociedade Da InformacaoMara BrumAinda não há avaliações
- Johann HerbartDocumento148 páginasJohann HerbartDavid Cavalcanti100% (1)
- Georg KerschensteinerDocumento142 páginasGeorg KerschensteinerMara BrumAinda não há avaliações
- FroebelDocumento138 páginasFroebelDanielle Camille100% (1)
- E-Book - Tecnologia e EducaçãoDocumento523 páginasE-Book - Tecnologia e EducaçãoDouglas F. XavierAinda não há avaliações
- Olhe Nos Meus OlhosDocumento13 páginasOlhe Nos Meus OlhosMara Brum50% (2)
- AutoestimaDocumento2 páginasAutoestimaJosy Anne CarvalhoAinda não há avaliações
- CONTOS QUE CURAM ADULTOS Oficina Protagonismo, Autoestima, Empoderamento p.360Documento3 páginasCONTOS QUE CURAM ADULTOS Oficina Protagonismo, Autoestima, Empoderamento p.360LAYS GABRIELA ANSELMO PEREIRA100% (1)
- Material CasgDocumento12 páginasMaterial CasgAngela LimaAinda não há avaliações
- CABEÇALHO13Documento7 páginasCABEÇALHO13ROSILENE APARECIDA FELISBERTO FARIAAinda não há avaliações
- Missões para CongregaçõesDocumento14 páginasMissões para CongregaçõesTeófilo Venicio KarkleAinda não há avaliações
- 2010 - FAZENDA, Ivani Interdisciplinaridade e TransdisciplinaridadeDocumento11 páginas2010 - FAZENDA, Ivani Interdisciplinaridade e TransdisciplinaridadeMaria Cristina Lima RosaAinda não há avaliações
- Atividade 4 - Manutenção e Patologia Das Edificações - 53-2023Documento3 páginasAtividade 4 - Manutenção e Patologia Das Edificações - 53-2023Cavalini Assessoria AcadêmicaAinda não há avaliações
- NBR 7243 - Pecas Fundidas de Aco Manganes Austeniticos PDFDocumento3 páginasNBR 7243 - Pecas Fundidas de Aco Manganes Austeniticos PDFDenis Yasmin AlineAinda não há avaliações
- Exercicio2 - 9 Anos REFEMDocumento2 páginasExercicio2 - 9 Anos REFEMJosias SilvaAinda não há avaliações
- Literatura e Diaspora Um Estudo Sobre As Bandas de Reggae em TeresinaDocumento12 páginasLiteratura e Diaspora Um Estudo Sobre As Bandas de Reggae em TeresinaNilmara CastroAinda não há avaliações
- DatasheetDocumento52 páginasDatasheetManoel BonfimAinda não há avaliações
- PM-BR 435.06 - Cinta para Poste Duplo TDocumento5 páginasPM-BR 435.06 - Cinta para Poste Duplo TsergioAinda não há avaliações
- Ficha Mestre 2Documento7 páginasFicha Mestre 2Justino Manuel AntonioAinda não há avaliações
- Resumo LocomotorDocumento6 páginasResumo LocomotorCaroline LimaAinda não há avaliações
- (X) Ata de Reunião Pauta de Reunião: Item 2 - Auditoria de BPF - Tetra PakDocumento3 páginas(X) Ata de Reunião Pauta de Reunião: Item 2 - Auditoria de BPF - Tetra PakDouglas CristianoAinda não há avaliações
- Introdução As Técnicas Dietéticas - Higienização Dos AlimentoDocumento28 páginasIntrodução As Técnicas Dietéticas - Higienização Dos AlimentoDiego ZucchettoAinda não há avaliações
- Nosso Alho Segunda EdicaoDocumento48 páginasNosso Alho Segunda Edicaoanapa0809Ainda não há avaliações
- AULA PRÁTICA 7 - Análises de Águas Industriais - Dureza - PH - TurbidezDocumento5 páginasAULA PRÁTICA 7 - Análises de Águas Industriais - Dureza - PH - TurbidezDavid ModelskiAinda não há avaliações
- 5.2 Concreto - Dosagem Empírica e Experimental.Documento53 páginas5.2 Concreto - Dosagem Empírica e Experimental.LETICIA DAS GRACAS ANTONIO SILVAAinda não há avaliações
- Conceitos Gerais e Panorama Geral Da Energia EólicaDocumento41 páginasConceitos Gerais e Panorama Geral Da Energia EólicaPriscila FontesAinda não há avaliações
- Cabala - O Lado Oculto Do JudaísmoDocumento18 páginasCabala - O Lado Oculto Do Judaísmojaciaradamasceno36Ainda não há avaliações