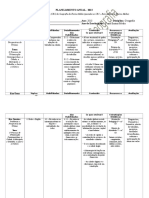Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Memorial Marginal
Enviado por
Diego Garcia0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações10 páginasTítulo original
Memorial marginal
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações10 páginasMemorial Marginal
Enviado por
Diego GarciaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 10
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
INSTITUTO DE LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS
MESTRADO EM HISTÓRIA DA LITERATURA
TÓPICOS AVANÇADOS DE LITERATURA BRASILEIRA
MEMORIAL MARGINAL
Diego Freitas Garcia
De certa forma, reconheço e revisito agora em minha história a proximidade com a
temática marginal. Minha mãe soube apresentar-me à realidade do abandono: primeiro
expulsou-me impiedosamente daquilo que eu imagino ter sido um útero cálido e, dois anos
depois, fugiu. A ausência sempre esteve recheada de histórias às quais fui conferindo fascínio
– dançarina de boate, prostituta, quem sabe, atendente de padaria, vendedora de
churrasquinho, chapista de bauru. No contato intermitente que estabelecíamos, eu era
apresentado ao seu novo namorado ex-presidiário ou não era apresentado – porque ele ainda
estava no cárcere – e ela mostrava alguma carta de amor. Presa por roubar roupas, envolvida
no tráfico de drogas, minha mãe, ela mesma figura de transição, foi como narrador a
introduzir-me no universo dos de baixo. Logo, por conta própria, recorri caminhos que me
levaram a dormir com travestis no Peru, cheirar cola com esquecidos da Bolívia, alfabetizar
senhoras nas vilas da Argentina…
Sem embargo, até a disciplina de Tópicos Avançados de Literatura Brasileira,
ministrada pela profª Luciana Coronel, eu não havia realizado qualquer reflexão de ordem
teórica sobre o termo marginal e nem tentado conceituar a marginalidade no campo literário.
Confesso, inclusive, que muitos dos nomes apresentados na disciplina eram totalmente
desconhecidos para mim, como Carolina Maria de Jesus, João Antônio, Plínio Marcos, Ferréz.
Foi então nessa condição de ingenuidade que entrei em contato com as primeiras discussões,
surpreso da dificuldade de estabelecer critérios para a classificação de determinada literatura
como marginal.
A série de questões levantadas por Robert Ponge no texto Literatura marginal:
tentativa de definição e exemplos franceses (número de livros vendidos, composição social
dos leitores, classe social, temas tratados, forma, língua, editoração, ponto de vista)
aproximava a discussão de um terreno mais prático, mas eu sentia que desses pontos se
desprendiam outros. Pude perceber inicialmente que, se em alguns casos era imediata a
classificação de autores como marginais, em outros, só alguns aspectos poderiam apresentar-
se como tais. Mais ainda, o mesmo escritor poderia apenas em alguns dos seus textos
apresentar-se como marginal. Talvez não se tratasse então de identificar autores marginais,
senão de pensar a literatura marginal em oposição à literatura oficial, como aquela, segundo
Ponge, “que, num momento dado, aparece à classe dominante (…) como sendo outra, como
não lhe pertencendo. Insistimos que isso é num momento dado, o que implica que um autor,
uma obra, pode deixar de aparecer como marginal e que, inclusive, o estado de marginalidade
pode ser muito transitório, muito efêmero”.
Eu ia avançando aos poucos assim para uma ideia que depois consolidamos enquanto
turma de que nada é inerentemente marginal – com a progressão temporal, um tema marginal
poderia deixar de sê-lo; uma escritora incorporada ao cânone, como Clarice Lispector, poderia
incursionar na temática marginal em determinado momento de sua obra; um escritor tendo
publicado originalmente seu livro com reduzida tiragem poderia posteriormente ser procurado
por uma grande editora.
Com Sérgius Gonzaga e o texto Literatura marginal, comecei a refletir sobre o
desenvolvimento do conceito de marginalidade no contexto brasileiro. Sérgius relaciona a
existência da literatura marginal com o desaparecimento daquelas produções artísticas
identificadas com a via populista. Ainda que aborde o termo populismo de maneira imprecisa
e não leve em conta experiências de organicidade entre intelectuais e setores populares, a
crítica realizada por Gonzaga à intelligentzia que não pensava a partir do país real me parece
acertada. Tal crítica me fez recordar da célebre cena do filme Memorias del subdesarrollo,
dirigido por Tomás Gutiérrez Alea, na qual intelectuais brancos discutem literatura e
subdesenvolvimento, criticando o poder colonial e a discriminação étnica, enquanto um
garçom negro serve água no encontro.
A formação de uma vanguarda cultural que partiria de pressupostos ilusórios, segundo
Gonzaga, não abriu o espaço, naqueles anos de regime ditatorial, para a emergência da
literatura marginal, pelo menos aquela realizada pelos “legítimos” marginais, ainda nas
palavras de Gonzaga. Creio, nesse caso, que a situação seria diferente se o curso democrático
e o processo cultural de efervescência não fossem esmagados pelo golpe de 1964 e o
acirramento da censura em 1968. Como a história não trata de condicionais, é certo afirmar
que poucos são os casos de escritores periféricos que ganham notoriedade e há também um
apagamento desses poucos, como é o caso de Carolina Maria de Jesus, esquecida pelo próprio
Gonzaga. Por isso, sobretudo, que fui desvelando a importância dessa disciplina para a área de
Letras e para a minha formação como profissional, enquanto oportunidade de examinar as
fissuras provocadas pelos distintos movimentos sísmicos da produção marginal na literatura
tradicional, o que, por consequência, me levou a dimensionar a importância da escrita de
periferia do fim dos anos 90 e início dos 2000.
O texto de Sérgius Gonzaga também me auxiliou a pensar que, na literatura, o
marginal poderia aparecer sob três tendências principais: editorial, da linguagem e aquela que
apresenta a fala dos excluídos. Talvez como produto do saber policialesco referido por
Gonzaga, eu guardava anteriormente a ideia de que literatura marginal estava necessariamente
ligada a situações de pobreza ou exclusão social. No entanto, ao acompanhar com alguns
exemplos as experiências marginais no campo literário, fui percebendo que o status de
marginal poderia advir de uma posição transgressora dos padrões convencionais da literatura
de certo período. Creio, assim, que valeria dizer que uma escrita de vanguarda, lida por
poucos, baseada em um jogo de experimentação com a palavra, poderia ser, ao mesmo tempo,
elitista e marginal, ou melhor, poderia aparecer em determinado momento como marginal.
Foi igualmente com o texto de Gonzaga que me deparei pela primeira vez com uma
crítica que se mostrou recorrente no estudo posterior da obra Capão Pecado, de Ferréz.
Referindo-se à tendência marginal que na escolha de protagonistas, situações e cenários opta
por um comprometimento com o popular, Gonzaga afirma que isso “às vezes acarreta
problemas com o instrumental técnico-semântico que garante a especificidade do fazer
literário”. Entendi aí que Gonzava ilustrava o próprio processo que descrevia: a resistência da
crítica em reconhecer novas formas literárias, marginalizando-as, relegando-as a um terreno
de desconfiança e questionando sua qualidade enquanto produção criativa, quase sempre sob
o pretexto de que o excesso de objetividade ameaçaria o domínio particular da literatura.
Para além do aporte teórico, a apresentação de alguns contos serviu de introdução à
multiplicidade daquilo que pode ser chamado de literatura marginal. Fiquei encarregado de
apresentar inicialmente o conto Frio, presente no livro Malagueta, Perus e Bacanaço (1963),
do paulistano João Antônio. A história do livro já indica a origem do autor e as dificuldades
que teve que superar para a publicação: em 1960, um incêndio queimou a casa de João
Antônio e dentro dela o original da coletânea de contos. O escritor conta que levou quase dois
anos para reescrever, dormindo em casas de amigos, bibliotecas, pensões…
João Antônio era um conhecedor do mundo noturno de São Paulo, frequentava os
bares e jogava sinuca com seus personagens. Por isso dominava e usava com naturalidade a
gíria da malandragem. Mas o que me chamou a atenção no conto Frio foi o deslocamento do
foco para um personagem infantil que sofre com a ausência do Paraná, figura masculina que
assume funções paternas. O menino, assim referido no conto, sem nome, expressa várias
vezes sua adoração por Paraná, e considera “uma pena que não saísse da sinuca”. Paraná é seu
mestre de virações e protetor, demonstra cuidado, mas ao mesmo tempo o joga na perigosa
missão de entregar um “embrulhinho branco” em outro bairro da cidade.
O conto inicia com a frase “O menino tinha só dez anos” e o narrador o descreve como
pequeno, feio, preto, magrelo – tudo leva a destacar a vulnerabilidade na qual se encontra a
criança, a condição de fragilidade, exaltada pelo uso constante de diminutivos:
“coraçãozinho”, “embrulhinho”, “ombrinhos”, “cabecinha”, “perninhas”. No entanto, e isso
me surpreendeu positivamente, a escrita afasta-se de qualquer sentimentalismo. Em uma sorte
de torvelinho, mesclam-se cenas da madrugada da metrópole com lembranças desorientadas
em um fluxo de consciência talvez motivado pela ansiedade em entregar o embrulho, o medo
da polícia, medo de não encontrar com o Paraná, o frio, o cansaço. João Antônio fez com que
eu, como leitor, experimentasse da ansiedade e ficasse com vontade de urinar, como termina
fazendo o menino, à maneira de despejar toda a tensão vivida. A crueldade da noite na rua e a
escassa contenção emocional tida pelo menino na ficção me afetou especialmente por lembrar
de alguns garotos bolivianos com os quais convivi que superavam a realidade cheirando cola
nos arredores da rodoviária de Cochabamba.
O conto que dá nome ao livro é um passeio pela malandragem paulistana através de
três viradores: Bacanaço, moreno vistoso e mandão, jogador maduro, rufião de boas relações;
Malagueta, velho esmoleiro, bêbado e desanimado, de sapatos furados; Perus, dezenove anos,
batedor de carteira, sonhando com o jogo da vila Alpina. Perus tem seu nome emprestado de
um bairro de São Paulo, onde instalava-se a gigantesca Fábrica de Cimento Portland Perus.
João Antônio introduz com esse personagem adolescente o impasse entre o emprego formal e
a viração, a vidinha estúpida morando com a tia e dormindo cedo versus as aventuras das
madrugadas no incerto joguinho de sinuca. Reconheci, além disso, que o autor tenta traçar,
com os três homens de diferentes idades, as transformações pelas quais vai passando um
malandro durante sua vida.
A leitura de Malagueta, Perus e Bacanaço foi muito interessante porque derivou na
descoberta de uma série de relações indiretas: primeiramente, sobre a história da Fábrica de
Cimento Portland Perus – as lutas dos operários em greve na década de 60 e o movimento
atual dos moradores pela transformação da fábrica em um centro cultural. A obra também me
levou a conhecer a adaptação cinematográfica com o filme O jogo da vida (1977) e o
excelente álbum do saxofonista Thiago França, comemorando os 50 anos da publicação da
coletânea Malagueta, Perus e Bacanaço.
Na procissão pelos salões de sinuca de diferentes bairros de São Paulo, onde os três
malandros buscam a trapaça perfeita, João Antônio usa a figura da errância, como fez com o
menino de Frio, para desvelar a cidade e as figuras da sua noite. Considerei interessante a
forma como o autor não se deixa levar por idealizações e apresenta os riscos implicados pelo
desejo dos viradores de “rodar, funcionar, vasculhar todas as bocas do inferno”. Para isso, ele
estabelece uma estrutura circular, na qual os personagens começam e terminam quebrados de
dinheiro, em um perde-ganha que pode fazer do malandro um otário.
De qualquer forma, o mundo de João Antônio me pareceu ainda aquele dos pequenos
delitos, dos conflitos sem morte, onde as forças da ordem e o malandro convivem no jogo da
vida e a violência aparece mais como ameaça para resolver algum desentendimento ou
reforçar a hierarquia, não como realidade efetiva que colocaria em risco a própria
sobrevivência. No conto Leão-de-chácara, embora o personagem Pirraça expresse que
mantém uma pistola na cintura para afastar aqueles que pretendam tomar seu lugar na porta da
boate, acredita que o certo é conseguir o dinheiro das mulheres sem encrenca, na “maciota”.
Pirraça inclusive critica duramente a atitude de um tal Miguelito, leão-de-chácara que, por
ciúmes, acabou atirando em um cliente da boate na qual trabalhava. O cliente morreu, o bar
fechou e a polícia começou a incomodar em busca do culpado.
O marginal de João Antônio opta pela discrição, é aquele que pretende a ganhar a vida
na esperteza, com uso da força, é claro, mas evitando as alterações de ordem que abalassem
seu conluio com as forças policiais. Mas com o exemplo de Miguelito, o autor já aponta para
uma transição a outro momento da formação social e literária brasileira.
Neste sentido, para que eu pensasse mais seriamente sobre as mudanças aludidas, foi
fundamental a análise do texto Dialética da marginalidade – caracterização da cultura
brasileira contemporânea, de João Cezar de Castro Rocha. O crítico afirma que há um
fenômeno em curso no Brasil: na disputa simbólica entre duas formas de compreender o país,
a dialética da marginalidade vem substituindo a dialética da malandragem. Retomando as
categorias de Antonio Candido, Rocha caracteriza o malandro como aquela figura que faz o
comércio entre ordem e desordem e representa uma formação social comprometida com o
acordo em vez da ruptura.
Rocha utiliza ainda as contribuições de Roberto DaMatta para argumentar, no início
do século XXI, que a ordem relacional estaria sucumbindo devido à incapacidade do “deixa-
disso” evitar a irrupção do conflito aberto. A dialética da marginalidade, proposta por Rocha
para entender a produção cultural contemporânea marcada pela violência, evidencia as
diferenças entre as classes sociais e rechaça a solução conciliadora do malandro.
Acredito que alguns escritos de Rubem Fonseca marcavam de maneira incipiente as
mudanças relatadas. Meus colegas apresentaram os contos “Botando pra quebrar”, “O outro”,
“Feliz ano novo” e “O cobrador”. Eu já tinha lido anteriormente o autor, mas a seleção
realizada e a possibilidade de discutir sua construção me fez encontrar uma lógica em seus
escritos que enriqueceu minha compreensão.
No conto “Botando pra quebrar”, o narrador-protagonista é, como o Pirraça de João
Antônio, um leão-de-chácara, mantém-se igualmente a divisão entre aqueles que aturam e
aqueles que faturam, mas a solução que o porteiro encontra para faturar é baseada na briga
que ele arruma com os clientes ricos. Além do dinheiro que retira do patrão a modo de
indenização, o leão-de-chácara precisa remarcar as diferenças entre ele e “as pessoas
importantes”, do “alto escalão”, e o faz quebrando o patrimônio do dono da casa.
Para os ladrões de “Feliz ano novo”, não basta a pilhagem – eles sabem que para os
ricos da festa tudo aquilo que roubaram era migalha. Para que nada daquilo soasse como uma
concessão dos senhores da mansão e os três ganhassem visibilidade, eles estupram, cagam e
brincam de ver se os corpos grudam na parede com um tiro.
No “O Cobrador”, a destruição do consultório do dentista é o começo do acerto de
contas entre o protagonista e os bacanas, os homens bem-sucedidos, de boa aparência, donos
de Mercedes. O ódio do personagem é imenso, mas seu sadismo é dirigido: ele poupa “uma
fodida que mora com sacrifício num quarto e sala” e se diverte tentando rolar com um golpe
de facão a cabeça de um homem elegante, recusando inclusive o dinheiro que ele oferecia.
Em “O outro” o desconforto mote de todo o texto também é superado pela morte do
oponente; no entanto, aqui o foco narrativo é deslocado para o outro polo – o do executivo
que se sente incomodado por um pedinte e incapaz de perceber nele a alteridade, negando a
humanidade de um menino franzino apresentado como monstro cínico e ameaçador.
Ficou evidente para mim a partir das leituras de Rubem Fonseca que não se tratava de
questão meramente individual, de brutalidade gratuita e que aparecia bem marcada a
estratificação social. Nesses contos já não existe um malandro tentando encontrar as brechas
numa estrutura que é desigual, mas uma tentativa desesperada e caótica de aniquilar o inimigo
de classe pelo uso desmedido da violência. Como uma colega bem atentou, Rubem Fonseca
dá no “O Cobrador” o diagnóstico de que a raiz está podre, o que demanda uma ação drástica.
No entanto, é com a literatura de periferia da virada do século que a reação aparece de
maneira mais organizada. A análise do manifesto do Ferréz, “Terrorismo literário”, prefácio
do livro Literatura marginal: talentos da escrita periférica, me apresentou os princípios desse
fenômeno e me despertou imediatamente o interesse para conhecer mais, creio que motivado
pelo desejo de viver o literário conjugando o prazer estético e o compromisso pela
democratização da palavra.
Como se depreende do título, o manifesto admite seu caráter belicoso (“a maior
satisfação está em agredir os inimigos novamente”), em que a literatura aparece inserida em
um movimento mais amplo que reivindica a melhora nas condições de vida do povo. E Ferréz
sabe que mudança alguma virá sem o confronto com o patrão, não que a guerra seja uma
invenção do gueto violento (“o barato já tá separado há muito tempo, só que do lado de cá
ninguém deu um gritão”). O marginal, assim, é ressignificado positivamente enquanto fator de
identidade para essa multidão que grita, um grupo que historicamente foi a minoria autoral,
que está à margem da grande cultura nacional, mas corresponde à maioria da nossa
população e não pretende pedir licença para usar a linguagem a fim de retratar a realidade
vivida.
Nessa direção, afirmar-se como marginal é também inscrever-se na linha histórica de
dominação e extermínio dos indígenas e africanos e, por consequência, rebelar-se contra o
apagamento dos antepassados. Aqui me parece que Ferréz dá espaço ao “sopro daquele ar que
envolveu os que vieram antes de nós”, do qual nos fala Walter Benjamin alertando para o
acordo que existe entre as gerações passadas e a nossa. Ferréz resgata a força messiânica do
passado, parece que ele acredita que através da literatura comprometida os vencidos podem
encontrar a redenção, a dos manos que morrem na mão da polícia atualmente e também a dos
escravos vigiados pelos capitães do mato.
Considerei interessante como Ferréz revisita a própria história da literatura marginal
quando afirma que “O mimeógrafo foi útil, mas a guerra é maior agora”, o que é também uma
forma de apontar os precursores no campo literário ao mesmo tempo que critica suas
limitações. Ferréz mostra conhecimento das experiências transgressoras dos anos 70, quando,
à margem das grandes editoras, um grupo de criadores distribuía pelos bares seus poemas
mimeografados. Alguns destes apareceram na antologia 26 poetas hoje, organizada por
Heloisa Buarque de Hollanda. Referindo-se a essa geração, Ferréz defende que atualmente é
preciso ampliar o alcance para fazer frente à comunicação de massa, que só incentiva o
consumismo. Acredito que Ferréz fala da necessidade de reunir muito mais gente e de recorrer
a todos os meios de propagação possíveis, adiantando a possibilidade de publicar por uma
grande editora.
Apresentar o seminário sobre Capão Pecado (2000), o livro que catapultou Ferréz e
abriu as portas para outros autores da periferia, me levou a pesquisar sobre o fenômeno da
“literatura do gueto”. Percebi que essa trama estava inserida em um movimento muito mais
amplo e que me levava a pensar o bairro Capão Redondo, os saraus da periferia paulista, a
cultura do hip hop e o trabalho do autor na comunidade, com a ONG Interferência, a marca de
roupas 1dasul e a editorial Selo Povo.
É curioso o fato de que Capão Pecado tenha tido uma história semelhante à ocorrida
com o primeiro livro de João Antônio. No caso de Malagueta, Perus e Bacanaço foram as
chamas que destruíram os originais; com Ferréz, a enchente tomou sua casa em Capão
Redondo e ele levou 4 anos para reelaborar tudo que havia perdido. Isso, somado à exaustiva
busca do autor por uma editora que decidisse levar adiante o projeto, me disse muito da
dificuldade de produzir em um circuito marginal, de criar em um ambiente onde são precárias
as próprias condições de existência. E acredito que, ainda mais, se o material para a
ficcionalização é a própria realidade da periferia, ou, como diz Ferréz, morar dentro do tema.
Meu interesse imediato por Capão Pecado explica-se pelos elementos que podia
perceber antes mesmo da primeira leitura: a abundância e beleza dos registros fotográficos, a
capa que se pretendia uma provocação ao sistema, a extensa lista de agradecimentos, a
dedicatória ao amigo morto, a participação de Mano Brown e os relatos-denúncia realizados
por outros expoentes do rap cortando a linearidade tradicional do romance. Tive a certeza de
estar diante de uma nova concepção de literatura, que questionava a noção de autoria, não
desde uma certidão de óbito pretensamente universal, mas como movimento pulsante em um
território específico e expresso no livro (Capão Redondo – o fundo do mundo).
Mas minha surpresa foi maior ao constatar que esse potencial de mudança ia se
diluindo nas edições posteriores da obra. Na publicação de 2005, pela editora Objetiva, já
pude perceber a supressão das fotos e de alguns relatos, além do aumento da fonte que
sinalizava o autor na capa, capa preta, sóbria, sem o fundo de barracos e o menino com arma,
substituídos pela repercussão da obra em dois veículos da grande imprensa. Seria o processo
de transfiguração, no sentido de suavizar a recepção com a retirada dos componentes mais
impactantes, uma tentativa de atingir um público maior? Ou o esforço para inscrever-se no
cânone literário? As fotos são retiradas devido ao alto custo que teria um livro com tanta
impressão colorida ou para que o texto cobre protagonismo? Pois esse movimento é
completado com a edição de 2013 da Planeta, que apresenta o texto de maneira a reduzi-lo a
folhetim de um amor proibido, simbolizado no coração de arame farpado. Com todos os
interrogantes suscitados, passei a pensar nas possíveis causas e efeitos do apagamento dos
índices comunitários na obra.
Na pesquisa para a realização do seminário, ao me deparar com a fortuna crítica,
entendi que o romance impôs novos desafios ao campo dos estudos da literatura brasileira.
Parte da crítica especializada questionou a literariedade do romance, destacando suas
fragilidades e buscando classificá-lo mediante categorias preexistentes. Acredito que a mais
representativa disso é a propagada por Oliveira e Brandileone: “o que se verifica é que a obra
de Ferréz, devido a esse alto teor de realidade, deixa-se cair no utilitário e perde o aspecto
literário, pois no enredo do livro Capão Pecado, pode-se notar uma representação literária
engajada, focada na demonstração de uma realidade cruel da favela”.
No mesmo sentido, outra apreciação era de que Ferréz partia de um “verismo
etnográfico”. Em comum, a ideia de que o compromisso social é um obstáculo para a boa
literatura, reduzindo no escritor a preocupação com o estilo. Com a leitura do romance e a
discussão de aula, considerei ingênua tal avaliação, pois, ao apontar a pobreza estilística de
Ferréz, ignora tratar-se de um outro estilo, cuja compreensão depende da relação com o
território de produção, com o público preferencial e, sobretudo, com a poesia do rap. Além
disso, ao acreditar que tudo o que está em Capão Pecado “realmente aconteceu”, a crítica
apenas confessa estar envolvida pela narrativa e pela sua aparência fatual. Me parece óbvio
que tudo no livro é uma construção ficcional e que a utilização de elementos reais para a
criação ocorre com os demais escritores. Penso que alguns artigos demonstram uma forte
reação da crítica em defesa do cânone vigente diante da ameaça da democratização da
literatura, entendendo-a como mais um espaço social marcado pela divisão de classes e pelo
domínio da norma culta.
É assim, por exemplo, que Tânia Pellegrini identifica “certo moralismo” na
“impossibilidade de mudança” que o desfecho do romance revelaria. No entanto, em uma
leitura mais apurada, vê-se que os destinos não estão completamente determinados pelo meio.
Me chamou a atenção a figura de Matcherros, apresentado no começo como alguém sem
perspectivas e que consegue armar uma empresa, empregando, inclusive, seus amigos para
provar que o crime não é a única saída. Entendi que, para Ferréz, a literatura tem forte
componente pedagógico; como no rap, as letras denunciam o descaso das autoridades, a
repressão policial, atuam conscientizando, unindo para a resistência, além de colocar-se como
alternativa de trabalho. “Minhas palavras são armas/ e estou tocando as sirenes/ levantando as
massas”, já cantava Tupac na canção Violent.
O estudo da escrita do testemunho me forneceu importantes fundamentos para ampliar
a compreensão não só do livro Capão Pecado, mas de todas as obras apresentadas nos
seminários. Isso porque, ainda que popularizada pelos relatos da Shoah, percebi que um teor
testemunhal pode ser identificado em todos os escritos da literatura marginal, já que estamos
lidando com uma realidade conflitiva frequentemente geradora de traumas, onde a narração
entra como forma de elaboração de vivências pessoais, mas que também são coletivas e tem
que responder à memória daqueles que não conseguiram sobreviver.
Penso que em Capão Pecado o teor testemunhal é bem evidente, não deixando
dúvidas que para o autor estética e ética estão articulados, como aponta Jaime Ginzburg.
Ferréz toma posição e converte aquilo que ele viveu na periferia em missão de mudar. Em
Carolina Maria de Jesus eu também percebi essa missão: muitas vezes ela fala em nome dos
favelados contra os políticos que visitam os barracos em tempos de eleições e logo os
esquecem, ou vocifera contra o alto custo de vista. Mas nela achei mais frequente o eu
particular atribuindo aos comportamentos dos seus vizinhos as precárias condições em que
estes se encontravam e manifestando o desejo de deixar de ser marginal pela ascensão
individual.
O interessante é que a linguagem nunca dá conta da totalidade do evento traumático e
o relato aparece fragmentado – é a dificuldade de representar, o que poderia levar o indivíduo
a reviver situações de dor, que forja narrativas não-lineares como a de Samuel Rawet no conto
“Gringuinho”, no qual mescla-se em um turbilhão no extenso parágrafo a lembrança do rio
gelado e dos amigos na Polônia com as humilhações que o menino migrante sofre no Brasil.
A partir da escrita do testemunho pude encontrar um fio condutor para pensar a
multiplicidade de vozes marginais presentes nos seminários, já que nem sempre elas estavam
conectadas à situação de pobreza, o que é o caso do texto de Maura Lopes Cançado, marginal
por plasmar uma condição mental que provocava um conflito constante entre realidade
exterior e realidade interior, além de dar conta do cotidiano de uma instituição manicomial.
Assim, tendo o testemunho enquanto eixo transversal, as questões levantadas me levaram a
concluir que um texto não precisa perder sua especificidade quando confrontado com seu
referencial extra-literário; pelo contrário, a análise da obra se enriquece quando leva em conta
as circunstâncias sociais de produção, o que é necessário igualmente para entender o porquê
de certa escrita ser considerada marginal.
Você também pode gostar
- Planejamento Anual Geografia 3º Ano Ensino MédioDocumento21 páginasPlanejamento Anual Geografia 3º Ano Ensino Médiofatimatiradentes100% (2)
- Exercícios Propostos 04Documento8 páginasExercícios Propostos 04Samira SamiraAinda não há avaliações
- Importação Da Cerveja Heineken - ProjetoDocumento34 páginasImportação Da Cerveja Heineken - ProjetoRoberto PinaAinda não há avaliações
- QUESTÕES SPRINT - ESA PortuguêsDocumento39 páginasQUESTÕES SPRINT - ESA PortuguêsLuiz RubensAinda não há avaliações
- Classificação Das DançasDocumento3 páginasClassificação Das DançasRomario Cabral0% (2)
- As Ferramentas Do AprendizDocumento17 páginasAs Ferramentas Do AprendizMarcos Paulo MesquitaAinda não há avaliações
- Calendario Asesorias Febrero FinalDocumento3 páginasCalendario Asesorias Febrero FinalDiego GarciaAinda não há avaliações
- Jauretche CIELLI AnaisDocumento11 páginasJauretche CIELLI AnaisDiego GarciaAinda não há avaliações
- Crise Da Democracia e Extremismos de Direita PDFDocumento29 páginasCrise Da Democracia e Extremismos de Direita PDFNataly MeloAinda não há avaliações
- Jauretche InicialDocumento3 páginasJauretche InicialDiego GarciaAinda não há avaliações
- JauretcheDocumento5 páginasJauretcheDiego GarciaAinda não há avaliações
- Portgues Unid2Documento1 páginaPortgues Unid2Diego GarciaAinda não há avaliações
- Calendario Nuevo AbrilDocumento3 páginasCalendario Nuevo AbrilDiego GarciaAinda não há avaliações
- Jauretche CIELLI AnaisDocumento11 páginasJauretche CIELLI AnaisDiego GarciaAinda não há avaliações
- Programa PDFDocumento5 páginasPrograma PDFDiego GarciaAinda não há avaliações
- Classec PDFDocumento39 páginasClassec PDFDiego GarciaAinda não há avaliações
- Classec PDFDocumento39 páginasClassec PDFDiego GarciaAinda não há avaliações
- RELATOSDocumento4 páginasRELATOSDiego GarciaAinda não há avaliações
- Crise Da Democracia e Extremismos de Direita PDFDocumento29 páginasCrise Da Democracia e Extremismos de Direita PDFNataly MeloAinda não há avaliações
- Quinta OdtDocumento1 páginaQuinta OdtDiego GarciaAinda não há avaliações
- Programa PDFDocumento5 páginasPrograma PDFDiego GarciaAinda não há avaliações
- SertaoDocumento1 páginaSertaoDiego GarciaAinda não há avaliações
- PadariaDocumento1 páginaPadariaDiego GarciaAinda não há avaliações
- Moderno em El Zorro y en OctubreDocumento23 páginasModerno em El Zorro y en OctubreDiego GarciaAinda não há avaliações
- Stencil OdtDocumento2 páginasStencil OdtDiego Garcia100% (1)
- O Homem Que PerdeuDocumento1 páginaO Homem Que PerdeuDiego GarciaAinda não há avaliações
- Poemasartedemocracia OdtDocumento10 páginasPoemasartedemocracia OdtDiego GarciaAinda não há avaliações
- Memorial MarginalDocumento10 páginasMemorial MarginalDiego GarciaAinda não há avaliações
- Cassino OdtDocumento1 páginaCassino OdtDiego GarciaAinda não há avaliações
- SertaoDocumento1 páginaSertaoDiego GarciaAinda não há avaliações
- Sem Título 1Documento1 páginaSem Título 1Diego GarciaAinda não há avaliações
- Se Eu Trocasse A Tua Foto - OdtDocumento1 páginaSe Eu Trocasse A Tua Foto - OdtDiego GarciaAinda não há avaliações
- GuernicaDocumento1 páginaGuernicaDiego GarciaAinda não há avaliações
- Por DescuidoDocumento1 páginaPor DescuidoDiego GarciaAinda não há avaliações
- QuintaDocumento1 páginaQuintaDiego GarciaAinda não há avaliações
- Redutora Pressao ZDRK 10Documento6 páginasRedutora Pressao ZDRK 10Felipe RattoAinda não há avaliações
- Lírica Camoniana - Contextualização Histórico-LiteráriaDocumento10 páginasLírica Camoniana - Contextualização Histórico-LiteráriacatarinaAinda não há avaliações
- Avaliação - A História Da SaúdeDocumento2 páginasAvaliação - A História Da SaúdeAdiene MansoAinda não há avaliações
- Cura InteriorDocumento20 páginasCura InteriorThalita CristinaAinda não há avaliações
- CD Junto As AguasDocumento13 páginasCD Junto As AguasCelso Magalhães100% (1)
- Modelo 2 - Pia AtualizaçãoDocumento6 páginasModelo 2 - Pia AtualizaçãoTalita CaldeiraAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho Tipos de PoluiçãoDocumento4 páginasFicha de Trabalho Tipos de PoluiçãoleirinhasAinda não há avaliações
- CONTRATO DE EMPREITADA Rural ModeloDocumento4 páginasCONTRATO DE EMPREITADA Rural ModelonelsonjunqueiraAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Filosofia Da Educação - PedagogiaDocumento4 páginasPlano de Ensino - Filosofia Da Educação - PedagogiaRafaela Freitas100% (2)
- Ficha LiteráriaDocumento3 páginasFicha LiteráriaLuanaAinda não há avaliações
- BG178 2022Documento16 páginasBG178 2022fulano de talAinda não há avaliações
- Tes2 PDFDocumento35 páginasTes2 PDFJoao FerreiraAinda não há avaliações
- África No Quadrinho, Nos Cinemas e Nos Jornais. Ivaldo MarcianoDocumento19 páginasÁfrica No Quadrinho, Nos Cinemas e Nos Jornais. Ivaldo MarcianoAlissonAinda não há avaliações
- 02 Padarie - 1Documento10 páginas02 Padarie - 1Jamila Mancilha100% (1)
- Relações PrecocesDocumento6 páginasRelações PrecocesDiogo PitaAinda não há avaliações
- PCH Santa Alice - 27 - FEVDocumento54 páginasPCH Santa Alice - 27 - FEVFernando MendozaAinda não há avaliações
- ACEPIPESDocumento8 páginasACEPIPESAndré Pereira RodriguesAinda não há avaliações
- Exercicio Avaliativo 6 Ano PDFDocumento1 páginaExercicio Avaliativo 6 Ano PDFFrancisco Rodrigues VianaAinda não há avaliações
- Edital01 2021 PPGDDocumento66 páginasEdital01 2021 PPGDunpjmAinda não há avaliações
- LOPÉZ-PEDRAZA, R - Hermes e Seus Filhos, Pref, Cap 1 e 2Documento59 páginasLOPÉZ-PEDRAZA, R - Hermes e Seus Filhos, Pref, Cap 1 e 2Lucia BarbosaAinda não há avaliações
- Ficha de Estudo Do Meio Final - 2015Documento6 páginasFicha de Estudo Do Meio Final - 2015MárciaValenteValenteAinda não há avaliações
- Liv93322 PDFDocumento156 páginasLiv93322 PDFLilca Moraira ChavesAinda não há avaliações
- A História de FlamelDocumento11 páginasA História de FlamelWilson SantosAinda não há avaliações
- Cap0010-Eletrodinâmica - Geradores e Motores Elétricos.Documento20 páginasCap0010-Eletrodinâmica - Geradores e Motores Elétricos.Gustavo ApellanizAinda não há avaliações