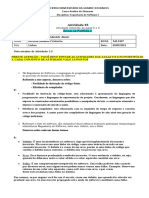Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Antinatureza
Enviado por
hidayck0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações6 páginasTítulo original
antinatureza
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações6 páginasAntinatureza
Enviado por
hidayckDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 6
Antinatureza
Para Clemént Rosset, o homem, tal como se encontra até hoje, não
seria capaz de realizar plenamente a proposta de Nietzsche. Embora a ênfase
naturalista do século XVIII tenha passado, a noção de que existe uma
“natureza” como macrocosmo ordenado em contraposição ao caos da
existência superficial subsiste, revelando sua força com o passar do tempo, em
diversas facetas. Nessa linha de raciocínio, é utópico considerar que o homem
assuma um caráter exclusivamente artificial. Essa “sombra de Deus” resiste.
No Livro X da República, de Platão, Sócrates, em diálogo com Glauco, já
falava da poesia como uma mera imitação da natureza, uma falsidade de
terceiro grau, atrás da verdadeira criação de Deus (instância uma superior,
para os gregos) e do “obreiro”.
A arte, como todo artifício, sempre foi considerada, então, uma
continuidade imitativa da natureza, ausente de autonomia (somente destruição
de transgressão, nunca criação). Essa concepção foi questionada desde a
Antiguidade, passando pelas filosofia e ciência modernas. Mas, segundo
Rosset, tais questionamentos não foram capazes de extinguir o que ele chama
de “preconceito naturalista” (p. 14). E, ao contrário do que possa parecer, esse
preconceito está embasado em uma visão antropocêntrica: é natural o que é
feito sem a atividade humana; ou seja, o homem é a referência no conceito de
natureza. Negar a natureza seria negar a ação humana. Tudo o que se opõe à
natureza, inclusive, é definido em relação a ela de forma negativa. Natureza
como signo de oposição de conceitos metafísicos como arte, história e espírito.
A força natural, autônoma, não é passível de análise, não se representa.
É o oposto do acaso (matéria inerte) e do artifício (intervenção arbitrária).
Na estética naturalista, a pretendida aproximação do natural só
intensifica o artificialismo. Pois, a espontaneidade do artifício cede lugar a uma
natureza calculada. Disfarçado de natureza, o artifício é artificial. Ignorando-a,
é autêntico.
A ideia de natureza como uma força pura e inocente se investe de uma
conotação moral e assevera a culpabilidade do homem.
Rosset salienta que o conceito de natureza é tão eficaz quanto
impreciso: “A ideia de natureza é invencível porque é vaga; ou melhor, porque
não existe como ideia: e nada é tão invencível quanto aquilo que não existe” (p.
25). Ele é uma ilusão, no sentido freudiano do termo: se contrapõe ao falso e
se aproxima do desejo sem determinação.
Ao passo que a ideia de acaso é desconcertante por implicar na
insignificância da existência, a ideia de natureza serve como referencial de
necessidade para a insatisfação humana.
Bataille identifica o erotismo como uma forma peculiar de acesso à
continuidade primitiva. A coesão do espírito humano se daria na união do
religioso com o erótico, o qual acontece no âmbito do interdito.
O erótico transgride por ser um prazer com finalidade em si próprio,
apartado da necessidade de reproduzir. A reprodução é a união de seres
descontínuos, que somos todos fundamentalmente — devido a nossa
individualidade incompartilhável —, mas, estabelece, por meio de um novo ser
(também descontínuo), uma continuidade (de cuja nostalgia sofre o homem),
que só será consumada completamente na morte. O erotismo é uma maneira
de recuperar, em profundidade, essa continuidade. Por isso, todo erotismo é
sagrado: é um ir além do imediatismo. E está ligado a uma violência próxima
ao assassinato — a violação dos corpos (Sade) — e à dissolução das formas
constituídas socialmente, suspendendo-as por um momento.
A paixão, o erotismo dos corações, a seu modo, também suspende a
descontinuidade dos seres, oferecendo-lhes uma provisória continuidade
compartilhada, marcada pela angústia e pelo sofrimento de contemplá-la. Isso
explica o desejo ou a realização do assassínio passional, já que a paixão faz
vislumbrar o contínuo do ser que somente se efetua na morte. Mas não na
morte do próprio ser (a qual nada revelaria a ele mesmo), mas na morte de um
outro ser descontínuo, como no sacrifício, em que se assiste à destruição de
um emblema da descontinuidade. Essa solenidade, da qual uma comunidade
participa, é o que Bataille identifica como sagrado, que, entendido como tal,
ultrapassa a ideia de divino. “O sagrado é justamente a continuidade do ser
revelada aos que fixam sua atenção, num rito solene, sobre a morte de um ser
descontínuo.” (BATAILLE, p. 55.)
A experiência mística anula o objeto para nos pôr em contato com o
sentimento de continuidade. É um erotismo sagrado, mas não dos corpos, nem
dos corações. O desordenamento da mística ultrapassa o sentido da morte,
revelando o sentido profundo do erótico. Assim como a poesia revela a
indistinção do contínuo.
O erotismo se funda em um paradoxo: pertence à nossa interioridade,
mas só se realiza na busca de um objeto exterior. Essa subjetividade do ato
erótico diferencia a sexualidade humana (quando erótica, não rudimentar) da
animal. Nos primórdios da humanidade, provavelmente, a contenção do sexo
foi uma das primeiras manifestações da ruptura entre o homem e o animal; daí
que nasceu o erótico, dessa interdição. Um comportamento religioso
fundamental no homem, ao lado do trabalho e da relação com a morte.
Segundo Bataille, a religião cristã, por ter se oposto ao erotismo, é pouco
religiosa.
O interdito, a proibição da realização do desejo, é elemento crucial na
clara consciência do erotismo — o qual não ocorre sem a noção de pecado, a
contraditória união de medo e prazer.
A interdição e a transgressão não se conciliam; o homem alterna sua
existência entre uma (o mundo da razão) e outra (o mundo da violência). A
primeira comanda a vida, mas a segunda subsiste e por vezes nos domina (o
excesso). Pois, o universo, assim como Deus, ultrapassam os limites racionais.
O trabalho cumpre o papel de controlar nossos impulsos violentos (a liberdade
sexual, inclusive), retirando-nos o prazer instantâneo que estes provocam e
oferecendo uma satisfação futura. De modo análogo, o sepultamento,
demonstrando a violência que elimina todos os homens, reforça o interdito em
relação à morte e impõe o respeito aos mortos. O trabalho, a relação com a
morte e o sexo são interditos universais, somados aos particulares (o incesto,
por exemplo).
Entretanto, o interdito admite e até reivindica a transgressão. Embora se
apoie no mundo racional, o apelo que ele faz é à sensibilidade. O tabu, por
exemplo, que promove a calma da razão, é um efeito do medo ou do desejo.
Bataille afirma que o interdito do homicídio é o que torna possível a guerra.
Pois, no domínio do irracional, há um jogo de emoções contrárias, no qual a
violação suscita um sentido oposto. “O interdito existe para ser violado (p.42).”
A guerra, no entanto, não chega a ser a violência animal. Ela pertence
ao grupo de transgressões organizadas, ao modo do trabalho, que compõem a
vida social — por meio de regras, ritos, costumes. Justificado pelo interdito (o
mundo profano), opondo-se a este, esse tipo de transgressão (o mundo
sagrado) é limitado pela razão; sua violência é contida. O interdito, nesse caso,
é reafirmado pelo próprio ato transgressor, estabelecendo um ciclo de
dependência entre os dois aspectos.
A atividade transgressora reata o homem à animalidade: assim entramos
no mundo divino. A coordenação da transgressão pela religião fica clara no
plano econômico: o trabalho (profano) acumula os recursos, que serão
consumidos na festa, no rito (religioso). De modo geral, o interdito não
impossibilita a prática proibida, mas permite sua realização de modo religioso,
transgressor. Ainda que depois ofereça uma expiação para o infrator.
Assim como o numinoso, segundo Rudolf Otto, repele e aproxima, o
interdito primeiro intimida e, quando fascina, promove a transgressão. Desse
jogo de opostos, diz Bataille, é constituído o sagrado. O terror que o interdito
causa desemboca em adoração (como o receio augustum).
Outro aspecto a ser observado é grafia da palavra Deus. Na maioria das
ocorrências, com inicial maiúscula, mas em alguns casos, toda em minúsculas.
Trata-se, segundo minha leitura, da identificação da especificidade do Deus
absoluto.
Vejamos o seguinte poema:
Madison
Acumuladas umas sobre as outras
as folhas de outono
sepultam para sempre este novembro.
O vento balança o mundo
e um galho despenca do mais alto dos dias
na concavidade do nada.
Para onde é levado o tempo morto?
que deus guarda
em sua caixa de minúcia
a nossa memória?
Ah, vizinho de angústia,
que fará o ontem
com este instante que é nosso
hoje, quando nos formos amanhã?
Acumuladas uma sobre as outras
as folhas de outono dormem.
Esse poema, assim como alguns outros de Lenilde, remete a uma
cidade identificada no título (nesse caso, a capital de Wisconsin, EUA) e monta
uma paisagem que dialoga com determinados sentimentos e impressões sobre
a vida.
O deus desconhecido, indagado, é grafado com inicial minúscula,
indicando generalidade. Um ser divinal responsável pelo guardamento das
lembranças, como se, em um panteão profano, cada um dos deuses tivesse
uma função prática.
A ansiedade que causa o desconhecimento das feituras do tempo, o
futuro e as mudanças que ele acarretará no passado e no presente.
As primeiras duas estrofes criam uma tensão espaço-temporal, na qual
eventualidades naturais (folhas caídas e o balançar do galho pelo vento) se
comunicam com a grande ordenação do Universo, como se naquele jardim em
que se passa a narrativa se desvelassem segredos da natureza e sua relação
com a manutenção da vida. A imagem da primeira estrofe equaciona um ciclo
natural: Acumuladas umas sobre as outras / as folhas de outono / sepultam
para sempre este novembro.
A inapreensão do tempo. A incerteza diante do futuro. A angústia de não poder
conter o momento, que será, amanhã, também já um ontem (E quando eu tiver
saído/para fora do teu círculo/tempo tempo tempo tempo/não serei nem terás
sido).
Na poesia de Lenilde, não há nem vazio da palavra, muito menos imagética
explosiva. Suas imagens são precisas, mais preocupadas com a contundência
do que o transbordamento.
Você também pode gostar
- A Arte de Fazer PerguntasDocumento38 páginasA Arte de Fazer PerguntasCamila Lima0% (1)
- TempoDocumento1 páginaTempohidayckAinda não há avaliações
- EnemDocumento1 páginaEnemhidayckAinda não há avaliações
- Análise marxista da literatura e seus principais conceitosDocumento3 páginasAnálise marxista da literatura e seus principais conceitoshidayckAinda não há avaliações
- A Outra MargemDocumento37 páginasA Outra MargemhidayckAinda não há avaliações
- Pensamentos e IdéiasDocumento18 páginasPensamentos e IdéiashidayckAinda não há avaliações
- CercaniasDocumento4 páginasCercaniashidayckAinda não há avaliações
- Biblio PósDocumento1 páginaBiblio PóshidayckAinda não há avaliações
- Perguntas LenildeDocumento1 páginaPerguntas LenildehidayckAinda não há avaliações
- Antropologia Da Religião Licenciatura (1) 2015.2Documento3 páginasAntropologia Da Religião Licenciatura (1) 2015.2Raoni NeriAinda não há avaliações
- LiteraturaememoriaDocumento1 páginaLiteraturaememoriahidayckAinda não há avaliações
- BatailleDocumento11 páginasBataillehidayckAinda não há avaliações
- A divindade na condição humanaDocumento25 páginasA divindade na condição humanahidayckAinda não há avaliações
- Frye NotasDocumento1 páginaFrye NotashidayckAinda não há avaliações
- AntinaturezaDocumento6 páginasAntinaturezahidayckAinda não há avaliações
- Relatorio Historia Da EducacaoDocumento11 páginasRelatorio Historia Da EducacaohidayckAinda não há avaliações
- Perguntas LenildeDocumento1 páginaPerguntas LenildehidayckAinda não há avaliações
- Relatorio DidaticaDocumento11 páginasRelatorio DidaticahidayckAinda não há avaliações
- Tabela FRYEDocumento1 páginaTabela FRYEhidayckAinda não há avaliações
- HisteducDocumento2 páginasHisteduchidayckAinda não há avaliações
- Dissertação - Violência Nas Escolas (1079)Documento80 páginasDissertação - Violência Nas Escolas (1079)hidayckAinda não há avaliações
- Trabalho MedievalDocumento2 páginasTrabalho MedievalhidayckAinda não há avaliações
- Vontade de potência na poesia de Lenilde Freitas: análise a partir de NietzscheDocumento23 páginasVontade de potência na poesia de Lenilde Freitas: análise a partir de NietzschehidayckAinda não há avaliações
- Resumo Literatura e CristianismoDocumento1 páginaResumo Literatura e CristianismohidayckAinda não há avaliações
- Historiografia Da Literatura-2016.2Documento2 páginasHistoriografia Da Literatura-2016.2hidayckAinda não há avaliações
- SpinozaDocumento2 páginasSpinozahidayckAinda não há avaliações
- DOIS CONCEITOS DE LIBERDADEDocumento34 páginasDOIS CONCEITOS DE LIBERDADEMatematica GaussianaAinda não há avaliações
- Eixo3 Comunicacao Vontade de Potencia Na Poesia de Lenilde FreitasDocumento1 páginaEixo3 Comunicacao Vontade de Potencia Na Poesia de Lenilde FreitashidayckAinda não há avaliações
- A Bíblia como literatura segundo Frye e AuerbachDocumento12 páginasA Bíblia como literatura segundo Frye e AuerbachhidayckAinda não há avaliações
- Eixo3 Comunicacao Vontade de Potencia Na Poesia de Lenilde FreitasDocumento1 páginaEixo3 Comunicacao Vontade de Potencia Na Poesia de Lenilde FreitashidayckAinda não há avaliações
- D32 (9º ANO - Mat.) - Blog Do Prof. WarlesDocumento10 páginasD32 (9º ANO - Mat.) - Blog Do Prof. WarlesKeylla SantosAinda não há avaliações
- Ferida Cirúrgica PDFDocumento5 páginasFerida Cirúrgica PDFLucilene santosAinda não há avaliações
- A Razão Áurea: Uma Proporção Matemática UbíquaDocumento5 páginasA Razão Áurea: Uma Proporção Matemática UbíquaCarlos Messias Righe Dias DiasAinda não há avaliações
- Salão Beleza Feminina: Programa de Proteção RespiratóriaDocumento30 páginasSalão Beleza Feminina: Programa de Proteção RespiratóriaandersonAinda não há avaliações
- Atividade 03 (Aula 5 e 6)Documento2 páginasAtividade 03 (Aula 5 e 6)Ricardo CristovaoAinda não há avaliações
- Tipos de saberes e como distinguí-losDocumento17 páginasTipos de saberes e como distinguí-losLucasAinda não há avaliações
- Probabilidades genéticas da 1a Lei de MendelDocumento4 páginasProbabilidades genéticas da 1a Lei de MendelLucas CavalcanteAinda não há avaliações
- Direitos e políticas do Estatuto da JuventudeDocumento13 páginasDireitos e políticas do Estatuto da JuventudePedroAinda não há avaliações
- Faixas Auxiliares para VeculosDocumento6 páginasFaixas Auxiliares para VeculosArquimedesAinda não há avaliações
- Lamina MP 4200 TH AdvDocumento2 páginasLamina MP 4200 TH AdvMarco Antonio CirqueiraAinda não há avaliações
- Grade curricular Administração UNIASSELVIDocumento4 páginasGrade curricular Administração UNIASSELVIAndre SaboiaAinda não há avaliações
- Ar condicionado rodoviário CC305 CC335 CC355Documento2 páginasAr condicionado rodoviário CC305 CC335 CC355andersonAinda não há avaliações
- LX 300Documento9 páginasLX 300dangiojauAinda não há avaliações
- Aula 02 - PCLPVDocumento37 páginasAula 02 - PCLPVmarczalAinda não há avaliações
- Tribunal julga indenização por alimento contaminadoDocumento11 páginasTribunal julga indenização por alimento contaminadoManuela RibeiroAinda não há avaliações
- História Geral: resumos e dicas para vestibularesDocumento40 páginasHistória Geral: resumos e dicas para vestibularesKaline Santos100% (1)
- Origem Da VidaDocumento9 páginasOrigem Da VidaDanilo SilvaAinda não há avaliações
- Questão: 63550Documento228 páginasQuestão: 63550Wagner Ribeiro LuizAinda não há avaliações
- Relações Jurídicas Fiscais e Obrigações Fiscais em MoçambiqueDocumento12 páginasRelações Jurídicas Fiscais e Obrigações Fiscais em MoçambiqueAlexandre PereiraAinda não há avaliações
- Luminária linear LED industrial 42W-210WDocumento2 páginasLuminária linear LED industrial 42W-210WAlexandre FariaAinda não há avaliações
- Impostos em Moçambique: Fases do IRPS, IRPC, ISPC, IVA, SISA e IPMDocumento13 páginasImpostos em Moçambique: Fases do IRPS, IRPC, ISPC, IVA, SISA e IPMDalton Caputene0% (1)
- Esqueleto para Redação ArgumentativaDocumento2 páginasEsqueleto para Redação ArgumentativaLich hacker LixoAinda não há avaliações
- Liderança: estilos e definição emDocumento28 páginasLiderança: estilos e definição emGabriela Ramos100% (3)
- São João Do CaririDocumento8 páginasSão João Do CaririDarisCorreiaAinda não há avaliações
- Ementa PLATAFORMA DIGITAIS - Um Mundo de PossibilidadesDocumento4 páginasEmenta PLATAFORMA DIGITAIS - Um Mundo de PossibilidadesANDRE LUIZAinda não há avaliações
- Resumo Dos Tempos Verbais em InglêsDocumento1 páginaResumo Dos Tempos Verbais em InglêsAriana MartinsAinda não há avaliações
- MODELO. - VPO SAFE - 3 - 1 - 13 - 1 Plano de Seguranca SergipeDocumento23 páginasMODELO. - VPO SAFE - 3 - 1 - 13 - 1 Plano de Seguranca SergipeClovis MatosAinda não há avaliações
- Ufologia - Uma Pesquisa CientíficaDocumento295 páginasUfologia - Uma Pesquisa CientíficaAli Onaissi100% (1)
- Feminismo: exercícios e questõesDocumento16 páginasFeminismo: exercícios e questõesClebio PaivaAinda não há avaliações