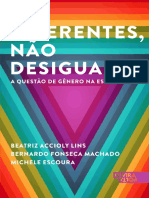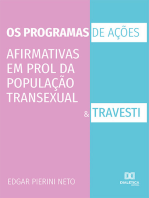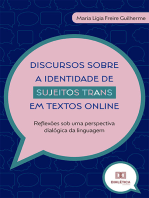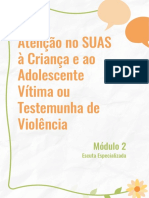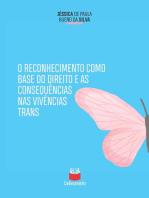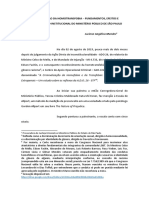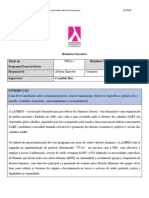Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ALMEIDA, Guilherme - Homens Trans, Novos Matizes Na Aquarela Das Masculinidades, 2012)
ALMEIDA, Guilherme - Homens Trans, Novos Matizes Na Aquarela Das Masculinidades, 2012)
Enviado por
Fernanda GomesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ALMEIDA, Guilherme - Homens Trans, Novos Matizes Na Aquarela Das Masculinidades, 2012)
ALMEIDA, Guilherme - Homens Trans, Novos Matizes Na Aquarela Das Masculinidades, 2012)
Enviado por
Fernanda GomesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
‘HOMENS TRANS’: NOVOS MA
NOV TIZES NA
MATIZES
AQUAREL
QUARELAA DAS MASCULINID
DAS ADES?
MASCULINIDADES?
Guilherme Almeida
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Resumo: O artigo discute de forma exploratória a emergência de uma nova categoria
identitária no Brasil, a de ‘homem trans’. Essa se constrói diferenciando-se da identidade lésbica
e, também, de expressões de gênero de outros grupos que tiveram seus corpos assignados
como femininos ao nascimento, mas que contestam essa assignação sem, contudo, se afirmarem
‘homens’ de forma constante. Afirma-se que a emergência dos ‘homens trans’ tem sido
potencializada pelo estabelecimento do processo transexualizador no SUS. Discutem-se o uso
do termo “homem trans” e algumas características comuns a tais sujeitos. Problematizam-se a
complexidade de seus processos de autorreconhecimento e construção de masculinidades,
sua rápida capacidade de indiferenciação a partir de modificações corporais e, alguns dos
efeitos políticos e subjetivos, da visibilidade e da indiferenciação.
Palavras-chave
Palavras-chave: transexualidade; homens transexuais; reconhecimento; gênero.
“De tudo ficou um pouco
Do meu medo. Do teu asco.
Dos gritos gagos. Da rosa
ficou um pouco.”
Carlos Drummond de ANDRADE, 1945.
Apresentação
Elegi discutir o que percebi como recorrente em meio à diversidade do microcosmo
de ‘homens trans’ a que tenho tido acesso, também ele marcado por dissidências e
conformações, como sugere o título deste dossiê.
Para efeito deste artigo, considero como equivalentes as categorias empíricas “homem
transexual”, “homem trans”, “transhomem”, “transman”, “FTM”1 ou “transexual masculino”.
Dessa forma, para evitar o uso de múltiplas expressões, utilizarei o termo “homem trans” no
esforço de condensar a experiência da ‘transexualidade masculina’. Tomo a
autodenominação a partir das categorias acima, como critério de nomeação.
Copyright © 2012 by Revista Estudos Feministas.
1
Sigla em inglês utilizada pelos próprios transexuais e também na literatura médica para designar o que tenho
chamado de ‘homem trans’. Literalmente significa female-to-male, feminino para masculino’.
Estudos Feministas, Florianópolis, 20(2): 256, maio-agosto/2012 513
GUILHERME ALMEIDA
Os que se identificam como ‘homens trans’ são ainda poucos no Brasil, e essa primeira
constatação associa-se à escassez de estudos, também descrita por Ávila e Grossi:2
são praticamente inexistentes no Brasil, estudos sobre transmasculinidade e que os
transexuais masculinos, parecem ter menos visibilidade que as transexuais femininas,
tendo em vista a ampla variedade de estudos sobre travestilidades femininas como os
de Marcos Benedetti (2005), Don Kulick (1996, 1997, 1998), Roger Lancaster (1998) e
Fernanda de Albuquerque e Maurizio Janelli (1995), e transexualidade feminina, como o
estudo de Berenice Bento (2006) em comparação com a quase inexistência de similares
sobre transexualidade masculina.
Conheci apenas 12 ‘homens trans’ através de colisões numa instituição de saúde
que compõem o processo transexualizador no SUS,3 através de e-mails e em alguns fóruns
políticos/acadêmicos. É a partir desse acesso ao empírico que escrevo.
Meu ponto de partida é o de alguém que, próximo de diferentes ‘experiências trans’,
deseja submetê-las à crítica, condição necessária para que a produção de conhecimento
cresça. A reflexão é fundamental para elaborar politicamente o enfrentamento das violações
aos direitos humanos que acompanham as trajetórias dos que transcendem os limites do
binarismo fundado no processo de assignação sexual pela aparência dos órgãos genitais
que acompanha (e, algumas vezes, precede) o nascimento. É o caso de intersexuais e, sem
dúvida, de transexuais.
Entendo que os elementos de minha experiência particular necessariamente se
associam aos de outras pessoas que vivenciam a transexualidade – mulheres e homens –
, já que aqui o ponto de vista provém de tradições teórico-metodológicas4 que compreendem
as histórias individuais não como manifestações psicológicas autônomas, mas como
expressões de processos sociais e culturais amplos que informam as características dos
indivíduos e são simultaneamente transformados por eles. Falo de associação, e não de
replicação, entretanto.
Nesse sentido, convém resgatar o uso que Regina Facchini5 dá ao conceito de
interseccionalidade: “pela idéia de ‘diferença’ como categoria analítica, tomando
diferença de modo não essencial, mas como categoria que remete à designação de
‘outros’”. Para a autora, trata-se da necessidade de evitar o reducionismo de fazer derivar
todas as diferenças de uma única instância determinante, desconsiderando-se a
articulação de marcadores sociais de diferença (sempre existente nas trajetórias de
indivíduos e grupos), como a classe social, a geração, a trajetória sexual e reprodutiva e os
atributos de gênero.
Também Laura Moutinho6 destaca a necessária perspectiva interseccional, ao realizar
qualquer análise dos marcadores sociais da diferença, acrescentando outros, além dos
enunciados por Facchini, como a existência de deficiências físicas e as de habitação/
2
Simone ÁVILA e Miriam Pillar GROSSI, 2010, p. 1.
3
O processo transexualizador no SUS foi instituído pela Portaria n. 1.707, do MS, de 18 de agosto de 2008. A
maior parte das cirurgias dos ‘homens trans’ foram retiradas do caráter experimental pela Resolução do CFM
n. 1.955, de 2010. Trata-se, assim, de um fenômeno recente, mas a primeira notícia de modificações
corporais em ‘homem trans’ no Brasil data de 1977 (João NERY, 1984).
4
Conforme Carole Vance (1995, p. 10), várias correntes na Sociologia – interacionismo ocial, estudos do
trabalho, história das mulheres e história marxista – e na antropologia imbólica – análises transculturais sobre
a sexualidade e estudos do gênero, para mencionar penas as correntes mais significativas que contribuíram
para a construção de um enfoque construcionista da sexualidade nas ciências sociais – também servem de
base a este trabalho.
5
Regina FACCHINI, 2009, p. 147.
6
Laura MOUTINHO, 2004, p. 191.
514 Estudos Feministas, Florianópolis, 20(2): 513-523, maio-agosto/2012
‘HOMENS TRANS’: NOVOS MATIZES NA AQUARELA DAS MASCULINIDADES?
trabalho/lazer. A perspectiva interseccional proposta pelas autoras permite o abandono do
raciocínio aritmético simples e mecanicista, que faz equivaler a maior vulnerabilidade à
simples soma dos marcadores sociais, sem problematizar sua interferência na
particularidade dos contextos estudados.
Dessa forma, não se objetiva aqui a apropriação da categoria social “homem
trans” de forma essencializadora e num formato único comum a todos os indivíduos que
nela se inscrevam, mas em alguns traços gerais.
A quem nomeio ‘homem trans’
Não existe a possibilidade de dizer em termos universais o que é transexualidade –
tanto a feminina quanto a masculina – nos moldes das concepções que os discursos
médicos ajudaram a forjar, daí o recurso a Berenice Bento, para quem tal experiência é
identitária, caracterizada pelo conflito com as normas de gênero. Essa definição
confronta-se à aceita pela medicina e pelas ciências psi que a qualificam como uma
‘doença mental’ e a relaciona ao campo da sexualidade e não ao gênero. Definir a
pessoa transexual como doente é aprisioná-lo, fixá-lo em uma posição existencial que
encontra no próprio indivíduo a fonte explicativa para seus conflitos, perspectiva
7
divergente daqueles que a interpretam como uma experiência identitária.
Márcia Áran traz elementos que complementam a definição anterior, problematizando
a costumeira associação da condição transexual à condição de cirurgiado. Assim, para ela,
“o conceito de transexualidade é bastante problemático do ponto de vista teórico e até
científico. E sabemos que a construção do gênero ou os processos identificatórios são muito
mais complexos do que a cirurgia”.8
Assim, é possível falar de pessoas que, em diferentes contextos sociais e culturais,
conflituam com o gênero (com que foram assignadas ao nascer e que foi reiterado em
grande parte da socialização delas) e, em alguma medida (que não precisa ser cirúrgica/
química), decidem modificá-lo. É possível afirmar que essas pessoas (quase que
universalmente) enfrentam dificuldades em função da predominância do binarismo de
gênero e da matriz heterossexual na maioria das culturas. Mas a natureza das dificuldades
enfrentadas e os dispositivos de enfrentamento não são universais.9
Tenho registros etnográficos de alguns sujeitos que não foram incluídos neste artigo
como ‘homens trans’, pois não se definem assim, mas julgo conveniente descrevê-los como
forma de delinear melhor a quem nomeio ‘homens trans’.
A descrição de ‘grupos’ segue o único propósito de organizar a escrita e apresentar
alguns matizes da complexa ‘aquarela das masculinidades’ que caracteriza os indivíduos
com corpos que foram inicialmente assignados como ‘femininos’, mas que em alguma
medida (variável) se opõem a essa assignação. Não tenho nenhuma pretensão de fixá-los
nos quatro grupos que a seguir descrevo, mas tenho uma hipótese de que há transitividade
entre esses grupos.
O primeiro grupo é formado por pessoas que não querem um total descolamento do
feminino. Permanecem como ‘mulheres’ por diferentes e variados condicionantes: familiares,
7
Berenice BENTO, 2006, p. 15.
8
Márcia ÁRAN, 2010, p. 276-277.
9
Nesse sentido, o enfoque construtivista também é valioso ao explorar a ação e a criatividade humanas em
relação à sexualidade, afastando-se dos modelos unidirecionais da mudança social para descrever
relacionamentos complexos e dinâmicos entre o Estado, os especialistas profissionais e as subculturas sexuais
(VANCE, 1995, p. 16).
Estudos Feministas, Florianópolis, 20(2): 513-523, maio-agosto/2012 515
GUILHERME ALMEIDA
subjetivos (medos, incertezas, ceticismo), objetivos e sociais (riscos físicos das modificações
corporais, trabalho, sustentação econômica). Isso não as impede de, na intimidade,
utilizarem nomes ou apelidos masculinos, alguns objetos característicos da indumentária
masculina (como cuecas, camisas, acessórios de cabeça, relógios e sapatos) e,
simultaneamente, de conciliá-los com cabelos longos e outros signos sociais que permitem
preservá-las (quando desejado ou necessário) na identidade feminina. São mais frequentes
em lugares de socialização lésbica de camadas médias.
O segundo grupo é formado por ‘homens’ que não optam por modificações corporais
cirúrgicas nem hormonais. Fazem uso de outros recursos culturais disponíveis para terem a
aparência próxima do gênero com o qual mais se afinam (roupas, calçados e cortes de
cabelo masculinos, uso de apelido masculino, atividades de trabalho masculinas) e se
declaram satisfeitos e efetivamente pertencentes ao gênero masculino.10 Trabalham em
feiras livres, como camelôs, “papagaios”11 no transporte alternativo informal e em bares
populares de socialização lésbica.
Há um terceiro grupo de pessoas que constroem performances públicas12 em que os
gêneros se misturam, expressando, dessa forma, insatisfação com o ‘binarismo dos gêneros’
e/ou com a ‘heteronormatividade’. Eles/as explicitam o desejo de modificações corporais
às vezes pela via, inclusive, da ingestão de testosterona, mas não querem a mastectomia
ou outros procedimentos cirúrgicos. São influenciados/as pela ‘ideologia igualitarista’, cujo
espraiamento entre as camadas médias de perfil moderno foi descrito por Maria Luiza
Heilborn13 e, também, por perspectivas de ‘desnaturalização das identidades’, como as de
Judith Butler14 e Beatriz Preciado,15 entre outras.
Identifiquei ainda um quarto grupo de indivíduos que fazem e/ou desejam
modificações corporais através da hormonização por testosterona e de uma ou mais
intervenções cirúrgicas, além de se valerem em larga medida de outros recursos sociais
(roupas e calçados masculinos, faixas torácicas – a fim de dissimular o volume dos seios –
e próteses penianas de uso público). Buscam também frequentemente o reconhecimento
jurídico do sexo e do nome masculinos e têm se tornado mais visíveis na cena pública
brasileira, em função do processo transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS), que
favorece o acesso a modificações corporais de alta complexidade. Tais indivíduos já se
expressavam de forma diferenciada antes da existência do processo transexualizador,
distinguindo-se de maneira mais ou menos sutil da identidade lésbica. A busca do acesso
às modificações corporais tem tido o efeito colateral de produzir uma identidade16 social
radicalmente distinta para além das paredes hospitalares: a de “homem trans”.
Na minha percepção tal identidade vem se construindo menos em função do
diagnóstico psiquiátrico e mais na suposição de uma completa adesão aos signos corporais
e aos comportamentos sociais que constituem as masculinidades, principalmente em seu
‘modelo convencional’. Marcos Antonio Ferreira do Nascimento, ao rever os estudos sobre
10
Alguns destes sujeitos podem ser encontrados no documentário Eu sou homem, de Márcia Cabral.
11
“Papagaio“ é um termo da gíria carioca para o cobrador de passagens em vans ou combis (normalmente
informais). Eventualmente podem ser mulheres, mas não é o padrão.
12
Estas performances podem incluir roupas e calçados masculinos e femininos, cortes de cabelo andróginos
e até uso de dois nomes sociais (um masculino, outro feminino). Quanto à influência da filósofa e ativista
espanhola Beatriz Preciado, ver entrevista concedida a Jesús Carrillo, em 2007.
13
Maria Luiza HEILBORN, 1996, p. 139.
14
Judith BUTLER, 2000.
15
Beatriz PRECIADO, 2011.
16
Utilizo aqui o conceito de Manuel Castells (1999, p. 23), para quem as identidades “constituem fontes de
significado para os próprios atores, por eles originadas, e construídas por meio de um processo de individuação
[...]. Identidades organizam significados, enquanto papéis organizam funções”.
516 Estudos Feministas, Florianópolis, 20(2): 513-523, maio-agosto/2012
‘HOMENS TRANS’: NOVOS MATIZES NA AQUARELA DAS MASCULINIDADES?
masculinidade, identifica que tal modelo atualmente convive com ‘outras maneiras de ser
homem’, mas que ele ainda pode ser descrito como aquele que preconiza
a ideia de um homem forte, viril, provedor, chefe de família, inserido no mundo público
(da ‘rua’ e do trabalho), competitivo, com pouca conexão com a esfera da vida
privada, que tem dificuldades de transitar pelo terreno dos afetos, que não chora e tem
um distanciamento das emoções, que não consegue estabelecer vínculos de intimidade,
e que pode se comportar de forma agressiva (e até mesmo violenta) contra as mulheres
17
e outros homens.
Utilizo com relação a este último grupo a palavra “transexual” como uma âncora
válida para expressar identificação entre sujeitos e algumas experiências sociais em comum,
e não para dar corpo a um conjunto de experiências absolutamente idênticas no âmbito
das relações de gênero.
‘Homens trans’: algumas recorrências
Para realizar uma discussão exploratória18 das características que seriam recorrentes
entre os ‘homens trans’, retomo o conceito de transexualidade. Como disse, é uma
impossibilidade conceituá-la de forma universal, unívoca e a partir de uma classificação
estritamente médico-psiquiátrica.
Os homens trans são diferentes entre si em função dos próprios marcadores sociais
de diferenças, como a classe social, a raça/cor, a orientação sexual, a geração, a origem
geográfica, entre outras. Eles, de modo geral, utilizam o termo “transexual” ou “trans”
frequentemente tomando-o como adjetivo e, por isso, precedido pelo substantivo “homem”.
Em suas narrativas, há frequentes experiências de discriminação compostas de
marcos, como a rejeição do lugar outorgado pelo binarismo de gênero (baseado na leitura
inicial de sua genitália) e por experiências sociais variadas de sexismo e homofobia em
decorrência dessa rejeição (ainda na infância e prolongando-se na idade adulta). Essas
experiências e marcos culminam na decisão de, em algum momento da vida, reclamar a
identidade masculina. Tal decisão é associada não só à possibilidade de obtenção de
conforto psíquico, mas de respeito e reconhecimento social.
Pouquíssimas vezes ouvi de homens trans o questionamento do termo “transexual”
em função de seu caráter patologizante, ao contrário, usam o termo com frequência e
naturalidade. Em seus relatos, há alívio diante do encontro com uma unidade semântica
capaz de oferecer inteligibilidade a suas trajetórias pessoais até então inomináveis e, por
isso mesmo, mais abjetas.19 Eles encontraram o termo após uma deriva em que eram
assignados ora como ‘lésbicas masculinizadas’ (aceitando ou não essa classificação em
algum período de suas vidas), com toda a pecha a ela associada,20 ora como loucas, ora
como ambas.
Reconheço que o termo “transexual” é concretamente cunhado pela classificação
médico-psiquiátrica internacional, que reiterou, ao longo de décadas, a ideia de que
pessoas trans padecem de um ‘transtorno’, destituindo-as de parte da autonomia e
17
Marcos Antonio Ferreira do NASCIMENTO, 2011, p. 45.
18
Relaciono o sentido exploratório desta discussão ao significado atribuído por Antonio Carlos Gil (2006, p.
43) às pesquisas exploratórias nas ciências sociais em geral, o de desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos para estudos posteriores“. Trata-
se, portanto, de reflexões inconclusas.
19
Faço referência aqui à acepção do termo já consagrada por Butler (2000).
20
Para discutir a pecha associada à lésbica masculinizada, ver Guilherme Silva de ALMEIDA e Maria Luiza
HEILBORN, 2009, p. 236-341.
Estudos Feministas, Florianópolis, 20(2): 513-523, maio-agosto/2012 517
GUILHERME ALMEIDA
autorizando discursos e condutas variadas dos profissionais de saúde, que vão desde as
‘boas práticas’21 às práticas meramente prescritivas, autoritárias e desrespeitosas.
Nesse sentido, ser incluído na categoria trans não implica a desassociação do
estigma de ‘doente mental’, por isso é fundamental não perder de vista a definição
foucaultiana do corpo como uma realidade biopolítica, assim como da medicina sempre
como uma estratégia biopolítica.22 O termo “transexual” também contribui para transformar
pessoas em estereótipos, em que subjetividade, desejo e contexto sociocultural são
desconsiderados.
Para alguns profissionais de saúde, e até operadores do direito, entretanto, a
‘despatologização do transexualismo’, além de desejável, é uma inevitável tendência
histórica. Embora possa parecer que o ‘discurso médico’ e o jurídico assumam sempre
feições monolíticas, acríticas e um tanto ingênuas, oculta-se aí a pluralidade de sujeitos,
com variadas formações, variável capacidade de crítica e diferentes interesses.
O discurso médico não é único e não é o único a disputar o investimento de
significados a termos como transexualidade,23 e, a exemplo do que ocorreu com o próprio
termo “homossexualidade”,24 penso que, entre alguns homens com os quais dialogo, há
uma reabilitação semântica do termo “transexualidade”, apreendido como descritor de
vivências singulares, e não como uma patologia.
Alguns homens trans de fato rejeitam o termo “transexual” porque veem a
transexualidade como algo transitório que será superado pelo acesso às tecnologias
médicas/cirúrgicas e ao reconhecimento judicial. Para eles, não se trata da negação do
termo “transexualismo” ou “transexualidade” por seu caráter patologizante, mas de uma
rejeição a serem vistos como distintos dos demais homens.
Para alguns, como já mencionei, a identidade trans é categoria temporária,
organizadora da experiência e da trajetória individual e, também, uma ferramenta de
acesso a instituições que, de outra forma, cerrariam as portas a eles. Utilizar a identidade
como ferramenta de acesso cumpre o papel de possibilitar o que, de fato, eles desejam no
futuro: eliminá-la.
Construindo homens: autorreconhecimento, indiferenciação
e visibilidade
Uma primeira dificuldade é, em geral, o autorreconhecimento, porque são frequentes
as trajetórias de incorporação à subcultura lésbica/gay (pela via do ingresso no movimento
LGBT ou não). Em geral, tal incorporação se dá por ausência de outros espaços sociais nos
quais encontrar pares. Dessa forma, as experiências trans permanecem subsumidas em
espaços lésbicos, reiteradas tanto pelo pouco acesso às tecnologias de modificação
corporal quanto pela lógica binária e naturalista de parte das próprias lésbicas e/ou do
movimento LGBT, que reitera o dispositivo discursivo de uma identidade lésbica una,
indivisível e definida pelo corpo biológico.
21
Faço alusão ao termo do Guía de buenas prácticas para la atención sanitaria a personas trans en el marco
del sistema nacional de salud.
22
Michel FOUCAULT, 1982, p. 80.
23
Para discutir a complexidade dos termos “travesti“ e “transexual“, consultar a etnografia de Bruno César
BARBOSA, 2010.
24
Com a caracterização dos homossexuais na medicina do século XIX e da própria omossexualidade como
anomalia, buscaram-se formas de terapia/tratamento em certa conivência entre a polícia e a medicina
(Peter FRY e Edward MACRAE, 1985, p. 66-67).
518 Estudos Feministas, Florianópolis, 20(2): 513-523, maio-agosto/2012
‘HOMENS TRANS’: NOVOS MATIZES NA AQUARELA DAS MASCULINIDADES?
O processo de autoidentificação dos homens tem ocorrido por contatos pela internet
em comunidades virtuais de pares (blogs, sites, Orkut, Facebook), ambientes hospitalares
ligados ao processo transexualizador,25 universidades e espaços políticos do movimento
LGBT, além de redes pessoais e do contato com matérias jornalísticas e programas de TV.
Há restrições a quem decide produzir conhecimento sobre ‘homens trans’ no Brasil. A
primeira delas é a pouca visibilidade. A maior parte da sociedade não considera a
possibilidade de transição do gênero feminino ao masculino e, portanto, ignora a própria
condição FTM. Isso ocorre em grande medida em razão do olhar falocêntrico que impregna
as representações sobre a experiência masculina. Nesse sentido, é como se os
comportamentos e os significados considerados masculinos emanassem necessariamente
da presença material original do pênis. Tais representações tornam-se evidentes quando
muitas pessoas, na presença de homens trans – especialmente dos que dispõem de corpos
peludos e musculosos e não fizeram faloplastia –, manifestam extrema perplexidade, como
se esses contrariassem toda a lógica e é comum que em seguida utilizem expressões, tais
como “como pode ser tão perfeitinho?”.
A segunda restrição a estudos é a sua rápida capacidade de passing 26
(estreitamente vinculada ao desconhecimento social da condição FTM), mas também
relacionada à bem elaborada construção de ‘corpos sociais masculinos’, que se torna
especialmente eficaz após a realização da mastectomia e do uso prolongado de
testosterona. Em outras palavras, o uso da testosterona no caso dos homens trans, ao
contrário do que ocorre com as mulheres trans, torna-os bastante próximos fisicamente às
expectativas sociais de como deve parecer um homem, o que contribui para invisibilizá-
los. Essa invisibilidade adquirida com frequência a duras penas significa para a maior
parte um agradável momento de trégua na estressante e contínua batalha por respeito à
identidade/expressão de gênero.
Por esse motivo, não sei se homens trans desejam comunidades reais e muito menos
formar grupos políticos, ou se a necessidade de encontrar pares se basta nesses encontros
pontuais e/ou virtuais de socialização.27 É possível que o desejo predominante seja de fato
o de sumir na multidão, o ‘direito à indiferença’. Esse é facilitado pelo fato de que o passing,
como dito, é obtido com facilidade.
O fato de o público não saber, por um lado, possibilita práticas de camuflagem
social que favorecem o conforto e o acesso individual a direitos. Por outro lado,
principalmente na visão do ativismo, isso prejudica a luta coletiva, inviabiliza o reclame
por direitos e faz com que as mulheres trans se sintam solitárias. Há uma expectativa de que
os homens trans integrem as principais estratégias utilizadas pelo movimento LGBT nos
últimos anos, descritas por Facchini: a incidência política e a visibilidade massiva.28
Não se podem subestimar, contudo, os significados políticos dos debates provocados
pela simples existência de pessoas trans, os quais implicam rediscussão de rotinas e
25
As salas de espera dos ambulatórios trans têm se constituído como espaços de troca entre mulheres e
homens transexuais. Muito embora muitos sujeitos prefiram o anonimato e o silêncio enquanto esperam as
consultas, existem aqueles/as que preferem a conversa, dividindo seus conhecimentos sobre as modificações
corporais, sobre o cotidiano institucional e, algumas vezes, podendo exibir a seus ‘pares mais novos’ resultados
dos quais têm muito orgulho.
26
Na literatura internacional, o termo passing transgender é utilizado para referir-se a uma capacidade
pessoal de ser reconhecido/a como pertencente a um gênero que não era o assignado no sujeito ao nascer.
Essa capacidade pessoal envolve tanto certa manipulação de alguns cuidados físicos característicos do
gênero pretendido quanto atributos de comportamento que sejam culturalmente associados a tal gênero.
27
Os sites brasileiros mais conhecidos são o FTM Brasil e o Sou transhomem... e daí?
28
FACCHINI, 2009, p. 139.
Estudos Feministas, Florianópolis, 20(2): 513-523, maio-agosto/2012 519
GUILHERME ALMEIDA
protocolos institucionais consolidados, como os de atendimento, conduta profissional, sigilo,
privacidade29 etc. Elas geram deslocamentos: pessoas que jamais inscreveram as relações
de gênero e a sexualidade em seu horizonte reflexivo passam, ao menos temporariamente,
a considerá-las e a discutir condutas discriminatórias que reconhecem em si e nos demais,
e nos extremos dessa abertura ao diálogo, o modelo de sociedade ambicionado.
Politicamente prejudicial ou não, observo satisfação quando a condição anterior
às modificações corporais não é mais percebida e/ou mencionada. A possibilidade de ter
uma vida organizada sob padrões hegemônicos tende a ser valorizada principalmente
por aqueles que se consideram heterossexuais,30 expressando-se em semelhança com o
‘modelo convencional’ de masculinidade. Apesar disso, a adesão a performances
convencionais declina quando cresce o reconhecimento público da condição de homem,
mesmo entre os ‘heterossexuais’.
Nesse sentido, percebo que ‘de tudo fica um pouco’:31 o processo, ainda que
acidentado e, em condições negativas, de socialização no gênero feminino, agrega valores,
posicionamentos, habilidades e sentimentos, em alguma medida, em oposição ao ‘modelo
convencional’ de masculinidade e, mais comumente, atribuídos às mulheres: apreço por
atividades de cuidado, maior conexão com a esfera da vida privada, maior trânsito pelo
terreno dos afetos e menor agressividade.
Os homens trans gozam da prerrogativa de poderem obter o reconhecimento jurídico
mais facilmente que as mulheres trans: sem a necessidade da cirurgia genital, precisamente
por conta de a ortofaloplastia ainda manter seu caráter experimental.32 O que pode soar
como vantagem envolve alguns homens trans numa atmosfera de constante vigilância,
por medo de serem fisicamente descobertos, por isso avento a hipótese de que a existência
dessa atmosfera converte-se em motivação maior para as cirurgias genitais, em detrimento
do próprio desejo subjetivo de realizá-las. Trata-se de medos que muitos vocalizam e que
João Nery33 sintetizou: “[...] não posso perder a consciência e parar numa enfermaria. Vai ser
um escândalo. Tenho moto há 40 anos e estou sempre de prontidão”.34 Embora tal
fantasmagoria possa ser enfrentada subjetivamente pelos homens trans de múltiplas formas
(pelo acesso à psicoterapia qualificada, no caso dos que desejarem), para alguns, ela só
se desfaz na realização de procedimentos cirúrgicos ou nem assim.
29
Uma curiosa luta foi travada recentemente por um pequeno grupo de pessoas trans que exerciam a
docência de ensino superior e/ou eram pesquisadoras/es e alunas/os de pós-graduação, pelo direito ao
exercício de suas funções profissionais, o que era dificultado pela impossibilidade de alterar o nome e o sexo
do currículo lattes, principal instrumento de aferição de desempenho e socialização de informações técnico-
profissionais. Mesmo no caso dos que já tinham sentenças judiciais que autorizavam, havia uma impossibilidade
de a Plataforma Lattes viabilizar a troca. Foram meses de negociação com o Ministério da Ciência e
Tecnologia para que um novo protocolo fosse criado pelo CNPq. A luta foi positiva, porque alguns meses
depois o que era exceção tornou-se regra extensiva também a usuários de nome social (sem sentença).
Dessa forma, a partir de junho de 2011, o CNPq passou a aceitar solicitações de alteração de nome e sexo
feitas à Ouvidoria da Instituição.
30
Entre os homens que conheci, dois se declararam ‘bissexual’ e ‘gay’. Os demais disseram ser heterossexuais
ou deixaram isso subentendido pela enunciação apenas de relacionamentos afetivo-sexuais com mulheres.
Entre as mulheres que se constituem como namoradas/companheiras/noivas/esposas (as quatro categorias
foram utilizadas), duas se disseram bissexuais e as outras duas, heterossexuais.
31
Referência ao primeiro verso do poema “Resíduo“, de Carlos Drummond de ANDRADE, 1945, cuja força
estética inspirou anteriormente o trabalho de Esalba Silveira também sobre transexualidade (2006).
32
Não se trata das leis, mas de parcela da jurisprudência dos processos judiciais de alteração de nome e sexo
para homens trans.
33
João Nery foi o primeiro homem trans do Brasil a realizar modificações corporais e relatá-las no livro Erro de
pessoa (1984). E recentemente lançou seu segundo relato biográfico (NERY, 2010).
34
O GLOBO, 2010.
520 Estudos Feministas, Florianópolis, 20(2): 513-523, maio-agosto/2012
‘HOMENS TRANS’: NOVOS MATIZES NA AQUARELA DAS MASCULINIDADES?
Barbeiros, professores, enfermeiros, técnicos administrativos, alguns desempregados
ou subempregados, dependentes economicamente de terceiros, plurais nas masculinidades
encenadas e vividas, plurais nos desafios enfrentados e na forma de enfrentá-los... ainda
pagam altos e variados preços por ousar ser homens, sem terem os pés no estribo
aparentemente sólido da biologia.
Referências
ALMEIDA, Guilherme Silva de. “Reflexões iniciais sobre o processo transexualizador no SUS a
partir de uma experiência de atendimento”. In: ARILHA, Margareth; LAPA, Thaís de Souza;
PISANESCHI, Tatiane Crenn. Transexualidade, travestilidade e direito à saúde. São Paulo:
Oficina Editorial, 2010.
ALMEIDA, Guilherme Silva de; HEILBORN, Maria Luiza. “Não somos mulheres gays: identidade
lésbica na visão de ativistas brasileiras”. Gênero: Núcleo Transdisciplinar de Estudos de
Gênero – Nuteg, v. 9, n. 1, p. 225-249, jan./jun. 2009.
ANDRADE, Carlos Drummond de. “Resíduo”. In: ______. A rosa do povo. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1945. p. 71.
ARÁN, Márcia. “A saúde como prática de si: do diagnóstico de transtorno de identidade de
gênero às redescrições da experiência da transexualidade”. In: ARILHA, Margareth;
LAPA, Thaís de Souza; PISANESCHI, Tatiane Crenn. Transexualidade, travestilidade e direito
à saúde. São Paulo: Oficina Editorial, 2010.
______. Novos direitos e visibilidades para os homens trans no Brasil. Disponível em: <http:/
/www.ufscar.br/cis/2010/11/novos-diretos-e-visibilidades-para-os-homens-trans-no-brasil/
>. Acesso em: 3 jul. 2012.
ARILHA, Margareth; LAPA, Thaís de Souza; PISANESCHI, Tatiane Crenn. Transexualidade,
travestilidade e direito à saúde. São Paulo: Oficina Editorial, 2010.
ÁVILA, Simone; GROSSI, Miriam Pillar. “Maria, Maria João, João: reflexões sobre a transexperiência
masculina”. In: FAZENDO GÊNERO 9: DIÁSPORAS, DIVERSIDADE, DESLOCAMENTOS, 23 a 26
de agosto de 2010, Florianópolis. Disponível em: <http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/
resources/anais/1278255349_ARQUIVO_Maria,MariaJoao,Joao040721010.pdf>. Acesso
em: 13 ago. 2011.
BARBOSA, Bruno César. Nomes e diferenças: uma etnografia dos usos das categorias travesti
e transexual. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual.
Rio de Janeiro: Garamond, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 1.107, de 19 de agosto de 2008. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1707_18_08_2008.html>.
Acesso em: 14 ago. 2011.
______. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM n.1955, de 2010. Dispõe sobre a
cirurgia de transgenitalismo e revoga a Resolução CFM n. 1.652/02. Brasília, 2010.
BUTLER, Judith. “Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo”. In: LOURO, Guacira
Lopes. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica,
2000. p. 153-172.
CARRILLO, Jesús. “Entrevista com Beatriz Preciado”. Cadernos Pagu, Campinas, n. 28, p.
375-405, jun. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0104-83332007000100016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16 ago. 2011.
Estudos Feministas, Florianópolis, 20(2): 513-523, maio-agosto/2012 521
GUILHERME ALMEIDA
CARVALHO, Mario Felipe de. Que mulher é essa? Identidade, política e saúde no movimento
de travestis e transexuais. 2011. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Programa
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2011.
CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. O poder da
identidade. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. v. 2.
FACCHINI, Regina. “Entre compassos e descompassos: um olhar para o ‘campo’ e para a
‘arena’ do movimento LGBT brasileiro”. Bagoas: Revista de Estudos Gays, v. 3, n. 4, p. 131-
158, jan./jun. 2009.
FOUCAULT, Michel. “O nascimento da medicina social”. In: ______. Microfísica do poder. 27.
ed. Rio de Janeiro: Graal, 1982. cap. V. p. 79-98.
FRY, Peter; MACRAE, Edward. O que é homossexualidade. São Paulo: Brasiliense, 1985.
(Coleção Primeiros Passos).
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006.
HEILBORN, Maria Luiza. “Ser ou estar homossexual: dilemas de construção de identidade
social”. In: PARKER, Richard. Sexualidades brasileiras. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,
1996. p. 137-141.
MOUTINHO, Laura. “‘Raça’, sexualidade e saúde: discutindo fronteiras e perspectivas”. Physis,
v. 2, n. 14, p. 191-196, 2004.
NASCIMENTO, Marcos Antonio Ferreira do. Improváveis relações: produção de sentidos sobre
o masculino no contexto de amizade entre homens homo e heterossexuais. Dissertação
(Doutorado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Programa de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.
NERY, João W. Erro de pessoa: Joana ou João? Rio de Janeiro: Record, 1984.
______. Viagem solitária: memórias de um transexual trinta anos depois. Rio de Janeiro:
LeYa, 2010.
O GLOBO. Dois cafés e a conta... com João Nery. 17 out. 2010. Disponível em: <http://
ftmbrasil.blogspot.com/2011/03/materia-com-joao-w-nery-em-revista-o.html>. Acesso
em: 14 ago. 2011.
PRECIADO, Beatriz. “Multidões queer: notas para uma política dos ‘anormais’”. Revista Estudos
Feministas, v. 19, n. 1, p. 11-20, jan./abr. 2011.
RED POR LA DESPATOLOGIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES TRANS DEL ESTADO ESPAÑOL. Guía de
buenas prácticas para la atención sanitaria a personas trans en el marco del sistema
nacional de salud. Disponível em: <http://stp2012.info/guia/STP-propuesta-
sanidad.pdf>. Acesso em: 10 set. 2011.
SILVEIRA, Esalba Maria Carvalho. De tudo fica um pouco: a construção social da identidade
do transexual. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Faculdade de Serviço Social,
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.
SIMONETTI, Cecília. “Relatório”. In: ARILHA, Margareth; LAPA, Thaís de Souza; PISANESCHI,
Tatiane Crenn. Transexualidade, travestilidade e direito à saúde. São Paulo: Oficina
Editorial, 2010.
VANCE, Carole S. “A antropologia redescobre a sexualidade: um comentário teórico”. Physis:
Revista de Saúde Coletiva, v. 5, n. 1, p. 7-29, 1995.
‘ Trans Men
Men’:’: New Colours in the Masculinities P icture?
Picture?
Abstract
Abstract: The article discusses in an exploratory form the emergence of a new identity category
in Brazil, namely “transmen”. This identity is constructed as a differentiation from the lesbian
identity and also from gender expressions of other groups that had their bodies assigned as
522 Estudos Feministas, Florianópolis, 20(2): 513-523, maio-agosto/2012
‘HOMENS TRANS’: NOVOS MATIZES NA AQUARELA DAS MASCULINIDADES?
female upon birth, but that later refuted this assignment without, however, affirming themselves as
“men” on a permanent way. The article claims that the emergence of “transmen” has been made
possible by the establishment of the transexualization process in the Public Health Care System.
Furthermore, the article discusses the use of the term “transman” and some common
characteristics related to those persons. The author critiques their complex processes of self-
knowledge and construction of masculinities, as well as their quick capacity for non-differentiation
from the stand-point of bodily modifications. Finally, the author discusses the political and subjective
consequences of their visibility and non-differentiation.
Key W ords
Words
ords: Transsexuality; Transsexual Men; Recognition; Gender.
Estudos Feministas, Florianópolis, 20(2): 513-523, maio-agosto/2012 523
Você também pode gostar
- Diferentes, Não DesiguaisDocumento113 páginasDiferentes, Não Desiguaissan67% (3)
- Teologia QueerDocumento19 páginasTeologia QueerFellipe Dos Anjos100% (1)
- MANUAL Completo DireitosHumanosLGBTDocumento82 páginasMANUAL Completo DireitosHumanosLGBTInês PereiraAinda não há avaliações
- Identidade de GeneroDocumento241 páginasIdentidade de GeneroRennan RibeiroAinda não há avaliações
- Referencias Tecnicas para Atuacao Do (A) A No CRAS-SUASDocumento46 páginasReferencias Tecnicas para Atuacao Do (A) A No CRAS-SUASliz_ceAinda não há avaliações
- Homens Trans - Matizes de Masculinidade PDFDocumento11 páginasHomens Trans - Matizes de Masculinidade PDFMariana CarrozzinoAinda não há avaliações
- Cartilha Diversidade-SexualDocumento28 páginasCartilha Diversidade-SexualMAIKEL LEITEAinda não há avaliações
- TransgenerosDocumento24 páginasTransgenerosNeemiasCoelhoRégisAinda não há avaliações
- Volume 3 Transexualidade Travestilidade e Direito A SaudeDocumento188 páginasVolume 3 Transexualidade Travestilidade e Direito A SaudeGabriela DíazAinda não há avaliações
- E Book Guia Prático de Diversidade e Inclusão para Negócios de Impacto 1Documento56 páginasE Book Guia Prático de Diversidade e Inclusão para Negócios de Impacto 1Lívia FriasAinda não há avaliações
- Masculinidade TóxicaDocumento17 páginasMasculinidade TóxicaKamila CarvalhoAinda não há avaliações
- Guia Sobre Diversidade - VaipeDocumento89 páginasGuia Sobre Diversidade - VaipeAndrea GoebAinda não há avaliações
- Observatório Sobre A Empregabilidade LGBT - Convênio 887300-2019 - 18-09-2020Documento48 páginasObservatório Sobre A Empregabilidade LGBT - Convênio 887300-2019 - 18-09-2020Ítalo LimaAinda não há avaliações
- LGBTIfobia No Brasil Barreiras para o ReDocumento73 páginasLGBTIfobia No Brasil Barreiras para o ReArgonauta MisteriosoAinda não há avaliações
- HENNING, C.E. 2013. Interseccionalidade e Pensamento Feminista: Contribuições Históricas e Debates ContemporâneosDocumento17 páginasHENNING, C.E. 2013. Interseccionalidade e Pensamento Feminista: Contribuições Históricas e Debates ContemporâneosCarlos Eduardo HenningAinda não há avaliações
- LGBT+ Identidades Sexuais e de GêneroDocumento1 páginaLGBT+ Identidades Sexuais e de GêneroTessa AlencarAinda não há avaliações
- A Multiplicidade de Papeis Da Mulher Contemporânea. Lopes, Dellazzana-Zanon e BoeckelDocumento13 páginasA Multiplicidade de Papeis Da Mulher Contemporânea. Lopes, Dellazzana-Zanon e BoeckelEduarda Duarte MeirelesAinda não há avaliações
- Criancas Vitimas Abuso Sexual GABEL Anna Christina Mello 27 0Documento58 páginasCriancas Vitimas Abuso Sexual GABEL Anna Christina Mello 27 0Roberta Farias RodriguesAinda não há avaliações
- Os programas de ações afirmativas em prol da população transexual e travestiNo EverandOs programas de ações afirmativas em prol da população transexual e travestiAinda não há avaliações
- Este Livro e Gay - James Dawson PDFDocumento304 páginasEste Livro e Gay - James Dawson PDFchascatu100% (1)
- A Psiquiatrização Da TransexualidadeDocumento129 páginasA Psiquiatrização Da TransexualidadeWilson AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Corpo, IdentidadeDocumento17 páginasCorpo, Identidadepao31Ainda não há avaliações
- Recusando Armarios Historias de Homens Homossexuais No Futebol BrasileiroDocumento18 páginasRecusando Armarios Historias de Homens Homossexuais No Futebol BrasileiroLuiza Dos AnjosAinda não há avaliações
- Corpo e IdentidadeDocumento22 páginasCorpo e IdentidadeNilvanete Gomes de LimaAinda não há avaliações
- Corpo e(m) Discurso: Ressignificando a TransexualidadeNo EverandCorpo e(m) Discurso: Ressignificando a TransexualidadeAinda não há avaliações
- Cartilha Seguranca Sem PreconceitoDocumento44 páginasCartilha Seguranca Sem PreconceitoBULDOG CURSO TÁTICO IAT e CAPOEIRAAinda não há avaliações
- Cisgeneridades Precárias - Sofia FaveroDocumento29 páginasCisgeneridades Precárias - Sofia FaveroCelyne SoaresAinda não há avaliações
- Cartilha Saúde Da População Idosa Negra - 220514 - 110818Documento33 páginasCartilha Saúde Da População Idosa Negra - 220514 - 110818NAZARETH ITABORAIAinda não há avaliações
- Codigos de Sociabilidade Lésbica No RJ Nos Anos 1960Documento11 páginasCodigos de Sociabilidade Lésbica No RJ Nos Anos 1960Maria Eugenia Perez CalixtoAinda não há avaliações
- Discursos sobre a identidade de sujeitos trans em textos online: reflexões sob uma perspectiva dialógica da linguagemNo EverandDiscursos sobre a identidade de sujeitos trans em textos online: reflexões sob uma perspectiva dialógica da linguagemAinda não há avaliações
- Cartilha de Comunicação LGBT PDFDocumento48 páginasCartilha de Comunicação LGBT PDFLucas NunesAinda não há avaliações
- Os Usos Da RaivaDocumento8 páginasOs Usos Da RaivaMarina Leonel SoaresAinda não há avaliações
- Cartilha Do CadúnicoDocumento16 páginasCartilha Do CadúnicoVeraFariasBastos100% (1)
- Apostila Módulo 2 - SUASDocumento55 páginasApostila Módulo 2 - SUASVeraFariasBastos100% (1)
- Atualização Metodologia Grupos Reflexivos Noos 2016 PDFDocumento50 páginasAtualização Metodologia Grupos Reflexivos Noos 2016 PDFignAinda não há avaliações
- Cartilha Diversidade Sexual Ea Cidadania LGBTDocumento45 páginasCartilha Diversidade Sexual Ea Cidadania LGBTraftz292121Ainda não há avaliações
- A Homofobia No Ambiente de TrabalhoDocumento13 páginasA Homofobia No Ambiente de TrabalhoGuilherme Guedelha de BritoAinda não há avaliações
- A Lei Maria da Penha: entre (im)possibilidades de aplicabilidade para feministas e operadores do direitoNo EverandA Lei Maria da Penha: entre (im)possibilidades de aplicabilidade para feministas e operadores do direitoAinda não há avaliações
- SILVA - Os Impactos Das Identidades Transgênero Na Sociabilidade de Travestis e Mulheres TransexuaisDocumento9 páginasSILVA - Os Impactos Das Identidades Transgênero Na Sociabilidade de Travestis e Mulheres TransexuaisEstevao RezendeAinda não há avaliações
- Transexualidade e Infancia Buscando Um DDocumento59 páginasTransexualidade e Infancia Buscando Um DLuciana RibeiroAinda não há avaliações
- Catálogo Da Mostra Bárbara HammerDocumento43 páginasCatálogo Da Mostra Bárbara HammerJ.F.Ainda não há avaliações
- Lei Da Identidade de GéneroDocumento60 páginasLei Da Identidade de GéneronatalyoliveiraAinda não há avaliações
- Do Homossexualismo A Homoafetividade. Discursos Judiciais Sobre As Homossexualidades No STJ e STF de 1989 A 2012Documento251 páginasDo Homossexualismo A Homoafetividade. Discursos Judiciais Sobre As Homossexualidades No STJ e STF de 1989 A 2012Ricardo RochaAinda não há avaliações
- O Brasil Na Rota Do Tráfico de Escravas Brancas Entre A Prostituição Voluntária e A Exploração de Mulheres Na Belle Époque.Documento19 páginasO Brasil Na Rota Do Tráfico de Escravas Brancas Entre A Prostituição Voluntária e A Exploração de Mulheres Na Belle Époque.Alana Gonçalves DiasAinda não há avaliações
- Cartilha de Orientação para o Enfrentamento Do Fenômeno Da VDCCA - CampinasDocumento10 páginasCartilha de Orientação para o Enfrentamento Do Fenômeno Da VDCCA - CampinasFelipeTaináAinda não há avaliações
- Afetos, Políticas e Sexualidades Não-Monogâmicas PDFDocumento120 páginasAfetos, Políticas e Sexualidades Não-Monogâmicas PDFNuno Moraes100% (1)
- CONNELL, Raewyn - Masculinidade Corporativa e o Contexto Global PDFDocumento22 páginasCONNELL, Raewyn - Masculinidade Corporativa e o Contexto Global PDFCynthia BernatalladaAinda não há avaliações
- O reconhecimento como base do direito e as consequências das vivências transNo EverandO reconhecimento como base do direito e as consequências das vivências transAinda não há avaliações
- Transdiary Manualdesaude Trans DGJDocumento20 páginasTransdiary Manualdesaude Trans DGJAun HeldenAinda não há avaliações
- Estudos Lesbianos e Teoria CuíerDocumento11 páginasEstudos Lesbianos e Teoria Cuíerjulavoni2Ainda não há avaliações
- Masculinidades Uma Revisão TeóricaDocumento37 páginasMasculinidades Uma Revisão TeóricaThiago CoacciAinda não há avaliações
- Um Estudo Sobre Pornografia.Documento6 páginasUm Estudo Sobre Pornografia.Rian CardosoAinda não há avaliações
- A Excêntrica Família de AntoniaDocumento3 páginasA Excêntrica Família de AntoniaEdivaldo BarrosAinda não há avaliações
- Relatório Da Força-TarefaDocumento34 páginasRelatório Da Força-TarefaFelipe TorresAinda não há avaliações
- A Feminização Do Cuidado e A Sobrecarga Da Mulher-Mãe Na PandemiaDocumento13 páginasA Feminização Do Cuidado e A Sobrecarga Da Mulher-Mãe Na PandemiaRenata BicalhoAinda não há avaliações
- Anexo I e II - Fluxo de Saude - Mental SalgadoDocumento10 páginasAnexo I e II - Fluxo de Saude - Mental SalgadoIris PimentelAinda não há avaliações
- Diversidade Sexual Na Escola - SylviaDocumento6 páginasDiversidade Sexual Na Escola - Sylviaecos_sexualidade100% (1)
- Diego Sousa de Carvalho - Trans-Políticas em Trans-Contextos - Transexualidade, Clínica e IdentidadesDocumento26 páginasDiego Sousa de Carvalho - Trans-Políticas em Trans-Contextos - Transexualidade, Clínica e IdentidadessaqqlasAinda não há avaliações
- Principios Da Hormonização e Da Cirurgia de Afirmação de Genêro em Mulheres Trans e Travestis.25.05.20 Editado PDFDocumento86 páginasPrincipios Da Hormonização e Da Cirurgia de Afirmação de Genêro em Mulheres Trans e Travestis.25.05.20 Editado PDFsuporte telessaudeAinda não há avaliações
- Cartilha NomesocialDocumento12 páginasCartilha NomesocialEmerson GarciaAinda não há avaliações
- TAPETY, Kátia. Ora Mulher, Ora Travesti. Gênero, SexualidadeDocumento21 páginasTAPETY, Kátia. Ora Mulher, Ora Travesti. Gênero, SexualidadeManoel RufinoAinda não há avaliações
- Representações Da Identidade Transexual - Bruna MorenoDocumento12 páginasRepresentações Da Identidade Transexual - Bruna MorenoBruna MorenoAinda não há avaliações
- Valente Neris Ruiz e Bulgarelli - O Corpo e o Codigo PDFDocumento199 páginasValente Neris Ruiz e Bulgarelli - O Corpo e o Codigo PDFTayla KohutAinda não há avaliações
- Estereótipos, Preconceito e DiscriminaçãoDocumento27 páginasEstereótipos, Preconceito e DiscriminaçãoJuliana Toledo100% (1)
- Familia e Relações de GeneroDocumento5 páginasFamilia e Relações de GeneroLujan JúniorAinda não há avaliações
- Insatisfação CorporalDocumento2 páginasInsatisfação CorporalLyslie Maron RibeiroAinda não há avaliações
- Mitos e VerdadesDocumento76 páginasMitos e VerdadesThiago Werneck100% (2)
- Violência Intrafamiliar Contra a Pessoa Idosa: O Trabalho das Assistentes Sociais do Ministério Público do MaranhãoNo EverandViolência Intrafamiliar Contra a Pessoa Idosa: O Trabalho das Assistentes Sociais do Ministério Público do MaranhãoAinda não há avaliações
- Texto LucieneDocumento19 páginasTexto LucieneThiago AlmeidaAinda não há avaliações
- A Criação de Um Grupo de Sexualidade e As Reverberações Deste Dispositivo No CAPS AD Centro em São Bernardo Do CampoDocumento16 páginasA Criação de Um Grupo de Sexualidade e As Reverberações Deste Dispositivo No CAPS AD Centro em São Bernardo Do CampoEdnilson FrancoAinda não há avaliações
- Módulo 3 - Cultura e Políticas Públicas para LGBT - Avanços e DesafiosDocumento9 páginasMódulo 3 - Cultura e Políticas Públicas para LGBT - Avanços e DesafiosDenis Anisio Socorro CarvalhoAinda não há avaliações
- A Sexualidade Dos IndianosDocumento10 páginasA Sexualidade Dos IndianosIris SantanaAinda não há avaliações
- Dossie Da ViolÊncia Contra Pessoas Trans 2021 29jan2021Documento140 páginasDossie Da ViolÊncia Contra Pessoas Trans 2021 29jan2021Mayara FernandesAinda não há avaliações
- Carta Aberta À Comunidade Acadêmica Da Universidade Federal Do Tocantins e A População em GeralDocumento2 páginasCarta Aberta À Comunidade Acadêmica Da Universidade Federal Do Tocantins e A População em Geralaba_antropologiaAinda não há avaliações
- Artigo Marcio Zamboni PDFDocumento23 páginasArtigo Marcio Zamboni PDFCaioLeastroAinda não há avaliações
- Violencia Lgbtfobicas No Brasil Dados Da ViolenciaDocumento79 páginasViolencia Lgbtfobicas No Brasil Dados Da ViolenciaNelson Arryn LothloriénAinda não há avaliações
- Livro Estatistica Ead PDFDocumento77 páginasLivro Estatistica Ead PDFJAIME MARTINSAinda não há avaliações
- Impasse Das Minorias - Racismo, Idoso, Questão de Gênero e Pessoa Com DeficiênciaDocumento173 páginasImpasse Das Minorias - Racismo, Idoso, Questão de Gênero e Pessoa Com DeficiênciaPós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- Entre o Azul e o Cor-De-rosa Normas de GêneroDocumento18 páginasEntre o Azul e o Cor-De-rosa Normas de GêneroSamuel Cabral Vilanova50% (4)
- Re Mensal Tete Setembro 23Documento15 páginasRe Mensal Tete Setembro 23Romeu Sousa De OliveiraAinda não há avaliações
- Ofício N° 75 - 2021 - Comentários LGBTfóbicos Por Maurício Souza Na Plataforma InstagramDocumento5 páginasOfício N° 75 - 2021 - Comentários LGBTfóbicos Por Maurício Souza Na Plataforma InstagramMariah AquinoAinda não há avaliações
- Joao Silverio TrevisanDocumento9 páginasJoao Silverio TrevisansauloAinda não há avaliações
- 2017 - Cadernos - Sisterhood - Volume - 2 - 2017Documento63 páginas2017 - Cadernos - Sisterhood - Volume - 2 - 2017mulhersolar47Ainda não há avaliações
- População LGBTI+ e Sua Presença No Sistema Prisional: Módulo 1Documento35 páginasPopulação LGBTI+ e Sua Presença No Sistema Prisional: Módulo 1Willian PabloAinda não há avaliações
- Ebook Relatorio Pesquisa ObservatorioDocumento196 páginasEbook Relatorio Pesquisa ObservatorioNatanael SilvaAinda não há avaliações
- Malinda Lo - Ash (Oficial)Documento222 páginasMalinda Lo - Ash (Oficial)Verônica NunesAinda não há avaliações
- As Mulheres No Mundo Dos Homens PDFDocumento23 páginasAs Mulheres No Mundo Dos Homens PDFCristiano BodartAinda não há avaliações
- ProjDsrTrans Revisao EscopoDocumento21 páginasProjDsrTrans Revisao Escopopokab21878Ainda não há avaliações
- 160 Caderno 3 Série 2024 1 PorDocumento9 páginas160 Caderno 3 Série 2024 1 Pordavy araujoAinda não há avaliações
- Manuscrito 35799 1 10 20210824Documento6 páginasManuscrito 35799 1 10 20210824Mateus AbreuAinda não há avaliações