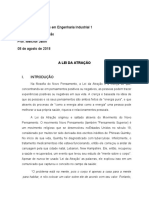Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Crise Da Modernidade
Enviado por
Nikolaus Phillips0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações8 páginas1) O documento discute a crise da modernidade, originada pela racionalização do projeto de sociedade e pela influência do capitalismo sobre a vida das pessoas.
2) A modernidade líquida não solucionou as antigas problemáticas da modernidade sólida, como o mal-estar e a tarefa mecânica da vida.
3) O documento defende que a crise não é um problema em si, mas sim a recusa do abismo existencial e a negação da razão e da contemplação.
Descrição original:
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
ODT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documento1) O documento discute a crise da modernidade, originada pela racionalização do projeto de sociedade e pela influência do capitalismo sobre a vida das pessoas.
2) A modernidade líquida não solucionou as antigas problemáticas da modernidade sólida, como o mal-estar e a tarefa mecânica da vida.
3) O documento defende que a crise não é um problema em si, mas sim a recusa do abismo existencial e a negação da razão e da contemplação.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato ODT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações8 páginasCrise Da Modernidade
Enviado por
Nikolaus Phillips1) O documento discute a crise da modernidade, originada pela racionalização do projeto de sociedade e pela influência do capitalismo sobre a vida das pessoas.
2) A modernidade líquida não solucionou as antigas problemáticas da modernidade sólida, como o mal-estar e a tarefa mecânica da vida.
3) O documento defende que a crise não é um problema em si, mas sim a recusa do abismo existencial e a negação da razão e da contemplação.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato ODT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 8
Crise da Modernidade
(apontamentos sobre a angústia e o
exercício mecânico da vida)
“Em si, o cansaço tem alguma coisa de desanimador. Aqui, eu tenho de
concluir que ele é bom. Pois tudo começa com a consciência e nada sem
ela tem valor. Essas observações não têm nada de original. Mas são
evidentes: por ora isso é suficiente para a oportunidade de um
reconhecimento sumário das origens do absurdo. A simples
‘preocupação’ está na origem de tudo.” (Albert Camus; O Mito de
Sísifo)
A modernidade, seja em seu estado sólido — a priori — ou em seu
estado líquido, desponta no fenômeno da industrialização sob
forte influência das correntes positivistas e iluministas,
privilegiando-se no projeto de sociedade a racionalidade e o
técnico, isto é, as ciências e seus avanços [tecnológicos]; a
modernidade surge, portanto, sob o manto do progresso, fruto,
então, da razão pura. O estágio da modernização deu o início a
uma série de convulsões sociais, sobretudo no século XVIII com
a ascensão do movimento romântico como forma de denúncia
do mal-estar da modernidade.
O romantismo, em termos de um movimento histórico, exerce a
reação à destruição do medieval e ao início do processo de
modernização, assume necessariamente a persona da
subjetividade moderna e a influência do capitalístico sobre as
formas de se viver, de se existir e de se relacionar. Devém da
forma moderna de vida, uma crise — que futuramente desdobra-
se no niilismo — não se reconhecendo a subjetividade nos
produtos ou no cenário moderno constituído, a coerência que a
razão coloca sobre a incoerência do mundo e dos seres; o
mundo mascarado pelos hábitos e pelos axiomas — não apenas
são axiomatizados, mas também recolocados em uma
formalidade sublime: o axioma confundido com o fetiche, ou
ainda: a forma habitual de vida investida como imagem do
próprio ser humano.
Ouso ainda afirmar que o mal-estar não é apenas de uma
subjetividade moderna, mas de uma subjetividade constituída
pela implicação do capitalismo sobre a vida, como se diz: a
subjetividade capitalística — “E é no capital que se engancham
as máquinas e os agentes, de modo que seu próprio
funcionamento [17] é miraculado por ele. É objetivamente que
tudo parece produzido pelo capital enquanto quase-
causa” (Deleuze & Guattari; O Anti-Édipo). Em dado momento
há, portanto, um recuo em relação ao positivismo científico e à
técnica — ou a tarefa mecânica de repetição — tentando
estabelecer a linha divisória entre o capital (a lógica mercantil) e
o mundo em si (absurdidade), contudo, doravante, a confusão
entre a própria vida e a produção e consumo. A recusa de uma
modernidade que se despregue dos vínculos, dos afetos e dos
valores, e que esteja restrita apenas ao capital, à razão, ao
científico e ao positivo — mais do que isso, a um hábito técnico.
“Esta velha palavra de origem grega, krísis, significa separação, abismo
e também juízo, decisão, etc. Todo existir é um separar-se, toda
atividade do existir é seletiva. Há, assim em todo existir um separar-se,
um krísis, um abismo. […] A krísis é sempre vencida, ultrapassada pelo
devir que vence a sua finitude e ao finitizar-se no eterno transmutar,
mas que a afirma em cada instante. Porque ele deslocada daqui aparece
inevitável e teimosa ali.” (Mário Ferreira dos Santos, Filosofia da Crise)
Segundo Bauman, o processo de liquefação da modernidade —
não necessariamente a superação dela, pós-modernidade — é
dado por grande influência das problemáticas conflituosas que
começam a destituir a imagem de um mundo positivo (a
Primeira Guerra, inicialmente) e começam a dar espaço para o
crescimento da pobreza e da miséria na Europa pós-guerra;
problemáticas que afrontaram o projeto positivo, todavia que
tendo a contraria-lo quando o afirma sua completa destruição.
Certamente, inegável é a liquefação, mas de fato foi consolidado
o fim do positivo-racional, ou ele apenas não se transformou
para um movimento de aceleração infinita? Na verdade, a
volatilidade tende a afirmar em toda a sua aceleração
tanto o positivo quanto o capitalístico.
O século XX, desta forma, atesta a volatilidade dos vínculos e da
forma de vida, a plena aceleração dos processos sociais,
culturais, políticos e econômicos, e, por conseguinte, a
transmutação valorativa, de maneira a se manter a devida
axiomatização das formas de vida, positiva, racional e
capitalística. A asserção sobre o suicídio em Werther retorna à
obra de Camus sob a perspectiva de uma crise de absurdidade
— “Ao contrário, porém, num universo subitamente privado de
luzes ou ilusões, o homem se sente um estrangeiro. Esse exílio
não tem saída, pois é destituído das lembranças de uma pátria
distante ou da esperança de uma terra prometida.” (Camus; O
Mito de Sísifo). O suicídio, portanto, como solução do absurdo,
confrontação direta da crise. Mas o que de fato ousa recolocar a
problemática romântica em termos de modernidade líquida?
Neste apontamento fica evidente: a liquefação em nada
solucionou as antigas problemáticas de crise da modernidade
sólida. Mas, afinal, o que é a crise? Diz Mário Ferreira dos
Santos “tudo o que é imanente”. Antes de qualquer contestação,
analisemos a premissa básica que o constitui conceitualmente: a
crise enquanto fruto das separações operadas pelo ser humano.
Dessa forma, como tudo que na imanência reside sofre
processos de separação, ou de finitude, a solução para as crises
encontra-se em uma unidade transcendente. Pode-se de fato
afirmar que a imanência é inteiramente crise? Resposta atípica
do fazer filosófico: não. Indubitavelmente a imanência é finita e,
portanto, o ser humano que se cria a partir dela enxerga-se na
contradição entre a finitude de si e a quase-infinitude daquilo
que existe para além dele. Isso necessariamente é crise? Em
minha concepção, é o dilema existencial do diálogo entre a
finitude imanente da existência e a infinitude transcendente do
que é eterno e perdura a causa da potência, da força que instiga
o indivíduo a viver, a agir, a se transformar e a experienciar,
cultivando os bons afetos em si para fazer crescer sua potência.
O que é recorrente na imanência, oriunda da finitude e da
separação das singularidades, é a desordem das relações, as
diferenças que surgem na superfície do plano imanente, as
cargas diferenciativas que não permitem que seja formada uma
unidade ou uma totalidade. Isto não é crise, isso é potência! O
que determina a crise? O assédio à potência; especificamente: o
deslocamento do indivíduo de sua natureza trágica, orgânica e
desordenada, incongruente por si. Para ser ainda mais
claro: quando o ser e sua subjetividade descobrem-se
não mais como parte de uma congruência racional e
mecânica, de processos positivos e normalizantes,
senão como, por natureza, parte do abismo.
“A filosofia é a expressão da intranquilidade dos homens impessoais.
Por isso nos ajuda tão pouco a compreender, em sua totalidade, as
vivências dramáticas e últimas.” (Emil Cioran; O Livro das Ilusões)
Uma espécie de teatro que se cria, o indivíduo que sobe ao palco
já com a trama e a personagem a serem interpretadas descritas
em sua própria consciência, devendo cumpri-las, de maneira
diferencial, haja vista que a modernidade preserva a diferença
em sua constituição, todavia o cenário, o figurino e suas leves
maquiagens anti-expressionistas — tomando em conta a
negação do mal-estar e a exaltação toda positividade da
existência humana — devem ser estritamente seguidos, de
maneira inconsciente enquanto se está no palco. À medida que
o indivíduo deixa o palco [de pura representação positiva] ele
volta-se os olhos para a mediocridade e a miséria que imperam
nas coxias; no fim das contas, o teatro é apenas uma busca para
satisfazer a angústia, ou à moda pascaliana: o tédio.
Não me proponho aqui a negar a razão, de forma alguma,
proponho-me a diagnosticar a crise sob um olhar tão somente
contemplativo. A recusa da razão negligencia o equilíbrio e a
contradição, ou seja, afirma-se apenas uma de suas partes;
qualquer tentativa de se negar a crise e a tragédia resultam na
construção do recluso. Mas se há uma crítica a ser direcionada
não é à crise, propriamente, mas sim sua atenuação pela tarefa
mecânica de se viver. Quero dizer com isto o demasiado
humano reprodutivo que há na vida e que elimina dela a sua
singularidade, não necessariamente estático, mas habitual e
rotineiro. Não nego a influência do hábito sobre o pensamento
presente, mas direciono minha crítica à sua repetição, jamais
sua duração. Há-de se especular sobre as origens da repetição:
uma origem capitalística alicerçada na eficiência e na
docilização dos corpos — há evidências, sobretudo na educação,
que apontam para essa alternativa? Ou uma origem da
racionalização integral do pensamento, fruto da modernidade —
a peça-corpo, ou o indivíduo-máquina? Independe. Tudo isso
corrobora apenas para uma atenuação da crise, é claro, pela
morte da contemplação, do afeto, a morte do coração, “o
coração tem razões que a razão desconhece” (Blaise Pascal).
Suponho em dizer que o recorrimento do romântico ao
fenômeno do amor ousa manifestar um vazio existencial não da
natureza, mas da racionalização de seus sentimentos —
vínculos líquidos.
Eterno é o drama entre o ser humano e sua
existência. Não é o problema em si o abismo existencial, mas
sim a recusa, ou demonização, do abismo; de tal modo a
negação de seu nêmesis, a razão, melhor dizendo: há aqueles
que aquiescem com a tragédia sem buscar para si a potência, a
positividade da diferença; por outro há os que apenas buscam o
absoluto, aquiescem com o cenário axiomatizado e fetichizado e
recusam à tragédia. Ambos são problemáticos. Não se trata aqui
de como se livrar da crise, mas sim de como potencializar a arte
de se viver por intermédio dela: a plena consciência e
contemplação sobre o abismo, sem que se retire da vida o sua
positividade e prazerosidade — e ouso ainda sustentar que
qualquer modo de se tentar revolucionar a crise
(sistematicamente, e cabe aqui um outro texto específico sobre)
é pueril, de tal modo levar-se para uma realidade além dela. O
segundo passo que damos, então, em direção à perigosa
conclusão sobre a crise e a angústia, após compreender os
processos modernos e as conceituações de tédio e crise, é fazer a
afirmação da afirmação, isto é, acatar o infame drama
existencial e humano; o drama romântico de Werther, o drama
suicida de Camus, o drama divino de Pascal, o drama filosófico
de Cioran, pretendendo eternamente o amor fati. Não o
determinismo, mas a aceitação fatalista, a recusa de reproduzir
mesmo nas angústias do passado: permanência, reprodução,
negação do devir, chame como quiser.
Morrer voluntariamente pressupõe que se reconheceu, ainda que
instintivamente, o caráter irrisório desse hábito, a ausência de
qualquer razão profunda de viver, o caráter insensato dessa agitação
cotidiana e a inutilidade do sofrimento. (Albert Camus; O Mito de
Sísifo)
O amor líquido e a expressão de Werther em seu drama
romântico recorrem a uma realidade não apenas de amor, mas
se relacionam antinomicamente. Jamais se previu? Werther é o
temor que o homem possui da efemeridade. Ou possuía. A
questão revela-se muito mais complexa quando se diz: o amor
líquido e Werther formam uma comum unidade de equilíbrio,
essencial para a crise. Há quem critique: o jovem suicidado
viveu o amor de verdade! De fato, mas como disse, a questão
faz-se muito mais complexa do que simplesmente “isto é bom,
isto é ruim”. A efemeridade daquilo que se constitui moderno e
a aceleração dos processos do mundo caricaturam juntas a
positividade da razão, tendendo a efemeridade muito mais a um
efeito do que a uma causa ou uma composição interna da razão.
O homem torna-se o centro de todas as coisas, a ele é conferido
o poder do consumo, o poder das relações, o homem
fetichizado, endeusado, miraculado como o redentor do mundo
por sua razão — aí uma problemática.
Eis a tarefa mecânica, a técnica: o processo histórico do hábito
[produtivo e moderno; capitalístico] reproduz-se na produção
de si e da vida — Portanto, uma máquina técnica não é causa,
mas apenas índice de uma forma geral da produção social:
assim, [40] as máquinas manuais e as sociedades primitivas, a
máquina hidráulica e a forma asiática, a máquina industrial e
o capitalismo. (Deleuze & Guattari; O Anti-Édipo). Mais do que
isso, caricaturam juntas a efemeridade e a aceleração não
somente uma problemática de atenuação, mas um ente do qual
não se deve simplesmente escapar — ente da própria natureza —
mas retirar do funcionamento técnico a máxima potência de
diferenciação e de criação. O amor fati a prescreve. De fato
pouco me importa a modernidade líquida, importa-me apenas o
que há de mecânico nela, que não arrasta consigo a razão e a
positividade inteiramente.
A conceituação de angústia, portanto, remete à impulsividade
em satisfazer a prazerosidade, de se potencializar, na
imanência, naquilo que é descrito por Mário Ferreira como
crise, contudo que afirmo: desordem. Ainda assim, em certa
medida, tenho que assentir: a crise é inexorável na desordem
imanente, todavia não é inata a ela, senão os seus processos de
deslocamento, em outras palavras a construção de axiomas
modernos que fazem da natureza do existir um plano
fetichizado, completamente sublime em termos de positividade
— transcendência da imanência. Em vista disso, a crise que se
constata é nada mais que a atenuação da angústia existencial
que Camus vem a nomear “antinomia da condição humana”. A
priori eu diria: não se confundem os conceitos da razão aos
conceitos da técnica. Doravante é possível constatar que o
conceito da razão e da técnica efetivam a atenuação da crise pela
antinomia construída com a natureza trágica, incongruente e
miserável; o estado de tédio é nada mais que o ponto de
saturação, ou de encontro, entre o prazer e a dor: a coexistência
de ambos. O elemento mecânico insere-se em: a conceituação
de angústia, portanto, remete à compulsividade em
satisfazer a prazerosidade, de se potencializar, na
imanência.
Toda crise, assim sendo, é característica do plano de imanência
enquanto coexistir nele a razão — líquida, técnica, axiomática,
fetichista — e a tragédia — miserável; toda organicidade,
contemplatividade e afirmação, que se une, portanto, à razão no
prazer e no que é positivo (própria τέλος de ambos), haja vista
que se prender às correntes da tragédia é uma dilaceração da
potência; é preciso reconhece-la, contempla-la e afirma-la com
toda a força do amor fati. Ainda que a oposição exista e
o divórcio seja a causa da crise, suas dinâmicas encontram-se
no estado de tédio. Podemos afirmar que a crise é o tédio,
relações de conciliação e divórcio entre a natureza do existir e a
construção humana do existir. Reitero que não venho moralizar
a crise e afirmar quem é o inimigo, mas veementemente afirmar
a crise, o processo de se repensar a vida por meio deste
dinâmico e paradoxal estado de tédio e angústia, a natureza de
existência e o demasiado humano.
“Para o homem dionisíaco é impossível não entender alguma sugestão,
ele não ignora nenhum indício de afeto, possui o instinto para
compreensão e adivinhação no grau mais elevado. Ele entra em toda
pele, em todo afeto: transforma-se continuamente.” (Friedrich
Nietzsche; Crepúsculo dos Ídolos)
Você também pode gostar
- Neuroscience and Communication - MarketingDocumento3 páginasNeuroscience and Communication - MarketingNikolaus PhillipsAinda não há avaliações
- Neuroscience and Communication - MarketingDocumento3 páginasNeuroscience and Communication - MarketingNikolaus PhillipsAinda não há avaliações
- Neuroscience and Communication - MarketingDocumento3 páginasNeuroscience and Communication - MarketingNikolaus PhillipsAinda não há avaliações
- Neuroscience and Communication - MarketingDocumento3 páginasNeuroscience and Communication - MarketingNikolaus PhillipsAinda não há avaliações
- Cognitive Resonance - MarketingDocumento4 páginasCognitive Resonance - MarketingNikolaus PhillipsAinda não há avaliações
- Cultural Magnetism - MarketingDocumento6 páginasCultural Magnetism - MarketingNikolaus PhillipsAinda não há avaliações
- Crise Da ModernidadeDocumento8 páginasCrise Da ModernidadeNikolaus PhillipsAinda não há avaliações
- Chief Magic Officer - MarketingDocumento10 páginasChief Magic Officer - MarketingNikolaus PhillipsAinda não há avaliações
- Building Brand - MarketingDocumento4 páginasBuilding Brand - MarketingNikolaus PhillipsAinda não há avaliações
- Atlas SP BR 051121Documento27 páginasAtlas SP BR 051121Nikolaus PhillipsAinda não há avaliações
- Atlas SP BR 051121Documento27 páginasAtlas SP BR 051121Nikolaus PhillipsAinda não há avaliações
- CCB Objetiva-Exercício Ética e MoralDocumento15 páginasCCB Objetiva-Exercício Ética e MoralJosé IzelAinda não há avaliações
- O Apolíneo e o Dionisíaco Na Dança ContemporâneaDocumento5 páginasO Apolíneo e o Dionisíaco Na Dança ContemporâneaDavidson XavierAinda não há avaliações
- Dor Sem Nome. Pensar o Sofrimento PDFDocumento5 páginasDor Sem Nome. Pensar o Sofrimento PDFLetícia Azevedo Pozzer100% (1)
- Apostila de SoteriologiaDocumento24 páginasApostila de SoteriologiaIldileneNogueira100% (1)
- As Parabolas de JesusDocumento58 páginasAs Parabolas de JesusLegniwhcs Sevolc100% (1)
- The Law of Attraction Docx - En.ptDocumento14 páginasThe Law of Attraction Docx - En.ptessonjulianoAinda não há avaliações
- Fraternidade de Saturno - Eugen Grosche - Saturno e YogaDocumento3 páginasFraternidade de Saturno - Eugen Grosche - Saturno e YogaDeniel LuxcioAinda não há avaliações
- Apostila de Iniciação CientíficaDocumento25 páginasApostila de Iniciação Científicajd6358756Ainda não há avaliações
- A Liquidez Da Engenharia ReversaDocumento20 páginasA Liquidez Da Engenharia ReversaCamilla CorrêaAinda não há avaliações
- ICE - Plano de Ação - ExercícioDocumento2 páginasICE - Plano de Ação - Exercíciopriscilanina13Ainda não há avaliações
- Atlas Corpo Imaginação Gonçalo M Tavares PDFDocumento21 páginasAtlas Corpo Imaginação Gonçalo M Tavares PDFVictor Paulo de SeixasAinda não há avaliações
- Abramovay Responsabilidade Socioambiental in VEIGA 2009Documento16 páginasAbramovay Responsabilidade Socioambiental in VEIGA 2009Larissa TarabayAinda não há avaliações
- 370 - Os Pilares Da Pansofia - DEL MONTESEXTO, PhilleasDocumento182 páginas370 - Os Pilares Da Pansofia - DEL MONTESEXTO, PhilleasBernard Sarpa100% (2)
- Ensaio Filosofico 11 AnoDocumento4 páginasEnsaio Filosofico 11 AnoRafaela NogueiraAinda não há avaliações
- Noologia Geral, A Ciência Do Espírito by Mário Ferreira Dos SantosDocumento222 páginasNoologia Geral, A Ciência Do Espírito by Mário Ferreira Dos SantosCarlos RuaroAinda não há avaliações
- Leis Hermeticas PDFDocumento4 páginasLeis Hermeticas PDFValéria GuimarãesAinda não há avaliações
- Descartes 11º AnoDocumento4 páginasDescartes 11º AnoMariana PereiraAinda não há avaliações
- Planescape - Guia Do Jogador para Os Planos (Digital) - Biblioteca Élfica PDFDocumento38 páginasPlanescape - Guia Do Jogador para Os Planos (Digital) - Biblioteca Élfica PDFDeivid HeiderichAinda não há avaliações
- A Formação Do Conto em BorgesDocumento14 páginasA Formação Do Conto em Borgesaltair martins100% (1)
- AD1 - Filosofia e Ética PDFDocumento3 páginasAD1 - Filosofia e Ética PDFLucas LimaAinda não há avaliações
- SERRES, Michel. A Lenda Dos AnjosDocumento4 páginasSERRES, Michel. A Lenda Dos AnjosPatrícia MarcianoAinda não há avaliações
- As SefirotDocumento12 páginasAs SefirotMárcio FellipiAinda não há avaliações
- PLANO DE FILOSOFIA POLITICA RELACOES INTERNACIONAIS 27 Maio 2015Documento42 páginasPLANO DE FILOSOFIA POLITICA RELACOES INTERNACIONAIS 27 Maio 2015Rui Da VeigaAinda não há avaliações
- O Ensino Da Arte e A Pluralidade Cultural - Trabalhando Com A InterculturalidadeDocumento11 páginasO Ensino Da Arte e A Pluralidade Cultural - Trabalhando Com A InterculturalidadetauacarvalhoAinda não há avaliações
- RESUMO Teoria Dos Círculos de Miguel RealeDocumento2 páginasRESUMO Teoria Dos Círculos de Miguel RealeJudith Bede80% (5)
- Anabela Cardoso Entrevista Parte 2Documento5 páginasAnabela Cardoso Entrevista Parte 2Tarcísio SilvaAinda não há avaliações
- Gampopa - A Preciosa Guirlanda Do Caminho Supremo PDFDocumento157 páginasGampopa - A Preciosa Guirlanda Do Caminho Supremo PDFIsmenia Nunes ChavesAinda não há avaliações
- Bom Humor e Brincar - Santo Tomás de AquinoDocumento4 páginasBom Humor e Brincar - Santo Tomás de AquinoMindy SilvaAinda não há avaliações
- Sobre A Brevidade Da Vida SênecaDocumento3 páginasSobre A Brevidade Da Vida Sênecacaiosalmeida49Ainda não há avaliações
- A Concepção de Cultura em Bruner e VigotskiDocumento126 páginasA Concepção de Cultura em Bruner e VigotskiAlison HarrisAinda não há avaliações