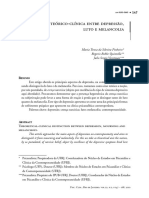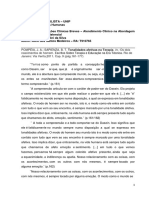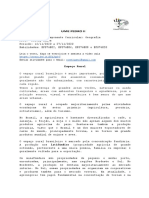Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dor Sem Nome. Pensar o Sofrimento PDF
Enviado por
Letícia Azevedo Pozzer100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
263 visualizações5 páginasEste documento resume uma resenha sobre o livro "Dor sem nome. Pensar o sofrimento" da autora Manuela Fleming. A resenha descreve que o livro faz um tratado sofisticado sobre a dor, abordando diversas teorias psicanalíticas sobre a dor física e mental. O livro divide o tema em quatro partes, analisando autores como Freud, Klein e Bion e suas perspectivas sobre a distinção entre dor corporal e psíquica. A resenha elogia a abordagem erudita e sint
Descrição original:
Título original
Dor sem nome. Pensar o sofrimento..pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoEste documento resume uma resenha sobre o livro "Dor sem nome. Pensar o sofrimento" da autora Manuela Fleming. A resenha descreve que o livro faz um tratado sofisticado sobre a dor, abordando diversas teorias psicanalíticas sobre a dor física e mental. O livro divide o tema em quatro partes, analisando autores como Freud, Klein e Bion e suas perspectivas sobre a distinção entre dor corporal e psíquica. A resenha elogia a abordagem erudita e sint
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
263 visualizações5 páginasDor Sem Nome. Pensar o Sofrimento PDF
Enviado por
Letícia Azevedo PozzerEste documento resume uma resenha sobre o livro "Dor sem nome. Pensar o sofrimento" da autora Manuela Fleming. A resenha descreve que o livro faz um tratado sofisticado sobre a dor, abordando diversas teorias psicanalíticas sobre a dor física e mental. O livro divide o tema em quatro partes, analisando autores como Freud, Klein e Bion e suas perspectivas sobre a distinção entre dor corporal e psíquica. A resenha elogia a abordagem erudita e sint
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
173 Resenhas
Dor sem nome. Pensar o sofrimento
Manuela Fleming
Biblioteca das Cincias do Homem
Porto: Afrontamento, 2003
Resenha: Norma Lottenberg Semer*
Manuela Fleming psicanalista, membro da Sociedade Portuguesa de Psicanlise, pro-
fessora associada de psicologia no Instituto de Cincias Biomdicas da Universidade do Porto e
pesquisadora do Instituto de Biologia Molecular e Celular da mesma universidade.
A dor simultaneamente um fenmeno psquico e somtico, mas necessrio fazer uma
distino entre os dois nveis e identifcar as possveis transformaes de uma na outra. A autora
faz um tratado sobre a dor, de modo sofsticado, erudito, elaborado, sinttico e, ao mesmo tempo,
agradvel de ser lido. Justamente por isso, um muito complexo de resenhar. As informaes
contidas no livro so preciosas, dada a extensa pesquisa que a autora empreendeu sobre os vrios
autores que tm se dedicado ao tema. O leitor conduzido s profundezas das teorias, s suas ar-
ticulaes, mudanas e desenvolvimentos de cada um dos principais autores. H que mergulhar,
no h outra forma; preciso coragem, e Manuela Fleming nos inspira com sua ousadia.
uma leitura da qual samos enriquecidos e transformados. De incio, me interessei pelo
livro pelas possveis aproximaes com temas de repercusses e relaes mente-corpo, mas o
trabalho na verdade oferece um panorama amplo e sofsticado de aspectos fundamentais na psi-
canlise. Assim, todo psicanalista certamente se benefciar da leitura.
O livro se divide em quatro partes, subdivididas em outros captulos, de um modo did-
tico e que facilita a compreenso. A primeira parte se intitula Dor no corpo dor na alma. A
segunda se refere ao pensamento de Freud, Klein e Bion, bem como, em captulos especfcos, ao
de outros analistas que buscaram uma compreenso da dor mental. A terceira parte compreende
a dor mental no processo psicanaltico e a ltima parte dedicada ao estudo do negativo e da
possibilidade de transformao.
Na primeira parte, a autora aprofunda as diversas teorias bem como contribuies artsti-
cas e literrias, mas tambm traz a clnica por meio de histrias que criam experincias para ser
vividas por outros, a exemplo da fco.
Assinala logo no incio que a dor um dado fundador na espcie humana e est ligada
cultura, arte, religio e a todas as outras formas de simbolizao para transformar as vivncias
humanas geradoras de sofrimento de modo a lhes dar sentido. A funo biolgica da dor uma
proteo contra a automutilao, defensiva e til, mas em certos casos a doena em si, exigindo
alvio e tratamento.
A dor no se deixa aprisionar no corpo, implica o homem em sua totalidade, sendo um
fato existencial, alm de fsiolgico. O seu limiar de sensibilidade no o mesmo para todos. A
atitude face dor, os comportamentos de resposta variam conforme a condio social e cultural,
conforme a histria de vida e a personalidade. Esta pressupe organizaes psquicas internas e
modalidades especfcas de lidar com a dor, que pode ir da capacidade de a conter mentalmente,
* Membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanlise de So Paulo sbpsp.
RBP 42-2 (miolo) PR-4.indb 173 6/9/2008 13:43:01
174 Revista Brasileira de Psicanlise Volume 42, n. 2 2008
de a elaborar, necessidade de a expulsar, de a negar, de a desprezar. uma experincia ao mes-
mo tempo universal e singular.
O modelo biomdico e as explicaes da anatomia e da fsiologia no so sufcientes para
explicar as variaes entre as pessoas, pois h a realidade corporal e a dimenso simblica. O cor-
po tambm possui a dimenso simblica, e o saber mdico contempla uma das representaes do
corpo, em meio a outras.
A autora utiliza modelos antropolgicos (Lvi-Strauss), poticos, flosfcos, teolgicos,
literrios e evidentemente psicanalticos para pensar outras representaes do corpo e da dor.
Lembra que desde 1895 Freud e Breuer trouxeram uma revoluo ao saber da poca, mostrando
que a explicao para a dor na histeria era independente de um estmulo lesivo. Na psicanlise
contempornea, o beb humano, antes de se tornar um ser falante, antes de poder entender e se
comunicar verbalmente com a me, precisa ser contido pela linguagem materna. A dor, quando
irrompe, descose, rompe o tecido das palavras, mas emite sons, linguagens outras procura de
serem ouvidas.
Em seguida, Manuela Fleming indaga-se a respeito da existncia de duas entidades:
a dor fsica, corporal, e a dor psquica, mental. Aborda essa questo convocando as contri-
buies mais significativas, considerando que essa interrogao perpassou todo o percurso
freudiano.
No Projeto (1985) ela tratada como entidade global, mas depois h uma discriminao
entre os conceitos de dor corporal e dor psquica, sendo que para Freud (1926) o que discrimina
uma da outra a natureza do investimento. Na dor fsica predomina o investimento de natureza
narcsica, enquanto na dor mental predomina o investimento libidinal do objeto, com um hipe-
rinvestimento do objeto.
Milheiro (1996) assinala que a transformao da dor fsica em dor moral e desta em sofri-
mento (ansiedade) pode ocorrer se a primeira, a dor fsica, for contida numa relao com o outro,
objeto externo (me) ou objeto interno, protetor e sufcientemente bom.
McDougall (1991) se pergunta sobre a continuidade e a descontinuidade: seria coerente
afrmarmos que uma dor psquica desencadeia uma dor corporal? Ou o inverso? Embora tendo
acesso sua representao, o sujeito pode confundir o contedo afetivo penoso com a sensao
corporal ou substituir um ao outro com objetivos defensivos, ou pode ainda no existir uma via
de acesso para os representantes psquicos das dores psquicas ou corporais. A dor ignorada,
conduzindo a ausncia de dor a disfunes psquicas e somticas graves. Portanto, McDougall, de
um lado, no concebe uma fronteira clara e, de outro, postula a existncia de diferenas radicais
entre a dor corporal e a dor mental, sobretudo a partir do momento em que o ser humano adqui-
re a capacidade de representar simbolicamente as suas vivncias.
A tnica, o discriminante colocado ento na maior ou menor capacidade de simbolizar,
de inserir as experincias afetivas e corporais no cdigo lingstico, de discriminar, nomear par-
tes do corpo, estados psicossomticos, sinais. Essa maior capacidade de simbolizar e, portanto, de
sentir a dor corporal e a dor mental como distintas depende da qualidade da relao primordial
me-beb e da capacidade da me interpretar as expresses de dor do beb e ser capaz de nomear
para ele os seus estados afetivos.
Outra referncia citada por Fleming o psicanalista Botella (2000) em um artigo sobre
dor corporal e sofrimento psquico: at que ponto o simbolismo psquico capaz de se introduzir
na alterao psicossomtica e encontra um balanceamento?
A forma como o organismo trata a dor mental depende da estruturao psquica do pa-
ciente de um lado, um corpo libidinal portador de sentido simblico e, de outro, um corpo
deslibidinizado, sem simbolismo algum.
RBP 42-2 (miolo) PR-4.indb 174 6/9/2008 13:43:01
175 Resenhas
No captulo 3, ainda da primeira parte, a autora aborda dor mental e sofrimento psquico.
Ao tentar clarifcar a dor mental, assinala a diversidade de conceitos. Na clnica a dor mental
sentida como vivncia, com efeito devastador; provoca defesas e depende da maior ou menor
tolerncia do sujeito. conceitualmente elusivo e esquivo, paradoxal, isto , combina palavras
contraditrias porque geralmente o corpo e no a mente que vista como lugar da dor. Freud
(1895) introduziu a questo como dor na alma, pois no Projeto j distinguia dor e sofrimento.
Em 1926, ele abordar o uso comum da noo de dor interna. A autora considera que, apesar
de Freud ter lanado o desafo em 1926, quando a separao do objeto produz angstia, quando
produz luto e quando produz dor, o tema no veio a merecer toda a ateno que exigia.
Quanto diferenciao entre dor e sofrimento, ambos os termos designam afetos, emo-
es bsicas que se exprimem na rea transicional que vai da experincia corporal mental. De
acordo com a origem etimolgica, sofrer remete capacidade de suportar, de tolerar e, portan-
to, de ser capaz de conter dentro do espao psquico da experincia eu sofro , enquanto a dor
mental, no tendo dado origem a um verbo doer um verbo intransitivo , pela intensidade
ou pela qualidade particular do mal estar que pressupe no contempla a tolerncia e transborda
da rea psquica (p. 37).
Para a autora, o conceito de dor mental continua evasivo, remetendo a experincias
que se situam nas fronteiras e pontos de interseco do corpo e da mente, da morte e da vida.
Considera necessrio compreender a dor mental como um afeto especfco, diferente de outros
afetos dolorosos e pedindo um estatuto cientfco relevante no quadro do corpus psicanaltico.
Na segunda parte, Manuela Fleming se dedica aos olhares psicanalticos sobre a dor mental
em Freud, Klein, Bion e outros autores. Freud estabelece em 1895, no Projeto, uma distino entre
dor e desprazer e considera o desamparo do beb a dor primordial do ser humano. Em 1911,
em Dois princpios do funcionamento mental, postula que o aparelho mental se afasta da realida-
de sempre que h intolerncia frustrao, acrescentando os possveis modos de se lidar com a
frustrao fuga ou modifcao , bem como o pensamento como possibilidade de tolerncia
frustrao e postergao da ao. Em 1917, em Luto e melancolia, aborda a dor sob o ponto de
vista do luto e da melancolia, como reaes perda do objeto amado. Freud j percebe e essa altura
uma insufcincia do modelo econmico para explicar a dor, diferenando o luto da dor.
A autora prossegue seu percurso na obra de Freud, detalhando em cada obra o aspecto
relacionado dor, como em Para alm do princpio do prazer (1920), O problema econmico do
masoquismo (1924) e Inibio, sintoma e angstia (1926). Em suma, para Freud a dor primordial
a dor do desamparo e o que a provoca a conscincia de estar separado do objeto.
Para Melanie Klein, a maior ou menor capacidade de tolerar a dor depende do grau de
integrao do ego, sendo a dor primordial a dor do aniquilamento, do deixar de ser. A autora
revisita toda a obra de Melanie Klein em funo da diversidade dos pontos de vista relativos a
essa questo. Assinala que na obra kleiniana no se encontra uma teoria sobre dor mental, mas
muito mais, ou seja: 1) um modelo de funcionamento mental, organizado desde o incio da vida
em torno da ameaa de dor: a dor de ser aniquilado a partir de dentro pulso de morte e a
partir de fora; 2) uma teoria sobre o sofrimento psquico das ansiedades mais arcaicas; 3) uma
teoria sobre mecanismos de defesa mais primitivos, os quais visam aliviar a mente ou proteg-la
de afetos doloroso intolerveis; 4) uma teoria sobre o desenvolvimento da capacidade de tolern-
cia frustrao, dor mental. Para Klein, embora no haja uma defnio nica de dor mental,
seu papel primordial na constituio do psiquismo humano.
Em seguida, a Fleming se debrua sobre a obra de Bion, referindo que a dor mental tem
uma expanso em sua obra. Bion confere dor mental um lugar central na compreenso do cres-
cimento mental e de suas vicissitudes, ou seja, a problemtica da tolerncia/intolerncia psquica
RBP 42-2 (miolo) PR-4.indb 175 6/9/2008 13:43:01
176 Revista Brasileira de Psicanlise Volume 42, n. 2 2008
ao vivido: como que a mente tem ou no tem a capacidade de tolerar a dor mental, esteja ela
associada separao primitiva, frustrao, perda, ao medo do desconhecido, insegurana,
incerteza ou a qualquer outra fonte?
Nesse captulo em que explora a obra de Bion, a autora recolhe as questes principais sobre
dor mental em cada uma das obras do psicanalista, em ordem cronolgica das publicaes. Alm
disso, elabora refexes e prope questionamentos, orientando a leitura; cada recorte traz vrios
movimentos em torno dos conceitos, o que extremamente enriquecedor para os leitores.
Nas consideraes fnais do captulo, o livro oferece um resumo dos principais pontos
da obra de Bion no que concerne dor mental, bem como as implicaes clnicas referentes s
possibilidades de mudanas no processo psicanaltico, ou seja, importncia de potencializar ao
mximo a capacidade do analista de tolerar a dor mental. Alm do mais, o processo analtico tem
de criar no paciente a sufciente capacidade de tolerncia dor.
No captulo 4, trazida uma pesquisa extensa, cuidadosa e detalhada sobre outros autores
psicanalistas cujos trabalhos tambm contriburam para ampliar temas relacionados dor.
So selecionados seis grandes temas e examinados cada um os autores que os estudaram.
Em primeiro lugar, so abordadas a dor fsica, a dor mental e outras formas de sofrimento ps-
quico, sendo elas relacionadas a dor fsica esfera das sensaes, enquanto a dor mental entra
na categoria dos afetos. A autora cita os vrios autores que tm se dedicado a esse aspecto, bem
como diferenciao de dor, medo e ansiedade.
Outros psicanalistas tm estudado o lugar da dor, como Szasz (1957), Laplanche
(1980), Pontalis (1999) e Anzieu (1985). Esses autores consideram a dor mental como um
fenmeno limtrofe entre corpo e mente. A dor residiria no limite do ego corporal e repre-
sentaria uma ruptura da integrao do ego corporal. J outros autores, como Jofe e Sandler
(1965), sugerem que a dor mental no acompanha qualquer perda de objeto, mas s a perda
que conduz a uma ruptura do ego ou a uma leso do self. Assim, a nfase estaria na leso
narcsica, como perda do self. Grinberg (1978), apoiando formulaes de Bion, refere-se a
pacientes que no podem suportar a dor, no sofrem a dor, tomam a sensao de dor por um
sofrimento da dor. Green (1979) afrma que a dor pode resultar da incapacidade que pessoas
com personalidades narcsicas revelam em antecipar o traumatismo da perda, formando uma
unidade lgica com o objeto.
Outros psicanalistas, como Brouti (1986) e Rabenou (1986) e Valenstein (1973) tm
investigado as relaes entre dor e narcisismo. A emergncia da dor mental durante o processo
psicanaltico tem merecido a ateno de estudiosos como Bgoin (1989), referente ao trmino da
anlise e Betty Joseph (1988), em perodos de transio entre sentir a dor e sofr-la, quando o pa-
ciente emerge de um estado de indiferenciao com o analista. Por fm, h os que se dedicam ao
tema dor e mudana catastrfca, como Amaral Dias (2001), que procura expandir o pensamento
de Bion, assinalando que pela capacidade de tolerar a dor mental que se viabiliza a mudana
psquica. Quando h intolerncia excessiva dor mental, h o risco de estagnao da capacidade
de abstrao do sujeito, impedindo o desenvolvimento de novos conceitos e concepes.
Na terceira parte do livro, Manuela Fleming aborda a dor mental no processo psicana-
ltico. Mostra, por meio da clnica, como a dor mental est presente em todas as situaes de
vida, sobretudo quando a experincia na anlise pode promover insight. Assinala o papel da dor
na procura da anlise, de forma explcita ou por meio de sintomas e ao lado da resistncia
mudana. Se, por um lado, o contato com a realidade que promove o crescimento mental, por
outro, por criar limites ao princpio do prazer, traz experincias de frustrao, geradoras de um
sofrimento insuportvel ou de uma dor mental sem nome, isto , experincias insuportveis e por
isso impensveis (p. 101).
RBP 42-2 (miolo) PR-4.indb 176 6/9/2008 13:43:02
177 Resenhas
Cita exemplos de sua experincia clnica, vivida com seus analisandos. Considera a sesso
de anlise, entre outros aspectos, como uma escuta das dores mentais diante das quais por vezes
o paciente se encontra surdo, uma escuta que consiste em acolher dentro, receber e conter,
o que inevitavelmente coloca o analista perante os seus prprios limiares de tolerncia dor
mental (p. 107). Faz referncia tambm experincia com pacientes psicossomticos, nos quais
encontra uma pobreza no investimento emocional, um corpo sem a contrapartida simblica,
sem a possibilidade de reconhecimento das dores psquicas. Para Manuela Fleming, o corpo o
guardio da vida psquica, do self, um continente no sentido de que recebe signos e sinais no-
verbais emitidos pelo psiquismo, no sentido de salvar o self da morte psquica.
Outro aspecto abordado no campo da clnica psicanaltica se refere ao prprio psicanalis-
ta e seu sofrimento, sua tolerncia dor mental. Pergunta-se de modo sincero se, como analistas,
seramos capazes de enfrentar o desafo de analisar e manter a prpria sanidade mental. A autora
mostra a importncia de que o analista possa reconhecer sua dor psquica e revela que muitos
analistas tm se dedicado a falar sobre a prpria dor mental. Considera que a possibilidade de a
mente do analista acolher, sentir a dor mental suscitada o que possibilita o reconhecimento e a
elaborao das emoes contratransferenciais, sem o perigo da ao ou da paralisia. Menciona
Bion, para quem a possibilidade de psicanalisar depende da condio do analista de suportar a
dor mental.
No ltimo captulo dessa parte, traz um exemplo clnico extenso e intenso, no qual ge-
nerosamente apresenta ao leitor o caso do paciente Diogo, de 25 anos. Relata seu processo psi-
canaltico de seis anos, ilustrando por meio da histria, das sesses e dos pensamentos sobre a
observao clnica, as relaes entre dor mental, mudana psquica e possibilidade de insight,
alm da prpria evoluo do processo psicanaltico.
No fnal, na parte intitulada Sobre o negativo e a arte de transformar, Fleming procu-
ra sintetizar embora considere essa uma tarefa impossvel as vrias abordagens feitas no livro
sobre a questo da dor mental. Conceitua a dor mental como um fenmeno associado realiza-
o negativa, no tolerada, qual o sujeito no consegue vincular um nome nem mesmo associar
uma experincia. Ao mesmo tempo, abre um leque novo de perguntas, sugerindo possibilidade de
pesquisas e investigaes. Por exemplo, entre outras: O que torna o fenmeno da dor mental to
especfco e diferente de tantos outros? A que eventos internos e externos se associa a dor mental?
Como consegue a mente se livrar das frustraes? Quais os obstculos psquicos tolerncia?
Assinala a mudana na obra freudiana da conceituao da dor mental como dor do de-
samparo (1895) para a dor mental como reao perda do objeto (1926) e, por fm, mostra como
Bion, confrmando Freud, percebia a dor mental como uma condio constitutiva do psiquismo
humano. Assim, este livro constitui leitura obrigatria para todos aqueles que na psicanlise se
interessam pelas dores inerentes ao ser e ao vir a ser.
RBP 42-2 (miolo) PR-4.indb 177 6/9/2008 13:43:02
Você também pode gostar
- A Psicanálise E As Representações MentaisNo EverandA Psicanálise E As Representações MentaisAinda não há avaliações
- Artigo Sobre LutoDocumento22 páginasArtigo Sobre LutoLeandraAinda não há avaliações
- SPCRSJDocumento399 páginasSPCRSJEdwin Moscoso100% (1)
- A Angústia Na Clínica Psicanalítica e Na PsiquiatriaDocumento13 páginasA Angústia Na Clínica Psicanalítica e Na PsiquiatriaJulia VeigaAinda não há avaliações
- CronogramaDocumento2 páginasCronogramaCarlos RozaAinda não há avaliações
- Guia de Curso - Sexualidade PDFDocumento11 páginasGuia de Curso - Sexualidade PDFReinaldoN.PesquisaAinda não há avaliações
- Presença Sensível: A Experiência Da Transferência em Freud, Ferenczi e Winnicott, Por Daniel KupermannDocumento22 páginasPresença Sensível: A Experiência Da Transferência em Freud, Ferenczi e Winnicott, Por Daniel KupermannPsicossomática Psicanalítica I. Sedes SapientiaeAinda não há avaliações
- CapítulosDocumento33 páginasCapítulosapi-18517262Ainda não há avaliações
- Construção Do Self SaudávelDocumento8 páginasConstrução Do Self SaudávelNatanAinda não há avaliações
- Quem É o Dono Da PsicoterapiaDocumento21 páginasQuem É o Dono Da PsicoterapiamgronkoskiAinda não há avaliações
- Culto Ao CorpoDocumento109 páginasCulto Ao CorpoWalter MiezAinda não há avaliações
- Trabalho - Teoria LacanianaDocumento2 páginasTrabalho - Teoria LacanianaAndré Leandro RibeiroAinda não há avaliações
- Neuzete - Linhas de Processo Na TerapiaDocumento4 páginasNeuzete - Linhas de Processo Na TerapiaNęűzete de AndradeAinda não há avaliações
- Bariátrica e PsicanáliseDocumento13 páginasBariátrica e PsicanáliseJulia SchechtmanAinda não há avaliações
- Complexo Edipo Klein e WinnicottDocumento136 páginasComplexo Edipo Klein e WinnicottAntonio Augusto Pinto Junior100% (2)
- A Psicanálise Às Voltas Com A Peste PDFDocumento223 páginasA Psicanálise Às Voltas Com A Peste PDFCreudenia Freitas SantosAinda não há avaliações
- Atendimento OnlineDocumento6 páginasAtendimento OnlineDominick Monteiro BritoAinda não há avaliações
- A Linguagem Das Emoções11012Documento25 páginasA Linguagem Das Emoções11012Helena ChagasAinda não há avaliações
- Freud e A Velhice - 13maio2023Documento15 páginasFreud e A Velhice - 13maio2023Katia Jane BernardoAinda não há avaliações
- Trauma e IncestoDocumento8 páginasTrauma e IncestoJuliano De Araujo CassianoAinda não há avaliações
- Psicoterapia de GrupoDocumento2 páginasPsicoterapia de GrupoAntonella MarreirosAinda não há avaliações
- Mariana Pombo Funcao PaternaDocumento212 páginasMariana Pombo Funcao PaternaFernandoAinda não há avaliações
- Totem e TabuDocumento2 páginasTotem e TabuJuracy MarinhoAinda não há avaliações
- TARRAB, Maurício - Produzir Novos Sintomas - Texto.Documento5 páginasTARRAB, Maurício - Produzir Novos Sintomas - Texto.Gustavo Batista Chaves100% (1)
- Adolescência e o Laço SocialDocumento85 páginasAdolescência e o Laço SocialPsc LeoAinda não há avaliações
- Resenha Linhas de Progresso Na Terapia Psicanalítica (Freud) - Passei DiretoDocumento4 páginasResenha Linhas de Progresso Na Terapia Psicanalítica (Freud) - Passei DiretoNatalia AntunesAinda não há avaliações
- RecalcamentoDocumento4 páginasRecalcamentoAlexandre BAinda não há avaliações
- O Homem Na Visão de FranklDocumento8 páginasO Homem Na Visão de FranklDiego LeirasAinda não há avaliações
- Aline Medeiros - Tonalidades Afetivas Na Terapia - Os Dois Nascimentos Do HomemDocumento5 páginasAline Medeiros - Tonalidades Afetivas Na Terapia - Os Dois Nascimentos Do HomemAline MedeirosAinda não há avaliações
- A Dinâmica de Grupos - BionDocumento12 páginasA Dinâmica de Grupos - BionJeniffer SenaAinda não há avaliações
- Aula Oito Bowlby Rompimento Dos Vinculos AfetivosDocumento17 páginasAula Oito Bowlby Rompimento Dos Vinculos AfetivosKapiAinda não há avaliações
- Conceitos Formas Da ViolênciaDocumento176 páginasConceitos Formas Da ViolênciaLarissa R. CardinotAinda não há avaliações
- A Soberania Da Clínica Na Psicopatologia Do CotidianoDocumento10 páginasA Soberania Da Clínica Na Psicopatologia Do CotidianoHelena DamascenoAinda não há avaliações
- A Poética Na Clinica Contemporânea (Resenha) PDFDocumento5 páginasA Poética Na Clinica Contemporânea (Resenha) PDFVilma CacciaguerraAinda não há avaliações
- TEXTO BASE. LANCETTI. A Reforma Psiquiátrica e A Política de Álcool e Outras Drogas Experiências e DesafiosDocumento30 páginasTEXTO BASE. LANCETTI. A Reforma Psiquiátrica e A Política de Álcool e Outras Drogas Experiências e DesafiosDerik CurcioAinda não há avaliações
- Transtorno BipolarDocumento16 páginasTranstorno BipolarRui Flávio Coelho100% (2)
- Questões Entre A Psicanalise e o DSM-VDocumento29 páginasQuestões Entre A Psicanalise e o DSM-VZaqueu RodriguesAinda não há avaliações
- Bohoslavsky - Orientação Profissional, A Estratégia ClinicaDocumento62 páginasBohoslavsky - Orientação Profissional, A Estratégia Clinicajeane reis alvesAinda não há avaliações
- Balint em Sete Lições - Luiz Claudio FigueiredoDocumento2 páginasBalint em Sete Lições - Luiz Claudio FigueiredoCa KZAinda não há avaliações
- Transferência para A Teoria FreudianaDocumento5 páginasTransferência para A Teoria FreudianaDavi AbilioAinda não há avaliações
- Teoria e Clinica Psicanalítica Da Psicose em Freud e Lacan PDFDocumento10 páginasTeoria e Clinica Psicanalítica Da Psicose em Freud e Lacan PDFAnna CristinaAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Psicanalise 1 - Sigmund FreudDocumento38 páginasFundamentos Da Psicanalise 1 - Sigmund Freudgabriella_gmoAinda não há avaliações
- A Psicanalise Na Instituicao de Saude MentalDocumento9 páginasA Psicanalise Na Instituicao de Saude MentalBárbara CristinaAinda não há avaliações
- 3 - Klein 1981 O Significado Das Primeiras Situações de Angústia No Desenvolvimento Do Ego PDFDocumento9 páginas3 - Klein 1981 O Significado Das Primeiras Situações de Angústia No Desenvolvimento Do Ego PDFNilson Dias CastelanoAinda não há avaliações
- A Questão Do Sentido em PsicoterapiaDocumento5 páginasA Questão Do Sentido em PsicoterapiaLeonardo CarvalhoAinda não há avaliações
- Trabalho Schutz FinalDocumento4 páginasTrabalho Schutz FinalCaio ReisAinda não há avaliações
- O Processo de Luto No Idoso Pela Morte de Cônjuge e FilhoDocumento5 páginasO Processo de Luto No Idoso Pela Morte de Cônjuge e FilhoAmndAinda não há avaliações
- TCC+A+psicanálise+lacaniana +a+questão+do+sujeito+na+psicoseDocumento67 páginasTCC+A+psicanálise+lacaniana +a+questão+do+sujeito+na+psicoseVhs TwigsAinda não há avaliações
- Recomendações Aos Médicos Que Exercem A Análise FreudDocumento7 páginasRecomendações Aos Médicos Que Exercem A Análise FreudJamespskAinda não há avaliações
- Psicanálise, Genero e SingularidadeDocumento8 páginasPsicanálise, Genero e SingularidadeDiana PichinineAinda não há avaliações
- A08 - Zimerman - Cap 23 - Fundamentos Básicos Das GrupoterapiaDocumento4 páginasA08 - Zimerman - Cap 23 - Fundamentos Básicos Das Grupoterapiaadna_félix_2Ainda não há avaliações
- Transtornos ExternalizantesDocumento60 páginasTranstornos Externalizantesmatheus ramosAinda não há avaliações
- Psicoterapias Abordagens Atuais PDFDocumento11 páginasPsicoterapias Abordagens Atuais PDFAline CarlosAinda não há avaliações
- A Perversão em Freud e LacanDocumento8 páginasA Perversão em Freud e LacanCris LinoAinda não há avaliações
- Fernandes, M. H. (2002) - A Hipocondria Do Sonho e o Silêncio Dos Órgãos - o Corpo Na Clínica Psicanalítica.Documento16 páginasFernandes, M. H. (2002) - A Hipocondria Do Sonho e o Silêncio Dos Órgãos - o Corpo Na Clínica Psicanalítica.Heliane SilvaAinda não há avaliações
- Adolescência e Violência Modos de Agir No ContemporaneoDocumento137 páginasAdolescência e Violência Modos de Agir No ContemporaneoEri A. LugonAinda não há avaliações
- NeuroseDocumento25 páginasNeuroseDavid Pecis100% (1)
- ENTREVISTA INICIAL No Processo de PsicodiagnósticoDocumento10 páginasENTREVISTA INICIAL No Processo de PsicodiagnósticoKayck Amarildo VictorAinda não há avaliações
- Elementos para Uma Clínica ComtemporâneaDocumento5 páginasElementos para Uma Clínica ComtemporâneaVera L. NascimentoAinda não há avaliações
- Meirinhos, J.F. Martinho de Braga e A Compreensao Da Natureza Na Alta Idade Media (Sec. VI) - Simbolos Da Fe Contra A Idolatria Dos RusticosDocumento20 páginasMeirinhos, J.F. Martinho de Braga e A Compreensao Da Natureza Na Alta Idade Media (Sec. VI) - Simbolos Da Fe Contra A Idolatria Dos RusticosJoaquín Porras OrdieresAinda não há avaliações
- Retificador Controlado de Onda Completa em PonteDocumento4 páginasRetificador Controlado de Onda Completa em Pontepedro_joao_lemuel100% (1)
- Espécies de Peixes Marinhos Desembarcados Pela Colônia de Pescadores Z-34 Do Malhado em 2004 (Ilhéus, Ba)Documento3 páginasEspécies de Peixes Marinhos Desembarcados Pela Colônia de Pescadores Z-34 Do Malhado em 2004 (Ilhéus, Ba)Fênix SampaioAinda não há avaliações
- Trabalho de CompanheiroDocumento3 páginasTrabalho de CompanheiroMarcos Ribeiro82% (11)
- Relatório de Análise Do AcidenteDocumento4 páginasRelatório de Análise Do AcidenteAntonio SouzsAinda não há avaliações
- Ética e Testes Genéticos - O Caso de Nahaniel WuDocumento2 páginasÉtica e Testes Genéticos - O Caso de Nahaniel WuJ Ricardo VeigaAinda não há avaliações
- Escala de CulpabilidadeDocumento3 páginasEscala de Culpabilidadeguilherme.terra.2022Ainda não há avaliações
- Material Complementar 2Documento9 páginasMaterial Complementar 2Letícia LoiolaAinda não há avaliações
- ANALISE DO FILME AMOR SEM ESCALAS - 02-2023 02 Atividades Complementares AprovadasDocumento2 páginasANALISE DO FILME AMOR SEM ESCALAS - 02-2023 02 Atividades Complementares Aprovadasemilio lourenço da claraAinda não há avaliações
- A Psicologia Do Desenvolvimento PDFDocumento3 páginasA Psicologia Do Desenvolvimento PDFpetter_355279Ainda não há avaliações
- Atividade - FaculesteDocumento2 páginasAtividade - FaculesteLayla MartinsAinda não há avaliações
- Volto Pra Te AgradecerDocumento16 páginasVolto Pra Te AgradecerEduardo GonçalvesAinda não há avaliações
- Tecnica Hertz PowermindDocumento13 páginasTecnica Hertz PowermindBolinho Chuva100% (4)
- Purolite C100 AtualizadoDocumento1 páginaPurolite C100 AtualizadoetraiAinda não há avaliações
- Psicologia Da EducaçãoDocumento2 páginasPsicologia Da Educaçãovanessa.scarlattoAinda não há avaliações
- Relações BioticasDocumento2 páginasRelações BioticasAna Rita Rainho100% (4)
- DANDARA SujeitoPeriferico DigitalDocumento289 páginasDANDARA SujeitoPeriferico DigitalWesley Fraga100% (1)
- Estratégias Discursivas Da Publicidade Viral: Um Estudo Do Vídeo "Real Test Ride" Da Marca Harley DavidsonDocumento12 páginasEstratégias Discursivas Da Publicidade Viral: Um Estudo Do Vídeo "Real Test Ride" Da Marca Harley DavidsonEspaço ExperiênciaAinda não há avaliações
- Tarot de Mago: A AscensãoDocumento66 páginasTarot de Mago: A Ascensãosoldadodareal100% (1)
- Sistema GNV SENAI PDFDocumento59 páginasSistema GNV SENAI PDFCristovan BT86% (7)
- Geografia Atividade 14 7os Anos AbcDocumento4 páginasGeografia Atividade 14 7os Anos AbcNicole DuarteAinda não há avaliações
- 8ºano - Arte - TRILHA - Semana 02Documento1 página8ºano - Arte - TRILHA - Semana 02Reginer Garcia NavesAinda não há avaliações
- Modelo de Parecer Juridico Previdenciario Analise de Aposentadoria Por Tempo de ContribuicaoDocumento11 páginasModelo de Parecer Juridico Previdenciario Analise de Aposentadoria Por Tempo de ContribuicaoThalia dos Santos Sales100% (1)
- Portaria SEC Nº 44-2022 - DOE - Tempo FormativoDocumento3 páginasPortaria SEC Nº 44-2022 - DOE - Tempo FormativoRicardo de OliveiraAinda não há avaliações
- Apostila InformaticaDocumento128 páginasApostila Informaticawilson netto100% (1)
- Dissertacao Final4 - Soraia - 180118 PDFDocumento97 páginasDissertacao Final4 - Soraia - 180118 PDFSoraia MendesAinda não há avaliações
- Solucionario Livro Algebra Moderna PDFDocumento111 páginasSolucionario Livro Algebra Moderna PDFJean Carlos60% (5)
- Resenha o Longo Sec XXDocumento3 páginasResenha o Longo Sec XXthassiosoaresrochaAinda não há avaliações
- Fundamentos Históricos Do Serviço Social em YazbeckDocumento23 páginasFundamentos Históricos Do Serviço Social em YazbeckBarbosa DavidAinda não há avaliações
- Planejamentos de Conteúdos Ensino FundamentalDocumento9 páginasPlanejamentos de Conteúdos Ensino FundamentalLuana DuarteAinda não há avaliações