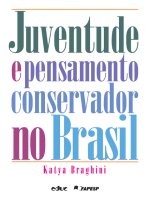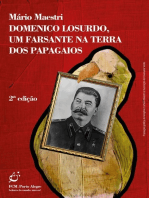Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Emiliaviotti
Emiliaviotti
Enviado por
silvio0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações18 páginasTítulo original
emiliaviotti
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações18 páginasEmiliaviotti
Emiliaviotti
Enviado por
silvioDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 18
Emilia Viotti da Costa*
“Mai 68, on a refait le monde. Mai 86, on refait la cuisine”, 0
distico bem-humorado de um anincio publicado em maio de 1986 no jomal
francés Le Monde, por uma companhia que vende cozinhas modernas aos
consumidores franceses, captura um momento de transic¢éo da cultura
engajada ao consumismo que, a primeira vista e a um observador incauto,
parece, de fato, encontrar correspondéncia na transformagao da histo-
riografia européia nos ultimos anos, transformagZo essa que, tendo em
vista a nossa dependéncia em relagdo aos centros hegem6nicos da cultura,
provoca inevitavelmente ecos na América Latina. E bem verdade que se
pode questionar a radicalidade de Maio de 68 e duvidar que tenha de fato
refeito o mundo (como sugere o antncio), mas nao se pode duvidar de
que esta era a intengao de milhares de jovens (e alguns nao tao jovens)
que se reuniram naquela ocasiao nas ruas de Paris e em outras capitais
do mundo, Por outro lado, pode-se também duvidar de que a mentalidade
consumista, individualista e fundamentalmente conservadora sugerida pelo
antincio represente acuradamente o estado de espirito das novas geragées.
E provavel que o antincio revele mais o desejo dos empresérios e
vendedores do que 0 comportamento real dos consumidores. Nao h4
ddvida, no entanto, de que o antincio, posteriormente reproduzido na capa
de um volume da Radical History Review, publicado nos Estados Unidos
em 1987 ¢ dedicado ao estudo do impacto das novas formas de capitalismo
consumista na cultura e na politica contemporanea, caracteriza bem 0
estado de espirito de muitos historiadores e militantes quando estes
confrontam as novas tendéncias, seja no campo da politica, seja no campo
da histéria.
Preocupados com as novas tendéncias que deslocaram os estudos
histéricos dos caminhos tradicionais ampliando enormemente as 4reas de
interesse, questionando os métodos e as abordagens tradicionais, e fre-
qilentemente se associando a propostas polfticas novas, alguns histo-
riadores reagem como se de fato essas tendéncias representem uma ruptura
perigosa e uma ameaga ao projeto de construgio de uma sociedade mais
humana. Essa preocupagao é ainda mais visfvel entre os que se dedicam
* Professora da Universidade de Yale.
. Maid de 68, refez-se 0 mundo. Em Maio de 86, reforma-se a cozinha.
ao estudo da histéria do trabalho, no passado, um campo preferido por
militantes. Um grande ntimero de artigos ¢ resenhas publicados recen-
temente, criticando a nova histéria social do trabalho, atesta essa preo-
cupagdo e faz da histéria do trabalho um campo ideal para se estudar esse
fenédmeno. O campo parece dividir-se em dois grupos. De um lado, estio
os que encaram com suspeita € reserva as novas tendéncias ¢ continuam
a reproduzir em seus trabalhos abordagens estruturalistas tfpicas dos anos
60, sem dar ouvidos As novas propostas. Do outro, estiio os que pros-
seguem no trabalho de demoli¢go das posturas dos anos 60, convencidos
da validade do novo, simplesmente porque € novo, sem se preocuparem
em examinar as possiveis limitagdes ¢ implicagdes das novas abordagens.
Tanto uma postura quanto outra me parecem igualmente equivo-
cadas. Uma porque se recusa a integrar a teoria as transformag&es extraor-
dinérias que ocorreram no mundo contemporaneo nos ultimos trinta anos,
apegando-se a esquemas teéricos que dio no mais conta do real,
perdendo assim a capacidade de recrutar seguidores entre as novas ge-
rages; a outra porque, no scu afi de originalidade, ao inverter simples-
mente os postulados da historiografia dos anos 60 em vez de integrd-los
numa sintese mais rica, corre nfo s6 0 risco de recriar, sob aparéncia do
novo, um tipo de histéria bastante tradicional, mas © que é mais sério, no
afa de buscar novos temas pode deixar inteiramente de lado aspectos que
so fundamentais para a compreensdo da vida do individuo em sociedade,
deixando-o desprovido dos referenciais necessdrios para que cle possa
situar-se no presente e projetar a construgdo de uma sociedade mais livre
e mais justa. A historiografia transforma-se entéo num exercicio puramente
estético € ret6rico, ou, o que é pior, num exercicio meramente académico
que acaba por servir — a despeito da intencdo explicita dos autores em
sentido contrério — a propésitos eminentemente conservadores. Nesse
campo assim polarizado, parece-me que € de suma importancia nos deter-
mos para refletir sobre essas tendéncias, nfo para retomar as abordagens
€ préticas que foram obviamente superadas pela propria historia
contemporanea, nem para simplesmente celebrar as novas abordagens, mas
com © objetivo de abrir caminhos para uma nova sintese mais fecunda.
Para entender-se a ruptura epistemolégica que ocorreu na his-
toriografia nos Ulimos trinta anos, é necessério examinar as profundas
mudangas que afetaram a sociedade ¢, ao mesmo tempo, alteraram as con-
digdes de produgao intelectual, Para isso é preciso lembrar, em primeiro
lugar, que sinais das tensdes que vieram & tona nos dltimos anos podem
ser tracados ja nos fins dos anos 50. As obras de Sartre, Critica da Razdo
Dialética e de seu adversério Merleau Ponty, Humanismo e Terror e as
Aventuras da Dialética, se bem que respondessem de maneira diversa aos
10
desafios de seu tempo, continham jé as perplexidades ¢ dividas que
desembocaram no impasse te6rico com que se defrontam hoje os
historiadores. Num ensaio publicado nos anos 60, Merleau-Ponty
observava que a dialética também tem sua hist6ria. Depois de chamar
atengdo para a tensio entre liberdade e necessidade que existe no interior
da dialética ele observava que dependendo da praxis social dos varios
momentos, 0 agentes hist6ricos sfio levados ora a enfatizar o papel do
sujeito e, portanto, da sua subjetividade, da sua vontade ¢ da sua liber-
dade, ora o das forgas hist6ricas. De fato, quando se examinam as mudan-
gas que ocorreram na historiografia nos Ultimos trinta anos observa-se um
deslizamento progressivo de um momento estruturalista que privilegiava a
necessidade, para um momento anti-estruturalista que d4-enfase & liber-
dade. De uma énfase no que se definia como “forgas histéricas obje-
tivas", para uma énfase na “subjetividade” dos agentes hist6ricos. De
uma preocupagio com o que nos anos 60 se conceituava como “infra
estrutura”, para uma preocupagio com o que entdo se conceituava como
“superestrutura”™.
© que comegara como uma critica salutar e neceséria a mecanicis-
mos ¢ reducionismos economicistas ¢ & separagao artificial entre infra ¢
superestrutura. — separagio essa habilmente criticada por Raymond
Williams — assim como as criticas feitas por E. P, Thompson ao estru-
turalismo de Althusser, acabaram, contrariamente as intengdes daqueles
autores, numa total inversio da dialética. O cultural, 0 politico, a linguagem
deixaram de ser determinados para serem determinantes, A consciéncia
passou a determinar o ser social. Assim também a erftica bastante valida
As nogdes essencialistas de classe ¢ As relagGes mecAnicas entre classe ¢
consciéncia de classe, corretamente problematizadas na importante obra
de Goran Therborn, Ideologia e Poder ou 0 Poder da Ideologia? ¢ os
novos caminhos que essa critica abriu para uma investigagio dos
processos de construgdo das miltiplas e freqiientemente contraditérias
identidades (étnicas, religiosas, de classe, de géncro, de nacionalidade),
desembocaram em posigdes que levaram ao completo abandono do
conceito de classe como categoria interpretativa. A vélida critica ao
objetivismo positivista que postulava uma total autonomia do objeto em
relagio ao sujeito e que confiava cegamente no cardter cientifico da
hist6ria, ¢ 0 necessério reconhecimento de que o historiador constréi o
seu pr6prio objeto, freqiientemente levaram a um total subjetivismo, a
2 Goran Therborn, The Ideology of Power and the Power of Ideology (Verso 1980).
2
negagdo da possibilidade de conhecimento, e até mesmo ao questiona-
mento dos limites entre histéria e ficgao.?
No meu entender, tanto as abordagens tradicionais hoje submetidas
4 critica quanto as novas posturas so profundamente antidialéticas. Elas
nao s6 postulam uma separagao artificial entre objetividade ¢ subjetividade
(ou liberdade ¢ necessidade) esquecendo que uma est4 implicada na outra,
mas também ignoram um principio basico da dialética que afirma que siio
os individuos (homens € mulheres) que fazem histéria, se bem que a fagam
em condigdes que nao foram por eles escolhidas. O resultado desse
movimento de uma postura tedrica para outra foi que se passou sim-
plesmente de um tipo de reducionismo para outro. Ao reducionismo
econémico substituin-se um novo tipo de reducionismo: cultural ou Ii
gilfstico, tio insuficiente © equivocado quanto o anterior, apenas se
inverteram os termos do discurso historiografico. A um tipo de reificagao
op6s-se um outro. O que se assistiu foi uma mera inversdo de duas
posturas igualmente insatisfat6rias, nenhuma das quais faz jus &
complexidade da dialética e da teoria da praxis,
No proceso de liquidagéo das abordagens tradicionais houve
outras vitimas. Uma delas foi a nogdo de proceso histérico, Insatisfeitos
(e com bastante razdo) com uma histéria teleoiégica que enxergava cada
momento como uma etapa necesséria de um proceso histérico linear que
automaticamente conduziria a um fio j4 explicitado de antemfo, um grande
mimero de historiadores passou a negar que a histéria obedecesse a
qualquer Igica. Ao mesmo tempo, abandonaram qualquer esforgo de
totalizagao, Isso levou ao descrédito ¢ abandono de todos os modelos
teéricos, fossem eles emanados das teorias de modernizagao, da teoria da
dependéncia ou das teorias sobre os modos de produgao. Conseqtien-
temente, as questdes tedricas que no passado freqiientemente se ressen-
tiam da falta de embasamento empirico e se perdiam em debates esco-
lésticos, estércis ¢ infrutiferos, passaram a um segundo plano, quando nao
foram totalmente esquecidas. O empirismo virou moda novamente. Nao
mais como um momento necessério da teoria, mas como um fim em si
mesmo. Como se a histéria inocentemente se revelasse a quem quer que
se debruce sobre os documentos. De um processo dedutivo, néio dialético,
que demonstrava mais do que investigava, e que jé parecia saber a his-
t6ria de antemfo, passou-se a um processo indutivo que jamais se alga
a0 nivel te6rico, ¢ que quando muito se funda na esperanga de que a
° WHITE, Hayden. “The Value of Narrativity in the Representation of Reality",
Critical Inquiry (Autumn, 1980), 6-27 e do mesmo autor “The Structure of
Historical Narrative”, CLIO (1972), 5-20, e no mesmo volume “The Historical
Text as Literary Artifact”, 41-62,
3
acumulagdo de dados ¢ monografias venha um dia a permitir a elaboragio
de uma teoria. Passou-se também a privilegiar o acidental, o imprevistvel,
© inesperado, 0 irracional, 0 espontineo, chegando-se ao ponto de se
negar pura e simplesmente a existéncia de um processo hist6rico. A
histéria tableau, as histérias da vida cotidiana, que pareciam ter sido de
ha muito enterradas, foram ressuscitadas, sob uma nova roupagem termi-
nologicamente mais sofisticada. Mas sob essa roupagem a velha histéria
da vida cotidiana, tio em moda nos anos 50, volta a circular. Assim
também a meméria, o depoimento tomaram cada vez mais o lugar ocupado
pela histéria. Porque a historiografia tradicional negligenciara, erronea-
mente, a subjetividade dos agentes hist6ricos, (wranformando-a num
epifendmeno), a nova historiografia fez desta o centro de sua atengao.
Fazer histéria do ponto de vista do participante passou a ser 0 novo lema.
A histéria oral passou a ser um género favorito, Multiplicaram-se os
estudos fundados exclusivamente cm memérias, depoimentos e entre-
vistas, como se estes contivessem toda a hist6ria, ou, em outras palavras,
como se a histéria se resumisse numa confusao de subjetividades, uma
espécie de torre de babel, Os mais extremados chegaram a imaginar que a
Ynica safda é permitir que cada um conte a sua verdade. O trabalho do
historiador neste caso se limitaria a registrar as varias versdes. Simul-
taneamente, a atengfo dos historiadores deslocou-se da preocupagéo com
as estruturas globais de dominagio, os processos de acumulagio do
capital, o papel do Estado e as relages entre as classes sociais, que
haviam preocupado a historiografia tradicional, para as chamadas mi-
crofisicas do poder.*
Essa tendéncia que deve muito a Foucault representou uma
extraordinéria expanséo das fronteiras da hist6ria: a loucura, a anorexia, a
criminalidade, a prostituigéo, a homossexualidade, a feitigaria, o carnaval,
© cheiro, as procissées, os mistérios ¢ os rituais, a teatralidade do poder,
‘os mitos, as lendas, as formas individuais e cotidianas de resisténcia, que
no passado apenas marginalmente tinham interessado aos historiadores
absorveram grande parte da energia dos jovens, No entanto, com raras €
notdveis excegdes, os que em niimero crecente se devotaram a esses
estudos raramente tentaram estabelecer uma conexao entre a micro ¢ a
macroffsica do poder. Na historiografia em geral esses dois tipos de
abordagens (com raras excegdes como por exemplo no livro de Carlo
Guinzburg: The Cheese and the Worms or the Knight Battles ou de Natalie
Davis a Volta de Martin Guerre, por exemplo), continuaram a correr para-
4 Para maiores detalhes, Emflia Viotti da Costa, “Structures Versus Experience:
What Do We Gain, What Do We Loose?” International Labor and Working Class
History, 36 (Fall 1989), 3-24.
4
Jelas sem jamais se tocarem. O resultado foi que apesar da extraordindria
expansio das fronteiras da histéria e do enriquecimento inegdvel da nossa
comprensio da multiplicidade da experiéncia humana através dos tempos,
a macro-fisica do poder permaneceu na sombra. Quando o poder esté em
toda a parte, acaba por nao estar em lugar algum. Além de que, 0 método
de andlise derivado de uma leitura simplificada e seletiva da obra de Fou-
cault embora tenha contribuido para esclarecer ¢ ampliar a compreensiio
dos varios locais onde 0 poder se exerce, recusa-se a explicar como ¢
porque ele se constitui, se reproduz e se transforma. As conexdes entre
© cotidiano e a macrofisica do poder sfo esquecidas. Contrariamente &
intengao original de Foucault, as micro-histérias freqiientemente ficam
como pegas coloridas de um caleidoscépio quebrado, sem se juntarem, sem
se articularem num desenho, no passando de fragmentos de uma expe-
riéncia sem sentido.
As formas de contestagfo que no passado se baseavam na critica
do estado ¢ das estruturas econémicas ¢ sociais nfo foram validadas pela
nova pratica historiogrdfica, talvez melhor seria dizer que foram des-
qualificadas. Outras prdticas encontraram justificativa nessa nova histéria
que vé em cada gesto uma forma de resisténcia, celebra o espontaneismo,
a resisténcia cotidiana, as armas dos fracos (weapons of the weak) no
dizer de James Scott, e prega a subversao da linguagem.® No entanto, 0
que potencialmente pode significar emancipagao também pode facilmente
se transformar num beco sem safda, pois € dificil posicionar-se numa
histéria arbitrdria, cadtica, sem sentido nem diregdo.
Nenhuma das tendéncias citadas até aqui, contribuiu tanto para a
inverséo da dialética quanto a excessiva énfase no discurso, seja ele 0
discurso dos oprimidos ou dos opressores, dos reformistas ou dos con-
servadores — tendéncia que levou ao que um autor chamiou de lingiiicismo
grosseiro (vulgar linguicism).© Essa tendéncia bastante generalizada nos
varios campos da histéria apareceu em toda sua plenitude em estudos que
nasceram de preocupagées femininas. Brian Palmer em Descent into
Discourse, depois de reconhecer enorme valor ¢ significado desses novos
estudos chama atengdo para o fato de que embora muitos deles se utilizem
da teoria do discurso, a grande maioria no fez sendo importar uma
terminologia que serve apenas para enfeitar os textos de hist6ria social
que continuam, no mais, a seguir metodologias bastante convencionais.
5 James C. Scott, Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance
(New Haven, 1985).
® Comentario de Myra Jehlen in Radical History Review Winter 1989, citado por
Brian Palmer, “Descent into Discourse”, pp. 163-64.
Is
Discurso, linguagem, simbdlico, deconstrugao, passaram a ser expressées
de uso corrente, se bem que freqiientemente mais como parte do voca-
bulério, do que da teoria.”
© passo seguinte foi a reificagdo da linguagem. Essa tendéncia
aparece claramente nos estudos sobre a classe operaria.® Stedman Jones,
por exemplo, autor de um controvertido estudo sobre 0 cartismo® depois
de afirmar que nfo hé realidade social fora ou anterior & linguagem, conclui
que a classe € construfda numa complexa ret6rica de associagées meta-
foricas, inferéncias causais e construgdes imagindrias.1° Criticando Stedman
Jones por ndo ir as dltimas conseqiiéncias dessa metodologia, Joan Scott!
vai ainda mais longe propondo um método de anélise que mostre como
idéias tais como classe convertem-se através da linguagem em realidades
sociais (ideas such as class become through language, social realities).
Segundo ela, a linguagem determina a forma das relagdes sociais em vez
do reverso,2* Scott da prioridade ao conceit de classe sobre a experiéncia
de classe ao afirmar que antes de que individuos possam-se identificar
como membros de uma classe ¢ possam agir coletivamente como tal, cles
precisam ter o conccito de classe — o que evidentemente representa uma
inversio das posturas te6ricas tradicionais.!
Com isso nfo quero dizer que a andlise do discurso nao seja uma
técnica imprescindivel ao trabalho. do historiador, Ou que a retdrica ndo
seja uma importante, ¢ mesmo fundamental, via de acesso 4 compreensio
hist6ria. Mas reconhecer isto néo é 0 mesmo que dizer que a anélise do
discurso é suficiente para a compreensio da hist6ria. E muito menos, co-
mo querem alguns, que 0 que existe sio apenas textos sobre textos, €
7 Bryan D. Palmer, Descent into Discourse. The Reification of Language and the
Writing of Social History (Philadelphia, 1990).
® GRAY, R. “The Desconstructing of the Working-Class” in Social History, XI
(1986) and FOSTER, J. “The Declassing of Language”. New Left Review, 150
(1985)
S JONES, G. Stedman, Languages of Class: Studies in English Working-Class History,
1832-1982 (Cambridge, 1983).
19 Leia a critica a Stedman Jones em Neville Kirk, “In Defence of Class. A Critique
International Review of Social History, 37 (1987), 2-47. Ainda em P.A. Pickering,
“Class Without Words: Symbolic Communication in the Chartist Movement”, in
Past and Presens, 112 (1986) and J. Epstein, “Rethinking Categories of working-
class History”, in Labour Le Travail, 18 (1986).
“On language”, Gender, and “Working Class History”, International Labor and
Working-Class History, 31, (Spring 1987):1-14.
"2 Criticas a Joan Scott in Internation Working and Labor Class History, 31, Spring
1987, particularmente Christina Stansell pp. 24-30.
13 “concepts like class are required before individuals can identify themselves as
members of such a group, before they can act colectively as such”, Scott, A Reply
to Criticism, International Labor and Working-Class History, 32, Fall (1987):39-45.
16
que o trabalho do historiador € semelhante ao do eritico literario e nao
passa de uma deconstrugao ad infinitum.'4
Descrevendo os sucessos de 68 ¢ a emergéncia do post-estrutu-
ralismo, Terry Eagleton comenta com ironia que, incapaz de subverter as
estruturas do poder do estado, a geragdo de 68 subverteu a linguagem.
Numa resenha do livro de Furet sobre a Revolugio Francesa, Lyn Hunt
comentava em 1981 que a histéria da Grande Revolugdo ha muito asso-
ciada & violéncia, fome ¢ conflito de classes foi transformada num “evento
semiolégico”. Ignorando as estruturas de poder e a maneira pela qual elas
medeiam a linguagem e a ago humana, Furet construira uma nova meta-
fisica®
A historiografia contemporanea revela uma Ppreocupacao crescente
com problemas epistemolégicos, com o discurso do proprio historiador.
Essa tendéncia também nfo é nova. Em 1956, numa conferéncia
pronunciada nos Estados Unidos, na universidade de Johns Hopkins,
Derrida afirmava: “precisamos interpretar a interpretagéo mais do que
interpretar as coisas”. Seu apelo encontraria um grande mimero de segui-
dores que se ocuparam mais em discutir os limites da consciéncia
hist6rica, do que a prépria histéria que, dessa forma, ficou cada vex miais
inacessivel. © questionamento das categorias explicativas utilizadas pelo
historiador levou a uma obsessiva indagaao sobre a validade de se apli-
Car nossas categorias a outros espagos, outros tempos, outras culturas.
Podem as categorias nascidas da experiéncia curopéia serem aplicadas ao
Oriente?" Pode 0 colonizador falar sobre 0 colonizado? Poder os homens
falar sobre a experiéncia das mulheres, ou brancos sobre negros? FE pos-
sfvel escrever-se sobre a histéria das classes subalternas ou deverao os
subalternos falar por si mesmos? Podem os subalternos falar?!” Serdo as
teorias sobre a diviséo sexual do trabalho adequadas ao estudo das
regides centrais do capitalismo aplicdveis as regiées periféricas?, indaga
uma autora num ensaio recentemente publicado na Latin American
Research Review.\® As diividas se multiplicam. Aqui também e mais uma
ve2, 0 que pode ser uma reflexio salutar sobre as distorgdcs que 0 viés
do historiador impde a construgao da histéria, pode também facilmente
\'A anedota das tartarugas em Clifford Geertz: Thick Description in The Inter-
pretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973
© Brian Palmer, Descent into Discourse The Reification of Language and the
Writing of Social History, (Temple University Press, 1990).
\ Edward W. Said, Orientalism (New York, 1979).
7 Esse € 0 titulo de um ensaio de Gayatri Chakorvaorty Spivak, publicado em Dary
Nelson and Lawrence Grossberg eds., Marxism and the Interpretation of Culture
(Chicago, 1988),
"Lynne Philips, Rural Women in Latin America: Directions for Future Research,
Latin American Research Review 25, 3 (1990), 89-108.
17
levar a total negagdo da sua possibilidade. Estamos longe evidentemente,
das muitas certezas que caracterizavam os anos 60. O que pode ser bom,
mas também pode ser mau,
Que a produgio historiogréfica derivada de uma certa leitura
positivista dos autores classicos da dialética deixava muito a desejar é
uma observagdo bem antiga. De certa forma, muito do que se caracteriza
hoje como pés-moderno, pés-estruturalista, encontra suas raizes na obra
de um filésofo francés que exerceu um fascfnio extraordindrio nos anos 60
mas que curiosamente foi colocado no ostracismo provavelmente pelas
suas vinculagSes polfticas com 0 PCF. Talvez nao seja por acaso que
enquanto o siléncio recaiu sobre a importante obra de Jean-Paul Sartre,
quem tomou o seu lugar foi um seu adversdrio politico, o jornalista e
panfletista Raymond Aron, cuja obra os intelectuais dos anos 60
desprezavam pela falta de profundidade de suas idéias, mas que desde
entéio passou a ser o guru de uma nova geracdo. (Hé algum tempo, o New
York Times dedicou uma pagina inteira a Raymond Aron, escrita por um
conhecido intelectual de direita.) No entanto, qualquer um que se dé ao
trabalho de ler a introdugao escrita por Sartre a Critica da Razdo Dialética
(Jean-Paul Sartre, Critique de la Raison Dialectique, precede de Question
de Methode (Paris, 1960). Encontraré ai uma critica perspicaz da
historiagrafia marxista francesa do seu tempo, uma critica certamente mais
rica e estimulante do que a feita muitos anos antes por Nietzsche &
historiografia do scu préprio tempo. No entanto, foi este ¢ nao Sartre quem
juntamente com Raymond Aron foi reciclado nos dltimos anos, nao
obstante ter sido Nietzsche um dos idedlogos que serviu de inspiragio
aos nazistas.
Foi Sartre quem nos anos 60 criticou o intelectual marxista que
acreditava servir seu partido violentando a experiéncia ¢ negligenciando
detalhes, simplificando grosseiramente os dados e conceitualizando o
evento antes mesmo de té-lo estudado.!® Sartre denunciou também a
transformagdo de um método de investigagiio em metafisica. Os conceitos
abertos, diria ele, se fecharam, nfo so mais chaves, esquemas inter-
pretativos, eles se apresentam como saber jé totalizado. A pesquisa to-
talizadora cedeu lugar a uma escoldstica da totalidade. O princfpio eu-
ristico: buscar 0 todo através das partes foi transformado nessa pratica
terrorista de liquidar a particularidade.”° Analisando a obra de Dabiel
‘pendant des anées V’intelectuel marxiste crut qu'il servait son parti, en violant
Vexperience, en negligeant les détails genants en simplifiant grossitrement les
données et surtout en conceptualisant I’évenement avant de l’avoir etudié.”
% “Les concepts ouverts se sont fermés, ce ne sonplus des clés, des schemes
interpretatifs, ils se posent pour eux memes comme savoir deja totalisé.” “La
recherche totalisatrice a fait place a une scolastique de la totalité... Le principe
euristique chercher le tout a travers le parties est deven» cette pratique terroriste
liquider Ia particularité.”
18
Guerin intitulada La Lutte des Classes Sous la Premiere Republique, Sartre
comentava: “Esse método nao nos satisfaz, ele é, a priori, nao tira seus
conceitos da experiéncia que quer decifrar, est4 certo de sua verdade antes
mesmo de comegar, (...) seu tinico objetivo é fazer entrar os aconteci-
Mentos, as pessoas ¢ seus atos em moldes pré-fabricados.” Sartre criticava
a redugao do polftico a0 social, assim como a incapacidade dos histo-
tiadores de integrar na histéria a perspectiva dos agentes hist6ricos,
criticava ainda a redugdo da ideologia aos interesses de classe. Acusava
esse tipo de histéria de dissolver os homens reais num banho de 4cido
sulfirico. Sartre questionava ainda as abordagens que estabeleciam uma
relagdo mecanicista entre individuo ¢ classe social e entre classe social €
consciéncia, entre préxis imagindria ¢ real. Ele insistia na importancia das
mediagdes ¢ condenava o carter teleol6gico das explicagées. Numa
famosa frase ele sintetizava toda a sua critica: “Valery € um intelectual
Pequeno burgués, mas nem todo pequeno burgués intelectual é Valery”
(p.44);. essa observagio, segundo Sartre, definia a insuficiéncia do
marxismo de seu tempo. Foi Sartre também que denunciou a falta de
estudos sobre a infancia: os historiadores, dizia ele, “agem como sé os
homens experimentassem a alienacdo e a reificagéo primeiramente no tra-
balho, quando de fato cada um vive a alienagdo primeiramente como
crianga, no trabalho dos pais”.*! Foi Sartre quem chamou atengdo, para a
importancia da histéria da sexualidade que na sua opinido nao era sendo
uma maneira de viver num certo nivel, ¢ da perspectiva de uma certa
aventura individual, a totalidade de nossa condiga0.2? Sartre criticou
também as abordagens essencialistas, funcionalistas ¢ cstéticas que igno-
ram 0 significado das contradigées e a importancia do processo hist6rico
diacr6nico. J4 nos anos sessenta, Sartre Propunha-se a recuperar o homem
no interior do marxismo. Foi esse projeto que ele tentou desenvolver no
seu livro sobre Flaubert. Sua companheira Simone de Bovoir foi igualmente
Pioneira, Foi ela quem nos anos 60 levantou a bandeira do novo feminismo,
Portanto, no bojo dos anos 60 jf se podiam detectar as perplexidades ¢
as diretivas que desembocaram na historiografia contemporanea, via
Barthes, Foucault, Lacan e Derrida.23
* “Le marxistes d'aujourd hui n'ont souci que les adultes on croirat a les lire que
nous naisson a l'age ou nous gagnons notre premier salaries, ils ont oublié leur
Propre enfance... comme si le hommes éprouvaient leur alienation et leur reification
dans leur propre travail d’abord, alors que chacun la vit d’abord, comme enfant,
dans le travail des ses parents.”
2 “Nvest qu'une manére de vivre a un certain niveau ct dans la perspective d'une
certaine aventure individuelle In totalité de notre condition.”
% No entanto, apesar da diferenca que existe entre eles, esses autores, com excegto
de Sartre © Simone de Beauvoir, tendem a ser anti-bumanistas a-historicos. Veja.
se sobre isso Kate Soper, Humanism and Anti-Humanism. problems in Modern
European Thought (London, 1986).
19
A historiografia dos nossos dias ergueu-se contra os defeitos
assinalados por Sartre se bem que ao tentar evitd-los nfo seguiu os ca-
minhos por ele indicados. Foi Nietzche quem capturou a imaginagio da
nova geragdo com seu esteticismo, Sua idéia de que ¢ apenas como fe-
némeno estético que a cxisténcia e 0 mundo se justificam ¢ que os fatos
¢ as coisas sio criadas pelo préprio ato de interpretar pareceu mais atraen-
tes do que a proposta sartreana que se mantinha ainda dentro dos limites
do marxismo.
A insurreigdo contra a historiografia tradicional.e seus métodos ¢
abordagens se evidencia de forma mais clara nos estudgs contempordneos
sobre a histéria do trabalho. E af também que se dio os maiores con-
frontos entre os representantes dos dois grupos; mesmo porque, neste
caso, 0 que estd em questo nao é apenas qual’a melhor interpretagiio do
passado, mas também qual a melhor estratégia no presente. Enquanto a
historiografia dos anos 60 focalizava as macrofisicas do poder € se preocu-
pava com as estruturas econémicas ¢ o papel do Estado ¢ das liderancas
operdrias na formagio da classe operéria, privilegiando os momentos de
conflita entre capital ¢ trabalho, a historiografia contemporanea focalizou
os rituais, a linguagem as formas cotidianas de resisténcia ¢ de lazer.
Enquanto a historiografia tradicional se preocupava em estudar o impacto
que a tranformacio industrial e 0 Estado tiveram no movimento operério,
a nova histéria inverteu a questo e passou a preocupar-se mais em
‘examinar 0 impacto que a mobilizagdo operdria teve tanto na economia
quanto na organizagao do Estado. Enquanto a historiografia tradicional
concentrava sua atencdo na classe operdria, A qual atribuia uma
predisposi¢do revoluciondria, a nova historiografia problematizou € histo-
ricizou a nog&o de classe, questionando tanto a visio essencialista da
classe operéria caracteristica da historiografia tradicional como a inevita-
bilidade previamente assumida da sua vocagio revolucionéria. Questionou
também a existéncia de uma solidariedade natural da classe operéria
expondo os conflitos internos entre varios tipos de identidade: politico-
partidéria, nacional, religiosa, étnica, sexual, que na prética se articulam de
vérias formas & identidade de classe, as vezes reforgando-a, as vezes enfra-
quecendo-a, A nova historiografia repudiou também as aboradagens
teleoldgicas que assumiam que a histéria caminhava inevitavelmente ¢ de
forma unilinear para o socialismo ¢ que viam em cada momento hist6rico
uma nova etapa nessa direcfio, O foco de atengio deslocou-se do movi-
mento operdrio, dos partidos politicos ¢ dos sindicatos, para os operdrios;
da classe operdria para os trabalhadores; da fébrica para a casa © a rua;
do operério para a famflia operéria; do trabalho para as atividades recrea-
tivas e para a cultura,
A partir dessa reavaliago da experiéncia operdria reexaminaram-se
as relagGes entre liderangas ¢ liderados, entre a elite sindical e os tra-
2
balhadores e entre as liderangas sindicais © os governos no perfodo po-
Pulista. Questionaram-se as abordagens que assumiam uma conexdo
automatica entre os tipos de atividades exercidas pelos operdrios e as
formas de consciéncia, a0 mesmo tempo que se descartaram os conccitos
de hegemonia e falsa consciéncia freqilentemente utilizados pela hitorio-
grafia tradicional. A massa de trabalhadores urbanos néo-industriais que
escassamente interessara a historiografia tradicional Ppassou a ser foco
de novas pesquisas. Dessa forma, alargaram-se os horizontes da histo-
riografia que passou a interessar-se pelos movimentos sociais, a incluir as
mulheres ¢ a questionar a validade de uma historiografia que a0 conceituar
a classe operdria em paises em que mulheres e grupos éticos diversos
compunham a maioria dos operdrios, freqiientemente os ignorara em
beneficio do trabalhador masculino e branco, uma historiografia que dei-
xava de lado o papel importante desempenhado pela mulher na produgdo
© reprodugéo da classe operdria, Nesse processo de revisio, alguns
autores chegaram a sugerir uma reinterpretagao feminista da formagéo da
classe operdria.24
A inverso da dialética tem provocado nos tltimos anos um grande
nimero de debates e algumas reacdes negativas. Num ensaio cujo titulo
revela as preocupagées do autor, “Em busca de um ‘Novo’ sujeito
hist6rico: 9 fim da cultura operdria, do movimento operério e do
proletariado,?5 Michael Schneider caracteriza esse conflito que tem lugar
dentro dos debates sobre a Social Democracia e sua polftica na Alemanha
pés-guerra.
Dentro desse novo contexto, alguns escritores como André Gorz
chegaram mesmo a argumentar que nesta era pés-industrial o proletariado
desapareceu, tomou-se uma minoria privilegiada. Em seu lugar apareceram
outros grupos. A partir dessa conjuntura, as formas tradicionais de
consciéncia proletaria no tém condigdes de emergir, Esses autores chegam
a vaticinar o fim do movimento operério © a emergéncia dos movimentos
sociais tais como os movimentos em prol da paz (peace movements), os
movimentos de moradores, os movimentos ecolégicos, os mavimentos de
mulheres etc. Outros olham com nostalgia para um passado que eles
descrevem como um momento em que a cultura operéria era integrativa
radical ¢ culpam as priticas da Social Democracia pelo seu desa-
% Para maiores detalhes, Emilia Vioti da Costa, “Estruturas versus experiéncia:
novas tendéncias na histéria do movimentos operdrio e das classes trabalhadoras na
América Latina. O que se perde ¢ o que se ganha", Boletim Informativo ¢
Bibliogrdfico de Ciéncias Sociais 29 (1990), 3-16.
% Michael Schneider, in Search of a “New Historical Subject”: The end of working-
class culture, the Labor Movement, and the Proletariat, ILWCH Fall 1987, pp. 46-58.
2
parecimento, Outros ainda, como Schneider, afirmam que a inclusio da
Social Democracia © dos Sindicatos no periodo de pés-guerra no sistema
politico democrético ¢ na economia de mercado, contribui para uma
melhoria das condig6es de vida dos trabalhadores, 0 que, somada nova
legislago sobre relagdes trabalhistas, levou 4 eroséo da consciéncia de
classe.2° A medida que o reformismo social conseguiu uma maioria
parlamentar, diminuiv a convicgio de que 0 proceso de emancipagio
humana reside no proletariado. O declinio numérico do proletariado e as
dificuldades, senio impossibilidade, de criar uma consciéncia de classe
levaram A redefinigao das estratégias polfticas de transformagao social ¢
simultaneamente & busca de novos paradigmas historiogréficos orientados
para o estudo da politica do cotidiano, o que deu margem ao florescimento
da nova hist6ria social do trabalho.
Analisando as conseqiiéncias dessas novas priticas politicas ¢
historiogréficas, Schneider observa que a solidariedade de pequenos
grupos de trabalhadores ou de habitantes de uma parte da cidade (grupos
de vizinhanga), sem diivida cria ilhas alternativas de cultura e reforma
social, mas ndo podem substituir um programa politico mais inclusivo. Para
ele, 0 projeto de estudar-se a vida cotidiana que tem por objetivo descobrir
© potencial politico na vida do homem comum e que enfatiza apenas os
aspectos negativos das organizagées classistas e politico-partidérias mais
inclusivas, pode facilmente levar a um beco sem saida. Mesmo quando se
refere ao movimento operdrio, a histéria que nao vai além da vida cotidiana
valoriza os atos isolados de resisténcia, tem como resultado diminuigao a
dimensio politica do movimento operério. Depois de apontar as deficién-
cias metodoldgicas dessa nova histéria, Schneider conclui que muitos
desses estudos locais € regionais que se justificam em nome de dar voz
aos oprimidos ¢ preencher os pontos de siléncio do discurso oficial
desembocam numa compilagao nao critica e assistemética de detalhes, cuja
relevancia nunca é questionada, um cemitério de fontes, um repositério
de curiosidades, Finalmente, diz Schneider, existe sempre o perigo de que
os historiadores que cultivam esse tipo de histéria sejam eles préprios
incapazes de avaliar criticamente a sua pr6pria situagdo ¢ sua propria
vulnerabilidade.2”
Essa crftica vinda de um historiador alemfo ao analisar as
tendéncias da historiografia em seu pais merece atengéo, se bem que se
% Processo andlogo foi registrado na Inglaterra nas duas décadas que se sucederam
A Segunda Grande Guerra. In James Cronin ¢ Jonathan Schneer eds. Social conflict
political crisis in Modern Britain. (New Brunswick, 1982)
2 Michael Schneider, In Search of a “New Historical Subject”: The end of work-
ing-class culture, the Labor Movement, and the Proletariat, of 1.17, ILWCH Fall
1987, pp. 16-58,
2
Possa argumentar que 0 autor ndo parece visualizar um momento seguinte
em que uma sintese mais rica seja possfvel parecendo escapar-Ihe que o
que hoje Ihe parece derivative, é um momento necessério que a longo
prazo pode ter como resultado a produgao de uma nova histéria ¢ uma
nova pratica mais eficaz.6
Para que essa sintese seja possfvel, no entanto, é necessério dar
ouvidos a essa critica que hoje se ergue contra as tendéncias da
historiografia contempordnea. E preciso que se reconheca a necessidade
de trabalharmos na diregSo de uma nova sintese. Isso parece tanto mais
necessdrio quando se pensa do ponto de vista das sociedades latino-
americanas, em que as modas historiogréficas européias ou americanas
se reproduzem nao necessariamente como resultado das perplexidades
nascidas das condigées estruturais internas, mas como produto de
importagao de modas intelectuais nascidas de outras realidades, Esse
fenémeno muitas vezes rotulado de dependéncia cultural tem apenas se
acentuado num mundo em que nfo sé a economia como o préprio
trabalho intelectual é cada vez mais internalizado e em que esse processo
de internacionacionalizag4o continua em grande parte a passar pelos
centros hegeménicos de produgao cultural.
Nao quero com isso dizer que devemos isolar-nos ou interromper 0
diélogo fecundo que se estabelece com os intelectuais do mundo desen-
volvido, Essa postura resultaria inevitavemente num empobrecimento. Mas
€ preciso que passemos da posigao de passivos consumidores de cate-
gorias interpretativas para a de produtores ¢ para isso é necesséria uma
avaliag&o critica do que € produzido em outras partes do mundo — tanto
no centro como nas periferias, remetendo as categorias as circunstincias
de sua criagdo, analisando as semelhangas e diferengas de processos
historicos especificos para entio se indagar da validade da aplicagio
dessas categorias a nossas realidades.
Quando eu ougo Michelle Perrot, uma das histortidoras de
vanguarda na Franca, dizer numa entrevistd que a sociedade pés-moderna
€ uma sociedade em que as possibilidades de expressividade individual
se multiplicaram, que o impacto do sistema politico e os modelos culturais
tém sido exagerados © que afinal de contas as pessoas ainda tém sua vida
privada, que suas faculdades criticas sio cada vez mais desenvolvidas
Porque um major niimero de pessoas sio educadas, eu me pergunto se de
fato essa observacao se aplica as camadas populares tanto nos pafses
% Alf Ludtke tenta estabelecer uma Ponte entre o novo e o velho em “The
Historiography of Every Day Life: The personal and the political”, In Raphael
Samuel and Gareth Stedman-Jones, Culture, Ideology and Politics, London, 1993,
38-54.
23
periféricos quanto fio centro. Mas quando Perrot afirma que a sociedad
pés-moderna € uma sociedade em que as pessoas tm um respeito muito
maior umas pelas outras, cu me pergunto em que mundo ela tem vivido.
Racismo, torturas, massacres de liderangas, guerrilhas, esquadrao da morte,
problemas de sobrevivéncia que afetam o dia-a-dia de homens e mulheres
das periferias, a violencia do cotidiano, a manipulagdo da mfdia, esses ©
tantos outros problemas que so 0 dia-a-dia de milhares de pessoas nas
periferias do mundo nao parecem ter entrado no universo de Michelle
Perrot ¢ de muitos outros intelectuais de vanguarda dos pafses desen-
volvidos.2° Visto da periferia, 0 narcisismo celebratério ¢ as formas de mi-
litancia dessa nova vanguarda européia que ignora o que se passa nos
confins de suas ex-colOnias parecem suspeitos ¢ isso me leva a indagar
da validade de categorias interpretativas nascidas de uma experiéncia tao
diversa e a perguntar-me até que ponto clas sao tteis para entender a
nossa realidade. Com isso ndo quero dizer que se deva simplesmente des-
carté-las, mas sim, que € necessério manter-se uma postura critica em rela-
gio a clas.
‘As tendéncias historiogréficas européias ¢ americanas contempora-
neas que tém encontrado receptividade crescente entre nés nasceram de
situagSes bastante concretas, algumas semelhantes as nossas, outras,
bastante diversas, o que é necessério ter em mente ao decidirmos do grau
de credibilidade que merecem. Elas se relacionam diretamente a crise do
sovietismo e por associagao, a crise de uma certa leitura do marxismo do
perfodo de pés-guerra © a concomitante critica da organizacio ¢ estra-
tégias dos partidos de esquerda comprometidos com a Unido Soviética.
Nas periferias do mundo esse proceso de reviséo foi acelerado pelo clima
repressivo desencadeado pela Guerra Fria, Os varios insucessos de regimes
soi-disant socialistas no continente africano ¢ os acontecimentos na China
geraram novas diividas ¢ muita perplexidade que nem a Revolugo cubana
ov a nicaraguense conseguiram minimizar.
Durante anos, a polarizagdo leste/oeste tornou dificil uma avaliagao
critica das posigdes € contribuiu para a formagéo de uma ortodoxia disso-
ciada das transformagées que ocorriam no mundo. E dentro desse contexto
que as gerages mais novas buscaram novas formas de ago politica ¢ a
historiografia européia buscou novos caminhos, repudiando as categorias
tradicionais nascidas de uma realidade diversa. Mas esse € apenas um lado
da histéria. O outro 6 muito mais dificil de se analisar e tem a ver com a
2 New Subjects, New Social Commitments: An Interview with Michelle Perrot by
Laura Frader e Vitoria de Grazia, Essa entrevista foi conduzida por de Grazia in
Paris em 20 de setembro, 1986, € publicada na Radical History Review, 37 (1987);
27-40.
“4
internacionalizagéo da economia, a industrializacfo das periferias e o
conseqllente processo de industrializago que ocorreu no centro; a adogdo
de técnicas industriais novas que economizam mao-de-obra resultando na
diminuigao do proletariado nos pafses centrais do mundo capitalista; o
erescimento do tercidrio, a presenga de um nimero crescente de traba-
Ihadores migrat6rios (italianos, portugueses ¢ espanhdis, por exemplo, na
Franca e na Alemanha) e a melhoria das condigdes de vida de certos
setores do proletariado a expensas de outros (brancos versus pretos, nos
Estados Unidos, nacionais versus estrangeiros na Inglaterra, Franca ou
Alemanha) ¢ a conseqtiente multiplicacdo de conflitos étnicos que dificul-
tam a coesio de classe; a expansio do setor informal (no qual os traba-
Ihadores nao tém nem poder nem direitos); 0 extraordinério aumento da
participagao da mulher na forga de. trabalho (gerando novos problemas na
esfera doméstica ¢ Icvando ao questionamento das nogées tradicionais
sobre a classe operdria ¢ a rebeliio feminista); a adogao por parte dos
industriais de novas técnicas de controle da mio-de-obra com a renovagio
de putting out systems caracteristicos das primeiras fases do movimento
industrial e 0 inevitavel isolamento das trabalhadoras; as transformagGes
do padrao residencial com o desaparecimento de bairros exclusivamente
operérios dificultando o desenvolvimento de uma consciéncia proletéria;
as mudangas nas préticas de lazer, a crescente importancia da mfdia e 0
conseqiiente isolamento dos individuos; c, finalmente, a generalizagao do
consumismo que intensifica a tensio entre privag’k: e desejo e enfatiza o
individual as expensas do social, tudo isso tem forgado a redefinigio da
prdtica e da teoria, da politica e da historiografia.®° B dentro desse quadro,
extremamente complexo e que varia de uma sociedade para outra, que se
constituiu a nova histéria.
Para nés a questo que se coloca € simples: se a nova historio-
grafia nasceu de condigées histéricas especificas, até que ponto é valida
dentro do nosso contexto? (Como comparar, por exemplo, a situagio do
trabalhador da América Latina com os trabalhadores europeus e ameri-
canos, € a situagdo dos consumidores nas duas éreas? Como comparar os
direitos do cidadao europeu ou americano com a suposta cidadania do
homem comum na América Latina’).
Nao hd diivida de que a simples reprodugio das interpretagdes
tradicionais (e diga-se de passagem elas proprias também importadas de
forma nio muito critica) originadas em experiéncias bastante diversas das
atuais n&o é suficiente para dar conta desse real. Nesse sentido, 1968 foi
realmente um divisor de 4guas, Mas o contraste inicialmente sugerido pelo
®© Sobre 0 impacto do consumismo, no volume 37 da Radical History Review,
principalmente 29-93
y)
distico em que comecei esta fala: Maio 1968 refez-se o mundo, Maio 1986
refaz-se a cozinha, militincia ¢ consumismo, pode ser mais aparente do
que real e é certamente reversfvel. Os acontecimentos em curso na Europa
¢ a recorrente crise do mundo capitalista, sentida de forma particularmente
aguda nas periferias, sugerem que estamos entrando num novo perfodo
da histéria. O momento favorece uma nova sintese que evite todas as
formas de reducionismo ¢ reificagiio, sejam eles econdmicos, linguisticos
ou culturais, uma sintese que nao perca de vista a articulagdo entre micro-
fisica e macro-fisica do poder, que reconhega que a subjetividade é ao
mesmo tempo constitufda e constituinte, uma sintese enfim que seja
centrada na teoria da praxis enriquecida pelas novas experiéncias e que
leve a uma nova historiografia e uma nova estratégia (que permita coor
denar os varios movimentos sociais sem retirar-Ihes a autonomia), ¢ que a
partir de uma reflexdo sobre o passado e o presente prepare os caminhos
do futuro. O momento convida a reflexo ¢ foi este o propésito desta falta.5?
RESUMO
A autora analisa as trans-
formagdes da historiografia nos slti-
mos trinta anos, relaciona-as as mu-
dangas ocorridas na saciedade e nos
processos de produg&o culural, Critica
tanto os historiadores que perma-
necem apegados aos métodos estrutu-
ralistas dos anos 60 come os que
rejeitam em bloco as ligdes do pas-
sado e embarcam no pés-moderno
sem qualquer critico. A autora conclui
propondo uma stniese entre essax duas
propostas,
ABSTRACT
The author analyzes _ the
transformations in western historio-
graphy during the past three decades,
relating them to changes in society
and in the processes of cultural produc-
tion, She criticizes both those histo-
rians who remain trapped in the struc-
turalim of the 1960s, and those who
reject entirely the lessons of the past
and who embrace post-modernism un-
critically. She concludes with a pro-
posal for a synthesis of the two
positions.
3) ADAMSON, Walter L. “Leftist Transformations: A Clash Between the Feasible
and the Desirable”, Radical History Review 37, 94-100.
26
Você também pode gostar
- COSTA, Emília Viotti - Introdução Ao Estudo Da Emancipação Politica Do Brasil 1Documento46 páginasCOSTA, Emília Viotti - Introdução Ao Estudo Da Emancipação Politica Do Brasil 1Douglas Silva100% (1)
- O Pecado Original Da República - Revista de História - CarvalhoDocumento3 páginasO Pecado Original Da República - Revista de História - CarvalhoDanilo Nogueira100% (1)
- Um Rio Chamado Atlântico - Ser Africano No Brasil Nos Sèculos XVIII e XIX - Costa e SilvaDocumento6 páginasUm Rio Chamado Atlântico - Ser Africano No Brasil Nos Sèculos XVIII e XIX - Costa e Silvabeta_ruasAinda não há avaliações
- As Vesperas Do LeviathanDocumento24 páginasAs Vesperas Do LeviathanNathalia Claro MoreiraAinda não há avaliações
- TEXTO 12 - DEAN, Warren. O Café Desaloja A Floresta PDFDocumento13 páginasTEXTO 12 - DEAN, Warren. O Café Desaloja A Floresta PDFBruna LacerdaAinda não há avaliações
- GodoiRodrigoCamargode DDocumento340 páginasGodoiRodrigoCamargode DIzenete NobreAinda não há avaliações
- Mattoso, Kátia - Bahia - Uma Província No ImpérioDocumento746 páginasMattoso, Kátia - Bahia - Uma Província No ImpérioLuan Carvalho100% (2)
- O Laboratório Da Nação-A Era Regencial (1831-1840) - Marcello Basile PDFDocumento35 páginasO Laboratório Da Nação-A Era Regencial (1831-1840) - Marcello Basile PDFÍvina Guimarães100% (4)
- Carlos Nelson Coutinho - Democracia Como Valor Universal PDFDocumento14 páginasCarlos Nelson Coutinho - Democracia Como Valor Universal PDFGabriel Eduardo Vitullo100% (1)
- RESUMO-O Imperio Da Boa SociedadeDocumento3 páginasRESUMO-O Imperio Da Boa Sociedadebya rbyaAinda não há avaliações
- Resenha PARIS, Robert - As Origens Do Fascismo, 1994.Documento22 páginasResenha PARIS, Robert - As Origens Do Fascismo, 1994.Marcello BecreiAinda não há avaliações
- Compreender o Império - Usos de Gramsci No Brasil No Século XIXDocumento20 páginasCompreender o Império - Usos de Gramsci No Brasil No Século XIXGlauber Miranda FlorindoAinda não há avaliações
- Treece - O Indianismo Romântico, A Questão Indígena e A Escravidão NegraDocumento11 páginasTreece - O Indianismo Romântico, A Questão Indígena e A Escravidão NegraRodrigo Cerqueira100% (1)
- GRINBERG, Keila. O Fiador Dos BrasileirosDocumento32 páginasGRINBERG, Keila. O Fiador Dos Brasileiroscleiton_jones100% (2)
- Ira Berlin - Gerações de CativeiroDocumento16 páginasIra Berlin - Gerações de CativeiroSaulo Castilho PereiraAinda não há avaliações
- Ensaio de Valentim Alexandre O Imperio Português 1825-1890 Ideologia e EconomiaDocumento21 páginasEnsaio de Valentim Alexandre O Imperio Português 1825-1890 Ideologia e EconomiaaprumomilitarAinda não há avaliações
- Luzias e SaquaremasDocumento20 páginasLuzias e SaquaremasWesley TaumaturgoAinda não há avaliações
- Políticas e projetos na era das ideologias: A imprensa no Brasil republicano (1920-1940)No EverandPolíticas e projetos na era das ideologias: A imprensa no Brasil republicano (1920-1940)Ainda não há avaliações
- A Abolição Brasileira em Perspectiva Comparativa - Seymour DrescherDocumento48 páginasA Abolição Brasileira em Perspectiva Comparativa - Seymour Drescherglorenzon_2Ainda não há avaliações
- Alencastro LuizFelipede LD PDFDocumento171 páginasAlencastro LuizFelipede LD PDFiaventoAinda não há avaliações
- 2.O Primeiro Reinado em Revisão - Gladys RibeiroDocumento4 páginas2.O Primeiro Reinado em Revisão - Gladys RibeiroFabioPaulaDuarte0% (1)
- Warren Dean - A Industrialização de São Paulo (Síntese Das Idéias Principais)Documento7 páginasWarren Dean - A Industrialização de São Paulo (Síntese Das Idéias Principais)ViniVinil100% (1)
- Oliveira Vianna - O Idealismo Da Constituição PDFDocumento94 páginasOliveira Vianna - O Idealismo Da Constituição PDFHenrique Gerken Brasil100% (1)
- Modernismo e A Questão Nacional PDFDocumento4 páginasModernismo e A Questão Nacional PDFAriany Ribeiro AmorimAinda não há avaliações
- Literatura Como Missão CAP 1Documento36 páginasLiteratura Como Missão CAP 1wagnerjosemc100% (2)
- Inflexões Na Política Imperial No Reinado de D. João VDocumento20 páginasInflexões Na Política Imperial No Reinado de D. João VIgor Dutra BaptistaAinda não há avaliações
- Argamassa Da Ordem Maciel DavidDocumento408 páginasArgamassa Da Ordem Maciel DavidSelmo NascimentoAinda não há avaliações
- O Arcaísmo Como Projeto. Introdução. Fragoso, João. Florentino, Manolo. 2001Documento18 páginasO Arcaísmo Como Projeto. Introdução. Fragoso, João. Florentino, Manolo. 2001Gabriel CrivelloAinda não há avaliações
- Leis Sobre o Furto de LenhaDocumento286 páginasLeis Sobre o Furto de LenhaViclaurentizAinda não há avaliações
- Nação e Cidadania No Império (TESE PUC)Documento38 páginasNação e Cidadania No Império (TESE PUC)vnbarrosAinda não há avaliações
- Resenha - Formação Dos Estados Unidos Nancy F. NaroDocumento6 páginasResenha - Formação Dos Estados Unidos Nancy F. Naroana apaula100% (1)
- (Keyla Grinberg) Re-Escravização, Direito e Direitos No Brasil OitocentistaDocumento34 páginas(Keyla Grinberg) Re-Escravização, Direito e Direitos No Brasil OitocentistaIvan SilvaAinda não há avaliações
- Feminismos SubalternosDocumento21 páginasFeminismos SubalternosJennifer M RodríguezAinda não há avaliações
- Ver - Jose Murilo de Carvalho - Utopias Republicanas - CópiaDocumento17 páginasVer - Jose Murilo de Carvalho - Utopias Republicanas - CópiaAndré GiamberardinoAinda não há avaliações
- LABRONICI, Rômulo para Todos Vale o EscritoDocumento165 páginasLABRONICI, Rômulo para Todos Vale o EscritoVinicius Ferreira NataAinda não há avaliações
- Arcaísmo Projeto Fragoso FlorentinoDocumento21 páginasArcaísmo Projeto Fragoso FlorentinoBradley Jacobs100% (2)
- Rafael Marquese - América ColonialDocumento2 páginasRafael Marquese - América ColonialHeraldo GalvãoAinda não há avaliações
- Estados e Moedas No Desenvolvimento Das Nações - José Luis Fiori - Pag. 287 A 327Documento24 páginasEstados e Moedas No Desenvolvimento Das Nações - José Luis Fiori - Pag. 287 A 327Gabriel2010RIAinda não há avaliações
- Guerra, François-Xavier. A Nação Moderna PDFDocumento15 páginasGuerra, François-Xavier. A Nação Moderna PDFNeumaBrilhanteAinda não há avaliações
- Karl Polanyi - A Grande TransformaçãoDocumento178 páginasKarl Polanyi - A Grande TransformaçãoBruno SoutoAinda não há avaliações
- Elciene Azevedo - para Além Dos Tribunais - Advogados e Escravos No Movimento Abolicionista em SPDocumento20 páginasElciene Azevedo - para Além Dos Tribunais - Advogados e Escravos No Movimento Abolicionista em SPLuizBalaDEBorrachaWelberAinda não há avaliações
- Celso Furtado - Dialética Do Desenvolvimento (1 Parte) (1964) PDFDocumento44 páginasCelso Furtado - Dialética Do Desenvolvimento (1 Parte) (1964) PDFguilmoura100% (6)
- BLACKBURN, Robin. Depois Da Queda. O Fracasso Do ComunismoDocumento20 páginasBLACKBURN, Robin. Depois Da Queda. O Fracasso Do ComunismoJuliana Bittencourt33% (3)
- As Metamorfoses Do Governo Representativo - Bernard ManinDocumento23 páginasAs Metamorfoses Do Governo Representativo - Bernard ManinMaria Fernanda OliveiraAinda não há avaliações
- Manifesto Dos MineirosDocumento9 páginasManifesto Dos MineirosNi RamalhoAinda não há avaliações
- A Justiça D'além-Mar. Maria Filomena CoelhoDocumento35 páginasA Justiça D'além-Mar. Maria Filomena CoelhoRaíssa ToledoAinda não há avaliações
- ALBUQUERQUE, Walmyra. Resenha Jogo Da Dissimulação. Pós AboliçãoDocumento7 páginasALBUQUERQUE, Walmyra. Resenha Jogo Da Dissimulação. Pós AboliçãoGoshai DaianAinda não há avaliações
- Análise Crítica Do Livro "A Revolução Brasileira" Publicado Caio Prado JúniorDocumento3 páginasAnálise Crítica Do Livro "A Revolução Brasileira" Publicado Caio Prado JúniorRennan SantosAinda não há avaliações
- Uma Literatura Nos Trópicos PDFDocumento216 páginasUma Literatura Nos Trópicos PDFmoyseshootsAinda não há avaliações
- VASCONCELOS, Gilberto. BrizullaDocumento133 páginasVASCONCELOS, Gilberto. BrizullaArtur P. CoelhoAinda não há avaliações
- BODEA, Miguel. 1992. Trabalhismo e Populismo No Rio Grande Do SulDocumento216 páginasBODEA, Miguel. 1992. Trabalhismo e Populismo No Rio Grande Do SulTiago de Moraes Kieffer0% (1)
- Capelato - Multidões em CenaDocumento28 páginasCapelato - Multidões em CenaJoão Pedro MB BimAinda não há avaliações
- Jurandir Malerba - Os Brancos Da Lei - Liberalismo, Escravidao e Mentalidade Patriarcal No Império Do Brasil PDFDocumento193 páginasJurandir Malerba - Os Brancos Da Lei - Liberalismo, Escravidao e Mentalidade Patriarcal No Império Do Brasil PDFCami Poli100% (1)
- Machado Maria Helena o Plano e o Panico Rafael Silva PDFDocumento5 páginasMachado Maria Helena o Plano e o Panico Rafael Silva PDFCarolina FortesAinda não há avaliações
- Ideias em Movimento - Angela AlonsoDocumento5 páginasIdeias em Movimento - Angela AlonsoDiego Ferreira50% (2)
- O avesso da raça: Escravidão, abolicionismo e racismo entre os Estados Unidos e o BrasilNo EverandO avesso da raça: Escravidão, abolicionismo e racismo entre os Estados Unidos e o BrasilAinda não há avaliações
- Da coluna Prestes à queda de Arraes: Memórias PolíticasNo EverandDa coluna Prestes à queda de Arraes: Memórias PolíticasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Cenas Sexuais, Roteiros de Gênero e Sujeitos SexuaisDocumento12 páginasCenas Sexuais, Roteiros de Gênero e Sujeitos SexuaisCarlos Fernando De QuadrosAinda não há avaliações
- Revolução Industrial e Lutas TrabalhistasDocumento12 páginasRevolução Industrial e Lutas TrabalhistasCarlos Fernando De QuadrosAinda não há avaliações
- COHN, Gabriel - O Travo Amargo Da HistóriaDocumento297 páginasCOHN, Gabriel - O Travo Amargo Da HistóriaCarlos Fernando De QuadrosAinda não há avaliações
- Imperialismo e Revolução RussaDocumento2 páginasImperialismo e Revolução RussaCarlos Fernando De QuadrosAinda não há avaliações
- As Lutas Trabalhistas e As Internacionais OperáriasDocumento2 páginasAs Lutas Trabalhistas e As Internacionais OperáriasCarlos Fernando De QuadrosAinda não há avaliações
- ALENCASTRO, Luiz Felipe - Proletários e Escravos Imigrantes Portugueses e Cativos Africanos No Rio de Janeiro, 1850-1872Documento12 páginasALENCASTRO, Luiz Felipe - Proletários e Escravos Imigrantes Portugueses e Cativos Africanos No Rio de Janeiro, 1850-1872Carlos Fernando De QuadrosAinda não há avaliações
- LIMA, Déborah Kelman - O Banquete Espiritual Da Ilustração O Ginásio Da Bahia, Salvador 1895-1942Documento175 páginasLIMA, Déborah Kelman - O Banquete Espiritual Da Ilustração O Ginásio Da Bahia, Salvador 1895-1942Carlos Fernando De QuadrosAinda não há avaliações
- C. Batalha - Os Desafios Atuais Da História Do TrabalhoDocumento18 páginasC. Batalha - Os Desafios Atuais Da História Do TrabalhoCarlos Fernando De QuadrosAinda não há avaliações
- Infiéis Transgressores Os Contrabandistas Da Fronteira (1760 - 1810) - Tiago Luís GilDocumento221 páginasInfiéis Transgressores Os Contrabandistas Da Fronteira (1760 - 1810) - Tiago Luís GilCarlos Fernando De QuadrosAinda não há avaliações