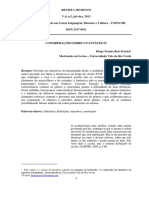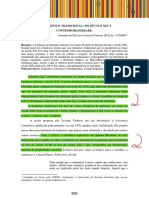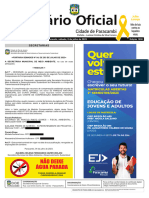Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fantástico e Realismo Maravilhoso
Fantástico e Realismo Maravilhoso
Enviado por
Thays AlbuquerqueDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Fantástico e Realismo Maravilhoso
Fantástico e Realismo Maravilhoso
Enviado por
Thays AlbuquerqueDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Nonada: Letras em Revista
E-ISSN: 2176-9893
nonada@uniritter.edu.br
Laureate International Universities
Brasil
Petrov, Petar
REPRESENTAÇÕES DO INSÓLITO NA FICÇÃO LITERÁRIA: O FANTÁSTICO, O
REALISMO MÁGICO E O REALISMO MARAVILHOSO
Nonada: Letras em Revista, vol. 2, núm. 27, septiembre, 2016, pp. 95-106
Laureate International Universities
Porto Alegre, Brasil
Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512454260009
Como citar este artigo
Número completo
Sistema de Informação Científica
Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal
Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto
REPRESENTAÇÕES DO INSÓLITO NA FICÇÃO
LITERÁRIA: O FANTÁSTICO, O REALISMO MÁGICO
E O REALISMO MARAVILHOSO
REPRESENTATIONS OF THE UNUSUAL IN LITERARY
FICTION: THE FANTASTIC, MAGICAL REALISM AND
MARVELLOUS REALISM
Petar Petrov1
RESUMO: O insólito ficcional é uma categoria comum a vários géneros literários e abrange
uma série de modalidades representativas. Acontece, porém, que muitas leituras de
representações insólitas na prosa de escritores europeus, latino-americanos e africanos
divergem devido à utilização indiscriminada das diferentes modalidades. É o que se
verifica, em especial, com o fantástico, o realismo mágico e o realismo maravilhoso,
tornando-se necessário revisitar a teorização das suas representações.
Palavras-chave: fantástico, realismo mágico, realismo maravilhoso.
ABSTRACT: The unusual in fiction is a category common to several literary genres and
encompasses a series of representational modalities. However, readings of its
representations in the prose fiction of European, Latin-American and African writers
diverge due to the indiscriminate use of different modalities. Such is the case of the
fantastic, magical realism and marvellous realism, imposing a necessary revisitation of
existing theory.
Keywords: the fantastic, magical realism, marvellous realism.
No seu artigo, intitulado “Quando a manifestação do insólito
importa para a crítica literária”, Flavio García, fazendo uma retrospectiva da
utilização do termo insólito em diversos estudos de críticos literários, refere
que o insólito ficcional, em oposição à narrativa realista-naturalista, é uma
categoria comum a vários géneros literários. O conceito abarca uma série de
modalidades representativas, como o maravilhoso, o fantástico, o estranho, o
realismo mágico, o realismo maravilhoso, o realismo animista, o absurdo, o
sobrenatural e “toda uma infinidade de géneros ou subgéneros híbridos em
que a irrupção do inesperado, imprevisível, incomum seja marca distintiva”
(GARCÍA, 2012, p. 14). Acontece, porém, que, em muitos exames de
representações insólitas na prosa de escritores oriundos de quadrantes
geográficos europeus, latino-americanos e africanos, as leituras divergem
devido à utilização indiscriminada das diferentes modalidades. É o que se
1 Doutor em Literatura Comparada (Portuguesa e Brasileira) pela Universidade de Lisboa, é
Professor Associado com Agregação da Universidade do Algarve, onde leciona as disciplinas de
Literatura Portuguesa, Literaturas Estrangeiras de Língua Portuguesa (Brasileira e Africanas) e
Literatura Comparada. E-mail: ppetrov@ualg.pt.
Petrov, P. Representações do insólito na ficção literária: o fantástico, o
96 realismo mágico e o realismo maravilhoso. Nonada: Letras em Revista,
n. 27, vol. 2. Setembro de 2016. pp. 95-106.
verifica, em especial, com o fantástico, o realismo mágico e o realismo
maravilhoso, que se relacionam também com o realismo animista e o real
maravilhoso americano. Perante isto, torna-se necessário revisitar a
teorização das mencionadas representações, no intuito de ficar melhor
esclarecida a problemática objecto da minha atenção.
Assim, o fantástico, definido como género pela crítica francesa ou
como modo pela anglo-saxónica, é uma modalidade representativa, cujo
elemento fundamental é a tematização de fenómenos sobrenaturais. As
reflexões sobre a sua essência datam do século XIX, todavia é nos últimos
decénios que têm surgido importantes estudos para o estabelecimento dos
seus traços distintivos. De um modo geral, a literatura fantástica apresenta-
se como ruptura de uma ordem lógica e racional que estrutura o mundo, por
introduzir um conflito entre duas categorias antagónicas e heterogéneas: a
empírica e a meta-empírica. O conflito processa-se a partir de uma
representação realista e verosímil do universo, cujos contornos são
subvertidos pela radical incompatibilidade de dualidades que são
justapostas. Acontecimentos inadmissíveis ou seres inexplicáveis, na sua
aparência, irrompem num determinado contexto, conotado com um
quotidiano até então supostamente normal. Assim, a primeira característica
representativa é o “surgimento do sobrenatural, mas (...) sempre delimitado,
(...) por múltiplos temas comuns à literatura em geral, que em nada
contradizem as leis da natureza conhecida” (FURTADO, 1980, p. 19). Trata-
se de uma problematização da racionalidade baseada na exploração de
motivos e processos retóricos, próprios de uma tradição cultural, como
fantasmas e demónios, metamorfoses insólitas, violação da causalidade e
desconstrução do espaço e do tempo, entre outros.
Quanto à teorização do fantástico, os inúmeros estudos existentes
sobre a sua essência podem ser agrupados em função de duas orientações: os
que apostam num princípio psicológico e os que tentam estabelecer
categorias gerais e intrínsecas da sua modalidade representativa. Ao primeiro
grupo pertencem as propostas que entendem a fantasticidade como um
modo específico de produzir no receptor determinada inquietação. Charles
Nodin, por exemplo, ainda em 1850, referia os reflexos emocionais que o
fantástico suscita, devido à presença do insólito e do misterioso. Na sua
perspectiva, a justaposição do real e do imaginário provoca perturbação,
explicada como sendo atávica e inconsciente perante o desconhecido
(BESSIÈRE, 1974). Por seu lado, H.P. Lovecraft (1973) procura o critério do
fantástico não na obra mas na experiência particular do leitor durante a
recepção da mensagem. Trata-se de uma reacção de medo, em resultado da
criação de atmosferas específicas impregnadas de elementos meta-empíricos.
Na mesma linha se situa a proposta de Louis Vax, ao insistir no temor sentido
Petrov, P. Representações do insólito na ficção literária: o fantástico, o
97 realismo mágico e o realismo maravilhoso. Nonada: Letras em Revista,
n. 27, vol. 2. Setembro de 2016. pp. 95-106.
pelo narratário quando se apercebe da ameaça que o sobrenatural representa
para o mundo real. O autor considera ainda que o fantástico não elege
entidades do chamado “sobrenatural santificado”, como “Deus, a Virgem, os
santos e os anjos, (…) os génios bons e as fadas boas” (VAX, 1972, p. 15), mas
opta por aspectos contrários, conotados com a demência, a anormalidade e o
diabólico. Assim,
a complacência do fantástico para os valores negativos produz,
além do medo, a reprovação e o nojo, nascidos do «escândalo
moral» que o leitor prova em contato com seres que encarnam as
tendências perversas e homicidas do homem (CHIAMPI, 1980, p.
67).
Recordem-se, a este propósito, as seguintes considerações de Irène
Bassière:
Os temas dos super-homens, dos grandes antepassados, dos
seres vindos de outro lugar, dos monstros, não só traduzem o
medo e o afastamento da autoridade, mas também a fascinação
que exercem e a obediência que suscitam: o insólito expõe a
fragilidade do indivíduo autônomo e o encontro de um mestre
legítimo (apud, GARCÍA, 2013, p. 15).
Como se pode inferir da passagem, a estudiosa francesa privilegia os
efeitos que o relato fantástico produz no receptor da mensagem, destacando,
a par de certas ambiguidades e incertezas, o seu cariz negativo associado ao
medo. Ainda no domínio dos efeitos produzidos pelo fantástico, destaquem-
se os estudos de David Roas, quando entende que a narrativa fantástica
representa:
uma transgressão que ao mesmo tempo provoca o estranhamento
da realidade, que deixa de ser familiar e se transforma em algo
incompreensível e, como tal, ameaçador. E, diretamente ligado a
essa transgressão, a essa ameaça, aparece outro efeito
fundamental do fantástico: o medo (apud GARCÍA, 2013, p. 12)
Deste modo, para Roas, a dimensão do insólito que subjaz ao
fantástico exerce um efeito assustador, porque “O fantástico nos faz perder
o chão a respeito do real. E diante disso não cabe outra reação que não o
medo” (apud GARCÍA, 2013, p. 13). Pode-se afirmar, então, que, segundo as
perspectivas mencionadas, o efeito psicológico produzido pelo fantástico é
de um temor provocado pelo insólito que neutraliza a referencialidade,
inviabilizando a convivência do real e do irreal de forma harmoniosa.
Como representante de uma linha analítica mais objectiva, Tzvetan
Todorov, no seu estudo sobre o género (TODOROV, 1994), procura um
Petrov, P. Representações do insólito na ficção literária: o fantástico, o
98 realismo mágico e o realismo maravilhoso. Nonada: Letras em Revista,
n. 27, vol. 2. Setembro de 2016. pp. 95-106.
critério comum que caracterize as narrativas fantásticas na sua generalidade.
Embora admita que o medo possa estar presente durante a recepção da
literatura fantástica, o estudioso búlgaro considera que esta condição não é
necessária. Assim, em lugar do medo e do horror, favorece a inquietação
intelectual do leitor, quando este é confrontado com um acontecimento
diegético extraordinário. Trata-se de uma “hesitação” perante “um fenómeno
estranho que se pode explicar de duas maneiras, por tipos de causas naturais
ou sobrenaturais” (TODOROV, 1994, p. 26). É precisamente a possibilidade
de hesitação entre as duas explicações que cria o fantástico, cujo efeito tem a
ver com o dilema: aceitar ou recusar as componentes meta-empíricas que o
enunciado propõe. Como o próprio ensaísta afirma:
Num mundo que é bem o nosso, aquele que conhecemos (…), dá-
se um acontecimento que não se pode explicar segundo as leis
desse mesmo mundo familiar. Aquele que se apercebe do
acontecimento deve optar por uma das duas soluções possíveis:
ou se trata de uma ilusão de sentidos, dum produto da
imaginação e as leis do mundo continuam o que são; ou o
acontecimento se produziu de facto, é parte integrante da
realidade, mas essa realidade é regida por leis de nós
desconhecidas (TODOROV, 1994, p. 26).
Deste modo, na perspectiva de Todorov (1994, p. 26), “a hesitação do
leitor é a primeira condição do fantástico”. Por seu lado, a vacilação entre
uma explicação racional ou sobrenatural dos factos narrados instaura a
“ambiguidade”, que necessita de manter-se porque a resolução da crise
aberta pelo fantástico suspende a hesitação, minando o sentimento de
estranhamento e de ambivalência. Para Todorov, o fantástico “define-se pela
percepção ambígua que tem o leitor dos acontecimentos relatados”
(TODOROV, 1994, p. 31). Dito de outro modo:
a narrativa fantástica deverá propiciar através do discurso a
instalação e a permanência da ambiguidade de que vive o género,
nunca evidenciando uma decisão plena entre o que é apresentado
como resultante das leis da natureza e o que surge em
contradição frontal com elas (FURTADO, 1980, p.132).
No que diz respeito ao realismo mágico, a sua característica
fundamental tem a ver com a activação de dimensões sobrenaturais no
contexto de uma realidade empiricamente verificável. O conceito apareceu
pela primeira vez numa monografia da autoria de Franz Roh, em 1925, para
designar a produção pictórica alemã posterior ao expressionismo. O crítico
de arte pretendia definir uma nova categoria estética na qual era visível a
combinação de uma expressão realista com aspectos mágico-simbólicos
fruto da imaginação do pintor. Para Roh, esse realismo conseguia representar
Petrov, P. Representações do insólito na ficção literária: o fantástico, o
99 realismo mágico e o realismo maravilhoso. Nonada: Letras em Revista,
n. 27, vol. 2. Setembro de 2016. pp. 95-106.
a matéria concreta e palpável mediante o recurso ao estranho e ao miraculoso
para evidenciar o mistério subjacente ao real (cf. ROH, 1995). Alguns anos
mais tarde, Massimo Bontempelli utilizou os conceitos de “realismo mágico”
e “realismo místico” para rotular uma estética diferente surgida na pintura
futurista italiana. Tratava-se de uma inovação no domínio das artes plásticas
que procurava explorar outras percepções subjectivas da realidade sem
descurar os aspectos empiricamente verificáveis. Relativamente à literatura,
foi o escritor venezuelano Arturo Uslar Pietri que associou, em 1948, o
realismo mágico à crítica hispano-americana, para se referir a um
determinado tipo de ficção que superara a escola realista-positivista. Na sua
formulação, o novo realismo revelava uma considerável presença de
elementos mágicos e uma manifesta propensão pelo místico e pelo onírico
(cf. CHIAMPI, 1980, pp. 22-23). Na sequência desta constatação, Angel
Flores conseguiu impor, a partir de 1955, a designação para uma corrente
ficcional marcada por uma tendência de “naturalizar o irreal” pela
conjugação do realismo com a fantasia. A convergência dos dois pólos
resultaria das duas orientações da narrativa latino-americana: a realista, de
origem colonial, fixada durante o Classicismo, e a mágica, herdada dos textos
dos cronistas das Descobertas (cf. FLORES, 1995). Na década seguinte,
importa referir a reanálise da literatura hispano-americana feita por Luís
Leal, em 1967, que introduz a ideia de que o realismo mágico representa uma
forma específica de “sobrenaturalização do real”, na qual os eventos fogem a
uma explicação lógica ou psicológica. Todavia, na sua conclusão e como
acontece com alguns dos seus antecessores, a definição continua a considerar
a modalidade estética como resultado do modo de percepção do real por
parte do artista e como produto da captação do “mistério” que o mundo
empírico comporta (cf. LEAL, 1995).
Como se pode inferir do exposto, a teorização do realismo mágico,
entre 1925 e 1967, revela impasses analíticos e conceptuais, com destaque
para a confusão entre abordagens fenomenológicas e ontológicas, bem como
para a indefinição entre a nova modalidade representativa e a categoria do
fantástico na literatura. Somente em 1985, com o estudo da investigadora
canadiana Amaryll Chanady, essa indefinição será resolvida e o realismo
mágico terá a sua melhor definição. Trata-se da sua Tese de Doutoramento
na qual a comparatista, partindo da teoria de Tzvetan Todorov, estabelece as
diferenças entre as duas modalidades representativas. Na sua perspectiva, o
fantástico é um modo narrativo que se caracteriza por três traços distintivos:
- presença de dois níveis de realidade, o natural e o sobrenatural;
- existência de uma antinomia irresolúvel entre os dois níveis que
aparentemente se excluem;
Petrov, P. Representações do insólito na ficção literária: o fantástico, o
100 realismo mágico e o realismo maravilhoso. Nonada: Letras em Revista,
n. 27, vol. 2. Setembro de 2016. pp. 95-106.
- reticência deliberada, por parte do autor, em fornecer
explicações sobre o universo desconcertante representado na
ficção (CHANADY, 1985, p. 16).
O que importa reter do esquema proposto é o conceito de “antinomia
irresolúvel”, que funciona como garante da fastasticidade, ou seja, a presença
em simultâneo de dois códigos distintos, cuja conflitualidade produz a
ambiguidade, a hesitação e a desorientação do leitor. Em seguida, Chanady
aplica a mesma fórmula para definir o realismo mágico mas com uma
diferença: na segunda característica, a antinomia entre o natural e o
sobrenatural surge resolvida à partida, os eventos sobrenaturais são
sistematicamente tratados como sendo naturais. Neste caso, a componente
meta-empírica coincide com a empírica, os dois códigos não são separados
nem hierarquizados, mas pelo contrário, situam-se no mesmo plano,
coexistem, entrelaçam-se e confundem-se. Isto devido à activação da
reticência autoral cujo efeito é naturalizar a cosmovisão estranha, bem como
a atmosfera de incerteza e de mistério apresentadas no texto (cf. CHANADY,
1985, pp. 21-30).
A vantagem do modelo de Chanady torna-se óbvia pelo facto de o
seu estudo partir de um critério do domínio da Narratologia, o que faz com
que o seu esquema possa ser aplicado a qualquer narrativa, seja ela de origem
europeia, americana, africana, etc. Assim, à luz da teoria proposta, o realismo
animista, por exemplo, assemelha-se ao realismo mágico, uma vez que as
duas modalidades representativas exploram dimensões sobrenaturais,
apesar de estas pertencerem a diferentes credos religiosos. Recorde-se que a
expressão realismo animista foi proposta pelo escritor Pepetela e defendida
pelo angolano Henrique Abranches, quando este considera que a conotação
do mágico é insuficiente para abarcar a literariedade das narrativas de origem
africana. Por seu lado, Henry Garuba, teorizando o novo conceito, acha-o
mais apropriado para catalogar a ficção africana, porque esta evidencia a
convivência do imaginário ancestral da cultura tradicional com aspectos da
modernidade. Isto devido ao facto de a cosmovisão do mundo do homem
africano ser essencialmente animista, circunstância que leva o estudioso sul-
africano a tentar justificar uma modalidade representativa diferente das
estabelecidas pela crítica predominantemente eurocêntrica. Daí a possível
constatação: o fantástico estaria para a literatura europeia e ocidental como
o mágico para a latino-americama e o animista para a africana (cf.
PARADISO, 2015).
A meu ver, o realismo animista não é mais do que uma vertente dos
realismos com componentes insólitas; considero a modalidade uma
“africanização” tanto do realismo mágico como do realismo maravilhoso, o
que se verá mais adiante. Isto porque, do ponto de vista estritamente
Petrov, P. Representações do insólito na ficção literária: o fantástico, o
101 realismo mágico e o realismo maravilhoso. Nonada: Letras em Revista,
n. 27, vol. 2. Setembro de 2016. pp. 95-106.
narratológico, os realismos em causa incorporam, a par do empírico, o
prodigioso e o extraordinário que, mesmo originando situações inexplicáveis
do ponto de vista racional, são aceites como fazendo parte integrante das leis
da natureza e contribuem para delinear mundos possíveis e coerentes. Trata-
se de representações nas quais o racional e o irracional não são percebidos
como contraditórios, uma vez que os autores que cultivam os realismos
mágico, animista e maravilhoso conseguem criar discursos específicos para
definir sociedades radicalmente diferentes das ocidentais. Do ponto de vista
pragmático, os leitores não questionam a fiabilidade dos sujeitos de
enunciação porque os critérios da lógica cartesiana não se aplicam às
culturas das comunidades retratadas. Em consequência, o papel do
narratário é tentar compreender o funcionamento de mentalidades que
aceitam a coexistência entre o natural e o sobrenatural de modo pacífico e
harmonioso.
Uma última ressalva: considero difícil aceitar a ideia de que uma
modalidade representativa do domínio do fantástico possa ser empregue
como sinónimo das narrativas mágicas, animistas e maravilhosas e isto pelas
seguintes razões:
- a informação temática dos três realismos, embora admitindo a
existência de elementos sobrenaturais, não introduz categorias de cariz
negativo na sua essência;
- o sistema racional do receptor não é desestabilizado, uma vez que
o insólito surge naturalizado e incorporado pacificamente no real empírico;
- o efeito emotivo de medo produzido pelo fantástico é substituído
por um efeito de encantamento, ou seja, parafraseando Todorov, o leitor não
precisa de ter “sangue-frio” para enfrentar o universo ficcional do mágico, do
animista e do maravilhoso.
O realismo maravilhoso é outra representação da constelação do
insólito, cujo campo semântico é conotado com o extraordinário, termo este
que tem servido para designar a forma primordial do imaginário em obras
literárias de diversos quadrantes culturais. Tradicionalmente, o maravilhoso
prende-se com a intervenção de seres sobrenaturais, divinos ou legendários
e com os efeitos de admiração, surpresa, espanto ou arrebatamento que
provoca no ouvinte ou no leitor. É uma modalidade representativa existente
em todas as épocas históricas e a sua teorização surge pela primeira vez na
Poética de Aristóteles, onde o maravilhoso é relacionado com o irracional do
género épico. O conceito encontra-se igualmente comentado nos tratados
retóricos de quinhentos e seiscentos, embora só no século XX se definam os
seus traços formais nas Formas Simples, de André Jolles e na Morfologia do Conto,
de Vladimir Propp. A reflexão mais recente sobre a sua especificidade deve-
se a Tzvetan Todorov que considera o maravilhoso como género diferente do
Petrov, P. Representações do insólito na ficção literária: o fantástico, o
102 realismo mágico e o realismo maravilhoso. Nonada: Letras em Revista,
n. 27, vol. 2. Setembro de 2016. pp. 95-106.
fantástico, porque os elementos sobrenaturais presentes no relato “não
provocam qualquer reacção especial nem nas personagens nem no leitor
implícito” (TODOROV, 1994, p. 51). Deste modo, “não é uma atitude para
com os acontecimentos narrados que caracteriza o maravilhoso, mas a
própria natureza desses acontecimentos” (1994, p. 51). De facto, nas
narrativas maravilhosas institui-se, à partida, um universo inteiramente
arbitrário e a sua ocorrência, mesmo em franca contradição com as leis
naturais, nunca é questionada, estabelecendo-se “um pacto tácito entre o
narrador e o receptor do enunciado: este deve aceitar todos os fenómenos
nele surgidos de forma apriorística, como dados irrecusáveis e, portanto, não
passíveis de debate sobre a sua natureza e causas” (FURTADO, 1980, p. 35).
Do exposto, é possível inferir que o maravilhoso coincide com o
mágico, ou seja, parece que não existem diferenças entre as duas
modalidades: ambas contestam a disjunção dos elementos contraditórios ou
a irredutibilidade da oposição entre o real e o irreal. Ora, por causa desta
particularidade, Irlemar Chiampi, no seu estudo O Realismo Maravilhoso,
editado em 1980, propõe que o título do seu trabalho, enquanto modalidade
representativa, englobe tanto o realismo mágico, como o real maravilhoso
americano, no sentido de se evitarem equívocos semânticos na
caracterização de uma certa narrativa da América do Sul. Na perspectiva
desta investigadora brasileira:
sendo o novo romance hispano-americano uma expressão
poética do real americano é mais justo nomeá-lo com um termo
afeito, tanto à tradição literária mais recente e influente (o
realismo), como ao sentido que a América impôs ao
conquistador: no momento de seu ingresso na História, a
estranheza e a complexidade do Novo Mundo o levaram a
invocar o atributo maravilhoso para resolver o dilema da
nomeação do que resistia ao código racionalista da cultura
europeia (CHIAMPI, 1980, p.50).
Adianta ainda a ensaísta que os traços distintivos do realismo
maravilhoso, examinados dentro do esquema da comunicação narrativa, no
qual interagem o emissor, o signo, o receptor e o referente, se situam em dois
domínios: no plano das relações pragmáticas e a nível das relações
semânticas. No primeiro caso, a representação produz um “efeito de
encantamento”, pela metonímia que estabelece entre “as lógicas empírica e
meta-empírica do sistema referencial do leitor”, e ensaia uma “enunciação
problematizada”, que engendra um diálogo entre o enunciador e o narratário
(CHIAMPI, 1980, p.157). Por seu lado, do ponto de vista axiológico, o
realismo maravilhoso caracteriza-se pela remissão ao “real maravilhoso”,
“unidade cultural integrada a um sistema de ideologemas do americanismo”
e “pela re-modelização desse significado na sua forma discursiva, através da
Petrov, P. Representações do insólito na ficção literária: o fantástico, o
103 realismo mágico e o realismo maravilhoso. Nonada: Letras em Revista,
n. 27, vol. 2. Setembro de 2016. pp. 95-106.
articulação sêmica, não contraditória, das isotopias natural e sobrenatural”
(CHIAMPI, 1980, p.158). Conclui-se, assim, que os realismos mágico e
maravilhoso são uma única modalidade, uma vez que o segundo comporta
uma “causalidade interna (mágica)” (CHIAMPI, 1980, p.61), cujo
denominador comum pode ser enunciado em termos de “desnaturalização do
real” e “naturalização do maravilhoso” (CHIAMPI, 1980, p. 158).
Todavia, a sobreposição das duas modalidades não é uma questão
pacífica e prova disso é um importante estudo que aponta para a existência
de traços distintivos entre os dois realismos. Trata-se do livro Réalisme
Magique et Réalisme Merveilleux (2005), de Charles W. Scheel, no qual o
ensaísta, baseando-se no esquema de Amaryll Chanady sobre o realismo
mágico, redefine o realismo maravilhoso, entendido como modo narrativo,
cujo funcionamento obedece também a três critérios:
- co-presença na narrativa de um código realista e de um código
de mistério;
- fusão dos dois códigos antinómicos na trama da diegese;
- exaltação de uma voz autoral no discurso da ficção (SCHEEL,
2005, p. 105).
Repare-se que, relativamente ao primeiro critério, Scheel substitui o
código do sobrenatural no realismo mágico pelo de mistério no realismo
maravilhoso, considerando que o novo código comporta uma maior
poeticidade (SCHEEL, 2005, pp. 106-109). No que diz respeito ao segundo
critério, recorde-se que, segundo Chanady, a resolução da antinomia entre os
dois códigos na narrativa mágico-realista processa-se porque o narrador os
trata por igual, sem estabelecer hierarquias, tornando-se possível isolar o
código do sobrenatural do código realista. Ora, para Scheel, no realismo
maravilhoso o real e o maravilhoso formam uma trama indissociável: o código
realista surge reforçado pelo código gerador do mistério, mediatizado este
por uma linguagem poética. Por outras palavras, à construção claramente
bipartida do realismo mágico opõe-se a textura integrada do realismo
maravilhoso (SCHELL, 2005, pp. 110-112). Quanto ao último critério,
assinale-se que, no realismo mágico, o autor do texto se esconde por trás de
um enunciador, sublinhando, assim, a sua reticência em se manifestar. Em
contrapartida, no realismo maravilhoso o autor não está ausente: longe de
assumir um papel objectivo e imparcial, colora constantemente a história e a
sua presença traduz-se na utilização de uma linguagem que tende para o
lirismo. Não se trata de uma mera intrusão autoral, mas de uma exaltação
poética: há um aspecto dinâmico que caracteriza a escrita pela fusão
narrativa do código realista e do código de mistério (SCHELL, 2005, pp. 113-
116).
Petrov, P. Representações do insólito na ficção literária: o fantástico, o
104 realismo mágico e o realismo maravilhoso. Nonada: Letras em Revista,
n. 27, vol. 2. Setembro de 2016. pp. 95-106.
Por fim, algumas considerações são devidas ao chamado real
maravilhoso americano, muitas vezes utilizado como sinónimo do realismo
maravilhoso, questão esta de difícil aceitação. A dificuldade advém da
teorização do conceito e principalmente das ideias defendidas pelo seu
inventor, Alejo Carpentier, que constam de três textos programáticos. O
primeiro é o Prólogo ao seu livro El Reino de Este Mundo (1949), no qual é
fornecida a definição do real maravilhoso, centrada no modo da sua
percepção pelo sujeito. Segundo o escritor cubano, o maravilhoso:
surge de uma inesperada alteração da realidade (o milagre), de
uma revelação privilegiada da realidade, de uma iluminação
inabitual ou singularmente favorecedora das inadvertidas
riquezas da realidade, de uma ampliação das escalas e categorias
da realidade, percebidas com particular intensidade em virtude
de uma exaltação do espírito que o conduz a um modo de «estado
limite» (CARPENTIER, 2004, p. 10, tradução minha).
Deduz-se desta passagem que o maravilhoso é, por um lado, uma
componente da realidade e, por outro, produto de uma percepção
deformadora dessa mesma realidade, o que aponta para a adopção de dois
pontos de vista: o ontológico e o fenomenológico. Daí resulta uma incerteza
quanto ao domínio de aplicação do conceito: ou se trata de uma referência à
realidade cultural específica (própria) do continente, ou a um determinado
estilo de representação. O segundo ensaio, publicado sob o título “De lo real
maravilloso americano”, em 1964, é uma versão aumentada do Prólogo, onde
Carpentier utiliza o conceito num contexto mais alargado, comparando
localidades urbanas e rurais de países europeus e asiáticos com as da América
Latina. O autor constata que é possível encontrar algumas “maravilhas” nos
quadrantes geográficos visitados, porém o real maravilhoso continua a ser
definido como uma qualidade inerente à paisagem do continente americano.
Como consequência, continua a persistir a dúvida sobre se o real maravilhoso
tem a ver com uma cosmovisão específica ou se deve associar a uma estética
representativa (cf. CARPENTIER, 1995a). No terceiro texto, “Lo barroco y
lo real maravilloso”, apresentado em forma de conferência, em 1975, e
publicado em 1987, o escritor considera que a arte americana foi sempre
barroca na sua essência, devido à mestiçagem cultural, e que o barroco
americano nasce do real maravilhoso, distinguindo-se do “realismo mágico”,
formulado por Franz Roh, e do “surrealismo”, teorizado por André Breton.
Conclui assim que o mundo maravilhoso americano é barroco, gerando
necessariamente uma arte barroca, que encontra a sua concretização no novo
romance latino-americano (cf. CARPENTIER, 1995b).
Do meu ponto de vista, as teses de Carpentier evidenciam uma
confusão conceptual entre a essência de uma determinada realidade e a sua
Petrov, P. Representações do insólito na ficção literária: o fantástico, o
105 realismo mágico e o realismo maravilhoso. Nonada: Letras em Revista,
n. 27, vol. 2. Setembro de 2016. pp. 95-106.
mimesis literária. Aparentemente, a definição de real maravilhoso americano
foi criada para designar não um modelo representativo, mas um conjunto de
elementos díspares e heterogéneos, próprios de uma nova realidade, de difícil
explicação segundo os padrões da racionalidade ocidental. Deste modo, a
definição baseia-se na convicção de que a realidade latino-americana é
ontologicamente maravilhosa e é nesta realidade que o artista busca os
objectos e acontecimentos surpreendentes e insólitos. Facilmente se pode
deduzir que a utilização de um critério ontológico para a delimitação de uma
modalidade representativa é, no mínimo, polémico e, do ponto de vista da
teorização literária, destituído de fundamentação científica credível.
Referências
BESSIÈRE, Irène. Le Récit Fantastique. Paris: Larousse, 1974.
CARPENTIER, Alejo. “On the Marvelous Real in America”. In: ZAMORA,
Lois Parkinson, FARIS, Wandy B. (eds.). Magical Realism. Durham &
London: Duke University Press, 1995a. p. 75-88.
CARPENTIER, Alejo. “The Barroque and the Marvelous Real”. In:
ZAMORA, Lois Parkinson, FARIS, Wandy B. (eds.). Magical Realism.
Durham & London: Duke University Press, 1995b. p. 89-108.
CARPENTIER, Alejo. “Prólogo” a El reino de este mundo”. Madrid: Alianza
Editorial, 2004.
CHANADY, Amaryll Béatrice. Magical Realism and the Fantastic. Resolved versus
Unresolved Antinomy. New York and London: Garland Publishing, 1985.
CHIAMPI, Irlemar. O Realismo Maravilhoso. São Paulo: Editora Perspectiva,
1980.
FLORES, Angel. “Magical Realism in Spanish American Fiction”. In:
ZAMORA, Lois Parkinson, FARIS, Wandy B. (eds.). Magical Realism.
Durham and London: Duke University Press, 1995. p. 109-118.
FURTADO, Filipe. A Construção do Fantástico na Narrativa. Lisboa: Livros
Horizonte, 1980.
GARCÍA, Flavio. “Quando a manifestação do insólito importa para a crítica
literária”. In: GARCÍA, Flavio, BATALHA, Maria Cristina (orgs.). Vertentes
Teóricas e Ficcionais do Insólito. Rio de Janeiro: Editora Caetés, 2012. p. 13-29.
GARCÍA, Flavio. “Sem o medo, não há o fantástico. Mas que medo(s)?”. In:
GARCÍA, Flavio, FRANÇA, Júlio, PINTO, Marcelo de Oliviera (orgs.). As
Arquiteturas do Medo e do Insólito Ficcional. Rio de Janeiro: Editora Caetés, 2013. p. 11-
22.
Petrov, P. Representações do insólito na ficção literária: o fantástico, o
106 realismo mágico e o realismo maravilhoso. Nonada: Letras em Revista,
n. 27, vol. 2. Setembro de 2016. pp. 95-106.
LEAL, Luís. “Magical Realism in Spanish American Literature”. In
ZAMORA, Lois Parkinson, FARIS, Wandy B. (eds.). Magical Realism.
Durham & London: Duke University Press, 1995. p. 119-124.
LOVECRAFT, H.P. Supernatural Horror in Literature. New York: Dover
Publications, 1973.
PARADISO, Silvio Ruiz. “Religiosidade na literatura africana: a estética do
realismo animista”. In: Revista Estação Literária. Londrina, Volume 13, p. 268-
281, jan. 2015.
ROH, Franz. “Magic Realism: Post-Expressionism”. In: ZAMORA, Lois
Parkinson, FARIS, Wandy B. (eds.). Magical Realism, Durham & London,
Duke University Press, 1995. p. 15-32.
SHEEL, Charles W. Réalisme Magique et Réalisme Merveilleux. Paris:
l’Harmattan, 2005.
TODOROV, Tzvetan. Introdução à Literatura Fantástica. 2ª ed. São Paulo:
Perspectiva, 1994.
VAX, Louis. A Arte e a Literatura Fantástica, Lisboa: Arcádia, 1972.
Recebido em 18 de 03 de 2016.
Aceito em 05 de 05 de 2016.
Você também pode gostar
- VG TabelaPreços SOBCONSULTADocumento68 páginasVG TabelaPreços SOBCONSULTADavid Santos100% (1)
- ELETRICIDADE BASICO DP UnipDocumento9 páginasELETRICIDADE BASICO DP UnipVictor FerreiraAinda não há avaliações
- Odus e ExplicaçõesDocumento7 páginasOdus e ExplicaçõesMicilda Machado100% (3)
- Traduc3a7c3a3o Permaculture A Designers ManualDocumento13 páginasTraduc3a7c3a3o Permaculture A Designers ManualCentro de MidiaAinda não há avaliações
- Livro Quando Só Deus É A Resposta (Nova Capa)Documento16 páginasLivro Quando Só Deus É A Resposta (Nova Capa)Loja Virtual Canção Nova100% (2)
- Elementos Ficcionais Do Modo Fantástico em Narrativas Espectrais PseudocientíficasDocumento18 páginasElementos Ficcionais Do Modo Fantástico em Narrativas Espectrais PseudocientíficasJemiom TzbahAinda não há avaliações
- A Arte de Escrever - Arthur SchopenhauerDocumento15 páginasA Arte de Escrever - Arthur SchopenhauerMarie CurieAinda não há avaliações
- FACES SOB O VU - Uma Anlise Do Fantstico Na Contstica LygianaDocumento12 páginasFACES SOB O VU - Uma Anlise Do Fantstico Na Contstica LygianaLuciane Alves SantosAinda não há avaliações
- O Insólito Ficcional - GarcíaDocumento9 páginasO Insólito Ficcional - GarcíaThaisa SilvaAinda não há avaliações
- Fantástico PDFDocumento368 páginasFantástico PDFKenedi AzevedoAinda não há avaliações
- Ursa Menor Notas Sobre Ficção Cientifica - Marco Antonio ValentimDocumento35 páginasUrsa Menor Notas Sobre Ficção Cientifica - Marco Antonio ValentimJuliano GomesAinda não há avaliações
- 15 TROVALIN. Larissa Ferreira Prudencio. O Fantastico emDocumento14 páginas15 TROVALIN. Larissa Ferreira Prudencio. O Fantastico emJosé Francisco NunesAinda não há avaliações
- À Noite não Restariam Rosas: A Ameaça Epidêmica em Narrativas VampirescasNo EverandÀ Noite não Restariam Rosas: A Ameaça Epidêmica em Narrativas VampirescasAinda não há avaliações
- A Literatura Fantástica - Um Protocolo de Leitura Maria Cristina BatalhaDocumento8 páginasA Literatura Fantástica - Um Protocolo de Leitura Maria Cristina BatalhaOlga MarinhoAinda não há avaliações
- Niilismo e Estetica de Horror em Lovecraft e NietzscheDocumento11 páginasNiilismo e Estetica de Horror em Lovecraft e NietzscheRoberto GodoyAinda não há avaliações
- Miniconto e Abjecao A Passagem de FronteDocumento23 páginasMiniconto e Abjecao A Passagem de FronteResidência PedagógicaAinda não há avaliações
- Machado Assis e As Causas Ocultas Da CriaçãoDocumento9 páginasMachado Assis e As Causas Ocultas Da CriaçãoMarciano Lopes e SilvaAinda não há avaliações
- CONSIDERAÇÕES SOBRE O FANTÁSTICO - Diogo Nonato Reis Pereira PDFDocumento21 páginasCONSIDERAÇÕES SOBRE O FANTÁSTICO - Diogo Nonato Reis Pereira PDFAline RodriguesAinda não há avaliações
- CESERANI, Remo. O Fantástico.Documento21 páginasCESERANI, Remo. O Fantástico.Giovanna GuimarãesAinda não há avaliações
- Estética e Estilística No Realismo Brasileiro Um Ensaio Sobre o Fantástico em Memórias Póstumas de Brás CubasDocumento18 páginasEstética e Estilística No Realismo Brasileiro Um Ensaio Sobre o Fantástico em Memórias Póstumas de Brás CubasMIGUEL ConTVAinda não há avaliações
- 2655 6360 1 CeDocumento6 páginas2655 6360 1 CeNatália BarudAinda não há avaliações
- Um Estudo Sobre A Literatura GoticaDocumento12 páginasUm Estudo Sobre A Literatura GoticaVictor CamposAinda não há avaliações
- Tematizando o Fantástico No Conto Metzengerstein de Edgar Allan Poe e No Filme de Roger VadimDocumento15 páginasTematizando o Fantástico No Conto Metzengerstein de Edgar Allan Poe e No Filme de Roger Vadimmetallicauricelio100% (1)
- 05 A EscrevivênciaDocumento18 páginas05 A EscrevivênciaTaytianeAinda não há avaliações
- 08 - o SobrenaturalDocumento22 páginas08 - o SobrenaturalTaytianeAinda não há avaliações
- 06 - As VertentesDocumento32 páginas06 - As VertentesTaytianeAinda não há avaliações
- Em busca da Rainha do Ignoto: a mulher e a transgressão no fantásticoNo EverandEm busca da Rainha do Ignoto: a mulher e a transgressão no fantásticoAinda não há avaliações
- Demonologia e Erudição Na Primeira Modernidade: Lendo Tratados Demonológicos (Séculos XV - Xvii)Documento10 páginasDemonologia e Erudição Na Primeira Modernidade: Lendo Tratados Demonológicos (Séculos XV - Xvii)Dimas Catai Jr.Ainda não há avaliações
- A Narrativa Curta de Xose Luis Mendez FerrinDocumento8 páginasA Narrativa Curta de Xose Luis Mendez FerrinNah 101Ainda não há avaliações
- 12 - o Realismo MaravilhosoDocumento39 páginas12 - o Realismo MaravilhosoTaytianeAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento438 páginas1 PBdesusoemAinda não há avaliações
- 01 ApresentaçãoDocumento6 páginas01 ApresentaçãoTaytianeAinda não há avaliações
- Mística e Antimística, Simbolismo e Crítica LiteráriaDocumento20 páginasMística e Antimística, Simbolismo e Crítica LiteráriaMaiara RangelAinda não há avaliações
- Abusões Vol 1 Ano 1Documento237 páginasAbusões Vol 1 Ano 1Marcelo de LimaAinda não há avaliações
- Importância Da Intertextualidade Nas Malhas de o AlienistaDocumento18 páginasImportância Da Intertextualidade Nas Malhas de o AlienistaVictorAinda não há avaliações
- 22437-Texto Do Artigo-57598-1-10-20150319Documento19 páginas22437-Texto Do Artigo-57598-1-10-20150319joaoAinda não há avaliações
- Figuração Insólita de Personagens: Exemplos Nos Casos Do Beco Das Sardinheiras de Mário de CarvalhoDocumento16 páginasFiguração Insólita de Personagens: Exemplos Nos Casos Do Beco Das Sardinheiras de Mário de CarvalhoMarisa HenriquesAinda não há avaliações
- O Fantástico Tradicional: Do Século Xix À ContemporaneidadeDocumento12 páginasO Fantástico Tradicional: Do Século Xix À ContemporaneidadeJoyce MantzosAinda não há avaliações
- O Fantástico Tradicional: Do Século Xix À ContemporaneidadeDocumento12 páginasO Fantástico Tradicional: Do Século Xix À ContemporaneidadeLana PanouAinda não há avaliações
- Mahena Dorea Rodrigues CostaDocumento29 páginasMahena Dorea Rodrigues CostaRafael GawryAinda não há avaliações
- Características Do RealismoDocumento7 páginasCaracterísticas Do RealismomoonsabreAinda não há avaliações
- Garcia Santos Batista Insolito Na Narrativa FiccionalDocumento32 páginasGarcia Santos Batista Insolito Na Narrativa FiccionalRaphaela SilvaAinda não há avaliações
- O Insólito Na Literatura e A Cosmovisão Africana: The Insolite in The Literature and The African WorldviewDocumento12 páginasO Insólito Na Literatura e A Cosmovisão Africana: The Insolite in The Literature and The African WorldviewCarol LimaAinda não há avaliações
- Noemi MOritz Viagem PsicDocumento5 páginasNoemi MOritz Viagem PsicAndrea LombardiAinda não há avaliações
- Admin, 466 BJDDocumento11 páginasAdmin, 466 BJDdigocordeiro22Ainda não há avaliações
- As Metáforas Do FantásticoDocumento7 páginasAs Metáforas Do FantásticoTaïse RochaAinda não há avaliações
- 2586-Texto Do Artigo-4276-1-10-20171221Documento13 páginas2586-Texto Do Artigo-4276-1-10-20171221Meg LunaAinda não há avaliações
- As Concepções Do Realismo Mágico Nos RomancesDocumento15 páginasAs Concepções Do Realismo Mágico Nos RomancesBruno F. PereiraAinda não há avaliações
- Fichamento - Medo de QuêDocumento27 páginasFichamento - Medo de QuêMaria EugêniaAinda não há avaliações
- 1 PB PDFDocumento3 páginas1 PB PDFCaleb BenjamimAinda não há avaliações
- Rosa Gens LiteraturaDocumento9 páginasRosa Gens LiteraturaAdilsonAinda não há avaliações
- O Gato Preto e o Terror...Documento8 páginasO Gato Preto e o Terror...Lana PanouAinda não há avaliações
- Metodologia - Luciano MarcioDocumento14 páginasMetodologia - Luciano MarcioCafa SorridenteAinda não há avaliações
- Diálogo Entre Lovecraft e MachenDocumento26 páginasDiálogo Entre Lovecraft e MachenLuiz SalvianoAinda não há avaliações
- A Psicanalise e Seu DuploDocumento5 páginasA Psicanalise e Seu DuploTarcísio GuedesAinda não há avaliações
- Artigo Sobre 'O Coração Denunciador', de Edgar Allan PoeDocumento14 páginasArtigo Sobre 'O Coração Denunciador', de Edgar Allan PoeJuscelino Alves de Oliveira100% (1)
- 350266-Article Text-504827-1-10-20190207Documento7 páginas350266-Article Text-504827-1-10-20190207Yago Marconcine TrindadeAinda não há avaliações
- O Espaço Do Fantástico Como Leitor Das Diferenças Sociais: Uma Leitura de "O Homem Cuja Orelha Cresceu"Documento14 páginasO Espaço Do Fantástico Como Leitor Das Diferenças Sociais: Uma Leitura de "O Homem Cuja Orelha Cresceu"Italiene Castro100% (1)
- A Função Do Realismo Fantástico Na Literatura Latina A Exemplo Dos Autores Gabriel García Márquez e Jorge AmadoDocumento15 páginasA Função Do Realismo Fantástico Na Literatura Latina A Exemplo Dos Autores Gabriel García Márquez e Jorge AmadoAdeilson MarquesAinda não há avaliações
- Artigo - O NeofantásticoDocumento9 páginasArtigo - O NeofantásticoAlexander Meireles da SilvaAinda não há avaliações
- Selma Calasans RodriguesDocumento4 páginasSelma Calasans RodriguesNelsonsoonAinda não há avaliações
- Natureza Subversiva - o Papel Do Vampiro No Estudo Da Sexualidade em CarmillaDocumento18 páginasNatureza Subversiva - o Papel Do Vampiro No Estudo Da Sexualidade em CarmillaSauloAinda não há avaliações
- 1-5-CANDIDO Antonio - A Literatura e A Formacao Do HomemDocumento10 páginas1-5-CANDIDO Antonio - A Literatura e A Formacao Do HomemMariana TuriniAinda não há avaliações
- Maria Lúcia WiltshireDocumento15 páginasMaria Lúcia WiltshiregeisyydiasAinda não há avaliações
- New Criticism - Aguiar e SilvaDocumento12 páginasNew Criticism - Aguiar e SilvaRaíssa MoraesAinda não há avaliações
- Os Anões - Verônica StiggerDocumento2 páginasOs Anões - Verônica StiggerRaíssa MoraesAinda não há avaliações
- A Personagem Do Romance - Antonio CandidoDocumento114 páginasA Personagem Do Romance - Antonio CandidoRaíssa Moraes100% (1)
- A Ascensão Do RomanceDocumento12 páginasA Ascensão Do RomanceRaíssa MoraesAinda não há avaliações
- Ergonomia SitechDocumento15 páginasErgonomia SitechWilerson VilelaAinda não há avaliações
- Por PDFDocumento62 páginasPor PDFroigerAinda não há avaliações
- Aventuras de PinóquioDocumento38 páginasAventuras de PinóquioConstantino Alves50% (2)
- Breve Antologia de Poesia VisualDocumento24 páginasBreve Antologia de Poesia VisualRubens da CunhaAinda não há avaliações
- Gestão de RotinasDocumento43 páginasGestão de RotinasDaniel Miranda BarbosaAinda não há avaliações
- Diagramas Elétricos - Mundo Da ElétricaDocumento4 páginasDiagramas Elétricos - Mundo Da ElétricaantoniobalanAinda não há avaliações
- DOE - Paracambi.Ed1050 08.07.2023Documento1 páginaDOE - Paracambi.Ed1050 08.07.2023tavernadeferro.rpgAinda não há avaliações
- Entenda, Finalmente, o Significado de 21 Siglas Usadas Nas Redes Sociais - BOL Listas - BOL ListasDocumento8 páginasEntenda, Finalmente, o Significado de 21 Siglas Usadas Nas Redes Sociais - BOL Listas - BOL ListasEdson Das NevesAinda não há avaliações
- Relatorio Aulas Praticas Anatomia UninassauDocumento7 páginasRelatorio Aulas Praticas Anatomia UninassauCibele MacedoAinda não há avaliações
- Experimento - TermoquimicaDocumento3 páginasExperimento - TermoquimicaÉricaAinda não há avaliações
- E-Book 12 Moldes e Aulas Da Bonequeira Profissional-Bonecas Da Drica Adriana SchutzDocumento38 páginasE-Book 12 Moldes e Aulas Da Bonequeira Profissional-Bonecas Da Drica Adriana SchutzFernanda100% (1)
- A Bíblia Do Cético - Absurdos Na BíbliaDocumento30 páginasA Bíblia Do Cético - Absurdos Na BíbliaBeto Milhomem67% (3)
- Vacinação e Vermifugação de Equinos No BrasilDocumento2 páginasVacinação e Vermifugação de Equinos No BrasilLirian Dos Reis FernandesAinda não há avaliações
- Capitulo 21 Gujarati Resumo Parte 1 PDFDocumento13 páginasCapitulo 21 Gujarati Resumo Parte 1 PDFNataliaMarosiAinda não há avaliações
- Parto em Situação de Emergência PDFDocumento28 páginasParto em Situação de Emergência PDFCésar MascarenhaAinda não há avaliações
- Apostila Curso Extensão de CiliosDocumento26 páginasApostila Curso Extensão de Cilioshenrikpatrick31Ainda não há avaliações
- Maquinas Termicas PDFDocumento21 páginasMaquinas Termicas PDFGomes MulattaAinda não há avaliações
- IV Cobem 77 Vol - DDocumento411 páginasIV Cobem 77 Vol - DAlexsandro Cavalcanti de SouzaAinda não há avaliações
- 102355-Texto Completo-178738-2-10-20220525Documento6 páginas102355-Texto Completo-178738-2-10-20220525Amely Degraf TerraAinda não há avaliações
- Alianca Namoro - Pesquisa Google PDFDocumento1 páginaAlianca Namoro - Pesquisa Google PDFBeatryz HernandezAinda não há avaliações
- Dons Espirituais para o CrenteDocumento3 páginasDons Espirituais para o CrenteFernando Augusto RufinoAinda não há avaliações
- O Templo A Igreja o Culto - Paulo BrasilDocumento45 páginasO Templo A Igreja o Culto - Paulo BrasilDario de MatosAinda não há avaliações
- Norma Tecnica NTIP 4 PDFDocumento12 páginasNorma Tecnica NTIP 4 PDFHesddras GomesAinda não há avaliações
- Atividade EnzimáticaDocumento12 páginasAtividade EnzimáticaPauloAinda não há avaliações
- ESTUDO SOBRE SALVAÇÃO - I Pe 12Documento3 páginasESTUDO SOBRE SALVAÇÃO - I Pe 12Jeferson de AndradeAinda não há avaliações