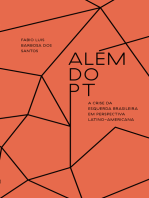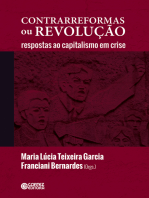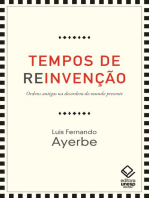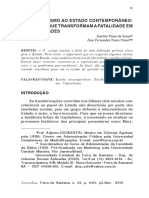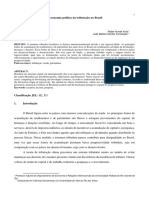Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Capital-imperialismo e apassivamento popular
Enviado por
Andreza Telles0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações12 páginasTítulo original
Capital-imperialismo-e-persuasao-empresarial
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações12 páginasCapital-imperialismo e apassivamento popular
Enviado por
Andreza TellesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
capítulo de livro: FONTES, V. “Capital-imperialismo e persuasão empresarial.
”
In. CONCEIÇÃO, Alexandrina; SOUZA, Raimunda Áurea Dias de (orgas.) O
capital e a ocupação de terras e territórios. São Cristóvão: UFSergipe, 2013,
p.29-51. ISBN – 978-85-7822-369-4
Capital-imperialismo e persuasão empresarial*
Virgínia Fontes**
Este artigo aponta, de maneira sucinta, para um elemento significativo
da adequação ídeo-sócio-política das classes dominantes brasileiras ao
capital-imperialismo, o qual passam a integrar de forma subalterna. Trata-se
da modificação da atuação das entidades organizativas, com forte base
empresarial, no Brasil contemporâneo, com nova ênfase em processos de
persuasão. Não ocorreu uma redução expressiva das práticas coercitivas,
porém generalizou-se um formato de intensa atividade das diferentes
frações burguesas voltada para o convencimento e organização de
diversificados espaços sociais populares. O controle burguês da grande mídia
proprietária segue intacto, mas demonstra não ser mais a única modalidade
de persuasão e de apassivamento utilizadas, mormente sob as condições de
representação eleitoral regular. Esse processo contou com a adesão de
importantes contingentes de militantes originários da esquerda. Esses novos
procedimentos embaralham a aparência das lutas de classes, reduzem o
horizonte de lutas para temas imediatos, banalizam clássicas palavras de
ordem, convertidas em meras intenções declaratórias. A constituição de uma
esquerda voltada para garantir o crescimento do capital (Coelho, 2005), se
coliga com a intensificação de uma atuação organizada por grupos clássicos
da direita, de teor social (Neves, 2005; Martins, 2009). A compreensão da
amplitude desse fenômeno exige nos debruçarmos sobre as transformações
ocorridas no imperialismo ao longo do século XX.
A situação brasileira contemporânea promove perplexidades e suscita
explicações muito variadas. Para os otimistas, atravessamos uma lenta
superação do neoliberalismo, substituído por um neodesenvolvimentismo
que resultaria, enfim, numa sociedade moderna e democrática, em expansão
econômica, capaz de resistir à crise internacional através da produção de
uma nova classe média e do papel de liderança solidária realizada pelos
governos brasileiros, desde Lula da Silva, entre 2003 e 2010 a, atualmente,
Dilma Rousseff, em especial no âmbito do Cone Sul.
Para outros, como Francisco de Oliveira, a situação brasileira se
assemelharia a de um ornitorrinco, animal que expressa um beco sem saída
na evolução das espécies: após anos de luta da classe trabalhadora, em
lugar de transformações substantivas em direção a conquistas sociais
sólidas, os setores populares tiveram sua capacidade organizativa reduzida,
* A pesquisa da qual deriva o artigo contou com o apoio do CNPq e está desenvolvida no
livro O Brasil e o capital-imperialismo. Teoria e História. Rio de janeiro, Eds. da UFRJ e
EPSJV-Fiocruz, 2010.
* * Professora visitante da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio-Fiocruz;
docente do Programa de Pós-Graduação em História da UFF e da Escola Nacional
Florestan Fernandes-ENFF/MST.
enquanto alguns de seus dirigentes se cristalizavam numa posição peculiar,
a de gestores do grande capital financeirizado, através de sua participação
na gestão de faraônicos fundos de pensão de trabalhadores. Oliveira destaca
a existência de um setor industrial completo e a eliminação dos resíduos
pré-capitalistas no campo, procurando alcançar a terceira revolução
industrial (molecular-digital), porém alerta que o endividamento aumenta (a
produção depende cada vez mais de recursos externos) e a dependência se
mantém, pela permanência da cópia, em lugar da produção autônoma de
conhecimento, de ciência e de técnica. Generaliza-se o trabalho abstrato,
lastreado em relações de trabalho 'sem-formas', sem direitos e sem limites
(Oliveira, 2003).
Também com viés crítico, outros analistas insistem no caráter
passadista do processo em curso, que reataria com as dramáticas
características históricas da América Latina através de procedimentos
similares a uma recolonização (dada a extensão da desnacionalização de
grandes setores da economia), ao lado de uma reprimarização da economia,
dado o peso crescente das exportações de produtos agrários e da exploração
desenfreada de recursos naturais (Abramovay, 2011).
Para além das diferenças entre essas interpretações, elas incorporam
uma premissa subjacente, apesar de muitas vezes criticada: a suposição de
que a expansão do capitalismo conteria, como sua condição e resultado, a
melhoria das condições de vida das grandes massas populares e uma certa
autonomização nacional, com uma maior grau de independência e
soberania.
Para os otimistas, esse processo estaria em curso, com o Partido dos
Trabalhadores ocupando a Presidência da República e impondo ao capital
uma nova dinâmica, mais bem sucedida do que a capitaneada pelos próprios
representantes mais diretos das burguesias brasileiras, no plano interno e,
sobretudo, no âmbito das políticas externas, em especial com relação aos
países da América do Sul. Aqui predomina o epíteto “neo”, mesmo se ele
também se agrega a uma formulação não tão otimista, como a da
constituição de um neopopulismo (Singer, 2009).
No que concerne aos críticos, a explicação do retrocesso retoma as
teses clássicas sobre o papel da América Latina, cujo fardo histórico não se
alteraria. A densidade da análise de Oliveira admite que o viés desigual,
combinado e dependente do capitalismo brasileiro conduziu sua expansão a
uma situação inusitada, embora de novo bloqueio, no qual todas as
experiências de luta precedentes quedariam como sem efeito, incapazes de
produzir uma nova hegemonia e subordinadas, agora, à voragem financeira.
Inversamente, aqui predomina o epíteto “re”.
A interpretação que proponho se distancia das precedentes. Em
primeiro lugar, parte do pressuposto de que a dinâmica capitalista, por ser
expansiva, impõe alterações ao conjunto da vida social que exigem
incessantemente formas novas – mesmo se a cada dia socialmente mais
perversas – de fuga para a frente. A expansão da lógica social capitalista não
significa melhoria das condições da vida das diferentes populações, ainda
que possa traduzir-se em consumo de número maior de objetos. A
regressividade social não significa necessariamente passadismo do ponto de
vista do capital. O desenvolvimento do capitalismo pode ocorrer como
resultado das próprias contradições da expansão do capital-imperialismo
internacional, mantendo características fortes de dependência. A nova
escala de concentração precisa assegurar – inclusive com o apoio do Estado
– a extração de valor no interior e no exterior das fronteiras nacionais.
Em segundo lugar, considero que há uma nova hegemonia no Brasil,
de cunho capital-imperialista, expressão da emergência contraditória de
novos países retardatários, forjados no bojo do processo de expansão do
capital nos últimos 60 anos, com forte aceleração nas duas últimas décadas.
Essa hegemonia não debe ser reduzida a um neopopulismo, como uma
relação sem mediações entre liderança política e massa, pois conta com a
atuação de uma extensíssima rede de entidades mercantil-filantrópicas, ao
lado de uma conversão do papel de alguns dirigentes e de grandes
entidades sindicais, tornados parceiros da expansão do capital-imperialismo
no Brasil. O processo de democratização, ocorrido no período da derrocada
da experiência soviética, significou ao mesmo tempo a permanência da
truculência característica das relações sociais brasileiras, agravada pelas
demissões geradas pela reestruturação produtiva, ao lado de uma forte
atuação persuasiva burguesa, sob nova roupagem democrática e
cosmopolita.
Capital-imperialismo e apassivamento popular
Em breves pinceladas, seguem alguns comentários derivados da
análise que desenvolvi em livro recente (Fontes, 2010). Com relação ao
imperialismo, tal como formulado por Lênin, concordamos que se tratou, em
1916, de uma nova forma da reprodução do capital e não apenas de uma
escolha política de dirigentes ou de classes dominantes de alguns países. A
escala de concentração de capitais que propiciou resultou em inflexões no
conjunto das determinações do imperialismo, gerando uma configuração
que, preservando traços anteriores, aproxima-se do formato apresentado por
Marx, ao tratar do momento máximo de concentração de capitais, quando o
próprio capital precisa irracionalmente converter-se em mercadoria (Marx,
1985, esp. L. III, cap. 21). Adotei a expressão capital-imperialismo, pois
permite mais claramente assinalar a imbricação entre os fenômenos
econômicos, políticos e sociais, buscando fugir da suposição de que o
imperialismo seja o fruto apenas de uma política de potência, e que poderia
ser amestrado através de mecanismos jurídicos ou políticos.
No pós-guerra, em razão da nova capacidade destrutiva nuclear, as
guerras entre as grandes potências foram limitadas, deslocando-se os alvos
militares para terceiros países. Desde os primeiros anos da Guerra Fria, a
expansão da acumulação capitalista sob o predomínio estadunidense
envolveu uma crescente associação entre gigantescos proprietários,
traduzido num primeiro momento através das empresas multi ou
transnacionais, que resultaria posteriormente numa superposição entre tais
empresas transnacionais e a constituição de enormes massas monetárias em
busca de valorização. Estas agregam proprietários de procedências diversas,
tanto em termos das atividades de extração de valor, quanto em termos de
origem nacional: o que fora uma 'união íntima' entre grandes industriais e
grandes bancos (o capital financeiro), se converte em fusão pornográfica de
capitais em busca vertiginosa de valorização, qualquer que seja a forma ou o
meio para fazê-lo.
A nova escala de concentração de capitais, sob o predomínio
estadunidense, isolou os países que experimentaram processos
revolucionários através da Guerra Fria e, ao mesmo tempo, gradualmente
aprofundou as modalidades de interconexão entre capitais dos países
imperialistas, tanto a nível econômico (com as empresas multinacionais e,
depois, transnacionais) quanto a nível gerencial, sobretudo através da
instauração de entidades internacionais oficiais (como o Banco Mundial e o
FMI) porém não sujeitas à regras - limitadas - de maioria (como a ONU), mas
a regras de participação acionária ('democracia censitária'). Isso não
significou a redução do papel dos Estados: ao contrário, estes tornaram-se a
forma crucial de encapsulamento político e controle social da massa de
trabalhadores. Para conter a recorrente emergência de lutas de classes, uma
importante rede de atuação cultural, política e ideológica implantou-se nos
países imperialistas, em paralelo às entidades oficiais, sobretudo através de
fundações culturais, nominalmente 'sem fins lucrativos'. Objetivava
exatamente deslocar os conflitos de classe, em âmbitos nacionais e,
sobretudo, internacionais substituindo-os por uma admissão limitada e
controladora das tensões, através de formas de negociação pontuais, caso a
caso. Novamente, se o “modelo” era estadunidense, ao longo dos anos tal
procedimento converteu-se no modus operandi de diferentes burguesias,
como forma de assegurar o predomínio do capital sob instituições
formalmente democráticas.
O sucesso político e ideológico dessas iniciativas abriria
posteriormente a possibilidade de formas de exploração de trabalhadores
empregados por uma miríade de 'entidades sem fins lucrativos', em sua
grande maioria desprovidos de quaisquer direitos (expropriados de direitos),
porém em boa parte recobertos de valores democráticos, agora descarnados
de conteúdo concreto.
O processo de produção econômica internacionalizou-se, pelos
deslocamentos crescentes de massas de capitais de um lado a outro do
planeta, enquanto as lutas populares tiveram paulatinamente sua eficácia
reduzida, tanto pelas novas estratégias burguesas, quanto pela limitação
imposta pela própria internacionalização do capital à capacidade dos
trabalhadores de interromper o processo produtivo atuando apenas no
âmbito nacional. A atuação dos Estados tornava-se a cada dia mais dúplice:
abertos à captação de recursos externos e garantidores da expansão externa
de capitais originados em seu território. No que concerne a força de trabalho,
porém, agiam em sentido contrário à da extensão da socialização dos
processos produtivos e da internacionalização dos mercados, condensando
infra-nacionalmente os temas políticos. A acumulação acelerada de capitais
permitia reduzir tensões derivando-as para a satisfação parcial de alguns
setores, focalizando a atuação política, enquanto o alívio à pobreza deixava
de ser um processo político para generalizar-se como programas pontuais e
transitórios.
Outra característica fundamental do capital-imperialismo é a extensão
sem precedentes históricos das mais variadas formas de expropriação social.
Se a valorização do valor (a extração de mais-valor de trabalhadores livres) é
a própria forma da existência do capital, sua condição é a constituição – e
aumento – permanente dessa base social, os trabalhadores livres. Assim, o
século XX foi o da mais violenta expropriação de camponeses da história,
ocorrida em todos os quadrantes do planeta. Não bastava ao capital, porém,
a brutal separação de longo curso entre os trabalhadores rurais e seus meios
de produção. Nas últimas quatro décadas, mesmo os trabalhadores urbanos,
muitos há várias gerações expropriados da terra, foram – e continuam sendo
– seguidamente redisponibilizados para o mercado. Multiplicaram-se as
formas de expropriação, incidindo sobre os direitos que reduziam a
dependência frente ao mercado, como as aposentadorias, tendo esta
expropriação o duplo intuito de apropriar-se dos fundos monetários
destinados a tal fim. Expropriam-se direitos diretamente ligados ao contrato
de trabalho, como seu próprio envelope jurídico, ampliando-se modalidades
de trabalho francamente desprovidas de direitos. Ao lado do rebaixamento
das condições de existência – e de luta – dos trabalhadores, multiplicam-se
expropriações de elementos vitais para a vida humana, águas, ares,
reprodução das sementes, genes biológicos, inclusive humanos, a par de sua
monopolização.
Longe do fim do trabalho, ocorre a redução de massas cada vez
maiores da população a mera condição de necessitados e disponíveis para o
mercado de trabalho, sob qualquer formato ou tipo de atuação.
O que se convencionou denominar de neoliberalismo é a expressão
mais visível da disseminação do capital-imperialismo, mas o termo me
parece insuficiente para dar conta das dimensões do processo. Seu oportuno
teor denunciativo perde força por admitir uma contraposição a um
capitalismo que poderia ser “civilizado” através do Estado de Bem-Estar
Social, deixando supor a possibilidade de um “retorno” a um capitalismo
menos predatório, com maior teor de intervenção pública do Estado, voltada
para os direitos sociais. Deixa assim de lado o fato de que as chamadas
políticas neoliberais resultam precisamente do crescimento daquele capital-
imperialismo gestado sob as condições da Guerra Fria. A imprecisão do
termo – mesmo se ele assinala fenômenos importantes – se evidencia
também na dificuldade para demarcá-lo, uma vez que mesmo eventuais
crescimentos de políticas sociais do Estado vêm ocorrendo sob o novo
formato capital-imperialista.
O Brasil e o capital-imperialismo
O segundo ponto diz respeito à incorporação retardatária e subalterna
do Brasil no conjunto dos países capital-imperialistas, em especial no que
concerne ao formato da atuação burguesa.
Grandes massas de capitais – em grande parte estadunidenses, mas
também de outras procedências – ao transbordarem de seus países originais,
buscavam não apenas matérias-primas, mas também valorização direta. De
maneira profundamente desigual, devastaram países e regiões do planeta,
saqueando e, contraditoriamente, promovendo diferenciadas modalidades
de expansão da industrialização, do que resultaria modificações substantivas
da vida social em muitos países. A dependência assumia formatos
heterogêneos, dentre os quais a consolidação de burguesias locais em países
secundários, fruto de situações históricas peculiares, cuja subalternidade não
lhes diminui o caráter capitalista (Fernandes, 1975).
Desde a década de 1970 Ruy Mauro Marini assinalava fenômeno
brasileiro que denominou de subimperialismo, levando em consideração o
grau de industrialização, assim como a relativa autonomia do Estado frente a
qualquer fração específica do capital, o que lhe permitia coordenar a
expansão externa, sobretudo para a América do Sul. Naquele momento,
tratava-se principalmente do crescimento da exportação de mercadorias
açambarcando os mercados dos países vizinhos. Para Marini, o
subimperialismo poderia ser explicado a partir de seus traços estruturais,
alicerçados na dependência, o que impunha, para a remuneração simultânea
da burguesia local e das burguesias estrangeiras, uma dilapidação da força
de trabalho local, através da superexploração, ao lado da incapacidade
decorrente em expandir o mercado interno para além do consumo suntuário
de algumas camadas sociais (Marini, 1977).
Nas décadas que nos separam de Marini, houve importante salto no
mercado interno brasileiro, em boa parte apoiado na expansão do crédito
para os setores populares; para além da exportação de mercadorias, a
concentração de capitais com base no Brasil passou a constituir novas
empresas transnacionais, com o apoio inclusive de bancos públicos (como o
BNDES), voltadas para a exploração direta de trabalho e de matérias-primas
em outros países. Assim, ainda que precursora, sua tese não incorpora as
transformações posteriores. Ademais, a suposição de um truncamento
estrutural – e não conjuntural - do valor da força de trabalho deixa supor
uma impotência permanente das lutas de trabalhadores, assim como uma
limitação permanente à extensão do mercado. Ora, tanto as lutas de
trabalhadores quanto a generalização do mercado (apoiado fortemente nas
expropriações dos trabalhadores do campo) tendem a fazer com que os
preços – inclusive da força de trabalho – oscilem em torno a seu valor.
Reconhecendo a importância de Marini e sua instigante análise, não a
adotamos nessa análise.
O conjunto denso de transformações econômicas, sociais e políticas
vividas no Brasil das três últimas décadas conserva similitude com as formas
internas de dominação capital-imperialista. Revela-se crucial procurar
compreender o processo histórico através do qual o desenvolvimento
capitalista ocorre apesar das condições de dependência e ao longo do qual,
malgrado modificações substantivas no conjunto da vida social e política, as
desigualdades sociais perduram e/ou se aprofundam.
A literatura brasileira clássica raramente destacou a precoce rede de
entidades associativas instaurada por diferentes segmentos burgueses no
Brasil e sua constante interconexão com o Estado. Esse tipo de interrogação
surgiu no Brasil sobretudo após uma maior divulgação das obras de Antonio
Gramsci, em especial na década de 1970, que permitiu pesquisas mostrando
que, desde finais do século XIX e, sobretudo, inícios do século XX, apesar de
uma economia dominada pela monocultura, pelo latifúndio e pela
exportação de produtos primários disseminavam-se no país, a partir
inclusive de setores econômicos menos dinâmicos da classe dominante
agrária, entidades associativas empresariais que expressavam
reivindicações diferenciadas com relação aos setores mais dinâmicos (agro-
exportadores). Organizadas em âmbito nacional, tais entidades
pressionavam para modificações no âmbito do Estado, apoiando-se agora
não mais na força direta de cada proprietário, mas na associatividade de
cunho burguês. Houve pois intensa atividade organizativa para a disputa
intra-classe de diferentes setores da classe dominante agrária, procurando
impor formatos aos Estado adequados aos seus interesses. A Sociedade
Nacional de Agricultura-SNA, reunia grandes proprietários de todo o país
voltados para a produção de gêneros destinados prioritariamente ao
mercado interno e, contraposta a ela, a Sociedade Rural Brasileira-SRB
agremiava grandes proprietários paulistas, fundamentalmente cafeicultores
voltados para a exportação e com alta base tecnológica. Constituíram-se em
efetivos aparelhos privados de hegemonia, consolidando extensas redes
nacionais, com atuação técnica, política e ideológica, disseminadas através
de publicações próprias que difundiam suas pautas políticas. Posteriormente,
cada uma conseguiria implantar uma formação científica especifica para
suas exigências, através de instituições superiores públicas, como a Escola
Superior de Agronomia e Medicina Veterinária, no Rio, e a Escola Superior de
Agronomia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, São Paulo (Mendonça, 1997 e
1998).
A contraposição entre as duas agremiações, SNA e SRB, e seus efeitos
sobre o Estado, atravessou quase todo o século XX, reduzindo-se apenas na
década de 1990, quando nova entidade, a ABAG-Associação Brasileira do
Agronegócio e, em seguida, a OCB – Organização das Cooperativas
Brasileiras – dominadas pelos grandes monopólios do agronegócio, mas
procurando 'democraticamente' agregar também médios proprietários –
passaram a predominar sobre as demais.
Longe de uma história linear e sem mediações, a disputa travada entre
elas integrou a expansão das fronteiras da acumulação de capitais,
coligando diferentes formatos de industrialização sem ruptura entre o setor
agrário e o setor urbano-industrial. A esse formato “moderno” de
organização burguesa, através do qual o Estado tende a se ampliar,
abarcando entidades da sociedade civil correspondia a mais extrema
truculência frente às tentativas de organização popular: essa ampliação era
extremamente seletiva, incorporando as entidades patronais e
criminalizando as associações populares. Se o setor agrário é o mais
supreendente, a construção de aparelhos privados de hegemonia burgueses
atingia diversos setores, inclusive industriais e comerciais. Vale mencionar o
papel da atividade burguesa no adestramento da força de trabalho, através
do sistema S (inicialmente, Sesi, Sesc e Senai), instituído em 1942.
A truculenta seletividade do Estado teria alguns curtos períodos de
alívio, resultando da emergência de lutas populares. Um desses períodos
ocorreu entre 1930 e 1935, logo seguido por feroz ditadura que impôs uma
legislação de subordinação sindical (corporativismo). Enquanto o Estado
fingia não perceber a dupla representatividade empresarial (a corporativa e
a autônoma) ao longo de todo o período 1946-64 (LEOPOLDI, 2000), reprimia
duramente qualquer formato autônomo de representação dos trabalhadores.
A partir dos anos 1950, disseminava-se a implantação de entidades
associativas empresariais especializadas, de abrangência territorial nacional
(Cf. DINIZ, 1978; BOSCHI, 1979; BOSCHI, DINIZ & SANTOS, 2000; DINIZ &
BOSCHI, 2004).
Apesar da contínua repressão sobre formas autônomas de organização
popular (MATTOS, 2003), as lutas sociais, operárias e camponesas se
expandiram nas décadas de 1950 e 1960. O golpe de Estado de 1964,
embora desfechado por militares, resultou de intensa organização de
entidades associativas empresariais e patronais reunidas em torno do
IPES/IBAD (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais/Instituto Brasileiro de
Ação Democrática). Ali se agregaram entidades organizativas brasileiras,
com recursos empresariais, de diferentes portes e origens regionais,
imbricando-se com segmentos do Estado (sobretudo militares da Escola
Superior de Guerra-ESG) e com a intervenção externa, através do apoio de
diversas entidades estadunidenses (privadas e/ou governamentais) por elas
convocadas para a sustentação de uma quartelada objetivando a destruição
sistemática das entidades populares e das conquistas democráticas que
procuravam empreender no âmbito do Estado.
Uma Revolução na Ordem, como caracterizou Florestan Fernandes
(1975), que assegurasse um teor de incorporação democrático compatível
com a complexificação da sociedade brasileira de então foi destroçada pelo
golpe de Estado civil-militar de 1964. A truculência ditatorial seria
insuficiente para conter, em médio prazo, a expressão sociopolítica que
resultava do crescimento acelerado de uma classe trabalhadora urbana
diversificada, impulsionada pela monopolização da economia e pela
continuidade da expropriação rural, aprofundada agora por políticas
agressivas de abertura e adentramento das fronteiras rurais, escancaradas
ao grande capital sobretudo a partir dos anos 1970. Fomentavam-se as
condições para a propulsão monopolista do capital no país, pela abertura da
economia para a participação ainda maior de capitais estrangeiros,
consolidando o famoso tripé (estado-grandes multinacionais-grandes
empresas nacionais). Adubava-se um sistema financeiro, capturando
recursos dos trabalhadores através do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço; realizaram-se gigantescas obras de infra-estrutura e de suporte ao
grande capital, que se aproveitou da enorme mobilidade territorial dos
trabalhadores, politicamente jugulados.
Expandiam-se e especializavam-se ainda mais as entidades
associativas de cunho empresarial, respondendo aos interesses de enorme
quantidade de setores e, em muitos casos, agregando associados brasileiros
e representantes das empresas estrangeiras aqui implantadas. O Estado
ditatorial seguia abrindo espaços para a incorporação dessa seletiva mas
diversificada sociedade civil, agregadora de interesses corporativos, cuja
unificação se dava em torno da dominação de classes.
No bojo das tensões democratizantes, conflitos internos eclodiriam
entre os setores dominantes, levando à constituição, na década de 1990, de
novos formatos associativos burgueses, como o Pensamento Nacional das
Bases Empresariais-PNBE, que procuravam renovar a imagem empresarial e
associá-la á democracia e aos reclamos sociais. Posteriormente essa
entidade se reintegraria à FIESP (BIANCHI, 2001).
Irresolvidas nos períodos precedentes, as reivindicações
democratizantes reapareceriam na década de 1970/80, com um perfil bem
mais robusto e complexo. O processo seria bem mais tortuoso para sua
contenção, exigindo novos formatos políticos. Apesar da permanência da
repressão policial e militar, disseminavam-se inúmeras formas associativas
populares, rapidamente imantadas em torno da criação do Partido dos
Trabalhadores-PT, da Central Única dos Trabalhadores-CUT e do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST, todos nos primeiros anos da
década de 1980. Tais entidades populares se enraizavam agora
geograficamente em todo o território nacional e traduziam novo patamar
atingido pelas lutas populares.
A estratégia burguesa procuraria adiar e empalidecer as reivindicações
populares, mas para fazê-lo dependia de enorme salto para a frente na
acumulação de capitais, dando-lhe fôlego econômico para uma incorporação,
mesmo minorada, de tais demandas. Este novo salto de fuga para a frente
se traduziria pelo aprofundamento da concentração, construindo as bases
para uma efetiva transnacionalização de empresas brasileiras e por uma
nova persuasão burguesa maquiada de democracia.
A principal inflexão nas lutas sociais dos anos 80 – e sua derrota
principal – não decorreria da imposição de mais uma ditadura, mas da
transfiguração da democracia, logo em seguida à promulgação da
Constituição de 1988. Recomeçaria um longo e doloroso período de
expropriações de recém conquistados direitos (através das reestruturações,
do desemprego, de grandes planos de demissões e da preparação das
privatizações, típicos do neoliberalismo), porém agora sob o formato
parlamentar, cujo manto legitimava a retirada de direitos sob a normalidade
eleitoral democrática.
A amplitude e variedade dos interesses e a intrincada rede de
entidades associativas burguesas de cunho corporativo gerava, certamente,
conflitos mais evidentes, mas também resultava numa multifacetada gama
de articulações, entidades e de foros internos de deliberação. Sem perda de
centralidade das entidades mais direcionadas para interesses imediatos,
ampliava-se a formação de associações patronais voltadas doravante para o
âmbitos mais amplos. Elas passariam a admitir a legitimidade das tensões
sociais e atuariam para domesticar as lutas populares tanto através de
novas formulações, quanto pelo apoio a projetos marcados pelo referencial
da 'cidadania', com novas estratégias de 'gestão de conflitos' (FIESP, 1990).
O novo tipo de enquadramento social se afigura como uma expressões mais
claras da possibilidade e da necessidade burguesas da estabilização de um
formato político de tipo democrático-representativo, no mesmo período em
que atuou ferozmente para reforçar a concentração de capitais, inclusive
através de privatizações, das quais alguns setores burgueses brasileiros
foram beneficiários diretos.
Na década de 1990, no contexto de importantes reivindicações
populares, um fenômeno característico de setores médios desempenharia
relevante papel. Multiplicou-se uma estratégia de conversão mercantil-
filantrópica das embrionárias formas associativas populares. Ela consistia em
fundar entidades voltadas para apoiar reivindicações específicas ou vagos
anseios populares e, afirmando seu apoliticismo nas intervenções sociais,
capturar recursos das mais variadas procedências, externas e internas. A
jovem militância em constituição se descaracterizava, tornando-se profissão
mal remunerada e supostamente apolítica; os jovens intelectuais recém
diplomados ali exerciam seu aprendizado de liderança democrática em troca
de salários bastante razoáveis em tempos de desemprego. Tais entidades
tornavam-se defensoras de 'pobres específicos' ou de 'opressões
específicas', porém, longe de atacar as razões da produção de tais
especificidades, passariam a endossar um discurso vago, pautado por uma
espécie de pobretologia, que fazia desaparecer as clivagens de classes sob
mirabolantes estatísticas do número de miseráveis e do quantum de
escassez para definir 'linhas de pobreza'. Conviviam setores sociais – e
populares – que procuravam se auto-organizar contra diferentes formas de
discriminação com um novo formato associativo, cujo caráter gerencial em
breve se revelaria.
Algumas dessas entidades associativas se auto-denominavam
Organizações Não-Governamentais (ONGs), termo que entrava então na
moda, logo em seguida acrescido do rótulo mais difundido, o de 'sociedade
civil organizada'. Ambas as categorias exibiam sem problemas maiores sua
estreita vinculação com uma visão de mundo liberal: o termo ONG supõe de
forma imediata que o Estado se contrapõe à sociedade; no caso da categoria
'sociedade civil', estas entidades eram idealizadas como se fossem imunes
(por serem não-lucrativas) às contaminações do mercado ou do Estado.
Como se observa, tal caracterização passa a léguas de distância da refinada
conceituação de Antonio Gramsci, para quem a sociedade civil, composta
por aparelhos privados de hegemonia, integra o Estado, sendo espaço
organizativo e formador de consciência social para diferentes visões de
mundo. Forma organizativa da sociedade capitalista, a sociedade civil é para
Gramsci espaço privilegiado de lutas de classes. A atuação mercantil-
filantrópica tornar-se-ia uma forma recorrente de tentar converter luta
popular em adequação às novas formas políticas do capital-imperialismo.
Essas entidades argumentavam com os termos clássicos da esquerda,
mas reforçavam as práticas da direita (ARANTES, 2000). Não há
levantamentos precisos anteriores ao século XXI, mas pode-se estimar que,
até 1980, haveria em torno de 34.000 entidades sem fins lucrativos. Esses
números saltam para 275.000 entidades em 2002, atingindo, em 2005, a
cifra de 338.162 entidades, as quais empregavam 1.709.156 trabalhadores
(BRASIL, 2006), traduzindo um crescente direcionamento empresarial dessas
entidades.
Outro traço da nova estratégia burguesa seria o apoio empresarial à
criação em 1991 de outra Central Sindical – a Força Sindical - voltada para a
conciliação entre capital e trabalho e para resultados imediatos (Giannotti,
2002). A introdução dessa cunha no movimento sindical foi fundamental
para os passos seguintes, através dos quais a CUT seria crescentemente
neutralizada através de dois movimentos: por sua adesão aos princípios de
uma pobretologia cidadã e por sua participação subalterna em agências do
Estado, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de assentos em
conselhos de gestão de fundos de pensão.
Essa mesma década ainda assistiria a uma situação insólita: a
presença de lideranças sindicais da mesma central (CUT) nas manifestações
de repúdio à privatização, enquanto outros integrantes atuavam como
partícipes compradores de leilões privatizantes, integrando os conselhos
dirigentes dos Fundos de Pensão, instituídos principalmente para
trabalhadores do setor público.
Se o novo padrão econômico, social e político capital-imperialista se
tornava mais explícito em finais da década de 1990, já compunha o espectro
brasileiro anteriormente. Desde 1977, a revista Visão – expressando
interesses de certas frações da classe dominante – empreendeu campanha
pela transformação das fundações de seguridade em fundos de pensão
segundo o modelo norteamericano, o que ocorreu em 1979, explicitamente
sugerindo sua conversão em base para a expansão do mercado de capitais e
defendendo uma nova forma de relacionamento 'democrático' entre o capital
e os trabalhadores detentores de parcelas de tais fundos. As condições
ditatoriais ainda vigentes suscitavam, porém, excessiva desconfiança dos
trabalhadores, inviabilizando a plena mobilização de tais recursos
(GRANEMAN, 2006). Capturar tais massas de recursos, como se pode
imaginar, envolvia um novo modus operandi, tanto do conjunto da classe
dominante, quanto do próprio Estado. Não se tratava mais de lutar contra a
gestão desses fundos por representantes de assalariados (seus supostos
'proprietários'), mas de convertê-los em 'parceiros' na acumulação e
valorização do capital, seduzindo-os pelo atributo direto do capital, isto é, a
lucratividade.
Combinou-se, no Brasil, a truculência tradicional da maneira de lidar
com setores subalternos, e o convencimento, tão mais fácil de exercer
quanto mais fragilizados estivessem os trabalhadores. Pela persuasão,
faziam seu ingresso no cotidiano da política brasileira os argumentos
democratizantes com base na rentabilidade 'partilhada'. Pela truculência,
através do esmagamento emblemático das greves de Volta Redonda, em
1989, ainda no governo Sarney, quando o Exército assassinou barbaramente
três trabalhadores, e da Petrobrás, em 1995, no governo Fernando Henrique
Cardoso, quando, também com o recurso ao Exército, intentou-se a
castração, por longo tempo, do sindicato dos petroleiros; além de
assassinatos recorrentes de militantes do MST, em luta pela reforma agrária.
Em seguida, por uma certa judicialização da política, acoplada à
criminalização das formas de contestação que não se dobram à nova
estrutura de persuasão.
A vitória de Lula da Silva traria nova legitimidade para a utilização do
mesmo mix truculência/sedução, aprofundando o papel de alavanca dos
fundos de pensão e dos fundos de investimento (investidores institucionais)
para a concentração de capitais, concluindo-se a desfiguração de
significativos segmentos do movimento sindical no Brasil. Os fundos de
pensão, tendo muitas vezes como gestores antigos dirigentes sindicais,
converteram-se em controladores de empresas, em impulsionadores da
centralização e concentração de capitais no país, com seus ativos atingindo
17% do PIB em 2005 (GRANEMAN, 2006:37).
Essas foram as condições que correspondem internamente e
impulsionam externamente a expansão da internacionalização de capitais
brasileiros. Para compreender essa direita cuja nova cara atualiza velhas
tradições, precisamos manter a clara referência às formas de reprodução do
capital e do apassivamento dos trabalhadores.
ABRAMOVAY, Ricardo. Deitada em berço primário. In:
http://pagina22.com.br/index.php/2011/11/deitada-em-berco-primario/,
acesso em 08/11/2011).
ARANTES, P. Esquerda e direita no espelho das ONGs. Cadernos Abong, n. 27,
maio 2000.
BIANCHI, A. Hegemonia em construção: a trajetória do PNBE. São Paulo:
Xamã, 2001.
BOSCHI, R. R. Elites industriais e democracia. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
BOSCHI, R. R.; DINIZ, E. & SANTOS, F. Elites políticas e econômicas no Brasil
contemporâneo. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000.
BRASIL. As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil.
IBGE, IPEA, GIFE, ABONG. Rio de Janeiro: IBGE, 2006.
COELHO NETO, E. T. Uma esquerda para o capital: crise do marxismo e
mudanças nos projetos políticos dos grupos dirigentes do PT (1979- 1998).
Tese de Doutorado em História, Niterói: Universidade Federal Fluminense,
2005.
DINIZ, E. Empresário, Estado e capitalismo no Brasil: 1930-45. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1978.
DINIZ, E. & BOSCHI, R. R. Empresários, interesses e mercado. Belo Horizonte-
Rio de Janeiro: Editora UFMG-Iuperj, 2004.
FERNANDES, F. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação
sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (FIESP). Livre para
crescer. São Paulo: Cultura, 1990.
FONTES, Virgínia. O Brasil e o capital-imperialismo. Teoria e História. Rio, Ed.
UFRJ e Ed. EPSJV-Fiocruz, 2010.
GRANEMAN, S. Para uma interpretação marxista da ‘previdência privada’.
Tese de Doutorado, Rio de Janeiro: Escola de Serviço Social, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, 2006.
LEOPOLDI, M. A. Política e interesses na industrialização brasileira. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2000.
MARINI, Ruy Mauro. La acumulación capitalista mundial y el subimperialismo.
Cuadernos Políticos, n. 12, 1977. Disponível em: <www.marini-
escritos.unam.mx>. Acesso em: 30 jun. 2009.
MARTINS, A. S. A direita para o social: a educação da sociabilidade no
Brasil contemporâneo. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2009.
MARX, Karl. O capital. São Paulo: Nova Cultural, 2. ed., 1985.
de Janeiro, 2000.
MATTOS, Marcelo B. (coord). Greves e repressão policial ao sindicalismo
carioca. Rio de Janeiro: Faperj-Arquivo Público, 2003.
MENDONÇA, Sonia R. O ruralismo brasileiro. São Paulo: Hucitec, 1997.
MENDONÇA, Sonia R. Agronomia e poder no Brasil. Niterói: Vício de Leitura,
1998.
NEVES, L. M. W. (org.). A nova pedagogia da hegemonia: estratégias
burguesas para educar o consenso. São Paulo: Xamã, 2005.
Oliveira, Francisco. O Ornitorrinco. SP, Boitempo, 2003
SINGER, André. Raízes sociais e ideológicas do lulismo. Novos Estudos. n. 85.
SP, 2009.
Você também pode gostar
- Além do PT: A crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-americanaNo EverandAlém do PT: A crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-americanaAinda não há avaliações
- Contrarreformas ou revolução: respostas ao capitalismo em criseNo EverandContrarreformas ou revolução: respostas ao capitalismo em criseAinda não há avaliações
- Análise dos projetos de desenvolvimento brasileiro à luz da geopolítica do capitalismoDocumento3 páginasAnálise dos projetos de desenvolvimento brasileiro à luz da geopolítica do capitalismoFausto CafezeiroAinda não há avaliações
- A Criminalização Político-ideológica da Esquerda: uma explicação crítica para o recente caso brasileiroNo EverandA Criminalização Político-ideológica da Esquerda: uma explicação crítica para o recente caso brasileiroAinda não há avaliações
- 505-Texto Do Artigo-1652-1-10-20181010Documento22 páginas505-Texto Do Artigo-1652-1-10-20181010KALLYNNE GUIMARAES DA SILVAAinda não há avaliações
- Tempos de reinvenção: Ordens antigas na desordem do mundo presenteNo EverandTempos de reinvenção: Ordens antigas na desordem do mundo presenteAinda não há avaliações
- Texto 03Documento10 páginasTexto 03Gustavo DouglasAinda não há avaliações
- Neoliberalismo, Neodesenvolvimentismo, Socialismo, De: Claudio KatzDocumento12 páginasNeoliberalismo, Neodesenvolvimentismo, Socialismo, De: Claudio KatzEduardo Pedroni BarelAinda não há avaliações
- A razão neoliberal: Economias barrocas e pragmática popularNo EverandA razão neoliberal: Economias barrocas e pragmática popularAinda não há avaliações
- Capitalismo Monopolista No Brasil - Natalia Cabau SevesDocumento12 páginasCapitalismo Monopolista No Brasil - Natalia Cabau SevesprivattinataliaAinda não há avaliações
- John Holloway: Regime de Acumulação Integral e o debate sobre como mudar o mundo sem tomar o poderNo EverandJohn Holloway: Regime de Acumulação Integral e o debate sobre como mudar o mundo sem tomar o poderAinda não há avaliações
- Ekeys, Imperialismo e Questão Agrária No Brasil Ilusões Desenvolvimentistas e Dominação Externa Por DentroDocumento17 páginasEkeys, Imperialismo e Questão Agrária No Brasil Ilusões Desenvolvimentistas e Dominação Externa Por DentroIsabela TroyoAinda não há avaliações
- A ditadura e a cultura no BrasilDocumento2 páginasA ditadura e a cultura no BrasilWALTER30Ainda não há avaliações
- Uma proposta de matriz metodológica para os estudos descoloniaisDocumento22 páginasUma proposta de matriz metodológica para os estudos descoloniaisDanilla AguiarAinda não há avaliações
- Soberania e globalização: reflexões sobre um aparente antagonismoDocumento20 páginasSoberania e globalização: reflexões sobre um aparente antagonismoRoni M MatosAinda não há avaliações
- Ressenha analisa livro sobre crise financeira e poder econômicoDocumento6 páginasRessenha analisa livro sobre crise financeira e poder econômicoCaio MatosAinda não há avaliações
- BRESSER-PEREIRA e CICERO - Capitalismo-Neoliberal-CiceroDocumento29 páginasBRESSER-PEREIRA e CICERO - Capitalismo-Neoliberal-CiceroPedro Paulo CoelhoAinda não há avaliações
- A Questãfo Social No Capitalismo - M. Iamamoto (8 P.)Documento8 páginasA Questãfo Social No Capitalismo - M. Iamamoto (8 P.)Renata BicalhoAinda não há avaliações
- Neoliberalismo, Estado e a Crise Estrutural do CapitalismoDocumento13 páginasNeoliberalismo, Estado e a Crise Estrutural do CapitalismoJúlia TaemintAinda não há avaliações
- FONTES, Virgínia. BRICS e Capital-Imperialismo - Novas Contradições em DebateDocumento23 páginasFONTES, Virgínia. BRICS e Capital-Imperialismo - Novas Contradições em DebateBruna MarquesAinda não há avaliações
- EXTRA - 06 - FERNANDES - Reflexões Sobre As RevDocumento36 páginasEXTRA - 06 - FERNANDES - Reflexões Sobre As Revufrr2comando2de2grevAinda não há avaliações
- Formação Social Contemporânea do Brasil: desenvolvimentismo, lulismo e bloco político-socialNo EverandFormação Social Contemporânea do Brasil: desenvolvimentismo, lulismo e bloco político-socialAinda não há avaliações
- SOUZA, Joselito Viana de VIANA, Ilma Fernandes Tosca - Do - Liberalismo - Ao - Estado - ContemporaneoDocumento17 páginasSOUZA, Joselito Viana de VIANA, Ilma Fernandes Tosca - Do - Liberalismo - Ao - Estado - ContemporaneoRodrigo de Melo MachadoAinda não há avaliações
- A Crise e os Limites Históricos do Capitalismo:: O Lugar das Políticas Sociais no Torvelinho Potencial da Crise BrasileiraNo EverandA Crise e os Limites Históricos do Capitalismo:: O Lugar das Políticas Sociais no Torvelinho Potencial da Crise BrasileiraAinda não há avaliações
- Marcos PansardiDocumento10 páginasMarcos PansardiMazimba BrasilAinda não há avaliações
- 01 - AcostaDocumento25 páginas01 - AcostaFotocopiadora CecsoAinda não há avaliações
- RESUMO Ditadura e Serviço Sociall, J.P. NETTODocumento7 páginasRESUMO Ditadura e Serviço Sociall, J.P. NETTOCarla Allmeida94% (18)
- PSOL CONTINUAR NECESSÁRIODocumento20 páginasPSOL CONTINUAR NECESSÁRIOGermanoAinda não há avaliações
- A política brasileira no século XXI: uma opinião outraNo EverandA política brasileira no século XXI: uma opinião outraAinda não há avaliações
- O Populismo e As Ciências Sociais No Brasil - FichamentoDocumento3 páginasO Populismo e As Ciências Sociais No Brasil - FichamentoSarah BeatrizAinda não há avaliações
- A Revolução Burguesa no Brasil segundo Florestan FernandesDocumento3 páginasA Revolução Burguesa no Brasil segundo Florestan FernandesTHIAGO DA SILVA MENDESAinda não há avaliações
- Populismo X Trabalhismo (Atividade)Documento3 páginasPopulismo X Trabalhismo (Atividade)Adrian MarceloAinda não há avaliações
- ARQUIVO MathiasLuceArtigoAnpuhFinalDocumento15 páginasARQUIVO MathiasLuceArtigoAnpuhFinalFare NienteAinda não há avaliações
- História do Plano Real e o neoliberalismoDocumento24 páginasHistória do Plano Real e o neoliberalismoRoberval Lacerda100% (2)
- Modelos de Estado DesenvolvimentistaDocumento26 páginasModelos de Estado DesenvolvimentistaMoa HeimannAinda não há avaliações
- A Revolução Burguesa No BrasilDocumento7 páginasA Revolução Burguesa No BrasilLuiz MatiasAinda não há avaliações
- P2 História Da América II - Thaianne de SouzaDocumento5 páginasP2 História Da América II - Thaianne de SouzapaolaestaciodesaAinda não há avaliações
- A Hipótese da Revolução Progressiva: Uma abordagem pós-gramsciana da transição ao socialismoNo EverandA Hipótese da Revolução Progressiva: Uma abordagem pós-gramsciana da transição ao socialismoAinda não há avaliações
- Anteparo à educação-mercadoria: a década de 1980 como preparação à internacionalização do ensino superior no BrasilNo EverandAnteparo à educação-mercadoria: a década de 1980 como preparação à internacionalização do ensino superior no BrasilAinda não há avaliações
- Democracia cosmopolita: déficits conceituais e equívocos políticosDocumento15 páginasDemocracia cosmopolita: déficits conceituais e equívocos políticosJoão Paulo GodoyAinda não há avaliações
- Teoria da Regulação e mudanças globaisDocumento23 páginasTeoria da Regulação e mudanças globaisPatrícia Vieira TrópiaAinda não há avaliações
- 1307 6139 1 PBDocumento14 páginas1307 6139 1 PBTaina FerreiraAinda não há avaliações
- Modo de vida imperial: sobre a exploração de seres humanos e da natureza no capitalismo globalNo EverandModo de vida imperial: sobre a exploração de seres humanos e da natureza no capitalismo globalNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Capital-Imperialismo - FONTES, V. Intro e Cap. 1Documento9 páginasCapital-Imperialismo - FONTES, V. Intro e Cap. 1Elis LemosAinda não há avaliações
- O Estado fraco e o pacto excludente do desenvolvimentismo brasileiroDocumento20 páginasO Estado fraco e o pacto excludente do desenvolvimentismo brasileiroSharon S Rivera CaldeiraAinda não há avaliações
- O médico e o monstro: uma leitura do progressismo latino-americano e seus opostosNo EverandO médico e o monstro: uma leitura do progressismo latino-americano e seus opostosAinda não há avaliações
- Do colonialismo à colonialidade na apropriação da naturezaDocumento16 páginasDo colonialismo à colonialidade na apropriação da naturezawendellAinda não há avaliações
- Prêmio Ágora: coletânea de artigos FIVJ 2019No EverandPrêmio Ágora: coletânea de artigos FIVJ 2019Ainda não há avaliações
- A Gramática Política Do Brasil - Nunes PDFDocumento26 páginasA Gramática Política Do Brasil - Nunes PDFEduardo Manhães100% (2)
- O populismo reacionário: ascensão e legado do bolsonarismoNo EverandO populismo reacionário: ascensão e legado do bolsonarismoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A formação brasileira: subdesenvolvimento e dependênciaDocumento9 páginasA formação brasileira: subdesenvolvimento e dependênciaMarcos OliveiraAinda não há avaliações
- Repensando o capitalismo e seus futurosDocumento13 páginasRepensando o capitalismo e seus futurosTristanbrancaAinda não há avaliações
- Neoliberalismo versus democracia no BrasilDocumento13 páginasNeoliberalismo versus democracia no BrasilAdjailson RibeiroAinda não há avaliações
- Ascensão da nova direita e o colapso da soberania política: transfigurações da política socialNo EverandAscensão da nova direita e o colapso da soberania política: transfigurações da política socialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A sociedade ingovernável: Uma genealogia do liberalismo autoritárioNo EverandA sociedade ingovernável: Uma genealogia do liberalismo autoritárioNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Unidade 5 Modernização Estado e Questão Agrária - Moacir PalmeiraDocumento22 páginasUnidade 5 Modernização Estado e Questão Agrária - Moacir PalmeiraAndreza TellesAinda não há avaliações
- Gerenciamento Da Cadeia de Suprimentos Ronald Ballou PDFDocumento26 páginasGerenciamento Da Cadeia de Suprimentos Ronald Ballou PDFJamille SouzaAinda não há avaliações
- Ana Cristina Borges PimentaDocumento252 páginasAna Cristina Borges PimentaAndreza TellesAinda não há avaliações
- O Que e Questao Agraria - José Graziano Da SilvaDocumento45 páginasO Que e Questao Agraria - José Graziano Da SilvaÁtila CaetanoAinda não há avaliações
- Fome Fraude e Fascismo PDFDocumento272 páginasFome Fraude e Fascismo PDFAndreza TellesAinda não há avaliações
- CFESS Terapias e SS 2010 PDFDocumento14 páginasCFESS Terapias e SS 2010 PDFLuan NasaAinda não há avaliações
- Andes UniversidadeesociedadeDocumento178 páginasAndes UniversidadeesociedadeIsrael CarlosAinda não há avaliações
- Formacao em Servico Social e o Ensino Remoto Emergencial 202106141344485082480Documento89 páginasFormacao em Servico Social e o Ensino Remoto Emergencial 202106141344485082480Andreza TellesAinda não há avaliações
- CNI - Camila Grassi Mendes de FariaDocumento168 páginasCNI - Camila Grassi Mendes de FariaKamila OliveiraAinda não há avaliações
- História Moderna I - Henrique CarneiroDocumento4 páginasHistória Moderna I - Henrique CarneiroAnonymous 6WpaKrAinda não há avaliações
- Síntese do 1o Semestre em SSDocumento54 páginasSíntese do 1o Semestre em SSReinaldo MenezesAinda não há avaliações
- Brasil Rural A Virada Do MilênioDocumento74 páginasBrasil Rural A Virada Do Milêniomarcos_cassinAinda não há avaliações
- Estado e planejamento econômico no BrasilDocumento6 páginasEstado e planejamento econômico no BrasilVictoria VicenteAinda não há avaliações
- Gestão de recursos hídricos na bacia do Rio Paraíba do SulDocumento138 páginasGestão de recursos hídricos na bacia do Rio Paraíba do SulMariana Da Costa FacioliAinda não há avaliações
- Materialismo DialéticoDocumento71 páginasMaterialismo DialéticoRicardo MvgAinda não há avaliações
- Nome: Nº: 9º Ano: Atividades de História-Semana de 18/05 Á 25/05/2020 - Prof :renataDocumento5 páginasNome: Nº: 9º Ano: Atividades de História-Semana de 18/05 Á 25/05/2020 - Prof :renataEliana MaquidoneAinda não há avaliações
- Conceitos e Origens Do EmpreendedorismoDocumento7 páginasConceitos e Origens Do EmpreendedorismoJillian RileyAinda não há avaliações
- Racionalidade Neoliberal e Trabalho DocenteDocumento18 páginasRacionalidade Neoliberal e Trabalho DocenteSamela VieiraAinda não há avaliações
- Sistemas económicos abstractos e concretosDocumento3 páginasSistemas económicos abstractos e concretosEurico Banze100% (1)
- ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL: Uma Análise Sobre o Assédio Moral Como Instrumento de Gestão Nas Novas Formas de Organização Do TrabalhoDocumento91 páginasASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL: Uma Análise Sobre o Assédio Moral Como Instrumento de Gestão Nas Novas Formas de Organização Do TrabalhoAmanda GarciasAinda não há avaliações
- Gramsci's Revolution Against CapitalDocumento4 páginasGramsci's Revolution Against CapitallcabpAinda não há avaliações
- "Curando As Feridas", Ynestra KingDocumento29 páginas"Curando As Feridas", Ynestra Kingluiza786Ainda não há avaliações
- Prova 2 - Objetiva - Globalização 12 PontosDocumento14 páginasProva 2 - Objetiva - Globalização 12 PontosThiago ZanotelliAinda não há avaliações
- Os (Des) Caminhos Do Meio Ambiente - Carlos Walter Porto Gonçalves - ResenhaDocumento3 páginasOs (Des) Caminhos Do Meio Ambiente - Carlos Walter Porto Gonçalves - ResenhaVitor Vieira Vasconcelos100% (3)
- O Capitalismo Unifica o Mundo - 1 PDFDocumento2 páginasO Capitalismo Unifica o Mundo - 1 PDFMarcos BarbosaAinda não há avaliações
- Auguste Comte e o positivismoDocumento235 páginasAuguste Comte e o positivismoMaria Eduarda WietholterAinda não há avaliações
- Formação Sociologia BrasileiraDocumento11 páginasFormação Sociologia BrasileirajrbongAinda não há avaliações
- DELGADO, Guilherme Costa - Do Capital Financeiro Na Agricultura À Economia Do Agronegócio, P. 77-109Documento19 páginasDELGADO, Guilherme Costa - Do Capital Financeiro Na Agricultura À Economia Do Agronegócio, P. 77-109Gilvan NetoAinda não há avaliações
- A evolução da tecnologia e seu impacto na educaçãoDocumento147 páginasA evolução da tecnologia e seu impacto na educaçãoSemíranes100% (2)
- 288 MaisDocumento97 páginas288 Maisalanmatematica100% (1)
- A evolução da tributação brasileira e o debate sobre a progressividadeDocumento22 páginasA evolução da tributação brasileira e o debate sobre a progressividadeharoldosouAinda não há avaliações
- ABRUCIO, Fernando Luis & LOUREIRO, Maria Rita - Notas Críticas Sobre A Literatura 'Burocracia e Política No Brasil'Documento15 páginasABRUCIO, Fernando Luis & LOUREIRO, Maria Rita - Notas Críticas Sobre A Literatura 'Burocracia e Política No Brasil'Renato LemosAinda não há avaliações
- Poder, Política e Educação PDFDocumento11 páginasPoder, Política e Educação PDFDanielle Santiago da Silva VarelaAinda não há avaliações
- Aprendendo com os povos indígenasDocumento18 páginasAprendendo com os povos indígenasJessica Mara RaulAinda não há avaliações
- Lugar Comum 42Documento328 páginasLugar Comum 42jesiozamboniAinda não há avaliações
- Sociologia WeberDocumento12 páginasSociologia WeberMichel K. de Souza0% (2)
- História e Geografia da UERN 2011Documento28 páginasHistória e Geografia da UERN 2011Maronilson Leite0% (1)
- André Gorz analisa a evolução do conceito de trabalhoDocumento16 páginasAndré Gorz analisa a evolução do conceito de trabalhoFleide Wilian Rodrigues AlvesAinda não há avaliações