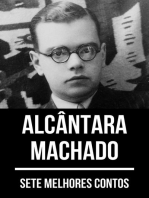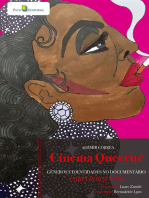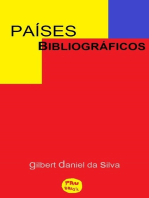Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cult 262 - O Que É o Feminismo Decolonial
Enviado por
Maria Gabriela0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
15 visualizações44 páginasTítulo original
Cult 262 – O Que é o Feminismo Decolonial
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
15 visualizações44 páginasCult 262 - O Que É o Feminismo Decolonial
Enviado por
Maria GabrielaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 44
Sumário
entrevista Claudia Roquette-Pinto
Imagens poéticas
dossiê O que é o feminismo decolonial?
Apresentação
Decolonialidade do saber versus colonialidade do poder?
Em busca de uma identidade brasiliana
Decolonizando o olhar
Aliança e compromisso
Origem e ideias centrais
colaboraram nesta edição
entrevista Claudia Roquette-Pinto
Imagens poéticas
DA REDAÇÃO
Claudia Roquette-Pinto, que fez as colagens que ilustram esta edição da
Cult, é poeta, tradutora e artista plástica. Autora de cinco livros de poesia e
com poemas traduzidos em vários idiomas, ganhou o Prêmio Jabuti com
Corola, de 2001. Em 2006, Margem de manobra foi finalista do Prêmio
Portugal Telecom. Na entrevista a seguir, ela fala de seu trabalho com as
palavras e com as imagens.
Qual é a relação entre suas atividades como poeta e artista visual?
A poeta apareceu primeiro, ao menos publicamente. Mas a colagem sempre
foi uma paixão e uma atividade que me acompanhou desde a adolescência.
Além disso, para usar uma das classificações poundianas, considero que boa
parte da minha poesia é muito fanopeica, ou seja, marcadamente imagética.
Sempre tive um olhar meio plástico sobre as coisas. O trabalho de colagem
foi retomado na vida adulta, inicialmente num período de bloqueio da escrita
e, depois, num breve episódio depressivo, quando trabalhar ressignificando
as imagens tornou-se a única maneira possível de acessar minha criatividade.
Como será seu próximo livro?
Meu novo livro se chama Alma corsária & poemas do Rio e deve sair no
primeiro semestre de 2021, pela Editora 34. Todo com poemas inéditos, o
que me enche de alegria. Depois de mais de 12 anos sem publicar poesia
(meu livro mais recente é Entre lobo e cão, com colagens e trechos de prosa,
e saiu em 2014, pela Editora Circuito), finalmente vou poder voltar a sentir o
gostinho de me considerar poeta.
Como foi o processo de criação das colagens publicadas nesta edição da
Cult?
Foi pensado e feito com muita consideração e cuidado, principalmente pelo
fato de eu ser uma mulher branca, oriunda da burguesia, tendo sido
convidada a interpretar/traduzir/fabular sobre um universo que não conheço
“de dentro”, mas sim pelo “outro lado”. Contudo, tanto o feminismo como
as questões do silenciamento da narrativa e da objetificação do corpo
feminino sempre foram temas do meu trabalho – e isso, acredito,
esperançosamente, talvez possa me permitir trazer alguma contribuição para
o assunto.
O Brasil vai dar certo?
Qual Brasil?
dossiê O que é o feminismo decolonial?
Apresentação
SUSANA DE CASTRO
O feminismo decolonial acadêmico surge a partir do texto “Colonialidad y
género” (2008), da filósofa argentina María Lugones. Nele a autora amplia a
teoria da “colonialidade do poder” do sociólogo peruano Aníbal Quijano,
introduzindo a noção de “sistema moderno-colonial de gênero”. Quijano e o
grupo de intelectuais latino-americanos do Grupo
Modernidade/Colonialidade foram precursores na análise do colonialismo
pensado a partir do eurocentrismo, do racismo e da modernidade. Mostraram
como o projeto europeu de colonização das Américas estava calcado na
teoria pseudocientífica da raça como desculpa para a expropriação capitalista
da mão de obra escrava e para o acúmulo de capital globalizado.
O racismo que justificou a escravidão de negros e índios, na mesma
época em que a Europa saía da servidão e entrava no sistema liberal de
pagamento do trabalho mediante salário, deixou marcas indeléveis no
continente latino-americano. Entre essas marcas, destaca-se a colonialidade
do saber, do poder e do ser. Ou seja, apesar de supostamente independentes,
os países latino-americanos continuam subordinados a um modelo de poder
que reproduz a hierarquia racial e econômica da época da colônia, que
marginaliza os saberes locais e, finalmente, que cinde a identidade nacional,
uma vez que ela é marcada por um imaginário colonizado pelo racismo
europeu.
Para Lugones, além de raça, o conceito “moderno-colonial” de gênero –
no sentido de aquilo que qualifica e identifica a diferença sexual – também
teria sido introduzido nos países latino-americanos como forma de dominar e
controlar o trabalho e os corpos. Homens e mulheres não europeus,
indígenas e africanos, eram considerados “diferentes” – leia-se inferiores –,
porque não seguiam as mesmas regras de socialização e convivência das
sociedades coloniais. Além disso, não eram cristãos. Assim, foi-se
construindo a narrativa segundo a qual os povos não europeus, isto é, no
caso latino-americano, os povos originários e os africanos da diáspora,
viviam como selvagens, próximos à animalidade, e que por isso a cultura e a
religião europeias deveriam salvá-los, humanizando-os.
O feminismo surge como um movimento europeu-americano de
libertação das mulheres da opressão patriarcal. Mas de quais mulheres se
está falando? Existe uma identidade universal “mulher”? Todas as mulheres
sofrem da mesma forma diante do patriarcado ou algumas também usufruem
das benesses dele? O feminismo negro e o feminismo lésbico norte-
americanos mostraram que a subjugação da mulher branca ao marido ou ao
patrão não a impedia de participar do racismo institucional e estrutural que a
favorecia por sua cor e/ou por sua sexualidade, e por isso a alçava a
representante e porta-voz de todas as mulheres nos meios de comunicação de
massa e nos meios acadêmicos. Nesse sentido, não podemos condenar o
patriarcado como uma entidade abstrata que subordina todas as mulheres da
mesma forma sem olharmos para as diversas outras formas de opressão, tais
como a racial, a sexual e a de classe.
Da mesma forma que o conceito universal moderno de ser humano – ou
de natureza humana, definida com base no modelo europeu de racionalidade
(autonomia moral e razão instrumental) – serviu para legitimar a submissão
dos povos não europeus à invasão colonial, cultural e econômica, também
pode-se dizer que o conceito universal de “mulher” serviu para ocultar
outras formas de opressão, como a de raça e a de classe. O conceito de
interseccionalidade, forjado no bojo do feminismo negro, conseguiu dar
expressão e visibilidade à opressão de raça, classe, sexualidade e gênero
vividas pelas mulheres negras e pelas mulheres não brancas*. Para que a
mulher negra e a mulher não branca possam ser elas mesmas representantes
de suas pautas e reivindicações, é necessário que lhes seja reconhecido o
lugar de sujeito, e que suas experiências façam parte também dos estudos
feministas.
A contribuição das feministas negras e feministas não brancas foi
fundamental para a crítica à identidade “mulher” monolítica do movimento
feminista identitário. Não há uma identidade única de mulher que represente
todas as mulheres. A situação fica mais clara quando comparamos as pautas
do feminismo liberal “universal” pelo direito ao aborto, pela criminalização
do assédio e do estupro, pela paridade de gênero na política e nos empregos
– temas de interesse claramente da mulher branca universitária, e não
necessariamente da mulher trabalhadora e de classe popular.
De que adianta lutar pela paridade na representação política se as
representantes mulheres forem todas da classe média ou média alta e
defenderem seus interesses de classe ao lado de seus pares homens?
Se para muitas mulheres brancas a maternidade e o casamento não
podem ser mais o destino das mulheres, para muitas mulheres negras e
indígenas a maternidade é expressão central de suas identidades como
mulheres e como líderes na comunidade – e não está associada diretamente à
relação de gênero e de casamento. O trabalho da nigeriana Oyèrónké
Oyěwùmí sobre a sociedade iorubá do sudoeste da Nigéria, The Invention of
Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses (1997),
expôs as falhas da universalização do conceito de gênero com base no ideal
de família europeia nuclear, por associar maternidade ao casamento.
Mostrou que a noção ocidental de “mãe solteira” é uma formulação estranha
à cultura iorubá justamente por conjugar as duas coisas, como se uma fosse
dependente da outra.
Se a segurança pública racista é pautada pelo encarceramento em massa
da população negra, as mulheres negras vão se solidarizar com seus
companheiros não brancos, e não com as feministas de classe média e
heterocentradas e suas pautas de liberação sexual e autonomia financeira.
O feminismo decolonial latino-americano se junta ao movimento das
mulheres negras e não brancas na reivindicação de que a questão do racismo
é central no eixo da opressão patriarcal-capitalista. Não podemos pensar em
feminismo brasileiro ou latino-americano sem considerar nossa herança
colonial escravista. Pensar um feminismo decolonial latino-americano e
brasileiro significa elaborar formas de combater um imaginário racista que
considera inferior ao europeu tudo o que é oriundo das comunidades
originárias e da cultura afro-brasileira. Importa deixar de glorificar a história
colonial escravista e violenta, e criar mecanismos de conscientização
coletiva sobre a responsabilidade pelo genocídio negro e indígena e sobre a
importância de políticas de reparação e de justiça. Além disso, o feminismo
decolonial brasileiro compartilha da preocupação de historiadores com a
forma deturpada como nossos antepassados negros e indígenas são descritos
na história do Brasil, sempre a partir do olhar do colonizador. Os levantes
populares são ignorados pela história oficial, e as populações nativas e os
negros escravizados são descritos como desprovidos de capacidade de
resistência e luta. No entanto, como mostra a historiadora brasileira Beatriz
Nascimento, a identidade negra no nosso país é transpassada pela
experiência da luta dos quilombos contra a colonização e a escravidão.
Ao todo, na América Latina há cerca de 602 etnias indígenas diferentes.
Essa diversidade cultural é fonte de enorme riqueza humana. Se não
valorizarmos nossas origens e diferenças, não deixaremos para as futuras
gerações uma herança cultural que nos caracterize como povos livres.
Este dossiê traz para o leitor uma gama de reflexões díspares com o
objetivo comum de iluminar uma experiência feminista própria, latino-
americana e brasileira. No primeiro texto a seguir, Mary Garcia Castro
dialoga com a feminista Heloisa Buarque de Hollanda sobre os rumos do
feminismo decolonial, seus impasses e avanços, com vistas a ajudar Heloisa
na escolha dos textos que comporiam o livro que ela estava organizando:
Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais (Bazar do Tempo,
2020). Mary mostra que, do ponto de vista da metodologia de escrita, não há
um só modelo, o científico. Quando se trata de narrar experiências,
precisamos nos libertar das amarras academicistas de escrita e adotar sem
prejuízo um discurso poético-epistolar. No artigo seguinte, Príscila Carvalho
traça as principais linhas teóricas do feminismo decolonial de Abya Yala e
mostra suas implicações para o cenário nacional. Depois, Caroline Marim
discorre sobre as bases visuais ocidocêntricas da estética e seu contraponto
na estética sensorial de artistas contemporâneos latino-americanos. No
penúltimo texto, Suely Messeder, utilizando-se de noção central para o
feminismo decolonial, a do pesquisador encarnado, traça um diálogo com
Mãe Stella de Oxóssi baseado em seu discurso de posse na Academia de
Letras da Bahia – quando levantou questões como ancestralidade, alianças e
compromisso, entre outras. Suely mostra que é possível um outro modo de
fazer política, que respeite os diversos atores em jogo. Por fim, apresento um
apanhado das contribuições teóricas do feminismo decolonial.
O feminismo decolonial não é uma teoria fechada, mas sim um
movimento em construção, que vai crescendo e se modificando a partir do
momento que novas experiências lhe são acrescentadas.
Nota: Hesitei ao escolher qual termo usar, “descolonial” ou “decolonial”.
Contra o segundo pesava o sentimento de que se tratava de um
estrangeirismo (galicismo ou anglicismo), o que entrava em conflito com a
proposta. Contra o primeiro pesava o fato de o termo poder sugerir um
livrar-se de uma situação – o colonialismo – e talvez retornar a uma situação
sem o contágio da opressão colonial. No verbete “Pensamiento
descolonial/decolonial” do Diccionario del pensamiento alternativo,
organizado por Hugo Biagini e Arturo Roig, é dito que as duas grafias estão
corretas, mas que na Argentina se prefere o termo “descolonial”, enquanto
nos demais países se prefere “decolonial”. Optei pelo uso de “decolonial”
por entender que não é possível simplesmente desfazermo-nos das marcas do
colonialismo, mas sim, seguindo Catherine Walsh, “assinalar e provocar um
posicionamento – uma postura e atitude contínua – de transgredir, intervir,
in-surgir e incidir. O decolonial denota, então, um caminho de luta contínua
no qual podemos identificar, visibilizar e incentivar ‘lugares’ de
exterioridade e construções alternativas”. Trata-se não mais de reagir, mas de
agir e construir alternativas mais inclusivas e positivas sobre os saberes e as
práticas do continente latino-americano.
*“Não branca” corresponde aqui à expressão “women of color”, adotada por
teóricos norte-americanos em referência ao colorismo, que, como a
pigmentocracia, designa a discriminação pela cor da pele. No texto
“Colorismo: o que é, como funciona”, Aline Djokic explica que o termo quer
dizer, de maneira simplificada, que quanto mais pigmentada for uma pessoa,
maior será a exclusão e a discriminação que ela sofrerá.
Decolonialidade do saber versus colonialidade do
poder?
MARY GARCIA CASTRO
Segue artigo em forma de ensaio considerando Theodor Adorno, para quem
o ensaio não é um gênero menor, mas se formata em um livre pensar que
flerta com várias disciplinas – e que em especial se fascina com a literatura.
Estou solidária com as angústias de Heloisa Buarque de Hollanda na
organização de um livro sobre tendências do pensamento feminista hoje e
potencialidades da perspectiva decolonial. Perspectiva por aqui ainda sem
cumprir seus princípios, como decolar do local, de experiências coletivas de
mulheres na contramão de modelagens normativas – o que pode ser
paradoxal, considerando a fertilidade das novas tendências do feminismo por
estas terras. Aliás, primeira provocação: precisamos de um tipo de
feminismo que anule um rico percurso que vem enfrentando golpes e
violências, ou será que precisamos de ampliação crítica do feminismo,
considerando sujeitos em distintas relações na classe-raça-gênero, em prol de
uma frente de vários feminismos, como o negro, o de orientação popular
(por exemplo, o das mulheres trabalhadoras rurais), o emancipacionista com
projeto socialista, e as elaborações sobre sexualidades não heteronormativas,
informadas nos movimentos de grupos LGBTI+?
De fato, um dos construtos importantes da perspectiva decolonial seria,
segundo Michel Cahen em texto incluído em Para além do pós(-)colonial
(Alameda), “evitar o frequente hiperclassismo de certo marxismo, segundo o
qual as únicas identidades relevantes são as identidades de classe – essas
últimas além disso reduzidas somente às duas classes ‘fundamentais’
constitutivas do modo de produção capitalista”. Mas Cahen também adverte
que as identidades estão em um constante reinventar-se, condicionadas por
historicidades e múltiplas relações, como as no saber e no poder, não se
alimentando apenas de memórias, por mais sofridas que sejam, como a da
escravidão: “A colonialidade não é uma mera herança, é uma produção
específica de subalternidades enraizadas na história”.
Além disso, a complexidade da composição socio-étnico-racial do
Brasil, a diversidade de vivências e desejos entre as mulheres, mesmo na
raça-e-classe, adverte que de fato é preciso estar atento para escutas de
saberes de comunidades, resistências em corpos subalternizados não
necessariamente proletarizados, assim como não desconsiderar a importância
de tais corpos, sujeitos clássicos na reprodução do sistema capitalista
patriarcal. Há que conhecer mais as práticas de resistências diversificadas,
ou para potenciais redes de subversão, o que pede combinação de
perspectivas feministas micro/macro orientadas, como a que vem se
modelando nos debates sobre gênero, reprodução e os/as comuns.
São muitas as ilustrações de decolonialidades nativas. Não são novas as
resistências a colonialidades por mulheres, então tenhamos cuidado com
rótulos novos. Por exemplo, os protestos das mães de jovens negros
assassinados pela polícia mobilizam afetos pelos seus, assim como
denúncias contra o Estado racista/patriarcal/classista, desafiando
colonialidades.
Lélia Gonzalez destaca três figuras femininas emblemáticas para a
formação da nação: a mulata, a mãe preta e a empregada doméstica. Ilustra
assim a dinâmica da herança colonial e as subversões, decolonialidades
impressas por elas. Diz Raquel Barreto: “De acordo com Lélia, a mãe preta,
de forma consciente ou inconsciente, acabou por passar os valores africanos
e afro-brasileiros para as crianças brancas de que cuidou. Em especial ela
africanizou o português, e o ensinou, transformando-o em ‘pretuguês’”
(expressão da autora).
A “mulata”, se enredada em violências simbólicas, desestabiliza
moralidades coloniais, impõe erotismo fora dos trilhos familistas. A
empregada doméstica, se por um lado faz jus às análises sociológicas sobre
vulnerabilizações impostas por heranças escravistas, por outro lado se
organiza em sindicatos, federação e até em uma confederação latino-
americana com mais de 15 anos e que reúne hoje 25 sindicatos no
continente, a Confederación Latinoamericana y de Caribe del Trabajadoras
del Hogar (Conlactraho), desafiando teses sobre impossibilidade de
organização sindical de atividades ditas pré-capitalistas e sobre seu não
reconhecimento como membros da classe trabalhadora por outras categorias.
Importante inventariar tais ativismos/saberes para melhor se discutir
decolonialidades por aqui.
Na literatura sobre decolonialidade, é comum apelar para o resgate de
conhecimentos em uso, de povos originais, saberes semeados no cotidiano,
sem agressão à natureza, e vindos dos ancestrais. Destacam-se princípios
ecológicos, além do conhecimento de resistência em que se misturam o
mágico e o “racional”. Ótimo, mas será que é suficiente para enfrentar a
barbárie neoliberal e para dar conta do fato de que mais de 50 milhões de
brasileiros estão abaixo do nível de pobreza e que muitos são brancos,
pobres e querem estar no mercado? De fato, o sistema de raça estrutura
desigualdades, inclusive enegrecendo os/as pobres, independentemente da
melanina. Mas a conjugação raça/classe/gênero indica que as mulheres
negras e as mulheres brancas pobres seriam as mais vulnerabilizadas,
reconhecendo-se tal intersecção como uma colonialidade que se
metamorfoseia, embora permaneça historicamente. Ora, tal intersecção
também sugere que uma perspectiva feminista decolonial pede alianças entre
subordinados/as e seria avessa a identitarismos, ou que aposta em
hierarquização entre esses/as. As redes de apoio mútuo em vizinhanças
territorializadas nas periferias fortalece a tese de que o debate em
perspectiva decolonial não comporta identitarismos.
Outra questão: será hora de marginalizar a importância de um Estado de
bem-estar social e o debate sobre democracia e ater-se a resistências
comunitárias? No caso brasileiro, cabe insistir sobre um vetor caro à
perspectiva decolonial: a colonialidade do poder, questionando modelos de
desenvolvimento baseados na competição, no sistema-mundo, no
consumismo, no extrativismo, na redução do ser humano a meio de
produção. A teoria do sistema-mundo é anunciada por Immanuel
Wallerstein, um dos autores básicos no debate sobre decolonialidade,
enfatizando desigualdades sócio-político-econômico-regionais na divisão
internacional do trabalho, própria do sistema capitalista – desigualdades
entre países do centro, da periferia e da semiperiferia. Além disso, países em
regiões periféricas têm uma dependência estrutural de organismos
internacionais, que são orientados por interesses de países do centro,
inclusive de ordem financeira e humanitária. Wallerstein aposta em
movimentos sociais contra tal estado do mundo.
Tal vetor choca-se com projetos de nação universalizantes e calcados
em progresso e competição, defendidos inclusive por setores das esquerdas.
Isso explica que orientações como o Bem Viver, que questionam modelos de
desenvolvimento com tais projetos, sejam aceitas só se limitadas a
experiências comunitárias.
Para uma perspectiva feminista decolonial sensível à experiência de
mulheres dos povos originais no Brasil, o texto de Rita Segato sugere pistas
teóricas. Refiro-me a um texto que segundo Segato foi publicado
originalmente em La cuestión descolonial (org. de Aníbal Quijano e Julio
Mejía Navarrete, Universidad Ricardo Palma, 2010). Segato realça um
desafio ao debate decolonial: o lugar do Estado. O que no caso brasileiro
pede mais investimentos, uma vez que, mesmo com a terrível história de
abuso de poder e herança colonial escravista, um Estado democrático, contra
governos autoritários, sempre esteve nos projetos de políticas públicas por
parte das feministas. Em perspectiva decolonial, como discutir o Estado?
Segato não o descarta, enfatizando que mulheres indígenas no Brasil
insistiriam na importância de contarem com políticas públicas, com a ação
do Estado, mas defendendo autonomia sobre a operacionalização.
O que estou sublinhando é que é preciso haver teorias com corpos
nativos, decolando de relações socioétnicas, de ambiências e vivências de
mulheres.
O debate sobre decolonialidade toma fôlego em tempos de desencantos.
De fato há que combater o medo com esperança, como sugere Terry
Eagleton: enfrentar a crise do capitalismo não como mais uma crise, mas
como fracasso de uma visão e ordenação do mundo – considerando o
aumento dos descartáveis a que se refere Giorgio Agamben e a vigência da
necropolítica, ou o direito de matar do Estado. Aliás, não por acaso, mortes
preferencialmente de pobres e negros, em especial nos países ao sul, como
dos continentes africano e latino-americano. Achille Mbembe relaciona a
necropolítica com tempos de pós-colonialismo.
Insisto: precisamos não de uma perspectiva feminista absolutista, do
“antes de mim o dilúvio”, mas de uma frente ampla de várias perspectivas,
críticas ao status quo. Se a ideia é ter alternativas que mobilizem, há que
considerar tanto o estado do mundo, do continente, do país, de casas e
corpos, como também o desencanto e a falta de horizontes próximos. Insisto,
portanto, que é necessário compor redes de saberes feministas, alianças
transnacionais, e também explorar mais precursoras nacionais do debate
sobre colonização de mentes e corpos e estratégias de contra-ataque, como
Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento, autoras que muito investiram contra a
colonialidade do poder e do saber, destacando o lugar estruturante da raça na
formação da nação. É urgente nesse sentido discutirmos mais essas
pioneiras, inclusive em sala de aula, buscando decolonizações do saber.
A decolonialidade do saber no Brasil é uma promessa, com o aumento
de jovens negros/as nas universidades, mas ainda aí impera a colonialidade,
com currículos rígidos, de orientação eurocêntrica e disciplinar. É
promissora, mas é preciso cuidado para que não se dilua em modismo essa
busca por literatura de autoras afrodiaspóricas, em especial as de origem
africana, que misturam oralidade e literariedade, histórias e estórias sobre o
colonial e o pós-colonial, em que ancestralidade e mundos imaginados se
fundem a seus dramas existenciais, como a ambiguidade do fardo-êxtase da
maternidade e do amor romântico heteronormativo. Como adverte Lélia
Gonzalez, os mitos da democracia racial e da paternal colonização
portuguesa se constroem sobre o uso/estupro do corpo da mulher negra e do
horror a uma África tida como selvagem ou também desumanizada como
paradisíaca.
Não por acaso, a entrada de jovens negros/as nas universidades
coincide com maior oferta de estudos sobre autores/as africanos/as. Mas não
nos iludamos, há que ficar atentos a tentativas de epistemicídios culturais e
espirituais, como os boicotes a estudos sobre os povos africanos e expressões
religiosas de matriz afro-brasileira por parte de fundamentalismos religiosos
e de Estado, como os que vêm ocorrendo no Ensino Médio.
Mas por que nomear como decolonial o que não é novo, e sim
silenciado, marginalizado academicamente? Tudo bem se com tal nomeação
questionamos silêncios, se chamamos atenção para a multiplicidade de
sujeitos críticos, saberes de vivências comunitárias, ancestrais, se
modelamos ideias de nação contra subalternidades na equação
raça/classe/gênero e se contamos outra história sobre
descobrimento/encobrimento e heranças coloniais. Mas que em tal
modelação nos engajemos em projetos por amefricalatinidades, redes
transnacionais, considerando agendas de conhecimento/ação como as
propostas por Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. Esta nos sugere o
conceito de potencialidade decolonial estrutural, o “quilombismo”, como
resistência cultural, a ser mais explorado em cursos inovadores, reunindo
saberes comunitários e acadêmicos. Assim como o conceito cunhado por
Lélia Gonzalez, de “Améfrica Ladina”, o de “quilombismo” pede que, para
evitar anacronismos ou simplificações históricas, invista-se em
epistemologias que explorem histórica e etnologicamente a complexidade do
debate sobre colonização, pós-colonialismo e decolonialidade em países
africanos, que explorem legados africanos e de povos originais no Brasil e
resistências aqui, hoje, ou seja, territorializadas. Gonzalez e Nascimento
sugerem que, mais que um “giro linguístico”, esses conceitos pedem
investimentos cognitivos e movimentos sociais diversos, calcados em
resistências a insubordinações.
Também é urgente nos centrarmos em ativismo contra o massacre de
povos indígenas e de jovens negros e a repressão às casas de terreiro. E que
contribuamos mais, a partir de nossos privilégios institucionais, para
visibilizar expressões artístico-culturais e políticas contra normas do estado
patriarcal, capitalista.
Insisto neste texto no formato ensaio. Ele sugere uma agenda de
estudos. De fato, para melhor entender o colonialismo, versões
contemporâneas ou colonialidades e identificar experiências decoloniais em
vários campos e tipos de comunicação, há que estudar mais as relações
étnico-sociais de poder na diversidade de produções das mulheres –
experiências que passam por reproduções engendradas em diversas
ambiências.
Em busca de uma identidade brasiliana
PRÍSCILA CARVALHO
As teorias e os movimentos feministas são concepções de duplo
investimento: analítico e empírico. Isso acontece porque reúnem em suas
perspectivas teoria e prática, compondo-as como práxis, como poderosas
ferramentas de análise que leem as relações de forças patriarcais – e, por
decorrência, também antidemocráticas – que compõem o sistema estrutural
de dominação sexista. Já é sabido que a desigualdade e a violenta
dominância do sexismo se perpetuam pela permissividade de tal cultura
androcêntrica, que implica subalternização de mulheres e de outros sujeitos
lidos numa ótica sexista e/ou heteronormativa.
Embora estrutural, a subalternização varia de acordo com as conexões
com outros sistemas de dominação que se articulam e reforçam o
patriarcado, como o racismo, o etnocentrismo, a exploração e a espoliação
econômicas. Por essa razão, o objetivo dos feminismos é transformar a
sociedade em espaços paritários, justos e democráticos. Desqualificá-los ou
sectarizá-los é um meio funcional para manter a distância o maior número de
pessoas e grupos de suas análises e práxis, de forma que fiquem,
consequentemente, em seus “devidos lugares”, seja de subordinação ou de
pleno status de cidadania. A tentativa de transformar essa cultura será tanto
mais eficaz quanto mais as teorias e movimentos feministas puderem se
debruçar sobre essa realidade concreta, seus contextos e arranjos de
subalternização. Mesmo que em menor escala e em condição de privilégio,
muitos homens são impactados negativamente por esses sistemas de
opressão. Talvez essa seja uma das razões que tornam o feminismo
descolonial latino-americano e os feminismos das mulheres nativas
originárias de Abya Yala tão promissores e especiais, tanto para brasileiras
como para brasileiros.
O feminismo decolonialista se inspira na noção de interseccionalidade
entre raça, classe, gênero e sexo – que emerge dos movimentos feministas
das nativas latino-americanas, caribenhas, afro-americanas e chicanas.
Porém, realoca tais categorias a partir das análises e experiências implicadas
na relação com colonialidade, modernidade e capitalismo. É o que faz, por
exemplo, a filósofa María Lugones quando anuncia um movimento de
reinserção daquelas categorias no contexto das Américas. Em seu texto
“Rumo a um feminismo descolonial”, declara que realiza um deslocamento
metodológico da interseccionalidade do “feminismo não branco” para a
metodologia analítica do feminismo decolonial por este ir às origens das
classificações sexistas e raciais com base na criação da “diferença colonial”.
Podemos nos perguntar: mas de onde ela retira as bases para essa virada
metodológica? E no que consiste?
A fonte principal do mapeamento incorporado tem como referência
pesquisas do Grupo Modernidade/Colonialidade, coletivo latino-americano
que se fundou por dissidência ou ruptura com os grupos de estudos
subalternos e pós-colonialistas. Uma das mais importantes contribuições
desse grupo é tornar evidente a existência de um padrão de poder mundial
sustentado a partir da colonização das Américas e da África, nomeado de
colonialidade do poder. O investimento analítico, desenvolvido por Aníbal
Quijano no texto “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”,
mostrou como a relação entre capitalismo, classe, raça e conhecimento se
teceu conceitual, simbólica e materialmente em moldes coloniais e
modernos. Para os propósitos deste artigo, podemos dizer de forma resumida
que colonialidade e modernidade são elementos constitutivos do capitalismo
mundial – e de seu controle sobre todas as formas de trabalho – que se
articulam e consolidam no bojo do projeto epistemológico colonial mediante
a racialização dos povos colonizados. Para funcionar, a raça serviu como
classificação dos povos colonizados com fins de dominação não somente
política e econômica stricto sensu, mas também epistemológica e cultural.
Penso a contribuição de Lugones com base nesses dois referenciais e
em suas mudanças substanciais indispensáveis, que permitem formular o que
ela nomeia de “sistema colonial de gênero”. Lugones oferta-nos uma
contribuição singular ao mostrar que, se a dominação pela raça é condição
sine qua non para que o sistema capitalista de produção possa se erguer – e
fazer dos seres humanos mercadorias que geram mercadorias, compondo um
mercado mundial –, o gênero racializado é igualmente operante na estrutura
de dominação dos povos colonizados das América e da África, sobretudo da
dominação das mulheres. A filósofa aprofunda as análises acerca da
modernidade colonial e advoga que as mulheres brancas burguesas europeias
também são subalternizadas e submetidas ao sexismo, como partes do “lar a
serviço do homem branco europeu”. Nessa condição, elas se destinariam a
fornecer condições para perpetuar a “raça” branca e as riquezas da família
(raça e capital) por meio de sua “pureza sexual”. Ressalta, porém, que a
subordinação dessas mulheres não implicou a negação de sua humanidade,
ao passo que às mulheres colonizadas a ideia de gênero naquele momento
não foi aplicada, na medida em que tal categoria consistia em classificação
hierárquica entre humanos – condição que lhes era negada. Assim, mulheres
nativas colonizadas – desde então nomeadas de “indígenas” – e mulheres da
África – desde então nomeadas de “negras” – foram classificadas segundo o
quadro conceitual moderno colonial e, em resumo, assaltadas em sua
humanidade: “bestas” cuja sexualidade seria insaciável. Eis nossa condição
como mulheres colonizadas.
Lugones é analiticamente perspicaz ao identificar a dicotomia humano-
não humano como a ferramenta conceitual que permitiu toda sorte de
atrocidades contra os povos colonizados. É por essa razão que a filósofa
pôde mostrar que mulheres colonizadas não eram gendradas como supõem
as teorias feministas mainstream universalistas quando aplicam gênero a
toda espécie humana desde sempre. Diferentemente, em lugar de gênero, às
mulheres colonizadas cabia o par conceitual macho-fêmea. Se com isso
Lugones tem razão, quando atribui a origem do gênero à modernidade
colonial, podemos dizer que o mesmo não se aplica ao patriarcado, que,
além de viajar muitíssimo para além da modernidade, está ancorado bem
antes da modernidade colonial, e também entre os povos colonizados.
Pesquisemos os inúmeros relatos de diferentes hierarquias que podem
ser identificadas em diversas culturas no Brasil e em outros países da nossa
Abya Yala. Encontramos essa avaliação, por exemplo, na feminista
comunitária Lorena Cabnal, que nos mostra a existência de um sistema
patriarcal ancestral milenário entre originários/indígenas, em seu artigo
“Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico
de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala”, publicado
em Feminismos diversos: el feminismo comunitário (2010). Ainda assim,
Lorena Cabnal e outras feministas comunitárias argumentam que, embora a
refundação do patriarcado originário existisse antes da colonização, depois
surgiu sua versão mais perversa, devido aos componentes trazidos pelo
capitalismo e mais tarde pelo neoliberalismo globalizante.
No contexto da experiência colonial brasileira, a heterogeneidade racial
– que muitas advogam ter se iniciado com os estupros coloniais – não se
compôs como “democracia racial”. Ao contrário, revelou-se cinicamente
racista, o que exige que nos debrucemos com seriedade sobre o
entrecruzamento construído entre gênero, colonialidade, raça e capital, já
que ele está no cerne da hegemonia de valores culturais que mantém os
arranjos institucionais antidemocráticos no Estado. Ao analisar os pactos
sociais que forjam as subalternizações das mulheres, as violências do
patriarcado brasileiro e a conexão de gênero, raça e classe, a professora e
teórica feminista brasileira Heleieth Saffioti observa em Gênero,
patriarcado, violência (2004/2015) vantagens que se somam aos brancos,
ricos e heterossexuais em sociedades racistas, classistas e sexistas. Tais
conexões são, portanto, indispensáveis para elaborarmos, numa visão
geopolítica do conhecimento, um Pensamentos dos Trópicos, sobretudo no
nosso Brasil. Saboreando essa ideia, deixo o convite para que leiamos
também a professora e teórica feminista Lélia Gonzalez, que penso ser uma
das imperdíveis teóricas militantes com quem as mulheres brasileiras
precisam se reencontrar. Lélia Gonzalez nos chama a atenção, em Por um
feminismo afro-latino-americano (1988), para os atravessamentos materiais
e simbólicos violentos que marcam a condição das mulheres afro-latino-
americanas no Brasil, apesar de sua influência sobre a cultura brasileira. Eu
diria que, imprescindível, Lélia confirma e analisa o que uma rápida visada
na história nos convence irrefutavelmente: valores nocivos e
antidemocráticos sempre forraram o chão da identidade nacional brasileira.
Essa base racista, sexista e classista é convocada com recorrência por grupos
que advogam a desigualdade em diversos níveis – os quais, não por acaso,
há pouco vieram à tona com grande força no Brasil.
O tecido axiológico, que faz, em dimensões e configurações diferentes,
do sangue das nativas, negras e brancas o mais encontrado no solo brasileiro,
convoca-nos diuturnamente às práxis feministas para a contraprodução
cultural em nosso dia a dia, nossas organizações sociais, nosso aparato legal
e nossas produções científicas e/ou filosóficas. Meu convite é que
resgatemos saberes e práticas dos quais fomos espoliadas e alienadas, e que
caminhemos para construir arcabouços reflexivos e críticos, plurais, sobre
nós. Nossa urgência por novos parâmetros de eticidade, cuidados e paridade
é enorme. Assumamos a desconstrução do racismo estrutural e da
colonialidade patriarcal dos quais o Estado brasileiro é signatário – seja por
herança, costume, negligências ou conveniências de alguns poucos que até o
momento deram as cartas do jogo.
Decolonizando o olhar
CAROLINE MARIM
Para construir um olhar decolonial, torna-se imprescindível rever as raízes
do pensamento ocidental, fundadas no privilégio dado ao sentido visual em
detrimento dos outros, como o tato, o olfato e a audição. O ponto
questionável é a centralidade e a persistência da visão para construir as
categorias estéticas ocidentais que são limitantes, ao serem exportadas ou
transferidas a culturas que valorizam outros sentidos na apreensão da
realidade. Em algumas culturas – como a africana, a ameríndia e a andina,
entre outras –, não se privilegia o sentido visual; a oralidade, o toque, a
convivência relacional e a valorização das trocas harmoniosas com a
natureza são os pontos geradores e produtores de todo o conhecimento.
A socióloga nigeriana Oyèrónké Oyěwùmí aponta em seu artigo
“Visualizando o corpo: teorias ocidentais e sujeitos africanos” (1997) que
encontramos uma influência teórica fortemente ocidentocêntrica (Europa e
Estados Unidos) nos estudos africanos. A propagação da ideia de
conhecimento como iluminação, do conhecer como ver e da verdade como
luz pode ser notada na frequente associação de uma visão imparcial
diretamente relacionada à objetividade. Esse regime de visualidade
hegemônico e suas vãs promessas de objetividade acadêmica, científica e
estética têm sido refutados por inúmeras teóricas feministas. No artigo “The
Mind’s Eye” [O olhar da mente] (1983), Evelyn Fox Keller e Christine
Grontkowski examinam as ligações entre o privilégio da visão e o
patriarcado, afirmando que as raízes do pensamento ocidental no visual
produziram uma lógica masculina dominante que constantemente exclui
outros sentidos para construir as concepções de realidade e conhecimento no
Ocidente.
E o Ocidente está no centro da produção de conhecimento acadêmico
africano, como destaca Oyěwùmí. Essa centralidade não apenas influencia,
mas também resulta na invalidação de conhecimentos, saberes e valores
culturais não assimilados pela cultura ocidental. Epistemicídio que
acompanha o processo colonizador e se mantém pela reprodução de modelos
de conhecimento ocidentocêntricos que ainda estão presentes com força em
nossas produções científicas e artísticas e nos meios de comunicação.
De acordo com Oyěwùmí, nem mesmo o feminismo escapou da lógica
visual do pensamento ocidental, pois: “A emergência do patriarcado como
uma forma de organização social na história ocidental é uma função da
diferenciação entre corpos masculinos e femininos, uma diferença enraizada
no visual, uma diferença que não pode ser reduzida à biologia”. Não
somente a suposição das “mulheres” como universais – presente em muitos
escritos feministas –, etnocêntricas, mas a hegemonia do Ocidente em
relação a outros agrupamentos culturais também pode ser notada à medida
que as teorias ocidentais aplicadas universalmente partem do pressuposto de
que as experiências ocidentais definem as experiências de outras culturas.
A principal crítica que feministas como Oyěwùmí apontam é a
importação de conceitos e categorias ocidentais para estudos e sociedades
africanos, como o termo cosmovisão. Conceito de origem alemã
(Weltanschauung), largamente usado na filosofia, refere-se a uma percepção
geral do mundo, a valores e crenças formados com base em uma descrição
global por meio da qual um indivíduo, grupo ou cultura percebe e interpreta
o mundo e interage com ele. Para Oyěwùmí, o termo cosmovisão é
eurocêntrico, pois capta o privilégio ocidental do visual. Por isso é mais
apropriado usar o termo cosmopercepção para descrever culturas que
privilegiam outros sentidos, como a iorubá, que apreende a realidade
explorando diferentes sentidos, entre eles a oralidade e a audição.
Do mesmo modo que acontece nos estudos africanos, é extremamente
problemático adotar no Brasil a visualidade como parâmetro epistemológico
e sobretudo estético, pois as fortes raízes de ancestralidade africana e
ameríndia valorizam outros sentidos, em especial a oralidade e a
corporeidade, e também a convivência. Assim, diante de tal crítica, o
feminismo decolonial pretende constituir-se dentro de realidades históricas e
sociais particulares, como veremos a seguir.
Simón Yampara Huarachi, no artigo “Cosmovivencia andina: vivir y
convivir en armonía integral – Suma Qamaña”, nos conta sobre uma
epistemologia aimará (nação que compreende os Andes e as regiões
altiplanas da América do Sul, principalmente Bolívia, Peru e Chile). Além
de cosmopercepção, no caso dos povos ameríndio e andino podemos falar de
cosmoconvivência – um conviver em harmonia integral, no qual
relacionalidade, correspondência, reciprocidade e observância do movimento
cíclico e não linear da natureza são as fontes de toda
vida. Cosmoconvivência quer dizer: “[...] processe, use e desfrute de energia
material e espiritual interativamente e, ao mesmo tempo, ordene a vida de
maneira convivial com os diferentes mundos (animais, plantas e divindades)
e espaços, emule as energias que cada um possui em um processo ayni”.
Assim, como podemos desconstruir nossos olhares ocidentocêntricos
para resgatar e preservar diversas narrativas invisibilizadas em nossa
cultura?
Consideremos a análise estética do trabalho de duas artistas que admiro:
Björk e Regina José Galindo. De um lado, na exposição Björk Digital no
Museu da Imagem e do Som (MIS, 2019), mais precisamente na instalação
de “Family” e “Notget”, noto um forte apelo visual, mesmo em uma
vivência que permite um pouco mais de liberdade de movimento, por meio
de manoplas que replicam nossas mãos na realidade virtual, permitindo que
dancemos com os avatares björkianos. Um forte incômodo se instala pela
ausência de estímulo de outros sentidos, principalmente o tato e o olfato.
Estou vendo aquela realidade, e não sentindo-a – a interação é ainda
extremamente passiva, pouco relacional, e esse é um problema grave para
quem nasceu em terra de Hélio Oiticica, Lygia Clark e Cildo Meireles. Para
mim parece pouco. Por si só, o estímulo visual não estabelece uma realidade
virtual: na verdade o que temos é uma experiência parcial da realidade,
mesmo que acompanhada por música e pelos movimentos da mão projetada
na realidade virtual.
Por sua vez, Necromonas (2012), a performance da artista guatemalteca
Regina José Galindo, é um bom exemplo de provocação e deslocamento de
nosso olhar para outros sentidos: o cheiro é mais importante que toda a
construção visual da instalação de arte. Nessa obra, é exposto um corpo
humano nu. O corpo da mulher está vivo, emitindo necromônios que alertam
a comunidade, ou seja, os espectadores, de que há risco de ela morrer. O
corpo feminino deitado pacificamente na posição fetal atrai, enquanto o
cheiro fedorento (de um porco em decomposição, escondido sob o corpo da
performer), em vez de rejeitar o transeunte, visa alertar sensorialmente que
todas as mulheres correm risco de morte.
Nessas duas obras encontramos diferentes perspectivas. A primeira
claramente prioriza e se instaura na potência da visualidade, fortalecendo a
contemplação individual em um ambiente restrito sensorialmente, onde a
música e a dança ainda são guiadas pelo sentido da visão. Já a segunda
provoca diferentes sentidos com o objetivo de extrapolar a interação
individual, instaurando-se como um alarme relacional coletivo para as
mulheres, que sofrem todas as formas de violência. A obra de Björk ainda se
instaura em uma estética ocidentocêntrica, marcadamente europeia,
enquanto a da guatemalteca Galindo aproxima de uma estética marcada pela
influência dos povos originários maia, garífuna e xinca. Tal como os povos
iorubás, ameríndios e andinos, a cultura maia, diferentemente da ocidental
europeia, apreende a realidade explorando diferentes sentidos. Apreensão
que envolve mais do que a percepção, trata-se de “uma presença particular
no mundo – um mundo concebido como um todo, no qual todas as coisas
estão ligadas”, como diz Hampâté Bâ em “A tradição viva”, no livro
História geral da África.
Precisamos, portanto, olhar além das aparências visuais. Tecer uma
trama coletiva, um entrelaçamento de memórias, experiências e histórias que
nos reconecte à herança de uma lógica do convívio e não da competição, que
valorize todos os sentidos, principalmente em nossa cultura, que tem fortes
influências oral e relacional. Uma tessitura da interação e da reciprocidade,
uma epistemologia afetiva capaz não apenas de decolonizar as crenças de
nossos corpos, mas de reparar, reconstruir e reorientar a ciência, a filosofia e
as artes para nos aproximarmos mais dos povos originários. Reorientação
que se dá pelo toque, pelo olfato, pelo exercício de escuta – um exercício
primordialmente sensorial e afetivo.
Aliança e compromisso
SUELY MESSEDER
Em tempos insólitos, letárgicos, agenciados sem agências e bizarros, nada
melhor do que desvendar o mistério do comprometer-se com a sabedoria
ancestral, cujo vetor maior nos reporta aos ensinamentos de Mãe Stella de
Oxóssi, senhora responsável pela obra de arte que é o “Discurso de posse da
Cadeira 33”.
Antes, porém, de adentrar na interpretação dessa obra, reporto-me à
ideia de pessoa comprometida, que transversa o povo iorubá. Mãe Stella de
Oxóssi declara que uma pessoa útil/especial/comprometida é aquela que
cumpre a função destinada a ela e se distingue da massa uniforme.
Portanto, compreender-se como pessoa comprometida é reconhecer-se
fora da serialização da tirania absoluta, seja pela metáfora do condor, seja
pela metáfora do carcará ou do bacurau: cada uma se distingue pela
situacionalidade e pelo contexto. Caminhar nessa trilha metafórica alada,
mais adiante esclarecida, é render-se à utopia de que nossas alianças se
construirão em uma espécie de espiral que nos conduz à miríade das justiças
− social, racial, de gênero, erótica, religiosa, científica − e que nos alinhava
aos princípios da ancestralidade, da resistência; do compromisso, da
reciprocidade, do reconhecimento e da amorosidade.
Em 12 de setembro de 2013, no mês das festas dos erês, das crianças,
dos malucos – como dizia minha mãe de santo Luiza Gaiaku –, fomos
todos/as presenteados/as pelo discurso, ou melhor, pela belíssima obra
escrita por Mãe Stella de Oxóssi, cujo conjunto foi imortalizado em sua justa
posse da Cadeira 33 na Academia de Letras da Bahia. Aqui me interessa o
mergulho nesse discurso, sem nenhuma pretensão de etiquetar Mãe Stella de
Oxóssi como escritora decolonial, mas com o desejo de interpretar essa obra
tendo como elo o/a pesquisador/a encarnado/a em seu caminhar
epistemológico, teórico, metodológico, ético e estético no giro feminista
decolonial brasileiro, sem intenções peremptórias nos adjetivos.
Não pretendo seguir nem me enclausurar na análise do conteúdo e sigo
livre em minha intuição de olhar e/ou enxergar o discurso em quatro eixos:
aliança, pertencimento, geopolítica do conhecimento e princípios. Logo no
início do discurso, Mãe Stella de Oxóssi demonstra sua vontade de
cumprimentar a todos da audiência como “amigos/as”, para em seguida
negar sua própria vontade e declarar que, nos territórios da Academia de
Letras e da religião do candomblé, as pessoas movem-se respectivamente
pela tradicionalidade e pela hierarquia. Por isso, então, iniciaria seu discurso
saudando as autoridades presentes ou representadas, e com isso saudaria a
todos/as que compareceram à cerimônia de posse.
Dessa forma ela nos concede uma reviravolta: nos faz criar um
movimento reflexivo, sagaz, que nos permite a circularidade em ambas as
tradicionalidades. Sua audiência é múltipla, e o elo é considerado pela
palavra “amigos/as”. A palavra “amigo/a” também nos remete à insurgência
possível em ambos os lugares de pertencimento, muito embora a resistência
seja o princípio que rege os dois lugares hierárquicos. Então, pensaríamos
como ponto de partida o paradoxal – onde desembocaríamos em uma espiral
aguda. A meu ver, a tradição deve ser uma reinvenção contumaz, pois,
diferentemente do que se poderia imaginar, a tradição não é estática: ela é
movimento.
Mãe Stella apresenta seu ser no mundo, ou melhor, o ser em seu
pertencimento e compromisso, sem entretanto abrir mão de sua agência. Ela
nos revela a pessoa especial/útil/comprometida em sua especificidade, cujo
compromisso nos faz atentar para seu pertencimento ao orixá, à
ancestralidade e à comunidade. O movimento é a tríade e circula na pessoa
somente se o compromisso for selado na feitura do iniciado ao candomblé,
no evocar da palavra “obrigação”. Para Mãe Stella, o movimento do verbo
“comprometer-se” nos conduz a obrigarmo-nos a cumprir um pacto feito,
não importa se escrito ou não. Em sua origem latina, obligare é sinônimo de
unir, o que implica dizer que, no ato performativo de dirigir-se a alguém “um
muito obrigado”, revela-se uma ligação em virtude do favor prestado. Sendo
“obrigação” uma das palavras-chave do candomblé, com efeito, a obrigação
fica sendo então uma forma de estar cada vez mais unido aos oríÿa.
Aqui emerge o princípio da reciprocidade, pelo qual o/a sujeito/a regula
sua conduta ética, a qual não prescinde da formalidade da escrita, mas
decorre do elo estabelecido na inter-relação pessoal e comunitária. Mais
adiante, Mãe Stella fala ainda que a generosidade e a grandeza do ser são
evocadas no ato da aliança com o compromisso. A nobre senhora mais uma
vez sinaliza o caminho do diálogo entre a Academia Científica e o
Candomblé, evocando dois símbolos, o anel da formatura e as correntes da
feitura, que significam respectivamente o compromisso com as duas
tradições. A princípio, ela nos mostra que as correntes, nos primórdios, são
fininhas para os/as iniciantes, ainda frágeis; necessitam, portanto, fortalecer-
se com a passagem do tempo para então se tornarem um elo mais potente,
capaz de segurar muitos outros elos.
Essa narrativa sobre o anel e as correntes nos revela várias camadas
desanuviadas. A primeira tem a ver com o anel, que simbolicamente indica o
compromisso com os estudos acadêmicos e o crescimento social da pessoa –
algo estimado por mãe Aninha para seus/suas filhos/as de santos. Os passos
são revelados esmiuçadamente em uma temporalidade do aprendizado. Mãe
Stella nos revela o simbólico das correntes fininhas nos primórdios de sua
feitura e nos convida a enxergar seus vários referentes, a exemplo da
multirreferencialidade do arco-íris. O ser precisa ser fortalecido, afinal o elo
necessita de uma ponte mais densa para que outros/as atravessem. Em sua
capacidade de diálogo e na busca de elos nas duas tradições distintas, ela nos
oferta um repertório para designar as pessoas que têm um objetivo comum:
colegas de academia, confrades e confreiras da mesma confraria, colegas de
sua comunidade Ilê Axé Opó Afonjá, cumprimentando-se uns aos outros
como irmãos/ãs. Assim, confraria, irmandade, comunidade.
Curiosamente, os juntos em elos, os juntos em comunidade, os juntos
em confraria, os juntos em irmandade consistem no objetivo comum. E não
ao acaso Mãe Stella evoca, sabiamente, na comunidade Ilê Axé Opó Afonjá,
na figura de Mãe Aninha, o orixá Xangô no princípio de sua ancestralidade.
Xangô, que para o povo do candomblé revela a Justiça. Portanto, seguiremos
no melhor tom possível em nosso objetivo comum, encarnado na justiça
racial, social, de gênero, erótica, religiosa, científica e, certamente – para
aqueles/as que compreendem o elo entre essas justiças –, na disputa e no
conflito para que haja entre nós a justiça restaurativa. E, com a compreensão
dos símbolos das duas tradições, Mãe Stella nos esclarece que a corrente e a
cadeira serão honradas por seu pacto, uma vez que a cadeira deixa de ser
apenas um lugar de assento para transformar-se em trono simbólico onde
ilustres cidadãos se imortalizam.
Para adentrar nesse modelo contrastivo tecido por Mãe Stella de Oxóssi
entre as duas tradições, com maestria ela nos alinhava nessa nova forma de
perceber o princípio da ancestralidade, agora a acadêmica, e nos convida a
enveredar em sua geopolítica do conhecimento da Cadeira 33, cujo patrono é
o abolicionista Castro Alves. E cita então os imortais que o sucederam:
Francisco Xavier Ferreira Marques, Heitor Praguer Fróes, Waldemar
Magalhães Mattos e Ubiratan Castro de Araújo.
Quando nos debruçamos, ao longo de sua narrativa, nos feitos dos
quatro homens que a antecederam, importa o destaque que Mãe Stella oferta
à mulher-mãe de Heitor Praguer Fróes, Francisca Praguer Fróes, considerada
feminista e uma das primeiras mulheres formadas em medicina no Brasil.
Importa-nos também o destaque a seu antecessor imediato na Cadeira
33, o historiador doutor Ubiratan Castro, um homem negro e gordo que se
empenhou contra a discriminação racial. Embora Ubiratan Castro tenha
escrito pouco, em sua carreira acadêmica ele nos demonstrou a importância
dos levantes para o Estado da Bahia. Em seus escritos também aparece a
ideia da Revolução do Haiti – somos nós os condenados da terra –, embora,
como nos lembra Caetano Veloso em sua canção: “o Haiti não é aqui”. Com
isso, precisamos acolher a revolução do Haiti, mas, ao mesmo tempo, nos
situar em nosso local de pertencimento, neste caso a Bahia e seus levantes.
Mãe Stella nos recorda, em seu discurso, um sentimento que nos afeta
positivamente – no qual aposto a louvação entre nós subalternizados, a
alegria de existirmos como gente. E nos revela que Ubiratan Castro, Bira
Gordo, que assim gostava de ser chamado, mesmo com a saúde frágil
transmitia alegria e era um ótimo contador de “causos”, ofertando-nos
grande contribuição ao mundo intelectual.
É nesse contexto que Mãe Stella nos apresenta a especificidade de
Ubiratan Castro alinhavada com a especificidade de Castro Alves. Segundo
ela, Bira narra a trajetória da libertação dos/as escravizados/as no Brasil
sublinhando a necessidade da luta constante pela liberdade, uma vez que as
correntes de ferro, antes visíveis, são no presente correntes imperceptíveis,
que marginalizam e excluem; e certamente ele buscaria na poesia de Castro
Alves a força necessária para continuar nos enaltecendo como um povo
guerreiro que sabe amar e amamentar quem os/as escravizou.
Aqui, ela nos destaca o paradoxal das civilizações entre Ubiratan,
homem negro, e Castro Alves, homem branco, que tinham um acordo e um
objetivo comuns: a liberdade dos homens e das mulheres negros/as. E com
isso nos afetamos e nos devolvemos questões: quais seriam nossas formas de
alianças? Seríamos nós, feministas etiquetadas como decoloniais, que nos
lançaríamos no voo para construir uma nova utopia com o compromisso de
alinhavar nossas alianças? Mais uma vez, evoco a metáfora das aves
reveladas em três momentos cronológicos distintos, por meio das quais
detectamos a sobrevivência pela morte de outrem: a) o condor, que serviu ao
liberalismo da América evocado na poesia do baiano Castro Alves; b) o
carcará, homenageado na voz da então jovem cantora baiana Maria Bethânia
e pela letra do maranhense João do Vale em pleno golpe militar de 1964; por
fim, em 2019, o bacurau, que nomeou o filme com roteiro e direção de
Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, no qual se encontra a
glorificação pela sobrevivência dos/as subalternizados/as e racializados/as,
mulheres, transexuais, homens negros, professores, malucos, curandeiros.
E assim concluo este texto, seguindo o conselho de Mãe Stella de
Oxóssi: tentando lidar, no paradoxo entre nem a vaidade nem a modéstia, no
movimento da tríade (ancestralidade, comunidade e espiritualidade) que
circula no ser, comprometida e pertencente.
No fim desta feitura sinto-me honrada em ter conhecido as obras da
nobre senhora cujos ensinamentos nos levam a imaginar a modelagem
ancestral, ética e estética de um/a pesquisador/a encarnado/a, em quem o
compromisso para com a justiça social, racial, de gênero, erótica, religiosa e
científica seja efetivamente sua forma blasfema de estabelecer alianças.
Origem e ideias centrais
SUSANA DE CASTRO
"Feminismo decolonial” nomeia uma corrente dos feminismos subalternos,
contra-hegemônicos, que incluem também os feminismos pós-coloniais,
negro, comunitário e indígena, cujas representantes, intelectuais não brancas,
denunciam o racismo de gênero e a forma como a geopolítica do
conhecimento silencia as vozes das intelectuais e dos intelectuais
subalternos, isto é, todas as pessoas não brancas, indígenas, negras, chicanas,
latinas, não brancas, indianas, asiáticas, afrodescendentes, mestiças,
imigrantes, e as vozes de sexualidade dissidente, pessoas transexuais, gays e
lésbicas dos países periféricos do capitalismo (antes chamados de países do
terceiro mundo, em desenvolvimento).
A geopolítica do conhecimento – dominada pelos países centrais do
capitalismo, pelo continente europeu e pelos Estados Unidos – impõe a todos
os países do mundo a epistemologia hegemônica baseada em categorias
modernas universais de pensamento. Assim, quem está autorizado a falar em
nome da raça humana e de toda a população do planeta são somente os
intelectuais e acadêmicos dos países centrais, pois eles estariam mais
capacitados a perceber o todo da questão, o todo do problema, de modo
neutro e imparcial. As mulheres e os homens subalternos não têm autoridade
e lugar de fala nessa geopolítica, porque a perspectiva a partir de um país
não desenvolvido é sempre vista como parcial e incompleta, por não ter o
domínio das categorias universais de análise.
O feminismo decolonial – constituído por intelectuais latino-
americanas, afrodescendentes, mestiças, não brancas – denuncia a origem da
geopolítica injusta do conhecimento na experiência colonial europeia nas
Américas. A colonização europeia representa um marco na constituição de
uma matriz capitalista-patriarcal de dominação econômica e intelectual que
perdura até hoje, sustentando as desigualdades socioeconômicas e as
desigualdades entre nações. Além disso, o feminismo decolonial incorpora
duas questões centrais do feminismo negro norte-americano: a não
fragmentação das opressões e a desuniversalização do sujeito “mulher”.
A fragmentação das opressões é uma forma de dominação, pois
nenhum oprimido subalterno sofre apenas um tipo de opressão. Todas as
raças e nacionalidades subalternizadas são oprimidas pelo menos
racialmente e economicamente, de modo que falar do racismo ou do sexismo
sem falar da distribuição desigual de riquezas é desviar a atenção do fato de
que a origem dessas opressões está no sistema capitalista mundial, ao mesmo
tempo que não se questiona o próprio lugar de fala privilegiado desde o
centro do capitalismo global. Além disso, a fragmentação das opressões
serve também para separar e desunir, para dominar. Uma comunidade
fragmentada, na qual homens e mulheres são inimigos uns dos outros, é
dominada muito mais facilmente do que uma comunidade em que homens e
mulheres são unidos pela solidariedade racial e de classe, e por laços
comunitários.
Como o restante dos feminismos subalternos, o decolonial também não
se vê reconhecido na representação do feminismo pelo feminismo
hegemônico-liberal-branco-ocidental-heterocentrado. As experiências e
vivências de um corpo feminino racializado, cis ou trans, e pobre, em países
da periferia global é tão própria que não há como alguém que nunca viveu
sob as mesmas condições saber seu significado ou poder descrever suas
dores. Os feminismos, portanto, são diferentes, porque há inúmeras formas
de viver em um corpo feminino. Mas quando o feminismo mainstream
reivindica a universalização da opressão de gênero como se essa opressão
atravessasse todas as culturas e classes sociais, e se sobrepusesse a outras
formas de opressão, o que ele está fazendo, na verdade, é também oprimir.
Isso é racismo de gênero.
A categoria “gênero” faz parte do sistema moderno-colonial
eurocêntrico de dominação. Na medida em que o feminismo hegemônico
reitera a centralidade dessa categoria de análise, ele é cúmplice e copartícipe
do modelo de dominação mundial do capitalismo – que se fundamenta na
separação entre ricos e pobres, entre países periféricos e centrais.
Na primeira fase do capitalismo global, iniciada com a invasão do
continente sul-americano pelos colonizadores europeus no final do século
15, “gênero” foi, ao lado de “raça”, uma das categorias fundamentais usadas
para exercer o controle e a dominação das populações nativa e escravizada.
O poder e o domínio do colonizador sobre o colonizado, a população nativa
e os negros escravizados trazidos do continente africano não se davam
exclusivamente pelo uso de força e violência, mas também, e
principalmente, pelo exercício do domínio psicológico e epistêmico (=
colonialidade do ser e do saber).
A invasão do continente latino-americano coincide com o início da era
moderna na Europa, mas normalmente os manuais sobre as histórias das
ideias não associam os dois eventos. Para os intelectuais latino-americanos
reunidos em torno do grupo que ficou conhecido como Grupo
Modernidade/Colonialidade, no entanto, os dois eventos estão
intrinsecamente ligados: a colonização é o lado escuro e oculto da
modernidade. Filósofos europeus deram sustentação ao projeto exploratório
colonial, pois nessa mesma época descreviam a humanidade por oposição ao
natural e ao animal. O humano, diferente de toda a natureza não pensante,
era pelo pensamento separado do mundo para melhor controlá-lo e dominá-
lo. Dotado de uma racionalidade do tipo instrumental, a racionalidade para a
qual a natureza é meio para o ser humano atingir seu progresso material e
econômico, o colonizador não se apresentava mais como um conquistador de
territórios e povos como antigamente, mas como um representante da cultura
europeia elevada e civilizada – por oposição à cultura inferior dos povos
nativos, presos à natureza. A não humanidade dos não europeus “autorizava”
que os europeus os explorassem da mesma forma como faziam com os
animais, sem dó nem piedade. Assim, o europeu colonizador branco
identificou nos corpos não brancos de africanos e indígenas uma diferença
“racial” que representava também uma diferença de graus de humanidade.
Quanto mais escura a pele, mais bárbaro e não humano era o indivíduo, e
isso justificava a exploração de sua força de trabalho da mesma forma que a
natureza das colônias servia à economia extrativista europeia.
A sociedade colonial era, portanto, organizada a partir da divisão social
e racial: negros e índios escravizados na base e europeus ricos no topo; no
meio, entre eles, os brancos pobres e os mestiços. A dominação completa
dependia da introjeção da ideia, pelo colonizado, de que o modo de
pensamento “racional” europeu, baseado em estrutura de pensamento
categorial dicotômica, europeu/não europeu, civilizado/bárbaro, humano/não
humano, cultura/natureza, superior/inferior, rico/pobre, homem/mulher, era
superior ao seu. Até, então, como mostra a vasta literatura sobre o assunto,
as sociedades nativas, africanas ou indígenas, organizavam-se socialmente
de forma completamente distinta. A base social era comunitária, todos os
membros do agrupamento participavam das relações de produção e
distribuição. Não havia divisão social baseada em riqueza ou pobreza. As
lideranças locais eram ocupadas pelas pessoas mais velhas, e as famílias não
eram estruturadas em núcleos e sob o domínio do pai, como no caso
europeu.
Uma das formas de destruição desse modelo comunitário de
organização foi a introdução do sistema moderno/colonial de gênero. Na
medida em que as mulheres nativas eram retratadas como não humanas ou
selvagens, eram assim retratadas contraditoriamente como “não mulheres”.
O sistema europeu de gênero identificava a humanidade como dividida
pelo binômio de gênero homem/mulher. A feminilidade era considerada
universalmente expressa pela oposição ao masculino, a mulher era o outro
do homem. Isso significava que ela era o oposto do que se compreendia
como característica exclusivamente do masculino: frágil, passiva, doméstica,
materna, emotiva, insegura e fraca. Quem não reproduzisse esse modelo de
feminilidade era evidentemente considerado não mulher e, portanto, não
humana.
Mas claro que a relação entre homens e mulheres na época anterior à
colonização não se baseava nessa dicotomia de gêneros opostos que se
complementam, porque o modo de pensamento comunitário não era
dicotômico e categorial. Não havia essa expectativa de que o sexo biológico
determinasse de modo essencial a posição social e o comportamento das
pessoas. A introdução do sistema sexo-gênero na colônia foi, por essa razão,
uma ferramenta poderosa de dominação, pois fomentava a oposição entre
homens e mulheres, pondo em risco os laços comunitários. A divisão e a
fragmentação, a separação em categorias opostas, como as de gênero e raça,
representam o modo do pensamento europeu moderno que perdura até hoje e
que serve de estratégia de dominação e exclusão.
O feminismo surge justamente para contrapor-se a essas dicotomias de
gênero e a esses ideais de masculinidade e feminilidade que colocavam as
mulheres no lado doméstico e submisso. O hegemônico feminismo branco
de classe média serve aos interesses de dominação capitalista patriarcal
quando define a dominação masculina com base em sua experiência. Assim,
por exemplo, durante um longo período a pauta do feminismo mundial foi o
direito da mulher ao trabalho e à vida pública. Mas essas questões jamais
fizeram parte da pauta, por exemplo, das mulheres negras ou das mulheres
trabalhadoras. O feminismo negro norte-americano foi o primeiro a apontar
essa falha ao anunciar que a matriz de dominação era múltipla e envolvia
não apenas a diferença de gênero, mas também a econômica e a de raça.
As mulheres racializadas dos países periféricos do capitalismo global
carregam no corpo a experiência da colonização. Na época colonial não
foram consideradas mulheres; ao contrário, eram, na visão do colonizador,
bestas sexuais, selvagens. Somente na medida em que foram
“embranquecendo” ao longo dos séculos, isto é, submetendo-se ao ideal
civilizado de feminilidade, foram então reconhecidas como “mulheres”. Essa
ferida colonial nunca foi sarada, e o ponto de vista soberano do colonizador
perdura até hoje nas relações centro-periferia. Para o feminismo
hegemônico, as mulheres periféricas precisam de sua ajuda para se tornarem,
como elas, mulheres economicamente independentes e autônomas – o que
nos faz concluir que elas ainda nos veem com a mesma condescendência dos
dominadores para com os não humanos.
O fim da colonização não significou o fim do eurocentrismo e da
dominação do capitalismo global sobre a economia dos países não europeus.
A população local já havia sido socialmente estratificada de acordo com o
ideal de branquitude. O racismo se entranhou nas relações sociais das ex-
colônias. Além disso, a relação de suposta superioridade cultural da
metrópole para com a colônia foi transposta para o nível da geopolítica do
conhecimento. As antigas colônias não realizaram um resgate cultural de
suas raízes não europeias, valorizando seus saberes e pensamento. Muito ao
contrário, mantiveram uma mentalidade de inferioridade diante da cultura
branca europeia – e norte-americana, diríamos hoje. Qualquer indivíduo
pode facilmente constatar como a mentalidade colonizada perdura nas
sociedades latino-americanas, ao observar a mídia e a moda. Se um
extraterrestre chegasse ao nosso país agora e assistisse aos programas de
televisão, concluiria que a maioria da população é branca ou embranquecida
– jamais imaginaria que mais da metade dos brasileiros é de
afrodescendentes.
Dividir para governar: era esse o lema da matriz de dominação
capitalista global. Nesse sentido, raça e gênero sempre foram tratados como
temas distintos. Isso permitiu que o feminismo hegemônico branco
descrevesse a opressão feminina separadamente de todos os outros vetores
de dominação, como o racial, de classe ou de nacionalidade.
Sobretudo hoje, quando a crise pandêmica do capitalismo global traz à
tona conflitos raciais e econômicos, fica mais patente a necessidade de o
feminismo brasileiro buscar resgatar as experiências comunitárias dos povos
originários, quilombolas, brasileiros, caribenhos e latino-americanos.
Precisamos também resgatar e valorizar a contribuição do feminismo negro
brasileiro para a crítica às categorias de pensamento ocidentais modernas, e
nos alinhar ao projeto de decolonizar nossa mentalidade periférica fazendo
pesquisa não de modo neutro, mas a partir da singularidade de nossas
experiências.
Certamente não se trata de tarefa fácil, uma vez que o capitalismo
global iguala todos os povos de modo artificial, ao nos fazer crer que
pertencemos a uma aldeia global onde todos desejamos as mesmas coisas, os
mesmos objetos de consumo. Valorizar as diferenças não significa excluir.
Precisamos de uma nova metodologia de pesquisa que incorpore e valorize
as diferenças e que não procure nivelar todas as experiências a um
denominador comum: o da branquitude hegemônica, patriarcal, racista e
heterocentrada. Precisamos de mais estudos sobre a branquitude, que nos
mostrem por que o corpo branco não é racializado, enquanto todos os corpos
não brancos são. Não falamos de feminismo branco, mas sim de feminismo
negro e feminismo indígena. Por que será?
Neste texto o leitor escutou as vozes de diversos autores: María
Lugones, Yuderkys Espinosa Miñoso, Ochy Curiel, Aníbal Quijano,
Oyèrónké Oyěwùmí, Angela Davis, bell hooks, Patricia Hill Collins, Lélia
Gonzalez, Gayatri Spivak, entre outros. A elxs devo meu agradecimento pela
oportunidade que me deram de reconhecimento libertador do meu lugar de
subalternidade dentro da geopolítica do conhecimento e do feminismo
hegemônico acadêmico.
colaboraram nesta edição
Caroline Marim é doutora em Filosofia pela UFRJ e professora
colaboradora do programa de pós-graduação em Filosofia da PUC-RS. É
coordenadora do grupo de pesquisa Epistemologias, Narrativas e Políticas
Afetivas Feministas (CNPq/PUC-RS).
Mary Garcia Castro é doutora em Sociologia pela Universidade da Flórida
e professora visitante no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. É
pesquisadora da Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-
Brasil).
Príscila Carvalho é doutora em Ciência Política pela UFMG e pesquisadora
em estágio pós-doutoral no Instituto da Democracia e da Democratização da
Comunicação (INCT).
Suely Messeder é doutora em Antropologia pela Universidade de Santiago
de Compostela e professora titular da Uneb. É coordenadora do grupo de
pesquisa Enlace (Uneb).
Susana de Castro é doutora em Filosofia pela Universidade de Munique e
professora associada do Departamento de Filosofia e do programa em pós- -
graduação em Filosofia da UFRJ.
Table of Contents
entrevista Claudia Roquette-Pinto
Imagens poéticas
dossiê O que é o feminismo decolonial?
Apresentação
Decolonialidade do saber versus colonialidade do poder?
Em busca de uma identidade brasiliana
Decolonizando o olhar
Aliança e compromisso
Origem e ideias centrais
colaboraram nesta edição
Você também pode gostar
- Queer Zones Vol 1: políticas das identidades sexuais, das representações e dos saberesNo EverandQueer Zones Vol 1: políticas das identidades sexuais, das representações e dos saberesAinda não há avaliações
- Revista Cult - Judith Butler A Filósofa Que Rejeita ClassificaçõesDocumento4 páginasRevista Cult - Judith Butler A Filósofa Que Rejeita ClassificaçõesAnna Luiza ColiAinda não há avaliações
- Pax Neoliberalia: Mulheres e a reorganização global da violênciaNo EverandPax Neoliberalia: Mulheres e a reorganização global da violênciaAinda não há avaliações
- Transcartografia: Atrizes e atores trans na cena teatralNo EverandTranscartografia: Atrizes e atores trans na cena teatralAinda não há avaliações
- TC 6 CARNEIRO Suely Mulheres Negras e Poder PDFDocumento10 páginasTC 6 CARNEIRO Suely Mulheres Negras e Poder PDFArtur Elias FernandesAinda não há avaliações
- Breves danças à margem: Explosões estéticas de dança na década de 1980 em GoiâniaNo EverandBreves danças à margem: Explosões estéticas de dança na década de 1980 em GoiâniaAinda não há avaliações
- Masculinidades NegrasDocumento20 páginasMasculinidades NegrasAlice VitóriaAinda não há avaliações
- Suely Rolnik - Anotações Antropofágicas de Nosso TempoDocumento2 páginasSuely Rolnik - Anotações Antropofágicas de Nosso TempoMarilene PontesAinda não há avaliações
- Janaina Fontes Le It eDocumento119 páginasJanaina Fontes Le It ePedro PereiraAinda não há avaliações
- A família brasileira na TV: uma perpectiva antropológicaNo EverandA família brasileira na TV: uma perpectiva antropológicaAinda não há avaliações
- Angela Figueiredo e Ramón Grosfoguel Sobre Intelectuais Negros Na Universidade PDFDocumento6 páginasAngela Figueiredo e Ramón Grosfoguel Sobre Intelectuais Negros Na Universidade PDFleoamphibioAinda não há avaliações
- O Corpo Como Repertório Nas Performances CulturaisDocumento12 páginasO Corpo Como Repertório Nas Performances CulturaislucianolukeAinda não há avaliações
- Teatro PósDocumento4 páginasTeatro PósNinaSueLove100% (1)
- Ney Matogrosso... Para Além do Bustiê:: Performances da Contraviolência na Obra Bandido (1976-1977)No EverandNey Matogrosso... Para Além do Bustiê:: Performances da Contraviolência na Obra Bandido (1976-1977)Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Milton Gonçalves: Memórias históricas de um ator afro-brasileiroNo EverandMilton Gonçalves: Memórias históricas de um ator afro-brasileiroAinda não há avaliações
- Audre Lorde - As Ferramentas Do Mestre Nunca Vão Desmantelar A Casa-GrandeDocumento4 páginasAudre Lorde - As Ferramentas Do Mestre Nunca Vão Desmantelar A Casa-GrandeMaíra Mee Daher Dutra da SilvaAinda não há avaliações
- CABALLERO Ileana Dieguez Cenarios Limina-2Documento44 páginasCABALLERO Ileana Dieguez Cenarios Limina-2Ferdinando MartinsAinda não há avaliações
- A experiência do cinema Lucrecia Martel: Resíduos do tempo e sons à beira da piscinaNo EverandA experiência do cinema Lucrecia Martel: Resíduos do tempo e sons à beira da piscinaAinda não há avaliações
- O cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971No EverandO cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971Ainda não há avaliações
- O Conceito de Cultura Segundo Félix GuattariDocumento6 páginasO Conceito de Cultura Segundo Félix GuattariFabio GomesAinda não há avaliações
- O Negro Brasileiro e o Cinema: História, Militância e Arquétipos RaciaisDocumento6 páginasO Negro Brasileiro e o Cinema: História, Militância e Arquétipos RaciaisRafael CostaAinda não há avaliações
- Revista Continente Multicultural #264: Sonho & esperançaNo EverandRevista Continente Multicultural #264: Sonho & esperançaAinda não há avaliações
- Poesia em Forma de Imagem: Arquivo nas Práticas Experimentais do CinemaNo EverandPoesia em Forma de Imagem: Arquivo nas Práticas Experimentais do CinemaAinda não há avaliações
- Dora 01Documento46 páginasDora 01Vera Lúcia CarvalhoAinda não há avaliações
- Chimamanda Adichie - o Perigo de Uma Única História - GeledésDocumento5 páginasChimamanda Adichie - o Perigo de Uma Única História - GeledésGilson José Rodrigues Junior de AndradeAinda não há avaliações
- Versos Fanchonos, Prosa Fressureira: uma antologia (1860-1910)No EverandVersos Fanchonos, Prosa Fressureira: uma antologia (1860-1910)Ainda não há avaliações
- Corpos Trans-Formados No CinemaDocumento173 páginasCorpos Trans-Formados No CinemaRose OliveiraAinda não há avaliações
- Feminismos, ações e histórias de mulheresNo EverandFeminismos, ações e histórias de mulheresAinda não há avaliações
- Como o Genero Estrutura o Sistema Prisional - Angela Y. DavisDocumento14 páginasComo o Genero Estrutura o Sistema Prisional - Angela Y. DavisWillian Rossi Pereira Correa100% (1)
- Transversalidade de gênero e raça: com abordagem interseccional em políticas públicas brasileirasNo EverandTransversalidade de gênero e raça: com abordagem interseccional em políticas públicas brasileirasAinda não há avaliações
- Paisagem e Deriva no Cinema de Clint Eastwood: décadas de 70, 80 e 90No EverandPaisagem e Deriva no Cinema de Clint Eastwood: décadas de 70, 80 e 90Ainda não há avaliações
- Tropicacosmos: Interseções estéticas a partir da música de Caetano Veloso e do cinema de Glauber RochaNo EverandTropicacosmos: Interseções estéticas a partir da música de Caetano Veloso e do cinema de Glauber RochaAinda não há avaliações
- Assimétricos: Textos militantes de uma pessoa com deficiênciaNo EverandAssimétricos: Textos militantes de uma pessoa com deficiênciaAinda não há avaliações
- Cinema queerité: Gêneros e identidades no documentário "Paris is burning"No EverandCinema queerité: Gêneros e identidades no documentário "Paris is burning"Ainda não há avaliações
- Juventudes: violência, biocultura, biorresistênciaNo EverandJuventudes: violência, biocultura, biorresistênciaSilvia Helena Simões BorelliAinda não há avaliações
- As Representações Do Homem NegroDocumento19 páginasAs Representações Do Homem NegroRafael CasaisAinda não há avaliações
- Triângulo rosa: Um homossexual no campo de concentração nazistaNo EverandTriângulo rosa: Um homossexual no campo de concentração nazistaAinda não há avaliações
- AZEVEDO, Adriana - Sexorcismos Selvagens - Pós-Pornografia e PerformanceDocumento15 páginasAZEVEDO, Adriana - Sexorcismos Selvagens - Pós-Pornografia e PerformanceAlex VilaçaAinda não há avaliações
- "Axé"tetura, Espaços Do Sagrado À Margem-1Documento67 páginas"Axé"tetura, Espaços Do Sagrado À Margem-1Pedro ValadaresAinda não há avaliações
- Richard Schechner - O Que É PerformanceDocumento24 páginasRichard Schechner - O Que É PerformanceBernardo StumpfAinda não há avaliações
- BORGES, Fabiane BENSUSAN, Hilan. Breviário de Pornografia EsquisotransDocumento156 páginasBORGES, Fabiane BENSUSAN, Hilan. Breviário de Pornografia EsquisotransDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- Mireya Suárez - Enfoques Feministas e Antropologia PDFDocumento12 páginasMireya Suárez - Enfoques Feministas e Antropologia PDFCaetano SordiAinda não há avaliações
- Resumo Preâmbulo Direito Processual PenalDocumento7 páginasResumo Preâmbulo Direito Processual PenalJoana Graça100% (1)
- Arrendamento ForçadoDocumento8 páginasArrendamento ForçadoMiguel CardosoAinda não há avaliações
- SILVEIRA JR., A. - Gramsci No Servico Social - 2021Documento152 páginasSILVEIRA JR., A. - Gramsci No Servico Social - 2021nathalia100% (1)
- APOSTILA DE SOCIOLOGIA 2º Ano 3º TriDocumento6 páginasAPOSTILA DE SOCIOLOGIA 2º Ano 3º TriShaolin Matador de porcoAinda não há avaliações
- DODF 043 04-03-2022 INTEGRA-páginas-20-22Documento3 páginasDODF 043 04-03-2022 INTEGRA-páginas-20-22Marc ArnoldiAinda não há avaliações
- Fontes Do Direito Do TrabalhoDocumento9 páginasFontes Do Direito Do TrabalhoGilbertoGonçalvesFreireAinda não há avaliações
- Negro Sou Negro Permanecerei - Aimé CesaireDocumento29 páginasNegro Sou Negro Permanecerei - Aimé CesaireMenelik KiluanjiAinda não há avaliações
- Disserta o Camila Com Infer Ncias Aceitas 26 de JanDocumento137 páginasDisserta o Camila Com Infer Ncias Aceitas 26 de JanBruno FioravanteAinda não há avaliações
- Guia para Os Gestores - Equipagem Dos Conselhos Tutelares No BrasilDocumento20 páginasGuia para Os Gestores - Equipagem Dos Conselhos Tutelares No BrasilAlissonAinda não há avaliações
- Apostila Historia 1 Ano 2 Bimestre AlunoDocumento27 páginasApostila Historia 1 Ano 2 Bimestre AlunoTricia CarnevaleAinda não há avaliações
- Artigo - Pedagogia Da Moralidade A Ordem Civilizatória ImperialDocumento25 páginasArtigo - Pedagogia Da Moralidade A Ordem Civilizatória Imperialelline85Ainda não há avaliações
- Hugh Trevor RoperDocumento4 páginasHugh Trevor Roperbreno666Ainda não há avaliações
- 21-Esp - 7Documento3 páginas21-Esp - 7kauaneAinda não há avaliações
- Lady Lety - DefinitivoDocumento555 páginasLady Lety - DefinitivoSextonKleinAinda não há avaliações
- Aval Historia 8 Ano 2 Bi - CópiaDocumento2 páginasAval Historia 8 Ano 2 Bi - Cópiajrvoivod4261Ainda não há avaliações
- Na Força Do Espirito PDFDocumento179 páginasNa Força Do Espirito PDFPaulo SoaresAinda não há avaliações
- Jlourique, Aulus 2 Um Testemunho Do CárcereDocumento14 páginasJlourique, Aulus 2 Um Testemunho Do CárcereTATIANE MARCHIAinda não há avaliações
- Mark Douglas - Trading in The Zone - TraduzidoDocumento141 páginasMark Douglas - Trading in The Zone - TraduzidoMelke oliveira rodriguesAinda não há avaliações
- Ordem de Trabalhos e Documentação - 2 Sessão Ordinária 2018 Da Assembleia Municipal Do SeixalDocumento1.130 páginasOrdem de Trabalhos e Documentação - 2 Sessão Ordinária 2018 Da Assembleia Municipal Do Seixaldocumentos_seixal100% (1)
- Pensar o DocumentárioDocumento392 páginasPensar o DocumentárioMannu Costa100% (1)
- 5 Debates Dos Estudos de Segurança Internacional e Segurança Humana Uma Breve Análise Sobre A Evolução Dos Estudos de Segurança PDFDocumento11 páginas5 Debates Dos Estudos de Segurança Internacional e Segurança Humana Uma Breve Análise Sobre A Evolução Dos Estudos de Segurança PDFAlyneRayannaAinda não há avaliações
- Assistente SocialDocumento42 páginasAssistente SocialAlda KoglinAinda não há avaliações
- 2 - Estigma Do LucroDocumento6 páginas2 - Estigma Do LucroRodrigo Pires KuchaniAinda não há avaliações
- Lei de Alteracao Da Tabela Salarial Unica TSU e Lei de Investimentos 2023Documento12 páginasLei de Alteracao Da Tabela Salarial Unica TSU e Lei de Investimentos 2023LUCIRDOAinda não há avaliações
- Os Limites Do Poder Fiscalizador Do Tribunal de Contas Do Estado - Jorge U. Jacoby FernandesDocumento24 páginasOs Limites Do Poder Fiscalizador Do Tribunal de Contas Do Estado - Jorge U. Jacoby FernandesJohn WinstonAinda não há avaliações
- Filososia Do Acontecimento DeleuzeDocumento13 páginasFilososia Do Acontecimento DeleuzePedro BragaAinda não há avaliações
- O Processo de Desmonte Das Políticas PúblicasDocumento19 páginasO Processo de Desmonte Das Políticas PúblicasEnaire SousaAinda não há avaliações
- MANUAL Padronização de Doc EscolaresDocumento110 páginasMANUAL Padronização de Doc EscolaresAlessandra SilvaAinda não há avaliações
- Plano de Curso - DIREITOS HUMANOSDocumento3 páginasPlano de Curso - DIREITOS HUMANOSvelosoAinda não há avaliações
- Fichamento - ChristianLaval - A Escola Não É Uma Empresa - Tópico 4 - Capítulo 1Documento5 páginasFichamento - ChristianLaval - A Escola Não É Uma Empresa - Tópico 4 - Capítulo 1Gabriel MaiaAinda não há avaliações