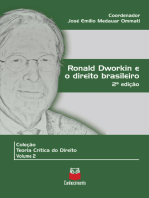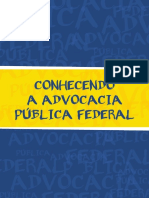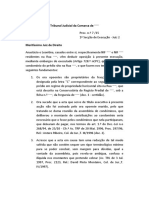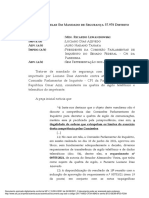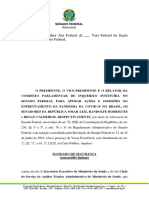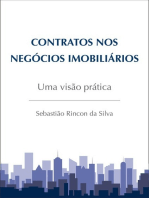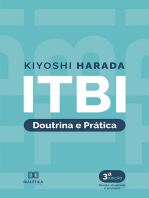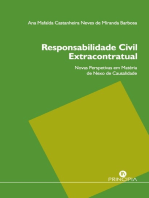Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Critica Hermeneutica Do Direito e o Pensamento D
Enviado por
Daiane RibeiroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Critica Hermeneutica Do Direito e o Pensamento D
Enviado por
Daiane RibeiroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
http://dx.doi.org/10.18593/ejjl.v17i2.
11996
ENTREVISTA COM LENIO LUIZ STRECK
A EJJL nesta seção de entrevistas, mais uma vez oferece ao seu público leitor este diálogo
enriquecedor de um pesquisador notável com numerosos trabalhos em temas de extrema importân-
cia e que desperta interesse e análise de especialistas na área da Filosofia do/no Direito e da Filosofia
Política atual. A ampla divulgação de seus trabalhos no Brasil e em toda a América Latina, bem como
suas participações e congressos e seminários têm sido objeto de importantes reflexões. Numa visão
única e diferenciada do Direito, suas publicações são motivo de inspiração de uma geração. Dentre
as muitas questões que poderiam ser relacionadas, foram escolhidos entrevistadores que pudessem
provocar o senso incomum do entrevistado sobre assuntos atuais como, por exemplo, ponderação,
neoconstitucionalismo e o ativismo judicial.
Nesta nossa entrevista, diferentes Programas de Pós-Graduação stricto sensu (mestrados e
doutorados), todos com área de concentração ou linha de pesquisa em Direitos Humanos e Direitos
Fundamentais, aceitaram o convite da EJJL.
Lenio Luiz Streck é Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Ca-
tarina. Pós-doutor pela Universidade de Lisboa. Professor titular do Programa de Pós-Graduação
em Direito (Mestrado e Doutorado) da UNISINOS, na área de concentração em Direito Público.
Professor permanente da UNESA-RJ, de ROMA-TRE (Scuola Dottorale Tulio Scarelli), da Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra. FDUC (Acordo Internacional Capes-Grices) e da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa. Membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Cons-
titucional - ABDConst.
Além disso, Lenio Luiz Streck é um dos mais destacados juristas brasileiros. Presidente de
Honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica - IHJ (RS-MG). Membro da comissão permanente de
Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB, do Observatório da Jurisdição
Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP, da Revista Direitos Fundamentais
e Justiça, da Revista Novos Estudos Jurídicos, entre outros. Coordenador do DASEIN - Núcleo de
Estudos Hermenêuticos. Ex-Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Pesquisador e autor de inúmeras obras no brasil e exterior. Dentre suas publicações mais
recentes, destacam-se os seguintes livros: Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica (3. ed.); Her-
menêutica Jurídica e (m) Crise (11. ed.); Verdade e Consenso (5. ed.), além dos livros, em espanhol:
Verdad y Consenso, Hermenéutica y Decisión Judicial, e Hermenéutica Jurídica: estudios de teoría
del derecho. Tem experiência na área do Direito, com ênfase em Direito Constitucional, Hermenêu-
tica Jurídica e Filosofia do Direito
EJJL Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 387
Entrevista
Entrevistadores:
Jorge Miranda – Doutor em Direito (Ciências Jurídico-Políticas) pela Universidade de Lis-
boa (1979). Professor catedrático das Faculdades de Direito da Universidade de Lisboa e da Universi-
dade Católica Portuguesa (desde 1985). Membro de várias outras organizações científicas portuguesas
e internacionais. Pertence aos conselhos científicos de diversas revistas científicas portuguesas e inter-
nacionais. Tem proferido conferências, ministrado cursos e participado em reuniões e congressos cien-
tíficos em Espanha, França, Itália, Bélgica, Suíça, Alemanha, Áustria, Polónia, Rússia, México, Brasil,
Marrocos, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Macau e Japão.
Alexandre Morais da Rosa – Doutor em Direito (UFPR), com estágio de pós-douto-
ramento em Direito (Faculdade de Direito de Coimbra e UNISINOS). Mestre em Direito (UFSC).
Professor Adjunto de Processo Penal e do CPGD (mestrado) da UFSC. Professor da UNIVALI. Juiz de
Direito (SC). Pesquisa Judiciário, Processo e Decisão, com perspectiva transdisciplinar. Coordena o
Grupo de Pesquisa Judiciário do Futuro (cnpq)
Nuria Belloso Martín – Doutora em Direito pela Universidade de Valladolid (Espanha).
Professora titular de Filosofia do Direito da Universidade de Burgos (Espanha). Diretora do Depar-
tamento de Direito Público, coordena o Mestrado em Direito Empresarial e Negócios, Faculdade de
Direito da Universidade de Burgos. Ele atuou como coordenador do Doutorado do Programa de Di-
reito Público em desde 1996. Colabora e pesquisa com Universidades da América Latina e da América
Central (Brasil, Argentina, Cuba, etc.) Sua pesquisa recai principalmente em quatro áreas temáticas:
O pensamento jusfilosófica da escola espanhola do século XVI; Cidadania e fortalecimento dos di-
reitos humanos; formas complementares de resolução de litígios (mediação, negociação); e, por fim,
a interpretação jurídica e neoconstitucionalismo.
Ernildo Jacob Stein – Pós-doutor pela Universidade de Erlangen-Nuremberg (1972),
Pós-doutor pela Universidade de Heidelberg entre outras. Um dos mais importantes pesquisadores
brasileiros sobre Filosofia, com ênfase em Filosofia Contemporânea. Atuando principalmente nos
seguintes temas: Fenomenologia, Antropologia, Heidegger, Círculo hermenêutico, Método.
Yuri Schneider – É Doutor em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos
– UNISINOS e Membro dos grupos de pesquisa “Teorias da Democracia no Âmbito da Efetivação
dos Direitos Fundamentais” e “Direitos Humanos Fundamentais e Democracia a partir de Jürgen Ha-
bermas. Editor-Chefe da Revista de Direito da Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do
Ministério Público do RS. Editor-Associado da Revista Espaço Jurídico - Journal of Law da UNOESC.
Rafael Tomaz de Oliveira – Doutor em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio
dos Sinos. Possui Mestrado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2007) e Gradu-
ação em Direito pela Faculdade de Direito de Franca (2005). Professor Titular do Programa de Pós-
-Graduação em Direito da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP/SP) e da Faculdade Guanambi
(Guanambi/BA). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, atuando prin-
cipalmente nos seguintes temas: Direito Constitucional e concreção de Direitos Coletivos; Ciência
Política e Teoria do Estado; Filosofia do Direito e Hermenêutica Jurídica.
388 Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 EJJL
Entrevista
Vinícius Mozetic – Doutorando em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos
- (UNISINOS). Professor-visitante da Charles University, Praga – República; Professor-visitante e
membro do grupo de pesquisa - per l’actualització del dret de la persona i familiar - UAB-Barcelona;
professor-visitante da Cardinal Stefan Wyszyński University, Varsóvia - Polônia. Membro do grupo
de pesquisa do Mestrado em Direito da UNOESC, Chapecó - Brasil (Dimensões Materiais e Efica-
ciais dos Direitos Fundamentais). Advogado
Apraz-nos muito organizar esta entrevista, e é importante salientar que as discussões aca-
dêmicas foram intensas e proveitosas. De fato, foi uma grande satisfação receber perguntas de re-
nomados pesquisadores de diferentes partes do Brasil, e, ainda, do exterior. Mais que isso, respostas
esclarecedoras de um dos mais importantes juristas da atualidade. Temos a certeza de que o leitor
perceberá a consistência acadêmica das perguntas e respostas adiante organizadas. Nosso sincero
agradecimento.
Desejamos a todos uma ótima leitura!
Os organizadores,
Yuri Schneider e Vinícius Almada Mozetic
A CRÍTICA HERMENÊUTICA DO DIREITO E O PENSAMENTO DE LENIO STRECK
JORGE MIRANDA
1. O Supremo Tribunal Federal não deveria ser essencialmente um Tribunal Cons-
titucional, aliviado da massa enorme de poderes que recebeu?
Lenio Streck: Sem dúvida, Professor. Durante o processo constituinte lutamos por isso.
Mas não tivemos apoio sequer junto ao Supremo Tribunal, cujos integrantes preferiram continuar
com o atual modelo. O problema do excesso de atribuições do Supremo Tribunal Federal se agrava
pela opção presidencialista feita pelo constituinte, ratificada por plebiscito em 1993. As tensões
constantes entre Executivo e Legislativo acabam sendo decididas pelo Judiciário, que se fortalece,
transformando-se em um superpoder. É difícil exigir equilíbrio entre Poderes em um presidencialis-
mo de coalisão como o brasileiro. Tudo isso acaba, como um moto continuo, no ativismo judicial,
a ponto de um dos Ministros da Suprema Corte, Marco Aurélio Mello, reiteradamente chamar a
atenção de seus pares para a ordem em que os Poderes da República estão elencados na Constituição:
Legislativo, Executivo e, em terceiro lugar, o Judiciário. Penso que transformar o Supremo Tribu-
nal em um Tribunal Constitucional por si não resolve o problema; seria necessário implementar o
parlamentarismo, para mim mais compatível com o modelo de Tribunais Constitucionais. No atual
modelo presidencialista “de coalisão”, repassar as tensões para um tribunal constitucional apenas
transferiria o problema para outro superpoder.
EJJL Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 389
Entrevista
2. É conforme ao Estado de Direito ser o senado que confere eficácia geral às de-
cisões de Supremo Tribunal Federal no controlo concreto da constitucionalidade?
Lenio Streck: O modelo brasileiro está assentando na distinção entre vigência e validade,
a primeira a cargo do legislativo e a segunda, ao judiciário. Explico: desde 1891 temos o controle
difuso. Somente em 1934 é que nos demos conta de que faltava um modo de conferir efeito erga
omnes às decisões do STF. A solução foi a da remessa ao Senado, que suspende a vigência da lei com
efeito ex nunc. Veja-se que, quando de sua criação, essa remessa levava em conta o fato de que o con-
trole de constitucionalidade era somente difuso. Em 1965 transformamos nosso modelo difuso em
misto, agregando o concentrado. E mantivemos a remessa ao Senado. Com a Constituição de 1988,
não fizemos alterações nesse modelo. Separamos nitidamente o controle concentrado do controle
difuso. O primeiro impasse ocorreu quando da discussão da Reclamação 4335, em que os Ministros
Eros Grau e Gilmar Mendes entenderam que o artigo 52,X, que obriga a remessa da decisão difusa
ao Senado, era obsoleto. Equipararam, então, os dois modelos em termos de efeitos. Penso que essa
decisão foi equivocada. Devemos ter uma diferença entre uma decisão em controle difuso e em con-
trole concentrado. Porque o Senado retirará, se assim entender, a vigência da lei. E isso somente pode
ser com efeitos para o futuro. O controle concentrado é que, em regra, se dá para trás e para frente.
Não pode haver efeito vinculante de uma decisão tomada em controle difuso.
3. É conforme o Estado de Direito ser o Senado Federal a julgar o Presidente da
República por crimes de responsabilidade?
Lenio Streck: O julgamento pelo Senado sempre tem um grave risco: tratando-se de
crime, há que se ter extremo cuidado para não esvaziar o aspecto jurídico e transformar tudo em
politica e ideologia. É o caso recente, em que o direito foi obnubilado pela politica. Transformaram o
impeachment em uma espécie de recall ou em um mecanismo de queda de gabinete parlamentarista.
Isso tem de ser alterado, futuramente.
4. Não é melhor a solução portuguesa de julgamento pelo Supremo Tribunal de
Justiça?
Lenio Streck: Sem dúvida.
5. Não se corre o risco de parlamentarizar um sistema de governo presidencial?
Lenio Streck: Este é o ponto. Acabamos, no Brasil, de passar por um trauma. Mais um,
aliás. Por quê? Porque capturamos elementos do parlamentarismo para encurtar o mandato de um
Chefe de governo e Estado eleito democraticamente. Isso é grave. Não separamos devidamente o
jurídico do político. Nitidamente, no caso da Presidente Dilma, o elemento jurídico foi contornado.
390 Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 EJJL
Entrevista
A autonomia do direito, conquistada a duras penas naquilo que o senhor mesmo, Professor Jorge
Miranda, chamou de Revolução Copernicana do Direito Público, ficou fragilizada.
ALEXANDRE MORAIS DA ROSA
1. Até que ponto a noção de resposta constitucionalmente adequada é confundida
como única resposta?
Lenio Streck: Talvez isso venha da tradução daquilo que Dworkin chamou de one right
answer. Penso que isso quer dizer “uma resposta”. One. Dworkin não diz the only. Claro que é possível
ler como única, reconheço. Mas me parece que o contexto da obra de Dworkin aponta para “uma
resposta correta”, que, ao afastar as demais, se torna “aquela”. De todo modo, a CHD - Critica Her-
menêutica do Direito - não se preocupa com a tradição ou a opção dworkiniana. A CHD faz uma an-
tropofagia de Dworkin e Gadamer, no sentido de estabelecer e /ou buscar “verdades hermenêuticas”.
Lendo-se o direito na sua melhor luz, já se afastam os sentidos inadequados. Nesse sentido a herme-
nêutica não é, em sim, como diz Stein, uma necessidade. Na verdade, é a complexidade do direito
que exige que o compreendamos hermeneuticamente. Não se usa a fenomenologia hermenêutica ou
até mesmo a teoria integrativa de Dworkin diretamente no direito. Isso seria instrumentalizar as te-
orias. Por isso, hoje já não respondo diretamente quando me perguntam coisas como “Dworkin não
disse isso” ou “Gadamer não trabalhou esse ponto” ou “Heidegger não pensou no direito”. A Crítica
Hermenêutica do Direito é uma teoria ou tese que opera desde sempre no nosso modo de lidar com
o direito. Ela já é um produto a partir da qual fazemos desleituras no fenômeno jurídico. Gadamer,
mesmo, escreveu a sua obra máxima que pode ser lida como Verdade contra o Método. Revolvido o
chão linguístico em que se aloja a tradição do fenômeno, reconstrói-se a sua história institucional.
Ao final, já estaremos em frente a um outro fenômeno. E, é claro, leva-se em conta que o direito
tem especificidades. Como diz Ernildo Stein, os juristas tem uma arma poderosíssima contra as
demais áreas: temos o Direito Positivo. Direito tem Constituição. Filosofia e psicanálise, não. Socio-
logia também não. Tenho objetividades mais “próximas” e “palpáveis”, por assim dizer. Limitações
textuais quer dizer limitações de sentido. Deixemos que os textos falem: isto não quer dizer tão
somente textos como se estivéssemos tratando de filologia. Textos, aqui, são eventos. Coisas. Fatos.
Sim, fatos existem. Sou antinitscheano. Quando ele diz que fatos não existem e que só existem
interpretações, eu digo: só existem interpretações porque existem fatos. Desse modo, complexa não
é a realidade; complexas são as nossas visões sobre ela, como alerta Ernildo Stein. Por isso não pode
haver mais de uma resposta adequada a Constituição. Há uma criteriologia para, no direito, encon-
trarmos essas respostas. Se em Gadamer temos a tradição, a consciência dos efeitos da história, o
circulo hermenêutico e a diferença ontológica atuando para que o fenômeno se manifeste, tudo isso
encontra correlato na CHD: tradição quer dizer coerência e integridade; tradição quer dizer entrega
da doutrina de um “produto” interpretado, que deve ter um grau de veracidade (autenticidade),
testado a partir de teorias contemporâneas sobre determinado ponto da teoria do direito lato sensu.
Diferença ontológica quer dizer texto e norma, para além até mesmo do que disse Müller, uma vez
EJJL Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 391
Entrevista
que, enquanto para ele há textos sem normas, para mim, não há texto sem norma e nem norma sem
texto. Circulo hermenêutico significa antecipação de sentido, pré-compreensão que deve ser suspen-
sa para deixar que a linguagem pública constranja o elemento interno do intérprete. Agrega-se, aqui,
a questão da responsabilidade politica do juiz. Filósofo e psicanalista não têm responsabilidade poli-
tica quando falam sobre Kant. Juiz quando decide, não faz simples escolhas: tem responsabilidade. E
deve fundamentá-las a partir de elementos objetivos, constantes em uma estrutura chamada direito,
que compreende Constituição, leis, regulamentos, jurisprudência, doutrina. Além disso tudo, há
ainda a questão da integridade do direito, que age como elemento constrangedor diretamente, como
as seis hipóteses pelas quais um juiz ou tribunal pode deixar de aplicar uma lei. E só nessas hipóteses,
invertendo-se, a partir desse filtro, o direito em direção a um dever. Some-se a autonomia do direito,
o compromisso com o não relativismo, o rechaço da discricionariedade e a questão da identificação
de atitudes ativistas, que são perniciosas à democracia. Há três perguntas fundamentais que identi-
ficam se o ato é ativista ou se estamos em face de uma contingencial judicialização da politica. Mais
ainda, na CHD o processo é condição de possibilidade. Há um rechaço de que primeiro o juiz decide e
depois busca a motivação ou fundamentação. Não pode haver livre convencimento motivado. É uma
contradição performativa. Entra, aí, o dilema da ponte: não se pode atravessar o abismo gnosiológico
do conhecimento, chegar do outro lado e depois retornar para construir a ponte pela qual já se pas-
sou. Decidir primeiro e só depois fundamentar é uma impossibilidade filosófica. Mas, fosse possível,
o processo não teria importância. O próprio direito se tornaria inútil. E os juristas perderiam sua
função. Restariam apenas quem decide. O direito seria pura empiria ou pragmaticismo.
2. No artigo 489 do NCPC, quando o juiz indicar dignidade da pessoa humana
sem fazer referência ao fundamento teórico (Kant, Hegel, etc.), estaria violando o dever
de fundamentação?
Lenio Streck: Claro que não. Fundamentação é condição de possibilidade. Mas não é,
necessariamente, uma fundamentação filosófico-paradigmática. Juiz tem responsabilidade política.
Vou me estender um pouco e peço paciência. Há coisas importantes que deveriam fazer com que os
juristas se dessem conta do perigo que é dar um tiro no pé ao desdenhar da importância da filosofia.
Mas filosofia como “filosofia no direito” e não como ornamento. Por exemplo, quando falamos em
livre convencimento ou livre apreciação da prova inegavelmente estamos tratando do paradigma
filosófico instituidor da modernidade. O sujeito da modernidade é uma descoberta de Descartes.
Aquilo que se mostrava nos sofistas ou no nominalismo ainda não era “o sujeito”. Ainda na moder-
nidade, Kant mostra a impossibilidade da apreensão da coisa em si, isto é, o que precisamos para
compreender algo não vem da coisa (em si), mas da autonomia do sujeito, liberto do “mito do dado”,
por assim dizer. O contraponto foi o voluntarismo que tomou conta inclusive das correntes “críti-
cas” do Direito. O que se diz sobre “a verdade” é fruto de tudo isso: da metafísica clássica, da filosofia
moderna e das teses e teorias que buscaram ultrapassar aquilo que superou o objetivismo (realismo)
pré-moderno. É nesse caldo de cultura que nos movemos, queiramos ou não. Quando tratamos de
392 Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 EJJL
Entrevista
“provas no processo penal ou civil”, estamos tratando das condições de possibilidade de dar sentido a
um determinado fenômeno. Pois não é que o Tribunal do Júri admite a íntima convicção? Fantástico.
O indivíduo é condenado por uma maioria que entende, no seu íntimo, que ele é culpado. Íntima
convicção, que no fundo é igual a livre convencimento. E mais não precisa ser dito. Já sugeri, há
anos, que se alterasse isso. Vi que tem gente defendendo a ideia de que o livre convencimento seria
necessário para o melhor direito, supondo uma “discricionariedade racionalizada” a meio caminho da
íntima convicção e as provas tarifadas. Contra isso, afirmo: esse tipo de defesa só teria sentido se o
Direito estivesse separado da filosofia. Só quem pensa o Direito fora dos paradigmas é que pode dizer
que o livre convencimento é necessário, ignorando dois linguistic turns e toda a intersubjetividade que
mudou a história do pensamento. Claro – e aqui vai uma ironia – o livre convencimento é necessário se
o direito é visto como uma racionalidade instrumental. Ele é tão necessário (outra ironia) quanto a
ponderação “à brasileira”, essa katchanga real que talvez tenha sido a maior fraude jurídica já mane-
jada pelos juristas (e que está no parágrafo 2º do artigo 489 do CPC: já me ofereci para a Ordem dos
Advogados do Brasil para elaborar a inicial de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade para expun-
gir essa verruga epistêmica do Código). A presidente da República não quis vetar: deve ter sido “bem
instruída” por sua equipe de assessoramento jurídico. Bom, isso apenas demonstra o cuidado com
que o governo tratou o Direito nestes 14 anos. Repito: o Brasil é incrível. Por aqui ainda tem gente
que acha que o Direito é apenas uma superestrutura. Ou uma mera racionalidade instrumental. Ou
que “o direito é aquilo que o judiciário diz que é”. O que dá, ao fim e ao cabo, tudo no mesmo. Mas,
por outro lado, se o Direito tem um papel de garantir a democracia – como deve ser sob o Estado
Democrático – discricionariedade é igual a arbítrio. Chega a ser cansativo ter de explicar que um
juiz sem livre convencimento (motivado que seja), não é um juiz do século XIX, o velho boca-da-
-lei. Definitivamente, expungir o livre convencimento dos códigos não equivale à proibição de interpretar. Não
se reproduz sentido nem se o atribui livremente. Lembremos de Gadamer: antes de dizer algo sobre o
texto, deve-se deixar que o texto diga algo. Também Müller, Habermas e Dworkin são testemunhas
de que nem de longe o mundo é tão simples quanto à divisão entre exegese e não exegese, ou realismo
e não realismo. Falta só aparecer alguém para dizer que onde está escrito “coerência e integridade” no
artigo 926 do CPC, deve-se ler apenas “estabilidade”. Não me surpreenderia. Nesse sentido, tenho re-
ferido de há muito, ironicamente, que “não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa no Di-
reito”. Veja-se que os franceses, para garantir o produto do legislador, tiveram que institucionalizar
uma rígida exegese. Mas isso foi no século XIX. Não creio que em plena democracia e na vigência do
paradigma do Estado Democrático de Direito, seja necessário, para garantir uma legalidade mínima,
seja necessário voltar a ter esse tipo de “amarração”. Vivemos hoje no paradigma da intersubjetivi-
dade. Logo, não há lugar nem para o “dono da lei”, nem para o “escravo da lei”. Ou há? Alunos de
todo Brasil (nada – mais – tendes a perder): perguntem isso aos seus professores, principalmente para
esse que fica dizendo que princípios são valores. Cobrem dele. Ponham-no contra a parede. E per-
guntem também por que o Brasil já é refém de um positivismo jurisprudencialista, fruto exatamente
dessa algaravia que se transformou a teoria e a aplicação do direito. Se ele disser: “Isso só pode ser
coisa de Lenio Streck”, não se zanguem com ele. Apenas continuem insistindo. Digam que ele pode
EJJL Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 393
Entrevista
responder a vocês na semana seguinte, dando a ele tempo para estudar isso. E Que aproveitemos as
agruras, do solipsismo e as decisões tipo “ponto fora da curva” para construirmos barreiras contra o
subjetivismo. Democracia não rima com discricionarismo e com subjetivismo. E com livre convencimento;
e tampouco com a livre apreciação da prova.
3. A invocação de proporcionalidade se indicada a partir de Alexy deve aplicar a
fórmula de sopesamento do final do livro dele?
Lenio Streck: A ponderação do CPC não pode ter nada a ver com Alexy, até porque ela é
inconstitucional, porque é ponderação de regras, etc. Por outro lado, se quiser admitir que fique, ela
deve ser a original. Só seria válida se obedecesse as três fases da máxima da proporcionalidade. No en-
tanto, eis aí talvez o grande desafio, pois como a escolha dos princípios a serem ponderados sempre
envolve um grau de discricionariedade, teremos algo próximo do que aconteceu ao caso Ellwanger.
Vários juízes poderão invocar a ponderação e por sorte da vida poderiam acertar, e mesmo que acer-
tem, por escolha discricionária dos princípios chegariam a resultados diferentes. Por todos os lados
que se olha, estamos em face a uma crônica de um fracasso anunciado. Não está na sua pergunta,
mas há ainda uma questão mais grave por trás do art. 489, § 2º, quando fala da justificação das pre-
missas utilizadas para chegar à conclusão. Aí está embutida uma questão antihermeneutica, a de que
o juiz escolhe a decisão para depois fundamentar. Além de ser um salto sobre a Fenomenologia, ela
aponta para um erro que o próprio Alexy comete ao discutir o caso dos atiradores do muro, quando
concorda com o resultado do uso da fórmula Radbruch pelo Tribunal Constitucional Federal, mas
não com a argumentação utilizada pelo mesmo. Ou seja, para ele é possível chegar a uma conclusão
e depois encontrar os caminhos. Essa tese enfraquece o processo, pois ele vira um instrumento. Vol-
ta-se, sempre, ao problema do protagonismo. E voltamos ao ponto inicial.
NURIA BELLOSO MARTÍN
El profesor Lenio Streck ha trabajado numerosos temas candentes, objeto de interés y
de análisis por los especialistas de la Filosofía jurídica y de la filosofía política actual. Además de la
amplia difusión de sus trabajos en al ámbito académico brasileño y latinoamericano, en España ha
participado en diversas Jornadas y Encuentros, lo que ha facilitado que sus propuestas sean obje-
to de reflexión por parte de la doctrina jurídico-política española. Desde mi ámbito de trabajo, la
Filosofía del Derecho, la asistencia a conferencias impartidas por el profesor Lenio, las lecturas de
sus obras y publicaciones, siempre me han resultado ilustradoras y sugerentes. Interpretación del
Derecho, hermenéutica, principiología y tantos otros, siguen siendo centro de análisis de muchos
trabajos y dando lugar a muchas páginas escritas al respecto. Sus obras y artículos constituyen un
referente. Entre las múltiples cuestiones que se podrían formular al Profesor Lenio, nos decantamos
por dos preguntas relacionadas con el neoconstitucionalismo y con el activismo judicial. No son
interrogantes monolíticos sino que, a su vez, cada una de estas preguntas se puede desgajar en otras
subsiguientes cuestiones.
394 Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 EJJL
Entrevista
1. Hay opiniones divergentes –tanto entre académicos como entre la doctrina-
sobre el papel que le corresponde al Poder Judicial. La actitud de los jueces no siempre ha
sido decisionista-activista. Como sabemos, a partir de la Codificación y, principalmente
desde el establecimiento del Estado de derecho y de la consiguiente consolidación de la
división de los poderes públicos, los administradores de justicia habían conservado una
posición pasiva, de simple aplicadores del derecho positivo, para lo cual acudían a una
simplista fórmula de solución silogística para los casos planteados, donde la ley era el
referente para la interpretación y aplicación a los casos que se presentaban, limitándose
prácticamente el juez a ser, la boca que pronuncia las palabras de la ley. Con la evoluci-
ón del Estado legislativo al Estado constitucional, se supera la etapa anterior y surge un
nuevo entorno “neoconstitucionalista”, en el que el juez tiene mayor margen de manio-
brabilidad “decisional”, puesto que las reglas cerradas se rompen, dejando espacios para
que este pueda realizar abstracciones hermenéuticas y deje atrás el antiguo esquema de
construcciones silogísticas para la solución de casos. Profesor Lenio, con respecto al ne-
oconstitucionalismo ¿qué opinión le merece el movimiento neoconstitucionalista? En su
opinión, ¿puede llegar a convertirse en una nueva concepción del Derecho, como lo han
sido el iusnaturalismo, el positivismo jurídico y el realismo jurídico? ¿Qué papel desem-
peñan los principios en este movimiento? ¿Cómo atajar el peligro de llegar a un “pan-prin-
cipiologismo que, en definitiva, conllevaría inseguridad jurídica?
Lenio Streck: Excelente pregunta, estimada Professora Núria. De fato, foi um longo ca-
minho a superação do juiz formalista e da metodología de aplicação subsuntiva do direito. Ocorre
que, no modo como o neoconstitucionalismo vem sendo apresentado, principalmente no Brasil,
corre-se o risco de simplesmente fazer uma leitura simplista do positivismo jurídico, como se ele fos-
se tão-somente aquele positivismo da contraposição “positivismo-jusnaturalismo”. Parece-me que
o neoconstitucionalismo, quando diz que suas características são “mais principios e menos regras,
menos subsunção e mais ponderação”, caiu em uma armadilha. Ignorou que o positivismo foi se
rearranjando no decorrer das décadas. Só para fazer um pequeño escorço histórico: O positivismo
combatido pelos diversos neoconstitucionalismos parece se restringir ao positivismo clássico (exe-
gético ou legalista). Mas, permito-me dizer e apontar que, já em Kelsen, temos um positivismo
pós-exegetico. Depois Herbert Hart introduz um positivismo que pode ser chamado de inclusivo,
tentando colocar de volta a moral excluída pelo positivismo anterior. Observe-se que Kelsen pro-
cura resolver isso a partir da cisão direito-ciência do direito; ele faz uma metalinguagem sobre a
linguagem objeto; por isso, para ele, a ciência do direito está separada da moral; já o direito, não - ele
se abeberou, para isso, no neopositivismo lógico. Friedrich Muller faz uma critica ao positivismo
clássico com seu pós-positivismo. Que já não é a mesma coisa que a critica que Dworkin vai fazer
do positivismo de seu professor, Hart. Dworkin, com sua crítica à discricionariedade e àquilo que
ele entende por positivismo, abre uma nova fase no pós-positivismo ou antipositivismo. Criticando
Dworkin veio seu colega, também aluno de Hart, Joseph Raz. Este faz uma nova tese: o positivismo
EJJL Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 395
Entrevista
exclusivo. Há ainda o positivismo normativo (que não é o velho normativista), no qual podemos
colocar MacCormick. No meio do caminho vem outro autor que se autodenomina não-positivista,
que é Robert Alexy. Por isso, quero apenas dizer da complexidade do conceito de positivismo. Logo,
diria que o direito já superou de há muito o velho positivismo (que, penso, a ele você estar se refe-
rindo). A discussão de Dworkin, por exemplo, já considerava isso superado. Sua critica já foi naquilo
que Hart falava. Por isso, se o neoconstitucionalismo for uma tentativa de superação do positivismo
legalista, parece ter chegado tarde. E, mesmo assim, apenas coloca em lugar do juiz boca da lei um
juiz dos princípios. Não quero fazer injustiças com o neoconstitucionalismo e seus defensores. Mas
as características delineadas por eles dá azo a este raciocínio. De minha parte, apenas quero dizer
que a hermenêutica procura encontrar um caminho que supere os dois caminhos mais comuns se-
guidos pelo positivismo: o exegético que aposta em uma concepção objetivista (lei e direito são a
mesma coisa - é a famosa tese do juiz boca da lei) e as formas de positivismo voluntarista (aqui se
inclui o realismo jurídico - que podemos chamar de positivismo fático ou empirismo jurídico), que se
baseiam no subjetivismo do juiz. Modestamente, tenho procurado trabalhar isto em diversas obras,
como Hermenêutica Jurídica e(m) crise, Verdade e Consenso e Lições de Critica Hermenêutica do Direito.
Assim, a aposta no protagonismo judicial e na ponderação de valores leva o neoconstitucionalismo
perigosamente aos braços das correntes realistas. Sim, sei que a maioria dos neoconstitucionalistas
aposta na ponderação de matriz alexiana e, assim, sustentam que ese procedimento tem o condão de
dar racionalidade às decisões judiciais. Alexy também pensa isso. No entanto, ele mesmo não abre
mão da discricionariedade. Ora, a discricionariedade não é uma fatalidade. Só o é para o positivismo.
Logo, sob pretexto de superar um tipo de positivismo, o neoconstitucionalismo se arrisca a cair nos
braços de outro modelo de positivismo, aquele que aposta na discricionariedade e no subjetivismo.
Mas, o neoconstitucionalismo é uma corrente ou teoría bem intencionada e com características bem
interessantes e importantes para quem aposta de ver o direito como fator de transformação social.
É inegável que o neoconstitucionalismo se importa com as questões sociais. Minha objeção é uma
aposta no protagonismo judicial. E isso, para mim, acaba dando vazão, como no Brasil, a um forte
ativismo judicial.
2. Con relación al activismo judicial y su relación con la teoría de la división de
poderes, ¿Considera, que el fenómeno del activismo judicial produce el efecto de ir desva-
neciendo las líneas funcionales que separan los poderes públicos? Ese sistema de controles
recíprocos entre ramas ¿no se está “desbalanceando” a favor de un poder con mayor acen-
to controlador o limitador que, concretamente, se inclina a favor del Poder Judicial?. Es
decir, si un juez desborda arbitrariamente su ámbito funcional más allá, incluso del princi-
pio de colaboración, ¿Cómo podría evitarse que se desvanezcan los límites competenciales
de la función pública?. ¿Es injustificada la acusación a los órganos de administración de
justicia de un abusivo activismo judicial?. ¿No será que ese pretendido “activismo judicial”
no es más que la respuesta -una actitud acertada- que se debe asumir para llenar el vacío de
poder que dejan los otros Poderes? ¿Se corre el peligro de que, por el afán de que el Poder
396 Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 EJJL
Entrevista
Judicial dicte soluciones justas, llenando los huecos que dejan los otros Poderes que no
están actualmente como debieran?
Lenio Streck: Em primeiro lugar, esse fenómeno chamado ativismo deve ser diferenciado
de outro fenómeno: a judicialização da política. O primeiro é behaviorista. O juiz coloca os seus
juízos morais, éticos, políticos no lugar dos do legislador. Até mesmo na faticidade ele acaba introdu-
zindo sua visão particular, moralizando a relação fato-direito. Já a judicialização é contingencial. Ela
acaba ocorrendo em casos de incompetência de um dos Poderes, mormente nos sistemas presiden-
cialistas. Em segundo lugar, o ativismo aparece no Brasil de forma bem diferente da de outros países.
O ativismo judicial no Brasil deixaria Duncan Kennedy corado. Para mim, não existe “bom ativis-
mo”. Ele é pernicioso para a democracia. Deve, pois, ser evitado. Na mina teoria da decisão, tenho
colocado um conjunto de mecanismos para, primeiro, identificá-lo e, na sequencia, evitá-lo, enfim,
controlá-lo. Mormente no lugar mais sensível do ativismo, o direito a saúde e a educação, há três
perguntas fundamentais a serem respondidas: está o judiciário diante de um direito fundamental,
subjetivamente exigível? Este direito, em situações similares, pode ser concedido a toda e qualquer
pessoa que o pedir? Por fim, se é possível transferir recursos das outras pessoas para fazer aquela ou
um grupo feliz, sem violar a isonomia no seu sentido substancial, já levando em conta toda a força
do estado social previsto na Constituição? Se uma das respostas for negativa, não se está diante de
uma judicialização, mas, sim, de uma atitude ativista. Tenho escrito muito sobre isso. Ativismo é o
modo como o judiciário introduz a moral no direito. É como se o legislador e o poder constituinte
não tivesse discutido na esfera pública as questões relacionadas à moral e à ética, por exemplo. E que
o juiz é a figura transcendental apta a incluir a moral. Ora, isso é antidemocrático.
ERNILDO STEIN
1. Você certamente evoluiu no seu esforço de pensar a filosofia no direito de um
modo articulado e inovador a ponto de se tornar um dos teóricos mais notáveis no cená-
rio jurídico brasileiro com repercussão internacional. A Crítica Hermenêutica do Direito
(CHD) atravessa coerentemente sua grande Obra e lhe dá um perfil único entre nós. Cer-
tamente a presença da Fenomenologia Hermenêutica tornou-se o núcleo que alimenta as
diversas dimensões de seu pensamento. Mas o estudo da virada linguística foi um caminho
importante para descobrir a superação do objetivismo na linguagem e por consequência o
objetivismo no direito. Como se deu esta verdadeira revolução para sua CHD?
Lenio Streck: Obrigado pelos elogios e pela pergunta. A grande temática do direito vem
sendo, mormente a partir da segunda metade do século XX, a questão da superação do positivismo
e, ao mesmo tempo, a questão de como controlar a moral. No século XIX essas preocupações não
estavam na ordem do dia. A moral estava reclusa. O positivismo jurídico a trancafiou. Os sucessos
históricos do século XIX e do início do século XX exigiram um novo tipo de direito. Ihering, Philipp
Heck e tantos outros iniciaram um movimento para libertarem a moral e seus “companheiros” da
EJJL Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 397
Entrevista
prisão epistêmica em que se encontravam. Diz-se, assim, que, da razão, os juristas passaram para
a vontade, para o voluntarismo. Há um longo caminho percorrido até os nossos dias. No meio do
caminho, a segunda grande guerra. E o surgimento da jurisprudência dos valores, modo filosófico de
enfrentar a dureza e a rudeza do velho positivismo que o sociologismo jurídico já iniciara há mais
tempo. Depois de Kelsen, Hart, Müller e os positivistas pós-hartianos e o seu principal contender,
Dworkin, a teoria do direito passou a ter um novo panorama. Entretanto, parece ter faltado uma
discussão – e essa falta ainda pode ser detectada hoje – de um enfrentamento do problema do posi-
tivismo e dos pós-positivismos a partir dos paradigmas filosóficos. Isso é uma coisa que passou a me
intrigar cada vez mais depois da Constituição de 1988, em que o Brasil foi invadido por concepções
subjetivistas que reproduziam coisas do século XIX, como o solipsismo de Oskar Büllow. Pergun-
tava-me, então: como é possível que, depois de um linguistic turn e de um ontological turn, ainda no
direito o sujeito da modernidade resistia? Como é possível que, até hoje, ainda se diz que sentença
vem de sentire, que o juiz tem livre convencimento, que o juiz procura a verdade real e coisas desse
gênero? Perguntava-me: onde está ou onde entra a filosofia nesse contexto? Gadamer e Heidegger e
as obras de Ernildo Stein (veja a importância de sua contribuição, professor) me mostraram o cami-
nho. Havia um algo a mais que não estava sendo mostrado pela teoria do direito. Mesmo Friedrich
Müller, com sua inestimável colaboração, não assumiu Gadamer em sua profundidade e tampouco
o teorema fundamental da diferença ontológica que o senhor trata tão bem no livro Diferença e
Metafísica. Portanto, o positivismo clássico, com suas objetivações e calcado no objetivismo, equi-
parando lei e direito e fazendo com que o direito imitasse o mito do dado, não poderia ser derrotado
apenas colocando no lugar da razão um dono da vontade ou, para ser mais simples, substituindo o
juiz boca da lei (do que está dado) por um sujeito com a certeza de si do pensamento pensante. Isso
era e é muito primário. E não tem nada de análise filosófica. Tinha que ter algo mais. Daí a ideia de
mostrar a superação desse objetivismo a partir da fenomenologia hermenêutica, mostrando que não
há universalidade, mas também não há o empírico. A hermenêutica é, como o senhor sempre disse,
a cadeira que se assenta entre o objetivismo e o subjetivismo. Mas superar o objetivismo é uma coi-
sa. Derrotar ou amarrar a barbárie interior do sujeito da modernidade é que são outros quinhentos,
como se diz na minha terra. Isso exigiu um esforço bem maior. Avançar na discussão, Construir uma
clareira para marcar posição...
2. Mas seu pensamento se poderia ter desgarrado no deserto de uma lógica ou
semântica da linguagem jurídica. Como se articulou sua descoberta e passagem para a Her-
menêutica, com a Fenomenologia Hermenêutica em Heidegger e a Hermenêutica Filosófi-
ca em Gadamer? Foi a necessidade de superar o positivismo jurídico que o levou a afirmar
a dupla estrutura da linguagem do pensamento hermenêutico? Ou há outros elementos se
articulando em sua teoria para ela ser uma CHD?
Lenio Streck: Minha trajetória na crítica do direito passa pela contingencia história do
regime autoritário e o período posterior a Constituição. Antes da Constituição, os críticos do direito
398 Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 EJJL
Entrevista
necessariamente tinham que rejeitar a estrutura formal constituída por um arcabouço autoritário.
Sequer Constituição havia. Com a aprovação da Constituição, muda o cenário e, portanto, os pres-
supostos epistêmicos. Se antes o empirismo jurídico era o meio para o enfrentamento da estrutura,
apelando ao voluntarismo de juízes comprometidos com a democracia, a partir de 1988 passamos
a ter outro quadro. O voluntarismo já não fazia sentido. Ou seja: se antes de 1988 tínhamos que
lutar contra o positivismo clássico formalista, agora, pós- CF/88, necessitávamos de uma teoria que
passasse a respeitar o texto, sem que isso configurasse um retorno ao velho positivismo clássico-exe-
gético ou de suas vulgatas muitos presentes no Brasil. A fenomenologia hermenêutica se apresentou
como essa cadeira que se assentava entre o objetivismo que sustentava o formalismo e o subjetivis-
mo que sustentava o velho empirismo ou as posturas voluntaristas que, já no início do século XX ,
apostavam em uma espécie de “livremo-nos do juiz boca da lei”. Percebia, então, no inicio dos anos
90, que a dogmática jurídica, enfim, os discursos jurídicos, ainda estavam presos ao velho forma-
lismo, mas, incrivelmente, esse formalismo mirava as leis anteriores a Constituição. Não havia um
formalismo em relação à aplicação da Constituição. Por exemplo, o controle de constitucionalidade
demorou a ser uma prática. Mormente o controle difuso. Ou seja: a doutrina era formalista para
sustentar o velho e, ao mesmo tempo, voluntarista para negar o novo. E, de certo modo, ainda ocorre
hoje. Incrivelmente, a dogmática começou a construir princípios para com eles descumprir a Cons-
tituição em nome da qual eram feitos. Um imaginário ativista tomou conta do direito. A defesa da
legalidade constitucional passou a ser mal vista, isto é, passou a ser vista como sendo uma atitude
positivista. Como se ser positivista fosse um mal em si. Além disso, parcela da dogmática que se diz
pós-positivista acaba sendo justamente aquilo que rejeitam: são positivistas fáticos ou empiristas
jurídicos. Resultado: construiu-se no Brasil um positivismo jurisprudencialista. Esse é e foi o estado
da arte no qual tentei plantar as sementes da CHD. Que ficou com alguns pontos básicos retirados
de Gadamer, Heidegger e Dworkin, como o antirrelativismo, a superação do esquema sujeito-objeto,
levar os textos a sério e trazendo para o direito uma adequada diferença entre direito e moral. Isto é,
as bases para não permitir que a moral corrija o direito. O Direito, é claro, é construído com a moral,
ética, em uma linguagem pública, democrática. Evitar, portanto, que o sujeito da modernidade, esse
sujeito que assujeita os objetos, conspurque o produto elaborado em uma linguagem compartilhada,
em um a priori compartilhado pela comunidade. A tentação, no direito, de uma espécie de razão
teológica, é muito grande para o juiz decidir. Em vez de responder com base nesse a priori compar-
tilhado e na estrutura constrangedora que deve ser o direito, o juiz não vem resistindo a responder
às perguntas (casos jurídicos) com base na sua percepção pessoal. Nesse caso, sequer houve a secula-
rização. E longe está a magistratura de incorporar os dois corpos do rei, tese pela qual se expurgaria
essa racionalidade ainda teológica do juiz. É possível dizer, nessa linha, que a aplicação do direito
ainda vem sendo feita a partir de uma metafisica ontoteológica, para usar o conceito que consta no
livro As Voltas com a Metafísica e a Fenomenologia (Ernildo Stein).
A CHD teve, desde o início, a preocupação de escapar da armadilha do positivismo nas
suas diversas modalidades. Sem os paradigmas filosóficos, torna-se impossível vencer o positivismo.
Sem uma análise filosófica, não podemos solucionar os problemas da moral no direito. Não esqueça-
EJJL Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 399
Entrevista
mos que desde o século XIX o problema central do direito é o que fazer com a moral. O positivismo
clássico simplesmente cindiu direito e moral. Depois disso, as diversas teorias tentaram lidar com
isso. Pessimistas como Kelsen simplesmente partiram para uma linguagem de segundo nível. Opta-
ram por discursos externos, meramente descritivos, problemática que se repete, de outro modo, sem
a diferença de níveis de linguagem, no positivismo exclusivo contemporâneo. A hermenêutica, a
partir da captura epistêmica que fiz com a CHD, pode ser o caminho para enfrentar tanto os discur-
sos objetivistas, como os discursos subjetivistas, que acabam ideologizados. Nesse sentido, a dupla
estrutura da linguagem é um importante componente para demonstrar que não interpretamos para
compreender, mas, sim, compreendemos para interpretar. Portanto, com isso, a CHD se preocupa
com o modo como se julga e não apenas com o modo de justificação do que foi dito pelo juízo. A
CHD aposta em um discurso de primeiro nível e não em um discurso meramente apofântico. Por
isso, não se pode admitir discursos subjetivistas, relativistas ou discricionaristas. Porque, se os ad-
mitíssemos, o próprio direito perderia a autonomia mínima para os discursos adjudicadores, como
a moral, a politica, etc. Para o direito ser direito, devemos preservar-lhe minimamente o seu caráter
normativo e naquilo que ele mesmo diz no Estado democrático de Direito. A Constituição não é ape-
nas uma mera ferramenta, um instrumento para ser manipulada. Ele é constituinte. Ora, se é cons-
tituinte da própria realidade em uma democracia, se deixarmos que discursos solipsistas valerem
mais do que ela, a CF e o restante da estrutura do direito, então a própria democracia fica fragilizada.
3. Imagine-se diante da paisagem jurídica, aonde a incidência de sua teoria deu
os melhores resultados e o levou a ampliar, com grande repercussão, sua crítica a outras
teorias. Você se tornou um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Poderia descrever o
horizonte onde sua visão da Constituição se tornou mais criadora e inovadora diante das
leituras da maioria dos que trabalham com a Constituição entre nós? Com a maneira nova
de ver a Filosofia no Direito você descobriu que dimensões que, em geral, podem ampliar
a seriedade dos que aproximam a Filosofia do Direito? Penso ter satisfeito minimamente
a solicitação que me foi feita. Que tenham sucesso no trabalho e contribuam para o cada
vez maior conhecimento deste grande Autor.
Lenio Streck: Primeiro, a fenomenologia hermenêutica, uma vez que com ela superei
no direito o velho esquema sujeito-objeto proporcionava duas leituras superadas – ou normativis-
ta-objetivista ou subjetivista-empirista-voluntarista – proporcionou-me fazer um salto em relação
às teorias tradicionais sobre o papel da Constituição. Para além e a partir de Hesse, Canotilho e
Ferrajoli, penso que consegui dar a Constituição a dignidade de texto-evento. Com essa visão, su-
perei também a tradicional visão neokantiana de que princípios são valores. Essa tese enfraquece a
Constituição. Ora, se princípios são normas, então não podem ser valores. Além disso, a dignidade
dada a Constituição fez com que a imbricação com a hermenêutica proporcionasse a que fosse pos-
sível unir aquilo que Dworkin tratava como um levar o Direito a sério com o que Gadamer diz sobre
“se queremos falar algo sobre um texto, devemos deixar que o texto nos diga algo”. A tese de que
400 Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 EJJL
Entrevista
o juiz decide e não escolhe, contribuição que busquei em Rambach, retirou a teoria da decisão dos
braços do relativismo que admite múltiplas respostas. Dentro disso, tem-se que a decisão deve ser
feita por principio e não por politica ou moral. Claro: juiz não é escravo da lei. Ele não é uma alface.
Mas também não é o dono da lei. Venho tentando mostrar à comunidade jurídica, tarefa que não é
fácil, que a interpretação do direito é applicatio. E que essa applicatio não é nem um ato de descrição
não cognitivista e tampouco um ato cognitivo irresponsável que, paradoxalmente, o transforma em
um não cognitivismo como é o empirismo jurídico. Mais do que isso, venho tentando mostrar que a
democracia não pode depender de gestos individuais de juízes. Se a democracia depender de atitudes
ad hoc do judiciário, é porque a própria democracia fracassou. É disso que se trata fazer direito em
uma democracia.
ALFONSO DE JULIOS-CAMPUZANO
Su dilatada trayectoria intelectual gira en torno a las cuestiones interpretativas, a la her-
menéutica como horizonte de sentido en el cual la norma adquiere su plenitud significativa y des-
borda los esquemas clásicos del viejo modelo de la subsunción que reducía la aplicación del derecho a
un procedimiento mecánico de naturaleza lógico-deductiva. Como alternativa a esa visión, necesa-
riamente incompleta y sesgada del proceso de materialización social de las normas, el modelo de la
ponderación ha venido a poner de relieve la necesidad de cohonestar por vía interpretativa los valores
constitucionales, pues corresponde al juez determinar qué medida de satisfacción o realización de
un derecho es compatible con la constitución. Ello convierte la interpretación en una actividad ina-
gotable, pues, como ha afirmado Zagrebelsky, en El derecho dúctil, “el punto de partida se muestra
siempre históricamente contingente”.
1. Profesor, usted ha sostenido un punto de vista crítico frente al modelo de
la subsunción, propio del positivismo legalista, y al modelo de la ponderación, asociado
a la revalorización de la actividad interpretativa y a lo que algunos autores han deno-
minado rematerialización o remoralización del derecho (Latorre, Zagrebelsky…), como
consecuencia de la incorporación de un denso contenido sustantivo en las constituciones
posteriores a la segunda guerra mundial. Al hilo de ello quisiera plantearle: ¿En qué senti-
do ambos modelos resultan insuficientes y por qué reivindica una mediación crítica entre
ambos? Si el constitucionalismo contemporáneo restablece, mediante la incorporación de
los principios, la conexión entre derecho y moral, que se muestra ahora como una relación
necesaria que ha de ser dilucidada en cada caso conforme a los hechos y circunstancias que
lo hacen diferente, ¿se puede decir, en alguna medida, con Viehweg en Topik und Jurispru-
denz, que la interpretación es la búsqueda de la solución más justa para el caso concreto? Y
si es así, ¿en qué medida esa apertura al horizonte axiológico de la justicia supone alguna
suerte de superación del positivismo, un recurso a una instancia axiológica que, a través
de los principios, conecta el derecho que es con el derecho que debe ser, de modo que,
según la teoría de la decisión judicial de Dworkin, a los principios le cumple la tarea de
integrar el ordenamiento jurídico en una unidad de relativa armonía?
EJJL Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 401
Entrevista
Lenio Streck: Perfeita a colocação, professor Campuzano. O segundo pós-guerra fez uma
ajuste de contas com a moral. As placas tectónicas da teoria do Direito se reagruparam. Agora a
Constituição é norma. Então a moral é cooriginária ao direito. Exatamente por isso que as teorias
axiologistas que pretendem interpretar a lei e a Constituição com aportes da moral, sob o argumento
de valores, colocam-se na contramão da democracia. Uma democracia deve dispensar os discursos
morais feitos por juízes, enfim, do judiciário em geral. Direito corrigido pela moral fragiliza a demo-
cracia. Nesse sentido, teorias como a tópica retórica continuam presas ao esquema sujeito-objeto.
Ou seja, a tópica, embora trabalhe com a perspectiva de camadas de sentido retórico que visam a
racionalizar a interpretação, continua apostando no protagonismo judicial. A posição que defendo
não é nem o positivismo clássico ou o contemporâneo positivismo excludente, e nem tampouco os
positivismos inclusivos ou as teorias da argumentação que apostam na ponderação. Talvez o grande
problema da teoria do direito seja a de pensarmos que a superação do positivismo possa ser feita pela
simples colocação em lugar do juiz boca da lei um juiz dos valores, da ponderação ou algo desse tipo.
Ocorre que os positivismos também evoluíram. Por exemplo, mais confiável até que o neoconstiu-
cionalismo axiologista pode ser o positivismo inclusivo, que pelo menos tem algum cuidado para a
incorporação da moral a partir de fontes sociais. Minha postura é antipositivista ou não positivista,
porque supera os diversos positivismos. Nem um positivismo com um olhar externo-descritivo, nem
um positivismo normativo (como Juan Garcia Amado, Waldrom ou MacCormick) e também não os
positivismos inclusivos. A preocupação com a teoria do direito, para mim, deve estar centrada no
controle das decisões judiciais. Juiz não pode ter liberdade de decidir, mesmo que se diga que o seu
libre convencimento seja motivado. Também a ponderação se mostra problemática, porque seu pró-
prio criador diz que não pode abrir mão do poder discricionário. Além disso, a ponderação vem sendo
aplicada de forma atecnica, sem passar pelas fases da teoria original. A ponderação se transformou
em um instrumento para o exercício de subjetivismos. Por isso, minha Critica Hermenêutica do Direito
tenta fugir dos subjetivismos ao máximo. Nesse sentido, reforço o papel da doutrina, que deve fazer
constrangimentos epistêmicos à jurisprudência.
2. Es reconocida su contribución a la hermenéutica en obras como Verdade e
Consenso o Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica en las que reivindica, sustancial-
mente, el método hermenéutico en la interpretación de las normas y, singularmente, en la
interpretación constitucional, de modo que la norma jurídica, en cuanto unidad significa-
tiva expresada a través del lenguaje, sólo puede aprehenderse en el horizonte de sentido
que le otorga la precomprensión del intérprete, y el contexto social, cultural y político en
el cual se inserta. Desde ese punto de vista ha adquirido notoriedad la crítica que Jürgen
Habermas ha realizado a las formas encubiertas de dominación que, como una trama, se
subtienden a través de los usos lingüísticos, por lo cual ha reivindicado una hermenéutica
jurídica crítica que, fiel a su cometido, depure los usos perversos del lenguaje en aras de
la plena emancipación humana. La teoría consensual de la verdad de Habermas conecta,
402 Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 EJJL
Entrevista
así, verdad, interpretación y consenso en el marco de una teoría crítica de la sociedad, ¿en qué
sentido puede decirse que sus planteamientos concuerdan o convergen con este sugerente enfoque
habermasiano?
Lenio Streck: Habermas é importante por duas razões: uma, pelo seu salto em direção
a autonomía do direito e, assim, o desenvolvimento da cooriginariedade entre direito e moral. Com
isso, afasta os valores, que são contingentes. Cada um tem os seus. Segundo, Habermas não confía
no sujeito da modernidade. Logo, foge do protagonismo judicial. Porém, ao desonerar os juizes de
fazer os discursos de fundamentação, parece transformá-lo em um juiz boca dos discursos de fun-
damentação. Além disso, esses Discursos de fundamentação (Begründungsdiskurs) são feitos sem
situação concreta. São prévios. Isso é um problema. Neste caso, há uma mera epistemologização
do discurso jurídico. O caso concreto desaparece. Surge, assim, um grave déficit hermenéutico de
seu discurso. Como aplicar o direito? Como funciona uma sentença? Habermas não responde. Por
outro lado, seu conceito de verdade não me parece o mais adequado. O consenso por si não pode ser
o criterio para a verdade. Eu diría, como repto, que a verdade é que não precisa do consenso. Mas
o consenso precisa da verdade para ser um efetivo consenso e não meramente uma coisa artificial.
Por fim, considero Habermas o grande teórico da democracia do século XX. Sua aversão
ao relativismo e à discricionariedade o colocam como um poderoso aliado na luta pela autonomía do
direito. E nisso a hermenéutica que proponho está lado a lado com Habermas.
YURI SCHNEIDER
Qual o maior problema (ou mácula) que o positivismo jurídico (e sua discriciona-
riedade) e a “era do principiologismo” (Verdade e Consenso) pode trazer para a efetivação
dos Direitos Fundamentais Sociais no Brasil? Seria somente a “multiplicidade das respos-
tas” ou a possibilidade de “qualquer resposta”?
Lenio Streck: Digamos que, se positivismo entendermos o positivismo fático, isto é, o
velho empirismo jurídico ou o positivismo inclusivo que anda sempre em busca de uma identidade,
mas acaba incorporando a moral sem uma criteriologia, então, sim, o maior problema é a decisão
poder ser qualquer uma. O direito acaba sendo posto – e a origem da palavra positivismo vem de
“eu ponho” - pelo judiciário. Dali para um positivismo jurisprudencialista é meio passo. Agora, se
estivermos falando do positivismo exclusivo de Joseph Raz, a situação se altera. Para ele, o direito
reivindica autoridade. E ali não entra moral. Isso é bom. Ele não permite qualquer resposta, embo-
ra sustente não haver uma correta. A seu favor, diga-se que sua teoria é externa, descritiva. Não é
normativa. Para mim, o positivismo exclusivo, em uma democracia com uma Constituição pervasiva
como a brasileira, seria válido se a ele se colocasse o caráter normativo, que tinha em Austin. Mas,
veja: meus elogios ao positivismo exclusivo o são apenas porque o vejo como aliado para combater o
estado de natureza interpretativo que se instaurou no Brasil.
EJJL Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 403
Entrevista
2. Em sua interpretação qual a importância da teoria de Dworkin (que desacredi-
ta na possibilidade de juízes se divorciarem da razão prática) e de Gadamer ( e a “destrui-
ção” método), para a concretização dos Direitos Fundamentais?
Resposta: A Critica Hermenêutica do Direito incorporou elementos desses dois autores. A
hermenêutica é uma das coisas mais sutis que existem, porque ela é cheia de detalhes, porque, nas
mínimas coisas, estão os giros, estão as circunstâncias que fazem com que a compreensão tome um
caminho ou a compreensão tome outro caminho. Eu acho que Dworkin tem uma teoria da decisão.
Gadamer teria, se eu for a fundo. Eu teria que ter um auditório gadameriano só para falar sobre isso,
porque eu teria que ter, digamos, uma espécie de auditório ideal para poder compreendermos que,
quando Gadamer fala na autoridade da tradição e na possibilidade de verdade, ali tem a decisão. O
seu antirrelativismo é a decisão, isto é, os meus pré-juízos que me constrangem são a condição de
possibilidade da resposta correta ou adequada, porque ele fala várias vezes, e eu descobri isso. Se você
pegar uns textos meus, você vai ver as partes que eu descobri quando ele fala em resposta certa. Eu
cito em alemão e depois, traduzo para o português onde ele diz quando a resposta é certa, e ele diz
o seguinte: a resposta é certa quando eu já não me pergunto sobre ela. Isso é genial, porque é uma
espécie assim, digamos, de uma cotidianização das perguntas e das respostas. Então, nesse sentido,
seria uma teoria da decisão judicial. Mas aí para avançarmos, então, o que eu faço? Eu pego Heideg-
ger, Gadamer, Dworkin, juntos os três e construo aquilo que chamo de Crítica Hermenêutica do Direito
- CHD. Alguns críticos dizem que estou equivocado na relação que faço entre Dworkin e Gadamer.
Sim, afirmo que a Crítica Hermenêutica do Direito é caudatária desses dois autores, além de Heidegger,
é claro. E de Wittgenstein, naquilo que ele rejeita, nas Investigações, a linguagem privada, locus do
solipsismo. Aliás, usar Heidegger também gera críticas, mormente de filósofos, quando dizem que
Heidegger nada escreveu sobre o direito. Grande descoberta, não? Heidegger é um filósofo, assim
como Descartes e Aristóteles. E o que estes escreveram sobre o direito? Filósofos compreendem o
mundo. E o mundo é mais que o direito, pois não? A Crítica Hermenêutica do Direito funda-se numa
filiação a tradição hermenêutica continental (Heidegger-Gadamer) em diálogo com alguns aportes
teóricos de Dworkin. Trata-se de uma leitura que os aproxima em determinados aspectos. Estamos
falando justamente disto: uma leitura. A CHD não é uma teoria heideggeriana ou gadameriana, em
sentido estrito, do direito. É uma teoria jurídica que se alicerça nestas tradições. Assim também,
antropofagicamente, alguns aportes da teoria integrativa de Dworkin também são trazidos para
constituir um referencial comum. A partir desta imbricação, e de construções originais que fui ela-
borando ao longo do tempo, não se trata mais, diretamente, de Heidegger, Gadamer e Dworkin, mas
sim de uma teoria que, em certo sentido, autonomiza-se, ainda que se ancorando nestes aportes. Isto
tudo para dizer que, neste caminho, em nenhum momento afirmo que Dworkin era um hermeneuta
propriamente dito, no sentido de ser um caudatário desta tradição, tampouco que mesmo estando
numa tradição distinta apropriou-se diretamente de todo este arcabouço a ponto de que sua teoria
fosse tão-somente um desenvolvimento daquela. Todavia, mesmo conhecendo o lugar de fala de
Dworkin entendo ser factível a hipótese de que houve algumas influências da tradição hermenêutica
em seu empreendimento teórico, de modo que algumas interseções se evidenciam, seja diante de
404 Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 EJJL
Entrevista
menções expressas ou como pano de fundo. Podemos começar discorrendo sobre a questão da histo-
ricidade da/na interpretação, como o próprio jurista norte-americano fizera no Império do Direito.
Não preciso, aqui, mostrar onde isso está escrito. Todos sabemos. Trata-se de um ponto central na
superação do positivismo, pois Dworkin mostra, a partir de Gadamer, que na interpretação jurídica
deve haver uma fusão de horizontes, uma consciência da distância histórica entre o momento de
criação e o momento da interpretação a fim de se fazer justiça ao texto (no sentido de deixar o texto
dizer algo), no caso, o texto da lei ou mesmo os precedentes. Este “processo” é guiado tendo em vista
o peso dos efeitos da história sobre o intérprete, o que se observa na alegoria do romance em cadeia.
Na interpretação haveria sempre algo do passado com algo do presente, sendo, portanto, constru-
tiva/criativa. Ademais, isto tudo se dá num movimento circular que articula a parte e o todo, onde
tanto um como outro são constantemente modificados/atualizados.
Recordo-me de alguns autores que identificam alguns destes matizes hermenêuticos em
Dworkin como Paul Ricoeur, David Ingram, Juan Carlos Bermejo, Rodolfo Arango e José Lâmego.
E dentre aqueles que compõem nosso grupo de pesquisa lembro de Francisco Borges Motta, que em
suas pesquisas, tanto no mestrado como no doutorado, também enfatizou estes aspectos. Na espe-
cificidade, David Ingram reconhece que Dworkin sofreu influências gadamerianas na formulação
de sua teoria jurídica. Sendo o direito uma prática interpretativa, esta demandaria um background
filosófico que afastasse a discricionariedade de leituras meramente contextualistas. Desta forma, as
ideias de Gadamer como tradição e o peso da história efeitual serviram de suporte para Dworkin pen-
sar num fenômeno que se modificasse a partir de uma referência pretérita que precisaria ser levada
em consideração e constantemente reconstruída. Assim, Ingram enfatiza, permito-me pegar o livro
para citar: “Dworkin recorre ao filósofo alemão Hans-Georg Gadamer (1975) para explicar como
um sistema jurídico evolui ao longo do tempo. Gadamer afirma que aplicar o direito a casos novos é
semelhante traduzir ou interpretar um texto do passado”.
RAFAEL TOMAZ DE OLIVEIRA
1. Lenio, nós sabemos - inclusive pelo resultado de nossas pesquisas no âmbito
do PPG em Direito da Unisinos - que a pré-compreensão produz uma espécie de “benção
mista”: ao mesmo tempo que viabiliza qualquer projeto interpretativo por parte daquele
que quer compreender um texto, ela também demarca as estruturas fundamentais daquilo
que será materializado na interpretação realizada. No plano jurídico, penso que as maiores
consequências desse duplo acontecimento tenham sido identificadas por ti em dois mo-
mentos distintos de tua obra. No primeiro, quando você afirmava que não se interpreta
para compreender, mas, sim, compreende-se para interpretar. Em consequência, desmisti-
fica-se o jargão retórico presente em certo ciclo iluminista de que primeiro se decide para
depois buscar-se a fundamentação técnica (como se estivéssemos a recuperar Rousseau e
sua máxima: “depois que a vontade é fixada, a Razão busca os fundamentos para justifi-
ca-la); No segundo, já quando a crítica ao solipsismo metodológico no âmbito da episte-
mologia jurídica fica ainda mais evidente em tua obra, você parece reforçar essa primeira
EJJL Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 405
Entrevista
afirmação a partir da diferença entre decisão e escolha. Você considera possível encontrar
um fio condutor entre essas questões? Ou seja, entre a compreensão como condição de
possibilidade e a decisão como um ato que expressa um compromisso de um certo agente
político com a sua comunidade e não simplesmente um ato de vontade? Gostaria que você
comentasse um pouco mais sobre isso.
Lenio Streck: Perfeito seu comentário que introduz a pergunta. A pré-compreensão é
condição de possibilidade. Ela não pode ser confundida com subjetivismo, ideologia ou qualquer
vontade de poder. Um dos malefícios de uma má leitura de Gadamer e seu conceito de pré-compreen-
são é essa confusão. Usa-se a pré-compreensão para, com ela, dizer que na hora de interpretar, o juiz
tem sempre a sua pré-compreensão. Incrivelmente usam a pré-compreensão para dizer que o juiz
não é neutro. Sim, como se Gadamer fosse um ingênuo. A partir disso, procuro colocar uma correta
leitura do conceito de Vorverständnis (pré-compreensão). Ela é estruturante. Desde sempre, falamos
de um lugar. Não domino esse a priori que compartilho no plano da intersubjetividade. Ter a cons-
ciência dos efeitos que a história tem sobre mim é condição para uma adequada compreensão dos
fenômenos. As coisas não são porque as quero de um modo ou de outro. A subjetividade não pode
assujeitar as coisas. O solipsismo é fruto de uma barbárie interior. Você está absolutamente correto
ao invocar esse mito iluminista de que o juiz primeiro decide para só depois motivar o que decidiu. Se
isso for verdade, então estamos reféns da subjetividade desse sujeito moderno. Se isso for verdadeiro,
o trabalho da doutrina jurídica se torna inútil. Mais do que isso, o processo penal e processo civil
se tornam objetos descartáveis. Se o juiz primeiro toma a decisão e depois a fundamenta, é porque
ele tem o processo como um mero elemento ornamental. Preocupados com isso, Ernildo Stein e eu
fizemos, em 2004, uma conferencia tratando dessa temática: interpretamos para compreender ou
compreendemos para interpretar? E nossa resposta, é óbvio, foi no sentido de que necessariamente
compreendemos para interpretar. Antes mesmo do conhecimento já há um algo que se me antecipa.
A partir disso, posso dizer que juiz não escolhe. Na democracia, ele decide. E esse ato de decidir é um
ato de responsabilidade politica. Uma sentença é um ato de decisão e não de escolha. É um ato de
poder, em nome do Estado. Dworkin diz que a sentença é um ato de responsabilidade política. Por
isso mesmo é que a sentença não é uma mera opção por uma ou mais teses. Nesse sentido, Heinrich
Rombach deixa claro que a análise autêntica do fenômeno da decisão exige um desprendimento com
relação às representações e modelos habituais do fenômeno. Afirma que tanto o decisionismo irra-
cional quanto o racionalismo – e as correspondentes teorias da decisão que se formam a partir deles
– acabam por entulhar o problema na medida em que tornam indiferentes o fenômeno da decisão e
o fenômeno da escolha. Segundo o autor, decidir é diferente de escolher. E essa diferença não se apre-
senta em um nível valorativo (ou seja, não se trata de afirmar que a decisão é melhor ou pior que a
escolha), mas, sim, estrutural. Rombach diz, textualmente: “Respostas de escolha são respostas par-
ciais; respostas de decisão são respostas totais, nas quais entra em jogo a existência inteira”. No caso
da decisão jurídica (sentença), é possível adaptar a fórmula proposta por Rombach para dizer que ela
pressupõe um comprometimento por parte do agente judicante com a moralidade da comunidade
406 Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 EJJL
Entrevista
política. Isso significa, em termos dworkinianos que a decisão é um ato de responsabilidade política.
É por isso que a jurisdição, em um quadro como esse, não efetua um ato de escolha entre diversas
possibilidades interpretativas quando oferece a solução para um caso concreto. Ela efetua “a” inter-
pretação, uma vez que decide – e não escolhe – quais os critérios de ajuste e substância (moralidade)
que estão subjacentes ao caso concreto analisado. Portanto, há uma diferença entre o decidir, que é
um ato de responsabilidade política e o escolher, que é um ato de razão prática. O primeiro é um ato
estatal; o segundo, da esfera do cotidiano, de agir estratégico.
2. Fale um pouco sobre a sua luta contra o solipsismo judicial.
Lenio Streck: O que tenho dito em minha teoria da decisão que devemos, fundamental-
mente, evitar que a decisão seja dada por ideologia, subjetividade ou por interesses pessoais, porque
esse é o espaço em que entra o sujeito solipsista mais especificamente – sim, aquele “sujeito-vicia-
do-em-si-mesmo (Selbstsüchtiger) e que continua infernizando o que resta da modernidade. De todo
modo, tranquilizemo-nos: o juiz não é uma figura inerte, neutra. Não, não quero – e jamais pretendi
- proibir os juízes de interpretar, como alguns, equivocadamente, vivem apregoando. Portanto, não
há dúvida de que pulsa um coração no peito dos juízes. Mas não é disso que se trata. Tenha-se claro,
mas muito claro mesmo, que discutir teoria da decisão não tem absolutamente nada a ver com o
repristinamento do juiz boca da lei ou outras coisas rasas como essa. E não percamos mais tempo
com essas aleivosias. Ainda uma coisa: O sujeito solipsista que critico como o responsável pelo auto-
ritarismo no direito age desse modo porque está escorado em uma institucionalidade, falando de um
determinado lugar (o lugar da fala, em que possui o skeptron, em uma alegoria com Homero ou com
a concha do livro The Lord of Flies). Uma vez inserido em uma cotidianidade – para além desse lugar
e sem os atributos desse poder de fala - perde-se no entremeio de outras institucionalidades. Falo do
solipsismo judicial, pois. Ele pode não ter ou sofrer os necessários constrangimentos epistêmicos na
sua função. Entretanto, no cotidiano, não age desse modo. Nem pode. Caso contrário, entraria em
choque com a primeira pessoa que encontrasse na rua, que não o reconhecesse. Para ser mais simples:
se nos autos o juiz troca o significado dos significantes, no seu cotidiano não pode agir do mesmo
modo. O que quero dizer é que esse solipsismo de que falo só o é em uma dada institucionalidade.
Procurando ser mais claro ainda: Gadamer diz que, se queres compreender um texto – e textos são
eventos, fenômenos – deves deixar que este, o texto, lhe diga algo. Isto quer dizer que não deve-
mos ignorar esse grau mínimo de objetividade. É o que chamo de mínimo “que é”. Nesse sentido,
a realidade constrange. A estrutura, a intersubjetividade, a tradição, enfim, essa linguagem pública
constrange a todos nós cotidianamente para evitar que saiamos por aí fazendo coisas solipsistas.
Não posso trocar o nome das coisas. Não posso assujeitar as coisas. O solipsismo judicial de que falo
e tanto critico vai na contra mão desses constrangimentos cotidianos, do mundo vivido. No direito,
em face do lugar da fala e da autoridade do juiz, ele pensa que pode – e, ao fim e ao cabo, assim o faz
– assujeitar os sentidos dos textos e dos fatos. Por vezes, nem a Constituição constrange o aplicador
(juiz ou tribunal). Por isso é que digo que deixemos que os textos nos digam algo. Deixemos que a
EJJL Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 407
Entrevista
Constituição dê o seu recado. Ela é linguagem pública. Que deveria constranger epistemicamente o
seu destinatário, o juiz.
VINÍCIUS MOZETIC
1. Sobre a interpretação dos Direitos Fundamentais: algumas objeções sobre
a ponderação e o princípio da proporcionalidade na teoria de Robert Alexy. Seguindo a
teoria de Robert Alexy, há numerosos defensores da ponderação e, concretamente, do
princípio da proporcionalidade. Segundo eles, a imprecisão e indeterminação de algumas
normas de direito constitucional e sua derrotabilidade no plano da jurisdição constitucio-
nal nos casos difíceis, exige um exercício hermenêutico complexo de individualização a
partir das limitações externas aos princípios que se encontram em conflito. Sem dúvida,
encontramos objeções, motivo pelo qual questiono o ilustre jurista. A ponderação, que
é um procedimento racional para a aplicação de normas jurídicas no direito brasileiro,
transformou-se em mero subterfúgio retórico, útil para justificar determinadas decisões
judicias? Por quê?
Lenio Streck: sim, a lei da ponderação foi muito mal recepcionada no Brasil. Ela foi sim-
plificada a tal ponto que é utilizada, pelos tribunais e até mesmo por parcela da doutrina, apenas
como álibi para escolher qualquer princípio (que muitas vezes nem sequer é um princípio) e decidir
de maneira arbitrária. Além disso, já há precedentes no Supremo Tribunal Federal de casos em que
dois ministros, utilizando a ponderação, chegam a decisões completamente diferentes. Uma julgan-
do a favor da condenação e outra da absolvição. E estamos falando da mais alta Corte Constitucional
do país. E, ainda que fosse recepcionada de forma adequada, teríamos o problema da discricionarie-
dade às nossas voltas, pois o próprio Alexy, ao final de sua Teoria dos Direitos Fundamentais, admite
uma margem de discricionariedade estrutural e epistêmica da qual o Judiciário está legitimado a
decidir conforme as suas próprias convicções. Ou seja, se já não bastasse os problemas da própria
teoria alexyana, ainda conseguimos importa-la de forma simplificada e deturpada, ampliando ainda
mais os problemas com a interpretação jurídica no Brasil.
2. Parece-me claro que esta é uma questão filosófica, no entanto, que irradia seus
efeitos sobre um segundo problema, relevante do ponto de vista do direito constitucional.
Esse segundo problema diz respeito à legitimidade dos tribunais brasileiros, e, especial-
mente, o Supremo Tribunal Federal, quando diz que aplica a ponderação de princípios.
Vários autores têm argumentado que a ponderação é nada mais do que um julgamento ar-
bitrário, e que, portanto, nem os juízes da Suprema Corte têm legitimidade constitucional
suficiente para implementar os princípios por este procedimento. O caminho para a “sal-
vação” da funcionalidade do Direito e das instituições é a filosofia da constitucionalidade?
408 Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 EJJL
Entrevista
Lenio Streck: acredito que a “salvação”, se quiser chamar assim, é construirmos uma
teoria da decisão judicial adequada a países de modernidade tardia como o Brasil. E isso se enquadra,
sim, naquilo que Ernildo Stein chamou de Filosofia da Constitucionalidade, na Introdução do meu
Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. Essa teoria deve ter como preocupação central o problema
da discricionariedade, o que implica necessariamente discutirmos a relação entre Direito, Moral e
Política, fundamentalmente. Não é uma tarefa fácil, mas acredito que, nessa quadra da história, o
Direito adquire um acentuado grau de autonomia – através da força normativa que as Constituições
Democráticas assumiram no séc. XX – que o blinda contra discursos externos (morais, políticos,
econômicos, etc.). Sem isso, o Direito está lascado. E nós também.
3. Por fim, se a técnica da ponderação não pode ser considerada como a interpre-
tação adequada para um conflito entre normas e/ou regras que afetam os direitos funda-
mentais no Brasil, por que ainda insistimos no erro?
Lenio Streck: a ponderação é uma lei utilizada na teoria de Robert Alexy como forma de
solucionar casos em que há dois princípios em colisão. Só que ela, a ponderação, admite impasses na
forma de sopesar, o que permite ao Judiciário tomar decisões arbitrárias, pois pode escolher qual dos
princípios em choque terá um peso maior. Isso, por si só, já seria um grande problema, pois se trata
de uma teoria que permite discricionariedade judicial e, como sabemos, isso é incompatível com a
democracia e com o Estado Democrático. Queremos que as decisões judiciais sejam bem fundamen-
tadas, isto é, tenham coerência e integridade, e não que a própria teoria do Direito autorize esse tipo
de atitude. Mas a situação é muito mais grave: além de importar a teoria de Alexy, importamos de
forma equivocada e simplificada. Não é raro encontrarmos na doutrina e na própria jurisprudência
ponderação de regras, bens, interesses, etc. Não se sabe sequer qual é o objeto da lei da ponderação.
Também não é raro decisões que apenas falam nas três submáxima da proporcionalidade, mas não
realizam aquilo que Alexy impõe como dever de racionalidade de decisão. Nem sequer das duas
primeiras máximas (adequação e necessidade). E, para piorar ainda mais o quadro, a ponderação
ingressou no próprio Código de Processo Civil. Teremos uma “lei” (que não é nem uma regra estrito
senso e nem um princípio) que diz que devemos “ponderar normas”, isto é, regras e princípios. Ora,
se assim o é, o próprio Código pode ser relativizado, se colidir com outra regra do ordenamento. E a
irracionalidade... não tem limites.
EJJL Joaçaba, v. 17, n. 2, p. 387-410, maio/ago. 2016 409
Você também pode gostar
- Teoria Do Direito - Curso TJRJ - AUTORESDocumento5 páginasTeoria Do Direito - Curso TJRJ - AUTORESAnna C RavAinda não há avaliações
- Casebook de Processo Coletivo – Vol. I: Estudos de Processo a partir de Casos: Tutela jurisdicional coletivaNo EverandCasebook de Processo Coletivo – Vol. I: Estudos de Processo a partir de Casos: Tutela jurisdicional coletivaAinda não há avaliações
- Filosofia Do Direito PDFDocumento29 páginasFilosofia Do Direito PDFLuan Emanuel Valentim100% (1)
- O Fundamento Do DireitoDocumento362 páginasO Fundamento Do DireitoAdryanyFerreiraAinda não há avaliações
- Constituição e Direitos Fundamentais Estudos em Torno Dos Fundamentos Constitucionais Do Direito Público e Do Direito PrivadoDocumento698 páginasConstituição e Direitos Fundamentais Estudos em Torno Dos Fundamentos Constitucionais Do Direito Público e Do Direito PrivadoBruno Bfb100% (2)
- Discriminação de LGBTQIA+ nas relações de trabalhoNo EverandDiscriminação de LGBTQIA+ nas relações de trabalhoAinda não há avaliações
- O Livro Das Parcialidades Grupo Prerrogativas Março 2021Documento229 páginasO Livro Das Parcialidades Grupo Prerrogativas Março 2021Jeferson DamascenaAinda não há avaliações
- Direito dos Tratados: Comentários à Convenção de VienaDocumento24 páginasDireito dos Tratados: Comentários à Convenção de VienaJuliana MonteiroAinda não há avaliações
- Legística: Estudos em Homenagem ao Professor Carlos Blanco de MoraisNo EverandLegística: Estudos em Homenagem ao Professor Carlos Blanco de MoraisAinda não há avaliações
- Revista do IBDH sobre direitos humanosDocumento281 páginasRevista do IBDH sobre direitos humanosJaqueSouzaAinda não há avaliações
- O controle de convencionalidade da reforma trabalhista: aplicação das normas internacionais ao direito do trabalhoNo EverandO controle de convencionalidade da reforma trabalhista: aplicação das normas internacionais ao direito do trabalhoAinda não há avaliações
- Currículo AthanisDocumento2 páginasCurrículo AthanisAthanis RodriguesAinda não há avaliações
- Tutela Multinível De DireitosNo EverandTutela Multinível De DireitosAinda não há avaliações
- Estudos de Metodologia Da Pesquisa Jurídica - Volume 01 PDFDocumento82 páginasEstudos de Metodologia Da Pesquisa Jurídica - Volume 01 PDFIza Fernandes100% (2)
- Reflexões sobre Teoria e História do Direito: Estudos em Homenagem a José Reinaldo de Lima LopesNo EverandReflexões sobre Teoria e História do Direito: Estudos em Homenagem a José Reinaldo de Lima LopesAinda não há avaliações
- Nomos - UFC - V. 33.1 - 2013Documento458 páginasNomos - UFC - V. 33.1 - 2013Edvaldo MoitaAinda não há avaliações
- Direitos Fundamentais e Sua Tutela - Volume 1No EverandDireitos Fundamentais e Sua Tutela - Volume 1Ainda não há avaliações
- 9 Congress o Dire I To InternacionalDocumento71 páginas9 Congress o Dire I To InternacionalAlan EnnserAinda não há avaliações
- Direitos Fundamentais e Sua Tutela - Volume 2No EverandDireitos Fundamentais e Sua Tutela - Volume 2Ainda não há avaliações
- Tese Final Marcelo CavaliDocumento352 páginasTese Final Marcelo CavaliWilber VillegasAinda não há avaliações
- A proteção internacional ao trabalhador no sistema interamericano de proteção dos direitos humanosNo EverandA proteção internacional ao trabalhador no sistema interamericano de proteção dos direitos humanosAinda não há avaliações
- DH para Marx e Problema Do UniversalismoDocumento259 páginasDH para Marx e Problema Do UniversalismoromeromarinhoAinda não há avaliações
- Justiça: Dos Sistemas às Redes. Paradigmas da ModernidadeNo EverandJustiça: Dos Sistemas às Redes. Paradigmas da ModernidadeAinda não há avaliações
- Direito Processual PenalDocumento298 páginasDireito Processual PenalJonas TorresAinda não há avaliações
- Direito Administrativo: Transformações e Tendência: Transformações e tendênciasNo EverandDireito Administrativo: Transformações e Tendência: Transformações e tendênciasAinda não há avaliações
- Coletivizacao e Unidade Do Direito Vol IDocumento29 páginasColetivizacao e Unidade Do Direito Vol ILeo C.Ainda não há avaliações
- Poder, Justiça e Direito: Estudos à luz do Sistema Jurídico InglêsNo EverandPoder, Justiça e Direito: Estudos à luz do Sistema Jurídico InglêsAinda não há avaliações
- Direito Internacional nos Países LusófonosDocumento374 páginasDireito Internacional nos Países Lusófonospedro francisco100% (1)
- Júri: além da clemência e do arbítrio: uma crítica retórica à presunção de vontade nos veredictos de absolvição genéricaNo EverandJúri: além da clemência e do arbítrio: uma crítica retórica à presunção de vontade nos veredictos de absolvição genéricaAinda não há avaliações
- Congresso CONPEDI IDocumento25 páginasCongresso CONPEDI ICélem Guimarães Guerra JúniorAinda não há avaliações
- Direito Internacional: Leituras CríticasNo EverandDireito Internacional: Leituras CríticasAinda não há avaliações
- Los Hechos en El Derecho Uruguayo. Consideraciones Iniciales Sobre La Quaesto Facti en El Derecho UruguayoDocumento20 páginasLos Hechos en El Derecho Uruguayo. Consideraciones Iniciales Sobre La Quaesto Facti en El Derecho UruguayoHoracio Ulises Rau FariasAinda não há avaliações
- ProgramaçãoDocumento10 páginasProgramaçãobucetinhalarissa2Ainda não há avaliações
- Acesso à Justiça: Estudos internacionais sobre modelos inovadoresDocumento281 páginasAcesso à Justiça: Estudos internacionais sobre modelos inovadoresCesar Augusto Baldi100% (1)
- Livro Alexandre Wunderlich PDFDocumento114 páginasLivro Alexandre Wunderlich PDFAlessandro AlthausAinda não há avaliações
- Nomos - As Formas Da Sociologia Do DireitoDocumento437 páginasNomos - As Formas Da Sociologia Do Direitolucas091990Ainda não há avaliações
- Liber Amicorum - v4Documento273 páginasLiber Amicorum - v4Felipe Negreiros paiAinda não há avaliações
- Dissertação Alberto Dell'Isola Filosofia Do DireitoDocumento126 páginasDissertação Alberto Dell'Isola Filosofia Do Direitoanon_14194916Ainda não há avaliações
- Ricardo Augusto HerzlDocumento298 páginasRicardo Augusto HerzlEduardo LimaAinda não há avaliações
- Revista AcadêmicaDocumento139 páginasRevista AcadêmicaEVERTON LUIS SANCHESAinda não há avaliações
- Os Direitos Da Personalidade em Face Da Dicotomia Direito Público - Direito PrivadoDocumento13 páginasOs Direitos Da Personalidade em Face Da Dicotomia Direito Público - Direito PrivadoHenrique DinizAinda não há avaliações
- HUMANOS - Direitos - Humanos - Democracia 2010Documento715 páginasHUMANOS - Direitos - Humanos - Democracia 2010joao_ricardo_atmAinda não há avaliações
- Dogmatica JuridicaDocumento501 páginasDogmatica Juridicaapi-3823907Ainda não há avaliações
- Cópia de Wolkmer - Pluralismo Am LatinaDocumento21 páginasCópia de Wolkmer - Pluralismo Am LatinaMatheus MaiaAinda não há avaliações
- Repensando o Acesso À Justiça Texto 1Documento39 páginasRepensando o Acesso À Justiça Texto 1Maria CarolinaAinda não há avaliações
- Acesso à justiça nos balcões judiciaisDocumento23 páginasAcesso à justiça nos balcões judiciaisanajuAinda não há avaliações
- Revista Direito e SensibilidadeDocumento286 páginasRevista Direito e SensibilidadeadailtonpcAinda não há avaliações
- Criminologia & Cinema: Controle SocialDocumento236 páginasCriminologia & Cinema: Controle SociallucasigorAinda não há avaliações
- Vi Encontro Virtual Do Conpedi: Filosofia Do Direito, Hermenêutica Jurídica E Cátedra Luís Alberto WaratDocumento28 páginasVi Encontro Virtual Do Conpedi: Filosofia Do Direito, Hermenêutica Jurídica E Cátedra Luís Alberto WaratfanAinda não há avaliações
- Conpedi. o Problema Da ConsciênciaDocumento24 páginasConpedi. o Problema Da ConsciênciaBeto PaesAinda não há avaliações
- Conpedi. Positivismo em HobbesDocumento23 páginasConpedi. Positivismo em HobbesBeto PaesAinda não há avaliações
- Robert Alexy e o STF - Tese de DoutoradoDocumento346 páginasRobert Alexy e o STF - Tese de DoutoradoRaul DieguesAinda não há avaliações
- Apostila de IEDDocumento59 páginasApostila de IEDLeiliane RibeiroAinda não há avaliações
- Luiz Ismael Pereira: currículo completo de mestre e pesquisador em direitoDocumento5 páginasLuiz Ismael Pereira: currículo completo de mestre e pesquisador em direitoLuiz PereiraAinda não há avaliações
- DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICASDocumento131 páginasDIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICASCristian WittmannAinda não há avaliações
- Tese ParcialDocumento71 páginasTese ParcialBrunoAinda não há avaliações
- OrientacoesgeraisDocumento4 páginasOrientacoesgeraisDaiane RibeiroAinda não há avaliações
- 01 ArtigosDocumento2 páginas01 ArtigosDaiane RibeiroAinda não há avaliações
- Curso sono bebêDocumento18 páginasCurso sono bebêCaio FernandesAinda não há avaliações
- Anticoagulacao Na Gestacao e o Momento Do Parto Como ProcederDocumento6 páginasAnticoagulacao Na Gestacao e o Momento Do Parto Como ProcederDaiane RibeiroAinda não há avaliações
- Cartilha Conhecendo A Advocacia Pública Federal ANAFEDocumento8 páginasCartilha Conhecendo A Advocacia Pública Federal ANAFEDaiane RibeiroAinda não há avaliações
- 02 - Modelos HCDocumento52 páginas02 - Modelos HCTamara SilvaAinda não há avaliações
- 5.1.1 COMPRA E VENDA - Produto NÃO Entregue - Obrigação de EntregarDocumento3 páginas5.1.1 COMPRA E VENDA - Produto NÃO Entregue - Obrigação de EntregarSr RavenAinda não há avaliações
- Exame Oab 2025Documento24 páginasExame Oab 2025igor.oldman42Ainda não há avaliações
- 12 - ANEXO (Versão Final DEJT)Documento33 páginas12 - ANEXO (Versão Final DEJT)Rodrigo ZundtAinda não há avaliações
- Recurso OrdinarioDocumento6 páginasRecurso OrdinarioLéo vianaAinda não há avaliações
- Controle difuso e instrumentos de controle de omissões constitucionaisDocumento81 páginasControle difuso e instrumentos de controle de omissões constitucionaisRafael Rodrigues de OliveiraAinda não há avaliações
- Diário Da Justiça Eletrônico - Data Da Veiculação - 30-05-2019Documento242 páginasDiário Da Justiça Eletrônico - Data Da Veiculação - 30-05-2019Monica BenavidesAinda não há avaliações
- Tribunal analisa oposição à execução de dívida de condomínioDocumento2 páginasTribunal analisa oposição à execução de dívida de condomínioDiana GilAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação - Módulo IIDocumento6 páginasExercícios de Fixação - Módulo IILu TavaresAinda não há avaliações
- O Conselho da Fazenda e a construção do Império Luso-Brasileiro (1808-1821Documento352 páginasO Conselho da Fazenda e a construção do Império Luso-Brasileiro (1808-1821Reginaldo Alves d'AraújoAinda não há avaliações
- ENUNCIADOS DO FONAVIDDocumento5 páginasENUNCIADOS DO FONAVIDLucas Tavares - CaririAinda não há avaliações
- BANDEIRA, Regina Maria Groba. A EC 45 - 2004. O Novo Perfil Do Poder Judiciário BrasileiroDocumento6 páginasBANDEIRA, Regina Maria Groba. A EC 45 - 2004. O Novo Perfil Do Poder Judiciário BrasileiroAurélio LobãoAinda não há avaliações
- Aprovados BHDocumento110 páginasAprovados BHLucas Macedo SalgadoAinda não há avaliações
- Fiscalização Concreta Constitucionalidade - Vital MoreiraDocumento27 páginasFiscalização Concreta Constitucionalidade - Vital MoreiraPedro PintoAinda não há avaliações
- Arbitragem - Perguntas e RespostasDocumento3 páginasArbitragem - Perguntas e RespostasEvilim CedrazAinda não há avaliações
- Inicial CorreiosDocumento8 páginasInicial CorreiosThais DuarteAinda não há avaliações
- Resp 1166651Documento24 páginasResp 1166651Jv SantosAinda não há avaliações
- Direito Eleitoral EsquematizadoDocumento9 páginasDireito Eleitoral Esquematizadoandersomes100% (1)
- Verticalizado PMGO: provas para oficial da PM de GoiásDocumento7 páginasVerticalizado PMGO: provas para oficial da PM de GoiásMagalhães StivadoAinda não há avaliações
- Juizado Especial Cível extingue processo sem resolução de méritoDocumento2 páginasJuizado Especial Cível extingue processo sem resolução de méritoJunior da ManuAinda não há avaliações
- Luciano AzevedoDocumento16 páginasLuciano AzevedoMetropolesAinda não há avaliações
- Apontamentos de Recursos em Processo CivilDocumento80 páginasApontamentos de Recursos em Processo CivilPedro Francisco LucasAinda não há avaliações
- Perguntas e Dissertação p.02Documento1 páginaPerguntas e Dissertação p.02Pedro SantosAinda não há avaliações
- Diário Eletrônico - Tribunal de Justiça Do Estado Do MaranhãoDocumento3 páginasDiário Eletrônico - Tribunal de Justiça Do Estado Do MaranhãoLucnunesmoraesAinda não há avaliações
- Agravo de Instrumento JJ MartinsDocumento29 páginasAgravo de Instrumento JJ MartinsGustavo SalomãoAinda não há avaliações
- Ações Constitucionais: eficácia e aplicabilidadeDocumento53 páginasAções Constitucionais: eficácia e aplicabilidadeRafael TavaresAinda não há avaliações
- Poder Judiciário Carreira Jurídicas Luiz Wagner Junior JacobDocumento7 páginasPoder Judiciário Carreira Jurídicas Luiz Wagner Junior JacobIngrid MolinariAinda não há avaliações
- Regimento Interno Atualizado 2022Documento136 páginasRegimento Interno Atualizado 2022Jesy SalesAinda não há avaliações
- Mandado de SegurançaDocumento12 páginasMandado de SegurançaMetropolesAinda não há avaliações
- E-book gratuito sobre questões discursivas do TRFDocumento22 páginasE-book gratuito sobre questões discursivas do TRFGabriela AlvesAinda não há avaliações
- Noções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNo EverandNoções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Os engenheiros do caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleiçõesNo EverandOs engenheiros do caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleiçõesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (24)
- Do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI: uma homenagem a Professora Maria do Livramento BezerraNo EverandDo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI: uma homenagem a Professora Maria do Livramento BezerraAinda não há avaliações
- Planejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IINo EverandPlanejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IIAinda não há avaliações
- O Estado Dual: uma contribuição à teoria da ditaduraNo EverandO Estado Dual: uma contribuição à teoria da ditaduraAinda não há avaliações
- Finanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNo EverandFinanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (17)
- Uma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNo EverandUma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Imunidade, não incidência e isenção: Doutrina e práticaNo EverandImunidade, não incidência e isenção: Doutrina e práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- COMUNICAÇÃO JURÍDICA: Linguagem, Argumentação e Gênero DiscursivoNo EverandCOMUNICAÇÃO JURÍDICA: Linguagem, Argumentação e Gênero DiscursivoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Desvendando O Metodo De Taufic Darhal Para Mega SenaNo EverandDesvendando O Metodo De Taufic Darhal Para Mega SenaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3)
- Responsabilidade Civil Extracontratual: Nos Perspetivas em matéria de Nexo de CausalidadeNo EverandResponsabilidade Civil Extracontratual: Nos Perspetivas em matéria de Nexo de CausalidadeAinda não há avaliações
- Conformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4No EverandConformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- História das religiões: Perspectiva histórico-comparativaNo EverandHistória das religiões: Perspectiva histórico-comparativaAinda não há avaliações
- O homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNo EverandO homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (16)
- O CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNo EverandO CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (17)