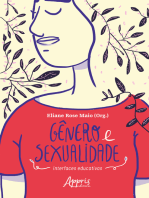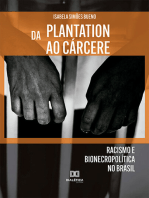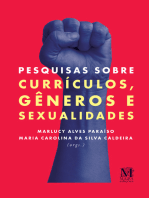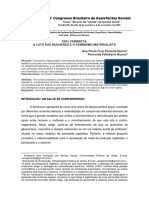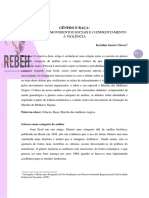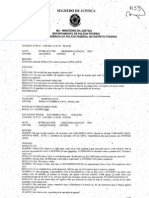Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Genero e Etnicidade Interseções
Enviado por
andrealujanTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Genero e Etnicidade Interseções
Enviado por
andrealujanDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resenha
SACCHI, Ângela e GRAMKOW, Márcia Maria (orgs.). Gênero e povos indígenas: coletânea de textos
produzidos para o “Fazendo Gênero 9” e para a “27ª Reunião Brasileira de Antropologia”.
Rio de Janeiro, Brasília, Museu do Índio/GIZ/Funai, 2012, 272 pp.
Gênero e etnicidade:
intersecções possíveis
Rafael da Silva Noleto
Universidade de São Paulo
Universidade Federal do Tocantins
______________________________________________________________________
Elaborar uma resenha a partir de uma coletânea de textos já é, em si, uma árdua tarefa.
Contudo, pensar em uma coletânea de artigos que trata sobre dois grandes campos de
debate na Antropologia, a saber, a etnologia indígena e os estudos de gênero e sexualidade,
consiste num duplo desafio que tanto reside em dar inteligibilidade a um conjunto de
perspectivas teóricas reunidas em torno de um eixo temático (as relações de gênero) quanto
em ter a devida sensibilidade para tratar da pluralidade étnica, com diferentes demandas
entrecortadas pelas políticas de gênero, que esta obra coloca diante de quem a lê. Tentarei,
assim, elaborar uma resenha “desordenada”, no sentido de que não obedecerá à ordem em
que os artigos são apresentados no livro, para tentar evidenciar conexões e dissonâncias
entre os textos, atendo-me aos pontos mais iluminadores ou “obscuros” apresentados
pelos autores. Com o intuito de empreender um balanço geral de todos os textos lidos,
evocarei, em conjunto e de acordo com a necessidade, os artigos e outros dados
disponibilizados na obra como, por exemplo, a própria introdução do livro e, por fim,
a entrevista final que as organizadoras, Ângela Sacchi e Márcia Gramkow, realizaram com
Valéria Paye Pereira e Léia Bezerra do Vale – duas protagonistas indígenas na
implementação do debate das relações de gênero no âmbito da construção de políticas
públicas voltadas às demandas de povos indígenas.
REVISTA DE ANTROPOLOGIA 58(2)-2015 463
RAFAEL DA SILVA NOLETO. GÊNERO E ETNICIDADE: INTERSECÇÕES POSSÍVEIS
Primeiramente, é necessário frisar que, ao longo de todos os textos, paira o
consenso de que a linguagem do gênero é fruto de uma perspectiva ocidental que enxerga
relações de poder assimétricas entre homens e mulheres. Ou seja, as demandas de gênero
foram inscritas na pauta política de mulheres indígenas a partir do contato com formas não
indígenas de organização social, organizações não governamentais (ONGs) e, por fim,
agentes de saúde, antropólogas feministas e outras profissionais que, a partir do contato
com diversas etnias, intervieram na complexificação da percepção que as mulheres
indígenas elaboram acerca da tensa ligação entre as demandas relativas à garantia de direitos
nos termos mais amplos de sua etnicidade e os anseios pelo respeito ao seu direito à
diferença como mulheres indígenas. Esta tensão está muito bem sublinhada na introdução
do livro (elaborada pelas organizadoras), na entrevista com Valéria Pereira e Léia do Vale e
nos diversos textos que tratam acerca da atuação política de mulheres indígenas nos mais
diversos movimentos sociais.
Dessa maneira, destaco o texto de Cinthia Rocha, que, preocupada em matizar a
agência política das mulheres kaingang, alcança o mérito de retirar a opacidade da
influência feminina na vida política a partir de uma atuação predominante no ambiente
doméstico. A autora flexibiliza a dicotomia entre os ambientes “público” e “privado”,
mostrando-nos que, embora muitas vezes negada pelos homens, a influência das mulheres
em suas decisões políticas advém de uma lógica kaingang na qual os homens dedicam
respeito às suas mães e esposas no sentido de ouvir suas opiniões no ambiente doméstico
para, em seguida, tomarem suas decisões no ambiente público. A autora chama a atenção
para o “faccionalismo motivador da vida social” kaingang (:124) para ilustrar as disputas
políticas em torno da identificação da Terra Indígena Sêgu, a qual pôs em oposição os
principais grupos domésticos vinculados a essa reivindicação. Nesse processo, algumas
mulheres atreladas a um desses polos de disputa agrediram fisicamente Martina Vergueiro –
uma das figuras centrais da luta pela reivindicação territorial do Sêgu, porém vinculada a
outro grupo político nesse contexto kaingang. Para Cinthia Rocha, a agressão física figurou
como um fato demonstrativo de que as disputas políticas, ao contrário do que se costuma
imaginar, integram significativamente o universo feminino, desfazendo a rígida oposição
entre interesses “de mulher” e “de homem”, bem como entre a atuação de ambos nas
esferas públicas e privadas.
Por sua vez, as reflexões que Fernando Barros Jr. elaborou a partir de trabalho de
campo entre os Xukuru, consideram que o espaço escolar é valorizado por esta etnia como
um importante local de formação de uma consciência étnica de mobilização em torno das
REVISTA DE ANTROPOLOGIA 58(2)-2015 464
RAFAEL DA SILVA NOLETO. GÊNERO E ETNICIDADE: INTERSECÇÕES POSSÍVEIS
causas políticas deste povo. Analisando a configuração do Conselho de Professores
Indígenas Xukuru do Ororubá (Copixo), o autor percebeu que, embora esta organização
seja composta majoritariamente por mulheres professoras, a tomada de decisões acerca de
questões educacionais e de articulações com organizações externas é feita pelos homens
xukuru. Neste sentido, parece sintomática a constatação que o autor faz a respeito de que a
distribuição de professores por gênero é dada de forma que as mulheres lecionam nas
séries básicas e os homens assumem o comando das turmas mais avançadas (:132). O autor
chega a afirmar que as mulheres xukuru não se constituem como um grupo com demandas
específicas por conta de que elas já se consideram engajadas na “causa” xukuru por
desempenharem atividades “secundárias e domésticas” (:135). Assim, sugiro que se as
mulheres se consideram, de fato, envolvidas na “causa” xukuru, mesmo desempenhando
funções domésticas, não seria o caso de observar com mais atenção etnográfica o modo
como essas atividades domésticas são mobilizadas pelas mulheres e como elas podem
(ou não) utilizarem-se dessas funções para estarem mais próximas da vida política?
Um bom exemplo da problematização do gênero dentro de movimentos sociais de
mulheres indígenas pode ser encontrado no texto de Lady Souza e Arneide Cemin. Merece
destaque o fato de que as autoras dialogam com uma ampla literatura feminista, que está
fora do âmbito da etnologia, sem perder de vista as especificidades étnicas de mulheres
indígenas que vivem em Porto Velho (RO). As autoras possuem ainda o mérito de cruzar
marcadores sociais da diferença tais como etnicidade, raça, classe e gênero para nos fazer
compreender como os processos migratórios de mulheres indígenas para os centros
urbanos as colocam na condição de “desaldeadas”, alijando-as tanto do direito ao
reconhecimento à diferença étnica quanto do acesso aos direitos e às políticas públicas
dentro de espaços como o Sistema Único de Saúde (SUS), Funai, Delegacias da Mulher e
outros órgãos que atendem demandas de povos indígenas (:179). Se a problemática do
gênero é, para as mulheres indígenas, um novo eixo, adquirido pelo contato com um
universo cultural não-indígena de compreensão das relações sociais, considero que é
bastante pertinente que Lady Souza e Arneide Cemin tenham olhado cuidadosamente para
a vasta produção teórica que este campo de estudos tem a oferecer para a etnologia. Não se
trata de compreender uma realidade étnica sob um prisma epistemológico ocidentalizante,
mas de olhar para esta produção teórica, ainda que seja para contrapô-la ou desafiá-la, no
sentido de enriquecer o debate das relações de gênero a partir de contextos etnográficos
muito distintos.
REVISTA DE ANTROPOLOGIA 58(2)-2015 465
RAFAEL DA SILVA NOLETO. GÊNERO E ETNICIDADE: INTERSECÇÕES POSSÍVEIS
No que diz respeito à participação feminina nos movimentos indígenas, Maria
Helena Ortolan Matos traz uma boa revisão do processo de ingresso e interação de
mulheres indígenas com os movimentos indígenas de caráter mais amplo. Contudo, devo
ressaltar que, em sua argumentação, a autora traça uma dicotomia em que, de um lado,
coloca a crescente preocupação de mulheres indígenas em ocupar espaços públicos a partir
de uma perspectiva de complementaridade à atuação política masculina e, de outro lado,
posiciona as demandas feministas não indígenas como “de teor mais separatista” (:148).
Seria muito enriquecedor se a autora indicasse mais especificamente com qual literatura
feminista está dialogando para poder classificar o feminismo inteiro como separatista.
Conforme tal polaridade, parece que o feminismo tem uma única face homogênea
(e hegemônica) que consiste em uma irmandade lésbica que deseja separar-se e distinguir-se
por completo dos homens. O próprio texto de Natália Biraben (presente na coletânea)
pode fornecer importantes respostas a Matos na medida em que, ao propor um
interessante e lúcido questionamento acerca da transnacionalização da problemática do
gênero, os argumentos de Biraben acompanham uma forma de feminismo (ocidental) que
acredita em que o empoderamento das mulheres segue na direção de “assumir formas
democráticas e compartilhadas” (:234-235).
Matos ainda afirma que, diferente das sociedades não-indígenas, as sociedades
indígenas em geral tendem a considerar o espaço “doméstico” como uma importante arena
para decisões políticas, ressignificando a dicotomia ocidental entre “público” e “privado”.
No entanto, creio que seria interessante atentar para uma ampla literatura feminista que
debate sobre o caráter político do espaço doméstico, ressaltando como ele foi tomado
como palco para o desenvolvimento de políticas coloniais que entrecruzam raça, classe,
gênero e sexualidade (ver, por exemplo, McClintock, 2010 [1995]). Assim, há, entre as
feministas, o consenso de que o espaço da domesticidade, também em contexto
não-indígena, é reconhecido por seu grande potencial político, ressaltado em muitos
trabalhos que iluminam a agência política de mulheres não-indígenas em contextos
“domésticos”. Tentando elaborar um esquema que mostra a passagem da ideia de
complementaridade à de especificidade para designar a atuação de mulheres nos
movimentos sociais indígenas, Maria Helena Matos parece não encorajar uma valorização
unilateral do espaço “público” como lugar de decisões políticas, no entanto, no decorrer do
texto, acaba por evidenciar uma crescente preocupação de mulheres indígenas com a
ocupação de espaços públicos. Se assim é, parece que as próprias mulheres indígenas
aparentam conceber (ou intuir) algum tipo de hierarquização entre “público” e “privado”,
REVISTA DE ANTROPOLOGIA 58(2)-2015 466
RAFAEL DA SILVA NOLETO. GÊNERO E ETNICIDADE: INTERSECÇÕES POSSÍVEIS
percebendo um “menor” status político do ambiente doméstico e apropriando-se de noções
supostamente ocidentais de vida pública e domesticidade.
Devo dizer que Elizabeth Pissolato apresenta um excelente texto em que explora a
mitologia mybia guarani, demonstrando como “a proteção xamânica na Terra seria ou
deveria ser tarefa de um par masculino-feminino” (:101). A autora explica a produção do
parentesco mybia a partir de um mito de origem que conta o desentendimento entre
Nhanderu e sua esposa (curiosamente não nomeada!) como causador de um rompimento
matrimonial que seria a origem dos arranjos de parentesco multilocal empreendidos pelos
Mybia. Neste sentido, Pissolato fornece dados que asseguram a não generificação do ato de
deixar o cônjuge, podendo ser uma atitude tanto masculina quanto feminina (:104).
A antropóloga evidencia como a multilocalidade do parentesco está muito bem
fundamentada na mitologia mybia, deixando explícito que os casamentos entre os Mybia
dinamizam o parentesco multilocal concomitantemente ao fato de que casamentos entre
mulheres mybia e homens não-indígenas (jurua) paralisam a dinâmica da multilocalidade.
Apenas como provocação, creio que o trabalho da autora poderia ser ainda mais
enriquecido se avançasse das discussões sobre gênero rumo às discussões sobre sexualidade
para adentrar na esfera de possíveis desejos sexuais motivadores de casamentos ou relações
sexuais inter-raciais empreendidas por mulheres mybia e homens jurua.
Com relação ao uso da mitologia indígena como fundamentação para explicar
determinados contextos e modos de interação política e social, gostaria apenas de dar um
pequeno palpite em relação à escolha de um mito, presente no texto de Maria Helena
Ortolan Matos, usado para clarificar a ideia de complementaridade da participação política
de mulheres no movimento indígena. Trata-se de um mito do Alto do Rio Negro, que
narra a história de Hipaweri hekoapi (o homem) e Hipawerua hekoap-sadoa (a mulher)
para povoar o mundo (:143). Meu palpite, ao invés de resposta, é uma pergunta: não seria o
caso da autora desconfiar da própria fonte em que coletou o mito, uma coletânea que,
apesar de organizada por Dominique Buchillet, é inteiramente narrada e interpretada por
homens? Como seria a narrativa deste mito caso fosse vocalizada e interpretada por
mulheres? Talvez, a ideia de complementaridade fique mais explícita na entrevista de Léia
do Vale, afirmando que, embora tenham demandas específicas, as mulheres lutam “ao lado
dos homens” no sentido de que estão “somando forças” (:262). Aqui, a interlocutora
indígena consegue sublinhar tanto a especificidade da luta feminina quanto o papel político
das mulheres como situado em patamar igual e complementar ao qual os homens parecem
estar alocados. Em nota de rodapé (:249, n.12), Natália Biraben – que, aliás, escreve um
REVISTA DE ANTROPOLOGIA 58(2)-2015 467
RAFAEL DA SILVA NOLETO. GÊNERO E ETNICIDADE: INTERSECÇÕES POSSÍVEIS
excelente artigo em que consegue conectar os debates feministas às especificidades
epistemológicas da etnologia – aponta para a discussão polêmica em torno da noção de
complementaridade como um conceito que, em alguns casos, pode ser usado erroneamente
para esconder situações de desigualdade entre os gêneros.
O texto de Dina Mazariegos também está plenamente afinado às mais recentes
discussões em torno do gênero, pois traz uma preocupação indubitável (e muito bem
justificada) com a produção de uma reflexão crítica que considere a interseccionalidade de
marcadores sociais da diferença tais como raça, gênero, sexualidade, etnicidade, geração e
classe como eixos de compreensão articulados em suas análises. O artigo poderia ser
enriquecido com o fato de Mazariegos marcar o seu lugar de fala como uma pesquisadora
da Guatemala – dado do qual só se toma conhecimento a partir do texto introdutório de
Ângela Sacchi e Márcia Gramkow (:26). A autora também não tece maiores comentários
sobre como teve acesso a mulheres (indígenas) intelectuais daquele país. Após afirmar que
estas mulheres intelectuais (suas interlocutoras) foram transgressoras em seus contextos de
interação social, Mazariegos não apresenta exemplos suficientes de como essas mulheres
foram, de fato, transgressoras, qual o impacto (ou contribuição) que suas produções
acadêmicas tiveram na Guatemala e quais os enfrentamentos que tiveram nos contextos
universitários em que atuaram. Se o caso em análise é a trajetória de mulheres intelectuais,
tal balanço teórico é dificultado por conta do ocultamento da identidade de algumas de
suas interlocutoras, o que fragiliza a proposta do artigo: como falar das transgressões de
mulheres intelectuais, problematizando suas obras e vidas, se suas identidades não podem
ser completamente reveladas? Como analisar suas produções teóricas, se não se sabe quem
elas são e de que forma estão inseridas, como referências bibliográficas, no texto de
Mazariegos? No entanto, o texto é bem-sucedido por chamar a atenção para uma vasta
produção intelectual feminista existente na Guatemala, e presente nas referências
bibliográficas de Mazariegos, que certamente poderia ser lida por mais pesquisadores
da área.
É necessário sublinhar que o artigo de Mariana Gómez figura como uma boa
revisão bibliográfica acerca das representações de mulheres indígenas da região do Chaco
(Argentina) em diários jesuíticos do séc. XVIII e nos escritos de etnógrafos europeus que
desenvolveram pesquisas nesta região durante as primeiras décadas do séc. XX. Gómez
enfatiza que as indígenas foram representadas como “burros de carga”, “amazonas” e
“libertinas sexuais”1 pelo fato de que, tanto os jesuítas quanto os etnógrafos, enxergavam
essas mulheres sob a perspectiva de uma relação metonímica com a natureza (:38; 42)
REVISTA DE ANTROPOLOGIA 58(2)-2015 468
RAFAEL DA SILVA NOLETO. GÊNERO E ETNICIDADE: INTERSECÇÕES POSSÍVEIS
representando-as, principalmente no caso dos jesuítas, sem a devida compreensão do
componente cultural e étnico que orientava a construção do corpo, do gênero e das
sexualidades dessas mulheres. Sob este ponto de vista, os textos de Gómez e Biraben
possuem vários pontos de intersecção no sentido de que ambos apresentam uma revisão
sobre as representações de mulheres indígenas nesta região da Argentina.
Trabalhando com mulheres mazahua na Cidade do México, Luciana Dias
descortina as condições precárias de vida de mulheres indígenas inseridas em contextos
urbanos, enfatizando que, embora essas mulheres sejam chefes de família e, culturalmente,
assumam a característica de que são “mais fortes” que os homens, elas são vítimas dos mais
variados tipos de violência advindos de todos os sujeitos masculinos (pais, filhos, maridos e
patrões) que as cercam. São denominadas pejorativamente como marías, categoria que as
inferioriza e as reposiciona ao seu “devido lugar” generificado (:192-193). Apenas no
sentido de incitar a autora ao enriquecimento de suas reflexões, creio que seria válido,
como hipótese de trabalho, interpelar em que medida a crença numa suposta “força”
feminina e numa “fragilidade” masculina é cultivada, coletivamente, por essas Mazahua
“masculinizadas” como um recurso para abrandar o grau de vitimização em que essas
mulheres se encontram.
Paulo Ferreira traz um ótimo texto no qual demonstra como as relações de gênero
colocam o confronto entre o conhecimento tradicional kaxinawá e a transmissão formal do
saber através do formato ocidental de escola. Assim, o autor mostra como o conhecimento
do kene kui (desenho verdadeiro), tradicionalmente relacionado ao saber feminino, é
inserido no contexto escolar como um saber não generificado acessível, inclusive, aos
homens. Ferreira propõe que há uma “inversão de agências e saberes” (:86) vivenciada
dentro do ambiente da escola. Contudo, resta uma dúvida: se há esta inversão de saberes,
na qual os homens kaxinawá adquirem (ainda que não completamente) conhecimentos
“femininos” do kene kui, em que medida a escola proporciona às mulheres a aquisição de
saberes “masculinos”? Se o autor deseja nos convencer de que há uma inversão ou
convergência de agências generificadas (:91) seria necessário um pequeno ajuste para que a
contrapartida do aprendizado feminino de saberes masculinos (se realmente existe) seja
demonstrada com mais clareza. Se o desenho (kene) é uma ciência que possui uma agência
(yuxi) que é reivindicada pelos homens como um instrumento de compreensão da própria
identidade étnica, falta saber se as mulheres também reivindicam o acesso, através da
escola, a instrumentos de compreensão tradicionalmente classificados como masculinos.
REVISTA DE ANTROPOLOGIA 58(2)-2015 469
RAFAEL DA SILVA NOLETO. GÊNERO E ETNICIDADE: INTERSECÇÕES POSSÍVEIS
O livro conta ainda com um delicioso artigo escrito por Barbara Arisi a partir de
pesquisa feita com os Matis. O texto traz uma discussão sobre a intersubjetividade que
envolve o antropólogo e “seus” nativos. Ao virar alvo de curiosidade sobre sua vida sexual
e sobre práticas sexuais não-indígenas, a autora acumulou dados que permitiram uma
reflexão acerca de assuntos como violência sexual, mediações entre antropólogos e diversos
componentes da e na aldeia, moralidades conflitantes e até o desejo pelo aprendizado de
novas técnicas corporais relativas ao sexo. A autora aborda, com muita delicadeza e
sagacidade, temas como o caráter possivelmente pedagógico da pornografia ocidental (vista
pelos Matis através de filmes em DVD), o sexo intergeracional matis e a curiosidade das
mulheres acerca de métodos anticoncepcionais, práticas e posturas sexuais femininas em
contextos ocidentais. Um dos pontos altos do texto é a problematização das constantes
interpelações que a antropóloga enfrentou em campo ao ser convidada para fazer sexo com
homens matis (o que poderia coloca-la em condições vulneráveis ao estupro) e, por conta
de suas negativas, ser denominada como kuë kurassek (vagina sovina). Sem dúvida, um texto
que pode ser desdobrado e aprofundado em projetos futuros da autora.
A despeito dos avanços, o gênero ainda é um assunto de mulheres. Como não
notar a presença de apenas dois homens na coletânea? Apesar de alguns pontos de
provocação que coloquei, a leitura da obra é altamente recomendada. Devido ao pouco
espaço que tenho, fiquei diante da enorme dúvida entre ressaltar os pontos positivos ou
destrinchar as (prováveis) lacunas da obra. Pensei, então, que colocar minhas dúvidas e
possíveis sugestões seria a melhor maneira de contribuir diretamente com os autores ao
relatar minhas impressões, que podem constituir-se como grandes equívocos cometidos
por um não etnólogo. Acredito que a leitura deste livro contribua para que percebamos
certo abismo que separa os etnólogos e os antropólogos do gênero e sexualidade. Neste
sentido, tenho certeza de que a iniciativa desta publicação é um passo que contribui
decisivamente para o atravessamento dessas fronteiras que colocam, de um lado,
os antropólogos “urbanos” dos gêneros e das sexualidades e, de outro lado, os etnólogos.
Nesta relação, nós, antropólogos “urbanos” do gênero e da sexualidade, somos
frequentemente estimulados a nos aproximar mais das teorias advindas da etnologia (e isto
é perfeitamente válido!). Contudo, também creio que o empreendimento no caminho
contrário, em que os etnólogos se deixassem encantar por “nossas” teorias do gênero,
seria, de fato, engrandecedor e muito produtivo para a ampliação do debate das relações de
gênero. Não se trata de “encaixar” povos indígenas em um arcabouço teórico ocidental,
REVISTA DE ANTROPOLOGIA 58(2)-2015 470
RAFAEL DA SILVA NOLETO. GÊNERO E ETNICIDADE: INTERSECÇÕES POSSÍVEIS
mas de estabelecer um diálogo teórico, um convívio mais próximo, um contato que pode
ser dadivoso para ambas as partes.
1 Tradução minha para texto originalmente escrito em espanhol.
Referências bibliográficas
MCCLINTOCK, Anne
2010 [1995] Couro imperial: raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Campinas,
Editora da Unicamp.
REVISTA DE ANTROPOLOGIA 58(2)-2015 471
Você também pode gostar
- Aula Atividade AlunoDocumento8 páginasAula Atividade AlunoEveraldo KoggiAinda não há avaliações
- PDF FeminismoNegro - Crítica Alice LinoDocumento16 páginasPDF FeminismoNegro - Crítica Alice LinoJoy LuaAinda não há avaliações
- Fichamento Lélia GonzalezDocumento6 páginasFichamento Lélia GonzalezPaul Jardim Martins AfonsoAinda não há avaliações
- Alteridade, Genero, Sexualidade e AfetoDocumento3 páginasAlteridade, Genero, Sexualidade e AfetoOlívia VianaAinda não há avaliações
- O amor tem cor?: estudo sobre relações afetivo-sexuais inter-raciais em Campos dos GoytacazesNo EverandO amor tem cor?: estudo sobre relações afetivo-sexuais inter-raciais em Campos dos GoytacazesAinda não há avaliações
- LISBOA T BAMBIRRA N.Enegrecendo o Feminismo - 2019Documento15 páginasLISBOA T BAMBIRRA N.Enegrecendo o Feminismo - 2019Verônica Giuliane Muniz de SousaAinda não há avaliações
- Artigo - Dominação e Resistência - FinalizadoDocumento17 páginasArtigo - Dominação e Resistência - FinalizadoTaiane LopesAinda não há avaliações
- Bixas Pretas: dissidência, memória e afetividadesNo EverandBixas Pretas: dissidência, memória e afetividadesGilmaro NogueiraAinda não há avaliações
- Interseccionalidade: Sexualidade, Raça e GêneroDocumento8 páginasInterseccionalidade: Sexualidade, Raça e GêneroLarissa PelucioAinda não há avaliações
- Da plantation ao cárcere: racismo e bionecropolítica no BrasilNo EverandDa plantation ao cárcere: racismo e bionecropolítica no BrasilAinda não há avaliações
- Pesquisas sobre currículos, gêneros e sexualidadesNo EverandPesquisas sobre currículos, gêneros e sexualidadesAinda não há avaliações
- Anais V Fórum Virtual As Pensadoras: Feminismos e mulheres: Pautas para a reconstrução do BrasilNo EverandAnais V Fórum Virtual As Pensadoras: Feminismos e mulheres: Pautas para a reconstrução do BrasilAinda não há avaliações
- Coletividades em afirmação: debates e visibilidades: - Volume 1No EverandColetividades em afirmação: debates e visibilidades: - Volume 1Ainda não há avaliações
- A invisibilidade da mulher negra em Joinville: formação e inserção ocupacionalNo EverandA invisibilidade da mulher negra em Joinville: formação e inserção ocupacionalAinda não há avaliações
- As desigualdades e suas múltiplas formas de expressãoNo EverandAs desigualdades e suas múltiplas formas de expressãoAinda não há avaliações
- 11535-Texto Do Artigo-44294-1-10-20210622Documento6 páginas11535-Texto Do Artigo-44294-1-10-20210622Paulo CarlosAinda não há avaliações
- Metodologia - AntunesDocumento4 páginasMetodologia - Antunesdaniel.victor.324567Ainda não há avaliações
- Walby. A Mulher e A NaçãoDocumento19 páginasWalby. A Mulher e A NaçãoMarcusAinda não há avaliações
- MUNIZ, Diva Do Couto Gontijo. Feminismos, Epistemologia Feminista e História Das MulheresDocumento14 páginasMUNIZ, Diva Do Couto Gontijo. Feminismos, Epistemologia Feminista e História Das MulheresRosenilson SantosAinda não há avaliações
- OLIVEIRA, Leandro M GERMINIANI, Haudrey. JusticaSocialGeneroDocumento15 páginasOLIVEIRA, Leandro M GERMINIANI, Haudrey. JusticaSocialGeneroJoicinhaaaAinda não há avaliações
- O Que É Lugar de Fala - ArtigoDocumento4 páginasO Que É Lugar de Fala - ArtigoLuMedeirosAinda não há avaliações
- SWAIN - A Construção Dos Corpos - Perspectivas FeministasDocumento9 páginasSWAIN - A Construção Dos Corpos - Perspectivas FeministasGF GabryAinda não há avaliações
- Feminismo Interseccional, Uma Crítica A Branquitude CisheteronormativaDocumento11 páginasFeminismo Interseccional, Uma Crítica A Branquitude CisheteronormativananipcmAinda não há avaliações
- 2020 - Motta - A Contribuição de Heleieth SaffiotiDocumento14 páginas2020 - Motta - A Contribuição de Heleieth SaffiotiMarcella BarbosaAinda não há avaliações
- Literatura e minorias: DiálogosNo EverandLiteratura e minorias: DiálogosAinda não há avaliações
- No Rastro Da Historia Das Mulheres A BioDocumento24 páginasNo Rastro Da Historia Das Mulheres A BioJoiceAinda não há avaliações
- Lelia Gonzalez e Seu Lugar Na AntropologDocumento34 páginasLelia Gonzalez e Seu Lugar Na AntropologLuane Bento Dos SantosAinda não há avaliações
- Artigo Redor - Maíra Reis GT8Documento14 páginasArtigo Redor - Maíra Reis GT8Taiane MendesAinda não há avaliações
- As Desbravadoras Do Sertão Travestis "Pioneiras" Do Nordeste BrasileiroDocumento23 páginasAs Desbravadoras Do Sertão Travestis "Pioneiras" Do Nordeste BrasileiroCaio CerqueiraAinda não há avaliações
- SANTOS, Izabel Da Cruz - O Pensamento Das Mulheres Negras No Brasil - O Livro Da Saúde Das Mulheres NegrasDocumento14 páginasSANTOS, Izabel Da Cruz - O Pensamento Das Mulheres Negras No Brasil - O Livro Da Saúde Das Mulheres NegrasRenata Dorneles LimaAinda não há avaliações
- (ARTIGO 2019) Mulheres Indígenas em Movimentos - Possíveis Articulações Entre Gênero e PolíticaDocumento17 páginas(ARTIGO 2019) Mulheres Indígenas em Movimentos - Possíveis Articulações Entre Gênero e Políticacarolscribd32Ainda não há avaliações
- 287-Article Text-554-1-10-20191114Documento6 páginas287-Article Text-554-1-10-20191114Antônio NascimentoAinda não há avaliações
- 12 Sexualidade GeneroDocumento4 páginas12 Sexualidade GeneroALESSANDRO RODRIGUES CHAVESAinda não há avaliações
- História das mulheres, relações de gênero e sexualidades em GoiásNo EverandHistória das mulheres, relações de gênero e sexualidades em GoiásAinda não há avaliações
- (Cristiano Rodrigues) Conceito de Interseccionalidade para o Feminismo No BrasilDocumento12 páginas(Cristiano Rodrigues) Conceito de Interseccionalidade para o Feminismo No BrasilCeiça Ferreira100% (1)
- O Saber Surge Da Prática: Por Um Serviço Social Com Perspectiva FeministaDocumento22 páginasO Saber Surge Da Prática: Por Um Serviço Social Com Perspectiva FeministaClarissa LouiseAinda não há avaliações
- A Questão Feminina: : Importância Estratégica Das Mulheres para A Regulação Da População BrasileiraDocumento31 páginasA Questão Feminina: : Importância Estratégica Das Mulheres para A Regulação Da População BrasileiraMonique Ximenes Lopes de Medeiros100% (1)
- SOIHET - Rachel-História Das Mulheres e História de GêneroDocumento7 páginasSOIHET - Rachel-História Das Mulheres e História de GêneroBruna PerrottiAinda não há avaliações
- O Pensamento Das Mulheres Negras e A Lesbianidade Negra em Contexto LusófonoDocumento9 páginasO Pensamento Das Mulheres Negras e A Lesbianidade Negra em Contexto LusófonoAugusta SilveiraAinda não há avaliações
- Devir quilomba: antirracismo, afeto e política nas práticas de mulheres quilombolasNo EverandDevir quilomba: antirracismo, afeto e política nas práticas de mulheres quilombolasAinda não há avaliações
- PAPER - Patrícia Hills CollinsDocumento6 páginasPAPER - Patrícia Hills CollinskalitaAinda não há avaliações
- Beatriz Bagagli - Cisgenero-Nos Discursos Feministas Uma Palavra Tao Defendida Tao Atacada Tao Pouco EntendidaDocumento101 páginasBeatriz Bagagli - Cisgenero-Nos Discursos Feministas Uma Palavra Tao Defendida Tao Atacada Tao Pouco EntendidaMaríliaAinda não há avaliações
- 9170-Texto Do Artigo-32301-1-10-20191002Documento13 páginas9170-Texto Do Artigo-32301-1-10-20191002Patrícia AlmeidaAinda não há avaliações
- Gênero e desigualdades: limites da democracia no BrasilNo EverandGênero e desigualdades: limites da democracia no BrasilAinda não há avaliações
- BARTHOLEMEU, J. Escrevivencias. As Contribuições de Sueli Carneiro e Lelia Gonzalez Ao Pensamento Social Brasileiro.Documento12 páginasBARTHOLEMEU, J. Escrevivencias. As Contribuições de Sueli Carneiro e Lelia Gonzalez Ao Pensamento Social Brasileiro.Danielle Oliveira MércuriAinda não há avaliações
- 150 317 1 SMDocumento15 páginas150 317 1 SMadriana teixeiraAinda não há avaliações
- Mulheres na Luta Armada: Protagonismo feminino na ALN (Ação Libertadora Nacional)No EverandMulheres na Luta Armada: Protagonismo feminino na ALN (Ação Libertadora Nacional)Ainda não há avaliações
- Educação Engajada: Por Uma Escrita Libertadora e FeministaDocumento20 páginasEducação Engajada: Por Uma Escrita Libertadora e FeministaLuísa AvencourtAinda não há avaliações
- Cópia de Dicionário Crítico de Gênero - Relações de GêneroDocumento4 páginasCópia de Dicionário Crítico de Gênero - Relações de GêneroCintia FsAinda não há avaliações
- Controversas: Perspectivas de Mulheres em Cultura e SociedadeNo EverandControversas: Perspectivas de Mulheres em Cultura e SociedadeAinda não há avaliações
- 33445-Texto Do Artigo-140842-1-10-20141230Documento17 páginas33445-Texto Do Artigo-140842-1-10-20141230Tiago ReisAinda não há avaliações
- Poder e desigualdades: Gênero, raça e classe na política brasileiraNo EverandPoder e desigualdades: Gênero, raça e classe na política brasileiraAinda não há avaliações
- A Teoria Do Nó de Heleieth Safiotti - Danielle MottaDocumento9 páginasA Teoria Do Nó de Heleieth Safiotti - Danielle MottaFranciele DemarchiAinda não há avaliações
- O Leito de ProcustoDocumento34 páginasO Leito de ProcustoFabiana CarvalhoAinda não há avaliações
- Fichamento - Louise A. TillyDocumento10 páginasFichamento - Louise A. TillyAnonymous tRtP1bvx100% (1)
- Thais Azevedo Costa - O Que É Lugar de FalaDocumento5 páginasThais Azevedo Costa - O Que É Lugar de FalaThais AzevedoAinda não há avaliações
- Historia Oral, Feminismo e Política Daphne Patai PDFDocumento4 páginasHistoria Oral, Feminismo e Política Daphne Patai PDFyaya_a_portoAinda não há avaliações
- I 73090417Documento34 páginasI 73090417Oswald AnthonyAinda não há avaliações
- Revoluções IluministasDocumento30 páginasRevoluções IluministasHelena AlvesAinda não há avaliações
- 9º Ano A-B HISTÓRIA-2019 MatrizDocumento2 páginas9º Ano A-B HISTÓRIA-2019 MatrizMarcia Oliveira0% (1)
- Jornal Da Cidade 93 - AraruamaDocumento10 páginasJornal Da Cidade 93 - AraruamaLara MooreAinda não há avaliações
- Clínicas de Recuperação para Dependentes Químicos e AlcoolistasDocumento19 páginasClínicas de Recuperação para Dependentes Químicos e AlcoolistasAntônio CastroAinda não há avaliações
- PT Bibliografia 1edDocumento431 páginasPT Bibliografia 1edClaudio DaflonAinda não há avaliações
- Governanca AmbientalDocumento360 páginasGovernanca AmbientalMarcelo Santos OliveiraAinda não há avaliações
- Movimento MPB e Festivais Da CançãoDocumento12 páginasMovimento MPB e Festivais Da CançãoRakel Mazetto KannenbergAinda não há avaliações
- Sobre A Passagem de Alguns Milhares de Pessoas Por Um Breve Período de TempoDocumento36 páginasSobre A Passagem de Alguns Milhares de Pessoas Por Um Breve Período de Temporadioleonor4753100% (1)
- A Segunda Guerra e A Mulher MaravilhaDocumento12 páginasA Segunda Guerra e A Mulher MaravilhaLUCIENE MEDINA DE SOUZAAinda não há avaliações
- Análise de Filme Hotel RuandaDocumento4 páginasAnálise de Filme Hotel RuandaLuisa FernandaAinda não há avaliações
- Dicionario Da Profissionalizacao DocenteDocumento4 páginasDicionario Da Profissionalizacao DocenteFrancisnaine OliveiraAinda não há avaliações
- Limitar o Limite: Modos de Subsistência - Alexandre NodariDocumento17 páginasLimitar o Limite: Modos de Subsistência - Alexandre NodariCícero PortellaAinda não há avaliações
- 26 Bienal de São Paulo - Artistas Convidados 2004Documento348 páginas26 Bienal de São Paulo - Artistas Convidados 2004Sebastian LinardoAinda não há avaliações
- Query ClienteDocumento114 páginasQuery ClienteChristian AraujoAinda não há avaliações
- A Era RomânticaDocumento3 páginasA Era RomânticaArlene VasconcelosAinda não há avaliações
- Fichamento LauretisDocumento7 páginasFichamento LauretisEliana MeloAinda não há avaliações
- Direito Fiscal - IRS (Aulas Práticas, Parte Teórica)Documento6 páginasDireito Fiscal - IRS (Aulas Práticas, Parte Teórica)Maria Luísa Lobo100% (3)
- Marcos ZorzalDocumento9 páginasMarcos ZorzalPedro MarinhoAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação Revolução IndustrialDocumento3 páginasExercícios de Fixação Revolução IndustrialMaria Da Guia Fonseca50% (2)
- PenacovaDocumento2 páginasPenacovaDiana GonçalvesAinda não há avaliações
- Curitiba - República Das Letras - 1870 1920Documento27 páginasCuritiba - República Das Letras - 1870 1920eloigiovaneAinda não há avaliações
- Análise Do Filme GerminalDocumento2 páginasAnálise Do Filme GerminalTHIAGO MACHADOAinda não há avaliações
- José Veríssimo e A Educação NacionalDocumento6 páginasJosé Veríssimo e A Educação NacionalEverson VerasAinda não há avaliações
- Hemisférios Cerebrais, Função, Direito, Esquerdo Hemisférios CerebraisDocumento10 páginasHemisférios Cerebrais, Função, Direito, Esquerdo Hemisférios CerebraisDaniel Carvalho de AraújoAinda não há avaliações
- 02.o Trabalho Do Gestor Na Escola Dimensões, Relações, Conflitos Formas de AtuaçãoDocumento18 páginas02.o Trabalho Do Gestor Na Escola Dimensões, Relações, Conflitos Formas de AtuaçãoJose Airton Da Silva JuniorAinda não há avaliações
- O Que É ComunismoDocumento1 páginaO Que É ComunismoNatanni FernandesAinda não há avaliações
- Teste Guerra Fria 1Documento5 páginasTeste Guerra Fria 1Maria VinagreAinda não há avaliações
- Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 05 - 1133 A 1189Documento57 páginasProcesso 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 05 - 1133 A 1189Vetor MilAinda não há avaliações
- 501 Grandes EscritoresDocumento105 páginas501 Grandes EscritoresJossan CostaAinda não há avaliações