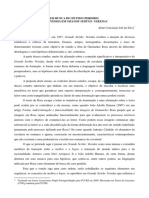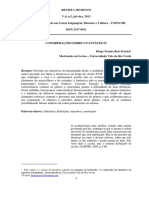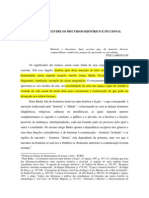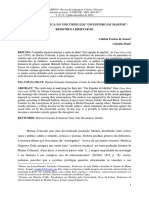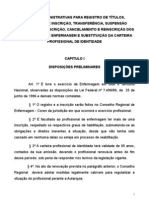Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ldasilva, Maria Alice
Ldasilva, Maria Alice
Enviado por
jubirubuuDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Você também pode gostar
- 20 Atividades de Geografia para 3º AnoDocumento24 páginas20 Atividades de Geografia para 3º AnoTais rodrigues serra100% (1)
- DO Recife 016 Edição 04-02-2023Documento55 páginasDO Recife 016 Edição 04-02-2023João Barata ConcursosAinda não há avaliações
- Matrizes e Sistemas LinearesDocumento11 páginasMatrizes e Sistemas LinearesJames BomfimAinda não há avaliações
- Fabio Ramos Lacerda de OliveiraDocumento2 páginasFabio Ramos Lacerda de OliveiraFabio RamosAinda não há avaliações
- E1401-13573-Texto Do artigo-50675-1-Roberto-Leila-VF-apDocumento19 páginasE1401-13573-Texto Do artigo-50675-1-Roberto-Leila-VF-apS. LimaAinda não há avaliações
- A Representacao Do Fantastico MaraDocumento17 páginasA Representacao Do Fantastico MaraSophie PhiloAinda não há avaliações
- Folclore Brasileiro de A A ZDocumento5 páginasFolclore Brasileiro de A A ZFellipe Major0% (1)
- 13 Juliano Lima Schualtz-160400158228706Documento1 página13 Juliano Lima Schualtz-160400158228706asdri reyhanAinda não há avaliações
- 474-Texto Do Artigo-1505-1-10-20170914Documento18 páginas474-Texto Do Artigo-1505-1-10-20170914Ana AraújoAinda não há avaliações
- História e Ficção No Romance em Despropósito... Luiza Cesar JacielleDocumento24 páginasHistória e Ficção No Romance em Despropósito... Luiza Cesar JacielleJacielle SantosAinda não há avaliações
- Alteridade - Cerqueira UfrgsDocumento213 páginasAlteridade - Cerqueira UfrgsMartaMendesAinda não há avaliações
- Re 0221 0596 01Documento5 páginasRe 0221 0596 01nymos245Ainda não há avaliações
- 14798-Texto Do Artigo-15314682-1-10-20231004Documento16 páginas14798-Texto Do Artigo-15314682-1-10-20231004Adão De Souza MoraesAinda não há avaliações
- Quijano Arguedes Sociologia LiteraturaDocumento13 páginasQuijano Arguedes Sociologia LiteraturaMaria SarahAinda não há avaliações
- Universidade Federal de Minas Gerais Faculdade de Filosofia e Ciências HumanasDocumento10 páginasUniversidade Federal de Minas Gerais Faculdade de Filosofia e Ciências HumanasDenise Sales RafaelAinda não há avaliações
- Entre A Finitude e A Autenticidade o Ser-Para-A-MoDocumento12 páginasEntre A Finitude e A Autenticidade o Ser-Para-A-Momaurício panAinda não há avaliações
- Otextode TungaDocumento10 páginasOtextode TungaÉrica Burini100% (1)
- A Travessia em Guimaraes Rosa PDFDocumento11 páginasA Travessia em Guimaraes Rosa PDFJosi BroloAinda não há avaliações
- O Narrador Na Literatura ContemporaneaDocumento24 páginasO Narrador Na Literatura ContemporaneaCamila CarvalhoAinda não há avaliações
- TrabalhoFinal - ItaloCalvinoFabulas - AnaCarolinaNCavalheiroDocumento9 páginasTrabalhoFinal - ItaloCalvinoFabulas - AnaCarolinaNCavalheiroAna Carolina Cavalheiro do CarmoAinda não há avaliações
- 31.5 o Gato Eo EscuroDocumento7 páginas31.5 o Gato Eo EscuroRita MendonçaAinda não há avaliações
- Artigo1 PDFDocumento18 páginasArtigo1 PDFNathan FaustinoAinda não há avaliações
- Betty MindlinDocumento21 páginasBetty MindlinJussara Olinev Kuaray Mimbi0% (1)
- Sip 2017 - Caderno de ResumosDocumento10 páginasSip 2017 - Caderno de ResumosZid SantosAinda não há avaliações
- A Narrativa Mitica Da Morte No Conto Popular e Sua Caracterizacao Da Tradicao Oral A EscritaDocumento4 páginasA Narrativa Mitica Da Morte No Conto Popular e Sua Caracterizacao Da Tradicao Oral A EscritaWesley H S. SAinda não há avaliações
- Rogério Rosa - A Relação Afro-Ameríndia Entre o Negrinho Do Pastoreio e o SaciPererê Na MitologiaDocumento29 páginasRogério Rosa - A Relação Afro-Ameríndia Entre o Negrinho Do Pastoreio e o SaciPererê Na MitologiaBruno Giacomelli100% (1)
- A Figura Feminina Na MitologiaDocumento13 páginasA Figura Feminina Na MitologiaPalomaAinda não há avaliações
- O Fantástico e Suas Vertentes Na Literatura de Autoria Feminina No Brasil e em PortugalDocumento9 páginasO Fantástico e Suas Vertentes Na Literatura de Autoria Feminina No Brasil e em PortugalMarcelo PachecoAinda não há avaliações
- Aspectos Do Duplo em Cortázar - As Babas Do Diabo (Trabalho Final)Documento13 páginasAspectos Do Duplo em Cortázar - As Babas Do Diabo (Trabalho Final)Fernando KozuAinda não há avaliações
- Abiografianahistoriografia CorrigidoDocumento14 páginasAbiografianahistoriografia CorrigidoHistória Insurgente [Podcast & Youtube]Ainda não há avaliações
- DOSSIE ARTIGO 15-Cristiano Cezar Gomes Da SilvaDocumento14 páginasDOSSIE ARTIGO 15-Cristiano Cezar Gomes Da SilvaPops SenseAinda não há avaliações
- 13332628042020literatura de Lingua Inglesa IV Aula 05Documento15 páginas13332628042020literatura de Lingua Inglesa IV Aula 05JoséEliasAinda não há avaliações
- A Fronteira Entre A Cruz e A EspadaDocumento4 páginasA Fronteira Entre A Cruz e A EspadaEsc Est Ens Med Dr Augusto Simões LopesAinda não há avaliações
- Artigo Revista MacabeaDocumento23 páginasArtigo Revista MacabeaJoao Batista PereiraAinda não há avaliações
- CONSIDERAÇÕES SOBRE O FANTÁSTICO - Diogo Nonato Reis Pereira PDFDocumento21 páginasCONSIDERAÇÕES SOBRE O FANTÁSTICO - Diogo Nonato Reis Pereira PDFAline RodriguesAinda não há avaliações
- CESERANI, Remo. O Fantástico.Documento21 páginasCESERANI, Remo. O Fantástico.Giovanna GuimarãesAinda não há avaliações
- Admin, 12 - 1519Documento33 páginasAdmin, 12 - 1519Bastos PéreiraAinda não há avaliações
- Descolonizando Corpos e Subjetividades RepresentaçõesDocumento12 páginasDescolonizando Corpos e Subjetividades RepresentaçõesfatimarcariAinda não há avaliações
- 9053-Texto Do Artigo-40464-1-10-20200428Documento26 páginas9053-Texto Do Artigo-40464-1-10-20200428Lilian JunqueiraAinda não há avaliações
- Maria Firmina Dos Reis Negra e Escritora No Século XIXDocumento24 páginasMaria Firmina Dos Reis Negra e Escritora No Século XIXAlice Sales100% (1)
- Poesia Tempo e Historia Na Obra de OctavDocumento18 páginasPoesia Tempo e Historia Na Obra de OctavLisandra SouzaAinda não há avaliações
- Batepa Um Passado Assombrado Fantasmas MDocumento18 páginasBatepa Um Passado Assombrado Fantasmas MEsmeralda FreitasAinda não há avaliações
- 764-Texto Do Artigo-3165-1-10-20071023Documento21 páginas764-Texto Do Artigo-3165-1-10-20071023marcioAinda não há avaliações
- Angelo Barroso Costa SoaresDocumento14 páginasAngelo Barroso Costa Soaresnathalia.ferrazaranAinda não há avaliações
- Eros e Psique em F Pessoa - Rodrigo FaleiroDocumento30 páginasEros e Psique em F Pessoa - Rodrigo FaleiroRodrigoFaleiroAinda não há avaliações
- Amanda SteinbachDocumento13 páginasAmanda SteinbachTarcisio GreggioAinda não há avaliações
- Machado Assis e As Causas Ocultas Da CriaçãoDocumento9 páginasMachado Assis e As Causas Ocultas Da CriaçãoMarciano Lopes e SilvaAinda não há avaliações
- A Construção Imaginária Da História e Dos GênerosDocumento26 páginasA Construção Imaginária Da História e Dos GênerosDébora RodriguesAinda não há avaliações
- 459 2063 1 PB PDFDocumento6 páginas459 2063 1 PB PDFgiulianoinzisAinda não há avaliações
- Geografia e LiteraturaDocumento10 páginasGeografia e LiteraturaJôMoreiraAinda não há avaliações
- HANCIAU, Nubia Jacques. Confluências Entre Os Discursos Histórico e Ficcional - UnlockedDocumento13 páginasHANCIAU, Nubia Jacques. Confluências Entre Os Discursos Histórico e Ficcional - UnlockedAna KlockAinda não há avaliações
- Place of Memory: Myths and Legends in The Construction of IdentitiesDocumento15 páginasPlace of Memory: Myths and Legends in The Construction of IdentitiesPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Considerações Sobre A Narrativa Seriada e Sua Gênese Como Necessidade Atávica HumanaDocumento18 páginasConsiderações Sobre A Narrativa Seriada e Sua Gênese Como Necessidade Atávica HumanaRONDINELE RIBEIROAinda não há avaliações
- Psicanalise e Linguagem Mítica PDFDocumento4 páginasPsicanalise e Linguagem Mítica PDFGilberto AlvesAinda não há avaliações
- 2804-Texto Do Artigo-4679-1-10-20180214 PDFDocumento13 páginas2804-Texto Do Artigo-4679-1-10-20180214 PDFLuciano Dias CavalcantiAinda não há avaliações
- Writing Cultures Introdução Writing Cultures É Um Livro Escrito Por James Clifford e George Marcus e Publicado em 1986 - EtnografiaDocumento13 páginasWriting Cultures Introdução Writing Cultures É Um Livro Escrito Por James Clifford e George Marcus e Publicado em 1986 - EtnografiaRui FernandesAinda não há avaliações
- A Imagem Simbólica Do Unicórnio em Um Espinho de Marfim - Resistir e Libertar-SeDocumento13 páginasA Imagem Simbólica Do Unicórnio em Um Espinho de Marfim - Resistir e Libertar-SeRafael DiasAinda não há avaliações
- Michel de Certeau - Capítulo V. Etno-GrafiaDocumento32 páginasMichel de Certeau - Capítulo V. Etno-GrafiaDarcio RundvaltAinda não há avaliações
- Artigo A Fantasia Na Literatura de FantasiaDocumento16 páginasArtigo A Fantasia Na Literatura de FantasiaMelRosaTMAinda não há avaliações
- Monstros. Disciplina Eletiva 2024Documento4 páginasMonstros. Disciplina Eletiva 2024JV AraújoAinda não há avaliações
- A Cultura Tradicional em Nandyala Ou A Tirania Dos MonstrosDocumento14 páginasA Cultura Tradicional em Nandyala Ou A Tirania Dos MonstrosgadinizAinda não há avaliações
- Autoficcao e Intermidialidade Na Cena CoDocumento11 páginasAutoficcao e Intermidialidade Na Cena CoKarenramosAinda não há avaliações
- 462-Texto Do Artigo-1739-1-10-20200318Documento9 páginas462-Texto Do Artigo-1739-1-10-20200318jubirubuuAinda não há avaliações
- IvsonBrunodaSilva DissertDocumento110 páginasIvsonBrunodaSilva DissertjubirubuuAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO Alberto Soares de Farias FilhoDocumento175 páginasDISSERTAÇÃO Alberto Soares de Farias FilhojubirubuuAinda não há avaliações
- ACinciada Informao Memriae EsquecimentoDocumento17 páginasACinciada Informao Memriae EsquecimentojubirubuuAinda não há avaliações
- Patrimônio Cultural Imaterial Na Ciência Da InformaçãoDocumento25 páginasPatrimônio Cultural Imaterial Na Ciência Da InformaçãojubirubuuAinda não há avaliações
- Nos Matizes Da Memória e Da História - Uma Discussão Sobre o Folclore Fantástico Do Recife e Seus LugaresDocumento17 páginasNos Matizes Da Memória e Da História - Uma Discussão Sobre o Folclore Fantástico Do Recife e Seus LugaresjubirubuuAinda não há avaliações
- Como A Esposa Deve Tratar o Marido Segundo A BíbliaDocumento11 páginasComo A Esposa Deve Tratar o Marido Segundo A Bíbliamarluze luiza de paulaAinda não há avaliações
- APL IPARDES - Porcelanas - Campo - LargoDocumento37 páginasAPL IPARDES - Porcelanas - Campo - LargoPaulo BayerAinda não há avaliações
- Eliphas LeviDocumento1 páginaEliphas Levii.margarida33Ainda não há avaliações
- Resumo Corregedor e ProcuradorDocumento1 páginaResumo Corregedor e ProcuradorCarla CaetanoAinda não há avaliações
- Relatório - Transparência Internacional 2018Documento48 páginasRelatório - Transparência Internacional 2018Adriel Santos SantanaAinda não há avaliações
- Prova de Filosofia Da Linguagem PDFDocumento8 páginasProva de Filosofia Da Linguagem PDFClaudia IsabelAinda não há avaliações
- Atalhos - Funções - CadDocumento8 páginasAtalhos - Funções - CadLucas BohrerAinda não há avaliações
- Uni2 - Contexto Histórico Filosófico Da EducaçãoDocumento26 páginasUni2 - Contexto Histórico Filosófico Da EducaçãoEDMIXAinda não há avaliações
- Charge I: 3 Série Aula 3 - 2º BimestreDocumento16 páginasCharge I: 3 Série Aula 3 - 2º BimestrelulaAinda não há avaliações
- Itanhaem Abarebebe Patrimonio HistoricoDocumento25 páginasItanhaem Abarebebe Patrimonio HistoricoWesley LacerdaAinda não há avaliações
- 1o Simulado Diagnostico 6o Ano Grupo 3Documento7 páginas1o Simulado Diagnostico 6o Ano Grupo 3selmaAinda não há avaliações
- CV TSSHTDocumento3 páginasCV TSSHTJorgeAinda não há avaliações
- 10 Ano - Catequese 1 - DocumentosDocumento16 páginas10 Ano - Catequese 1 - DocumentosMarta SantosAinda não há avaliações
- SenhoraDocumento10 páginasSenhorakhouhai fakeAinda não há avaliações
- Ganhar Nos Jogos de LoteriaDocumento21 páginasGanhar Nos Jogos de LoteriaGilson Yonaha100% (6)
- Redes Sociais Digitais e Educação PDFDocumento11 páginasRedes Sociais Digitais e Educação PDFVanessa CarvalhoAinda não há avaliações
- A Conexão Dos Gentios Com A Casa de Efraim e Também Até Com A Casa de JudáDocumento22 páginasA Conexão Dos Gentios Com A Casa de Efraim e Também Até Com A Casa de JudáThiago G. SanchezAinda não há avaliações
- As Sete Cartas Dirigidas As Sete IgrejasDocumento4 páginasAs Sete Cartas Dirigidas As Sete IgrejasEliza PaixãoAinda não há avaliações
- A Riqueza Cultural Desse Grande ContinenteDocumento2 páginasA Riqueza Cultural Desse Grande ContinenteLuany ChristinaAinda não há avaliações
- Grimorio de SebastianDocumento3 páginasGrimorio de SebastianPedro YumeAinda não há avaliações
- Simulado 06 - Turma - Cfo-Pmba - EliteDocumento12 páginasSimulado 06 - Turma - Cfo-Pmba - Elitecfo pmbaAinda não há avaliações
- Prova de InglesDocumento3 páginasProva de InglesLidiane Oliveira BianchinAinda não há avaliações
- Demografia - Estudos - de - PopulacaoDocumento5 páginasDemografia - Estudos - de - PopulacaoAnne RaphaelleAinda não há avaliações
- Resolucao372 10anexoDocumento22 páginasResolucao372 10anexoAllex GuedesAinda não há avaliações
- Gestão de Projetos - Verum Institute - E-BookDocumento42 páginasGestão de Projetos - Verum Institute - E-Bookabraaosiman059Ainda não há avaliações
- 6 - Gincana Dos Gêneros TextuaisDocumento26 páginas6 - Gincana Dos Gêneros TextuaisROSANA FERRAZA PIRES DOS SANTOSAinda não há avaliações
Ldasilva, Maria Alice
Ldasilva, Maria Alice
Enviado por
jubirubuuTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ldasilva, Maria Alice
Ldasilva, Maria Alice
Enviado por
jubirubuuDireitos autorais:
Formatos disponíveis
AUSÊNCIAS E FANTASMAS DA MEMÓRIA EM BAÚ DE OSSOS
Maria Alice Ribeiro Gabriel1
RESUMO: este artigo objetiva examinar histórias de fantasmas compiladas de
diferentes relatos por Pedro Nava, em Baú de Ossos (1972). O método consiste na
distinção entre elementos folclóricos e históricos nessas narrativas, de acordo com
os estudos de Câmara Cascudo, Gilberto Freyre, Linda Degh e outros. O propósito é
demonstrar que a origem de algumas histórias locais permanece anônima,
enquanto outras descrevem experiências pessoais de protagonistas e testemunhas
reais. A análise sugere que a natureza complexa e fragmentária das experiências
sobrenaturais narradas não se restringe a um espaço significativamente específico.
Palavras-chave: histórias de fantasmas, Pedro Nava, literatura contemporânea.
ABSTRACT: This paper aims to examine ghost stories compiled from different
accounts by Pedro Nava, in Trunk of Bones (1972). The method consists in
distinction between folkloric and historical elements in these narratives, according
the works of Câmara Cascudo, Gilberto Freyre, Linda Degh and others. The purpose
is to demonstrate that some local stories have origins that still anonymous, while
others describes personal experiences of real protagonists and witness. The
analysis suggests that the complex and fragmentary nature of supernatural
experiences are not only constrained by a specific meaningfully space.
Keywords: ghost stories; Pedro Nava, contemporary literature.
INTRODUÇÃO
Em Assombrações do Recife Velho (1955), Gilberto Freyre divisou “que
possa haver associação por meios psíquicos, mesmo imaginários, de vivos com
mortos. Formariam eles ‘sociedades’ de que seria possível fazer-se o estudo
sociológico” (FREYRE, 2000, p. 11, grifo do autor). John Wallis (2001) define este
estudo ainda por fazer, unido ao que Jacques Le Goff chamou “História que se
beneficia de novos métodos das ciências humanas (história, etnologia, sociologia)
(...) ‘uma ciência em campo’ que utiliza todas as espécies de documentos e
nomeadamente o documento oral.” (LE GOFF, 1996, p. 55, grifo do autor).
Nas últimas décadas, Yi-Fu Tuan (1979), Tim Edensor (2005) e Cecil C.
Konijnendijk (2008) investigaram a conexão entre a história dos espaços de
comunidades urbanas e aspectos do mito e do sobrenatural originados ou
1 Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Pesquisadora vinculada ao
grupo Variações do Insólito: do mito clássico à modernidade. UFPB/CNPq.
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
127
Universidade Federal de Sergipe - UFS | ISSN 1980-8879 | p. 127-142
Maria Alice Ribeiro Gabriel_______________________________________________________________
relacionados a tais espaços. Esta orientação compreende tendência atual
envolvendo a Geografia, a Sociologia e estudos sobre o Folclore.
Este artigo pretende discutir relatos compilados pelo memorialista Pedro
Nava em Baú de Ossos (1972). A parte inicial comenta perspectivas de análise das
histórias de fantasmas; a seguinte apresenta relatos inscritos no espaço da história
local, da legenda e do mito; por fim, aborda-se a influência destes fatores nos
memorates e relatos sobrenaturais do anonimato.
ALGUMAS POSSIBILIDADES LITERÁRIAS DE ANÁLISE DO SOBRENATURAL
Na esfera concernente às histórias de fantasmas, a literatura está
sempre se reconfigurando, sensível à distância cultural, lúdica e histórica entre
crenças e suas figurações. A crítica literária e a sociológica tendem a justificar
diversamente ocorrências aparentemente de ordem sobrenatural. Entretanto,
Jean Molino (1980) apresentou uma perspectiva dos estudos do fantástico
adequada ao prisma sóciocultural. Segundo o autor, a relação entre a abordagem
literária dos temas e formas do folclore e literatura oral (animais fabulosos, figuras
e elementos sobrenaturais assimilados aos fantasmas, topoi e testemunhos de
aparições espectrais) e as abordagens histórica e antropológica (por exemplo, a
história das representações de uma crença em certa nação ou período) teria muito
a acrescentar à analise de mitos, conceitos e representações culturais sobre a
morte, o inconsciente e a memória.
Molino assinalou a continuidade e aliança temática inegável entre o
fantástico literário e o da tradição oral. Logo, o desenvolvimento da narrativa
fantástica literária teria ocorrido a partir de características essenciais à literatura
oral, em confluência com a organização do discurso da lengenda. Para o autor, a
análise literária seria incapaz de se renovar até admitir a literatura enquanto
conduta humana fundamental, digna de estudo antropológico (MOLINO, 1980a, p.
34). Se Molino (1980b, p. 26) associou o fantástico à tradição, definindo-o como
fato simbólico para o qual apenas a abordagem semiológica e antropológica fariam
“pleine justice”, Irène Bessière notou os marcos socioculturais na composição do
relato fantástico:
As referências teológicas, esotéricas, filosóficas ou
psicopatológicas do relato fantástico não devem causar
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
128
p. 127-142 | ISSN 1980-8879 | Universidade Federal de Sergipe - UFS
____________________________________AUSÊNCIAS E FANTASMAS DA MEMÓRIA EM BAÚ DE OSSOS
enganos: elas não atestam a existência da imanência de certo
estado extra-natural; não são simples artifícios narrativos
destinados a encerrar o herói e o leitor em uma forma de
paradoxo, cuja irresolução possuiria, então, muito mais um
traço do espírito ou da ironia do que a valorização da
angústia. O relato fantástico utiliza marcos sócio-culturais e
formas de compreensão que definem os domínios do natural
e do sobrenatural, do banal e do estranho, não para concluir
com alguma certeza metafísica, mas para organizar o
confronto entre os elementos de uma civilização relativos aos
fenômenos que escapam à economia do real e do surreal,
cuja concepção varia conforme a época. (BESSIÈRE, 2009, p.
187)
Os estudos de Bessière e Molino adequam-se às teorias geográficas e
sociológicas com a “percepção de que a mudança social não pode ser explicada
satisfatoriamente sem uma reconceituação das categorias relativas à componente
espacial da vida social” (LÖW, 2013, p. 17). Mark Henderson (2010) atribuiu a
evolução da legenda de Winnats Pass a circunstâncias históricas que explicariam
sua origem, perpetuação e metamorfoses em inúmeras versões por quase três
séculos. A versão pivô da legenda, publicada em 1843, teria adquirido elementos
de pelos menos três fontes precursoras e influenciaria todas as variantes
subsequentes. Henderson discutiu os aspectos geográficos físicos e humanos
determinantes nesse processo.
Os estudos que perfazem Space, Haunting, Discourse (2008), antologia
editada por Maria Holmgren Troy e Elisabeth Wennö, foram ordenados segundo o
critério que os correlaciona aos espaços econômico, interior e exterior, textual,
ético ou “de exceção”. A análise das histórias de fantasmas que integram a obra
reflete o corrente interesse crítico no espaço como representação simbólica em
suas configurações e interpretações discursivas, mentais e sociais, por diversas
disciplinas afins, da Literatura aos Estudos Éticos e Culturais.
Os trabalhos de Henri Lefebvre (1991), Doreen Massey (1994; 1995),
Edward W. Soja (1996) e, notadamente, Avery Gordon (1997), definem as histórias
de fantasmas como parte integral da vida social, antídotos contra o esquecimento
pela conservação de traços essenciais do que se tentou eliminar historicamente:
epidemias, escravidão, genocídios, migrações, etc.
Gordon examinou etnograficamente três histórias de fantasmas em
Ghostly Matters: Hauntings and the Sociological Imagination (1997), investigando o
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
129
Universidade Federal de Sergipe - UFS | ISSN 1980-8879 | p. 127-142
Maria Alice Ribeiro Gabriel_______________________________________________________________
fenômeno da assombração como elemento constituinte da vida social, sem
considerá-lo superstição pré-moderna ou psicose individual, capaz de fornecer
interessantes enfoques do conhecimento e respectivos meios de produção
(GORDON, 1997, p. 7). Entre as contribuições desse estudo assinala-se a percepção
de uma “ausência” indissociável de algum espaço significativamente determinado.
Conforme pontuou Sarah Robertson, o estudo sociológico de Gordon
sugeriu que o excluído na literatura, bem como na vida diária, deixaria uma
presença residual. A relevância da investigação histórica e social no preenchimento
da lacuna deixada por essa ausência ou exclusão constitui a noção central para o
argumento de Gordon (ROBERTSON, 2007, p. 46).
Domínio análogo à História e à Sociologia, a memorialística foi desde
sempre o espaço literário capaz de legar à posteridade testemunhos do passado.
Sob este aspecto, dispõe de fontes materiais e imateriais, capazes de influenciar a
reflexão histórica sobre o presente.
Nava propôs uma renovação ao suprir pela imaginação lacunas que
fariam pesar sobre o documento biográfico a crítica historicisante, convidando a ler
suas memórias na acepção de obra literária completa. Apoiado em rigorosa
pesquisa documental, sem ser unicamente narrativo, o texto dispõe-se em relatos
formando breves contos justapostos “num ilogismo onírico” (NAVA, 1974, p. 306),
nascido do esforço de atenuar a ausência dos que se foram.
“A recordação provocada é antes gradual, construída, pode vir na sua
verdade e falsificada pelas substituições cominadas pela nossa censura. É ponto de
partida para as analogias e transposições poéticas” (NAVA, 1974, p. 306). As
passagens metalinguísticas da obra unem reflexões sobre o ato da criação literária,
a consciência, o devaneio e o processo simbólico-mnemônico: “A essas analogias
podem servir ainda certos fragmentos de memória que – como nos sonhos –
surgem, somem e remergulham feito coisas dentro de uma fervura de panela.
Pedaços ora verdadeiros, ora ocultos por um símbolo.” (NAVA, 1974, p. 306).
Assim, essa rede de conexões deve ser considerada ao se perscrutar o texto do
compilador.
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
130
p. 127-142 | ISSN 1980-8879 | Universidade Federal de Sergipe - UFS
____________________________________AUSÊNCIAS E FANTASMAS DA MEMÓRIA EM BAÚ DE OSSOS
REGISTROS DE SANTOS, DEMÔNIOS E AVANTESMAS DA NOITE DE MINAS
Considerada a hipótese de um espaço poético nos relatos, o
memorialista empreende a coleta de dados necessária à História e à Genealogia.
“Esse gosto pelas árvores de costado” cultivado “do ponto de vista da zootecnia e
da fuga para o convívio dos mortos”, integrou-o aos “arquivistas da família” (NAVA,
1974, p. 162). Herdeiro do arquivo pessoal do tio Antônio Sales, Nava reuniu cartas,
documentos, fotos, livros e objetos para o próprio arquivo, mas o acervo imaterial
deste coube aos testemunhos compilados entre amigos e parentes.
O narrador familiar é presença eminente nas recordações de Baú de
Ossos. Esta importância deve-se ao papel de reconstruir o passado, ainda que
subjetivamente, conduzir a experiência social com a narrativa oral e intermediar o
jogo entre a cultura erudita e a popular: “Esse folclore jorra e vai vivendo do
contato do moço com o velho – porque só este sabe que existiu em determinada
ocasião o indivíduo cujo conhecimento pessoal não valia nada, mas cuja evocação é
uma esmagadora oportunidade poética” (NAVA, 1974, p. 17). Nas memórias da
infância, às primeiras experiências de solidão e inquietações do sono (terrores
noturnos e pesadelos – impregnados desse folclore doméstico) vêm se juntar: “Os
mesmos registros de santos enchendo as paredes para impedir os mesmos
demônios e as mesmas avantesmas da noite de Minas. As visagens-lares e do teto
como a do ‘Eu caio’” (NAVA, 1974, p. 105).
Surgido pouco antes de Nava completar 70 anos, Baú de Ossos
representa a expressão mais acabada de um trabalho que reúne questões
filosóficas sobre temores universais, os quais formam a trama dos conflitos que
animam, por exemplo, a história dos compadres mineiros:
E os dois compadres de Paracatu? Eram amigos como irmãos.
Um devoto, outro incréu. Discutiam sempre. Uma vez
combinaram que o que morresse primeiro viria contar.
Morreu o crente e foi enterrado pelo amigo, pelo irmão. Á
décima segunda badalada da meia-noite bateram fortemente
à porta. Quem é? Sou eu, compadre... O de dentro perguntou
com voz que se desafirmava: Então, como é que é? O de fora
respondeu serenamente: Não é nem como eu pensava ...
(Pausa) ... nem é como você dizia ... O de dentro: Mas,
então... como é que é? Comoéquié? Cuméquié? Correu para
a porta feito aquele do Corvo, sonhando sonhos que jamais
mortal ousara sonhar, escancarou-a de par em par. O silêncio
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
131
Universidade Federal de Sergipe - UFS | ISSN 1980-8879 | p. 127-142
Maria Alice Ribeiro Gabriel_______________________________________________________________
ali e a escuridão. A escuridão e nada mais... (NAVA, 1974, p.
105)
Na história seguinte, o sobrenatural manifesta-se como justiça poética
no mito geral-indígena do Anhanga, Suaçu-anhanga ou Ananga, segundo Câmara
Cascudo (2012, p. 92) “protetor da caça, castigador dos caçadores impiedosos e
égide dos animais em gravidez”:
E a história do João Jiló? Caçador como mais ninguém, doido
por sopa de macaco. Um dia matou um que era todo branco,
como não há macaco, e cujo pelo parecia o de um coelho de
prata. Era encantado. Comeu a sopa. De noite foi aquela
cólica de miserere e aquela correria para bananeiras. Nada.
Sai, demônio... A voz respondeu de dentro dele: [...] Sai pela
orelha... Pela orelha não saio porque tem cera. Sai pelo
olho... Pelo olho não saio porque tem ramela. Sai pelo nariz...
Pelo nariz não saio porque tem meleca. Sai pela boca... Pela
boca não saio porque tem cuspe. E aí – ai! Foi aquele aperto
hercúleo no peito gelado, aquele arrocho final que acabou
com as caçadas do caçador caçado. (NAVA, 1974, p. 105)
“O Anhanga é apenas um veado que assombra”, determinou Cascudo
(2012, p. 8). Na “história do João Jiló” é o macaco “cujo pelo parecia o de um
coelho de prata” que preserva a intervenção reguladora, punitiva e “jusnaturalista”
original desse mito. Danças mascaradas dos índios do Rio Negro e Japurá, evocando
cenas de caça, em que o índio vive o papel do animal caçado, nas cerimônias
evocativas, religiosas ou oblacionais de pesca e caça a Jurupari foram presenciadas
por Koch-Grünberg, pelo naturalista Rodrigues Ferreira e pelo Barão de Santana
Neri. Este último “fala numa máscara de Jurupari feita com pelo de macaco”
(CASCUDO, 2012, p. 76). Ao investigar as origens primevas do mito, Joseph
Campbell (2006, p. 37) descreveu pinturas nos templos-cavernas, de “hordas de
animais maravilhosamente figurados”, “associados aos rituais de caça e iniciação.”
Na lenda, o animal mágico converte-se em manifestação do princípio cósmico no
espaço material, adquirindo:
[...] uma figura de dimensão mais mítica do que material. E
encontramos por toda parte as contrapartidas desse mito nas
lendas dos caçadores primitivos; personagens xamanísticas,
meio-humanas, meio animais, difíceis de se imaginar, quer
como animal, quer como homem; não obstante nas
narrativas nós aceitamos o papel deles com facilidade.
(CAMPBELL, 2006, p. 37)
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
132
p. 127-142 | ISSN 1980-8879 | Universidade Federal de Sergipe - UFS
____________________________________AUSÊNCIAS E FANTASMAS DA MEMÓRIA EM BAÚ DE OSSOS
O etnólogo Oscar Ribas (1967) e o escritor Antônio Trabulo (2013)
registraram variantes da “história do João Jiló” na tradição oral angolana. Os
motivos variam, mas o diálogo principal entre animal mágico e vítima é
praticamente o mesmo em todas as versões.
Gordon recordou as estratégias narrativas de O homem invisível (1952),
de Ralph Ellison, para explicar a presença de uma ausência nas histórias de
fantasmas. Ellison chamou visibilidade o complexo sistema de permissão e
proibição, alternadamente assinalado por aparições e cegueira histérica. Por
extensão desse parâmetro de análise da exclusão social, conjugado ao que Freyre
definiu por “meios psíquicos”, afetos, medos e representações imaginárias
reprimidas pelo inconsciente, a noção de história de fantasma é redimensionada:
To write stories concerning exclusions and invisibilities is to
write ghost stories. To write ghost stories implies that ghosts
are real, that is to say, that they produce material effects. To
impute a kind of objectivity to ghosts implies that, from
certain stand-points, the dialectics of visibility and invisibility
involve a constant negotiation between what can be seen and
what is in the shadows. 2 (GORDON, 1997, p. 17)
Em Baú de Ossos, o enfoque preponderante dos relatos de encontros
sobrenaturais com “avantesmas da noite de Minas” exclui a possibilidade de
distúrbios da consciência:
Que engano tomar os fantasmas como ilusões dos sentidos
abusados por formas indistintas... São os duendes mesmo e
as aparições que, quando espantadas com o pelo-sinal e o
nome da Virgem, se escondem rapidamente nas roupas
penduradas no escuro, nas largas folhas brilhando ao luar ou
no lampejo das águas dormentes. (NAVA, 1974, p. 105)
Os relatos colhidos por Nava aproximam-se daqueles transcritos por
Freyre, em Assombrações do Recife Velho. No plano literário, as obras demonstram
2 Em tradução livre: “Escrever histórias concernentes a exclusões e invisibilidades é escrever
histórias de fantasmas. Escrever histórias de fantasmas implica que fantasmas são reais, o
que significa dizer que eles produzem efeitos materiais. Imputar um tipo de objetividade a
fantasmas implica que, de certo ponto de vista, as dialéticas da visibilidade e invisibilidade
envolvem uma constante negociação entre o que pode ser visto e o que está nas sombras.”
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
133
Universidade Federal de Sergipe - UFS | ISSN 1980-8879 | p. 127-142
Maria Alice Ribeiro Gabriel_______________________________________________________________
coerência e interação entre representações antropológicas e sociais, nas
especificidades histórica, liguística e religiosa. Apresentados do ponto de vista do
compilador, espelham relações culturais de transmissão, aculturação, adaptação e
interpretação. Embora Freyre alegue:
As páginas que se seguem não são de Sociologia alguma do
sobrenatural. São elas tão modestas em suas pretensões que
não representam contribuição, mesmo pequena, para
qualquer nova Sociologia de Inter-Relações Psíquicas, em fase
de aventurosa formação. (FREYRE, 2000, p. 28)
A fortuna simbólica resultante da troca de experiências entre culturas
diversas seria: “obra de uma combinatória em que a adaptação ao meio, aos
acontecimentos e a iniciativa humana entram constantemente em jogo por meio
de uma dialética entre estrutura e acontecimento” (BUCHER, 1977, p. 229-30 apud
LE GOFF, 1996, p. 71). Logo, “encontros de culturas fazem nascer respostas
historiograficamente diversas do mesmo acontecimento” (LE GOFF, 1996, p. 71).
Assim, na história de João Jiló, “caçador como mais ninguém”, o
Anhanga, que “mereceu registro velho nos cronistas do Brasil colonial” (CASCUDO,
1984, p. 122), surge, na tradição oral dos caçadores mineiros, diferente das
histórias de caçadores do Norte. “Em qualquer caso, e qualquer que seja, visto,
ouvido ou pressentido, o Anhanga traz para aquele que o vê, ouve ou pressente,
certo prenúncio de desgraça, e os lugares que se conhecem como freqüentados
por ele são mal-assombrados” (CASCUDO, 1984, p. 122). No entanto, na forma de
fabulate3, o mito sobreviveu ao elemento humano da cultura originária, “ausente”,
banida ou extinta do espaço assombrado por ele, conservando a função primeva.
ESPAÇOS ASSOMBRADOS PELO PASSADO
A reconstrução do passado histórico de um local pode permanecer em
segundo plano, ou ainda, encoberta, em uma história de fantasmas. O Alto do
Cangalheiro, atualmente parte alta do Bairro Santo Antônio, em Barbacena,
3 Carl W. von Sydow (1934) cunhou os termos fabulate e memorate, contrastando-os. O
primeiro designa a legenda migratória, guiada pelo desejo de entreter o ouvinte, sem refletir
diretamente a experiência pessoal, embora possa abranger seus elementos. O segundo
reflete o contato individual com o sobrenatural. Ao longo do tempo, foi preciso que outros
estudos folclóricos expandissem as definições de Sydow (ELLIS, 1997, p. 274-5).
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
134
p. 127-142 | ISSN 1980-8879 | Universidade Federal de Sergipe - UFS
____________________________________AUSÊNCIAS E FANTASMAS DA MEMÓRIA EM BAÚ DE OSSOS
margeava o “Caminho Novo das Gerais”, rota das bandeiras no século XVIII,
posteriormente lugar de reabastecimento de tropas conduzindo diamantes, gado,
gêneros de subsistência e ouro. O local é cenário de dois relatos de Baú de Ossos e
outro de Balão Cativo (1973), contando experiência vivida pelo próprio Nava
quando menino, naquela “elevação mal-assombrada”, de onde se ouvia, “como
que um riso e um sussurro” (NAVA, 1973, p. 84). Nos três casos, o encontro com o
sobrenatural não alude a fato ou aparição específica relacionada ao passado do
lugar, a exemplo do “fantasma de um general holandês que caíra morto na batalha
de Casa-Forte (1645)” (FREYRE, 2000, p. 27).
Se não constituem versões de “primeira mão”, segundo Linda Degh,
versões locais de segunda mão podem continuar a história original divorciadas do
contato imediato, moldando-a por meio de variantes. Legendas consubstanciadas
em fabulates podem tornar-se memorates4 se personalizadas. O transmissor pode
validar o relato, assegurando a integridade da fonte original – ou assumindo o
papel de ouvinte em primeira mão (DEGH, 2001, p. 69):
Todos nós, mineiros, sabemos disto. Conforme o lugar
arrotamos bravura como o Doutor Augusto de Lima que era
acadêmico de cabeça fria e deputado de espírito forte – isto
de dia, na casa de Machado de Assis ou nas sessões do
Parlamento. Não naquele lusco-fusco em que ele se viu,
naquela Quaresma, naquele Alto do Cangalheiro, com vento
mau e montando em burro preto querendo empacar. Foi
quando lhe apareceu a forma indistinta, fina e grossa da coisa
branca – que ele afrouxou em cima da montaria e o medo
imenso ainda cresceu quando ela, a negra, a peluda, a
infernal montaria cuspiu o bridão e falou: “Não é nada não,
doutor, é lua-nova batendo em folha de embaúba...” Rolando
da alimária, o corpo do poeta, como o de Dante, caiu como
um corpo morto cai [...] O Doutor Francisco Luís da Silva
Campos, o mesmo e insigne ministro da ditadura, todo
nitzscheano como ele era – libertado no mundo pela vontade,
dionisíaco e apolíneo – disse-me que no Rio, em Copacabana,
ele não acreditava em nada, absolutamente em nada. Mas na
noite mineira e na fazenda familiar do Hindustão, tinha
“medo que lhe aparecesse um trem...” (NAVA, 1974, p. 105-7,
grifo do autor)
4 Linda Degh (2001, p. 58) reivindica para o memorate características poéticas e
componentes da tradição.
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
135
Universidade Federal de Sergipe - UFS | ISSN 1980-8879 | p. 127-142
Maria Alice Ribeiro Gabriel_______________________________________________________________
A noite é, para o mito, na expressão de Mircea Eliade (1972, p. 15), “um
lapso de tempo sagrado”, fundamental nessas histórias e na seguinte, quando The
time is out of joint (“Dos gonzos saiu o tempo”). Augusto de Lima e Leopoldo César
Gomes Teixeira, à maneira de Hamlet, têm de dominar o medo perante
assombrações noturnas que os assediam:
Leopoldo César Gomes Teixeira era um machacaz sem medo
e sem mácula. Atroou Barbacena com o ruído de suas pugnas
e na Comissão Construtora da Nova Capital não havia outro
como ele para meter o pé na bunda de negro, quebrar cara
de espanhol, acabar com greves a porrete e, nos rolos dos
carcamanos, fazer recolher garruchas aos coldres e facas às
bainhas – ao só sibilo de seu chicote. Estava para nascer
quem fizesse descompassar o coração do domador. Pois foi
no mesmíssimo Alto do Cangalheiro. Ele ia descuidado,
assoviando e trotando, quando sua besta escamoteou as
orelhas, descambou do trem posterior, como carneiro na
hora da capação e ele sentiu aquele gelo encostado na sua
espinha. Garupa tomada. Ele sabia que se olhasse para trás
estava perdido. Encolheu nos ombros, meteu as esporas, mas
a besta, em vez de disparar, ondulou como num passo de
camelo em câmara lenta e ele viu uma cabeça de defunto do
tamanho dum limão ao lado de sua cara, agora mais para
frente – em frente dele e rebentando numa gargalhada
silenciosa na ponta dum pescoço flexível como galho de cipó
que vinha serpentino, do tronco frio que se lhe encostava ao
dorso. Foi aí que ele se lembrou de Nossa Senhora, chamou-
A, ficou todo tonto e quando deu acordo de si estava
novamente trotando, firme e descuidado – assoviando ao
luar de prata. (NAVA, 1974, p. 106)
Nossa Senhora e o “luar de prata” seriam “formas doadoras de bem-
aventurança, dissipadoras do medo, maravilhosas, pacíficas e heróicas”, antítese
dos “aspectos terríveis e devastadores das potências cósmicas em seus papéis
despedaçadores do ego, personificados como demônios irados, odiosos e
horríveis” (CAMPBELL, 2006, p. 96). Já o elemento sagrado desta história dissipa “a
algazarra dos defuntos” “a qualquer hora do dia ou da noite”:
Um cunhado do Dr. Bernardino, irmão de Dona Ester Franzen
de Lima, a qualquer hora do dia ou da noite, estivesse
sozinho ou acompanhado, se passasse perto de cemitério era
logo chamado pela algazarra dos defuntos: “Franzen!
Franzen! Franzen!” Ele, Franzen, estava tão acostumado, que
já nem rezava. Bastava meter a mão no bolso e segurar a
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
136
p. 127-142 | ISSN 1980-8879 | Universidade Federal de Sergipe - UFS
____________________________________AUSÊNCIAS E FANTASMAS DA MEMÓRIA EM BAÚ DE OSSOS
relíquia de Dom Bosco. Havia um suspiro enorme, como se o
mundo se esvaziasse e tudo silenciava. (NAVA, 1974, p. 106)
Augusto de Lima, Leopoldo César Gomes Teixeira, Franzen e a família de
Osório, protagonista dos próximos dois relatos, expõem-se ao perigo quando têm
de atravessar o que o geógrafo Yi-Fu Tuan (1979) denominou landscape of fear
(“paisagem do medo”). Tuan atribuiu a origem do medo a circunstâncias externas,
empregando o termo “paisagem” no sentido de espaço concreto, mensurável e de
constructo mental psicologicamente elaborado, apreendendo o imaterial e
intangível (TUAN, 1979, p. 6). O sociólogo britânico John Urry (1995, p. 205)
analisou, igualmente, como o medo pode ser um fator social e espacial de
demarcação de algumas áreas e, por conseguinte, de circulação e proliferação de
mitos locais:
O Osório era copeiro em casa de meu Pai e sua irmã Emilieta,
cria de minha avó materna. Quando eram meninos, no Piauí,
tinham de atravessar a mata para chegar à escola. Na hora do
meio-dia (tão assombrada como a da meia-noite!), eles
passavam debaixo da jaqueira que ramalhava toda no ar sem
vento, estalava os galhos como braços espreguiçando e nunca
deixava de perguntar: “Já vai?” Assim como quem dissesse –
para quê? para onde vamos, nem precisa ir porque certo,
certo, é que lá chegamos... (NAVA, 1974, p. 106-7)
As histórias dos irmãos Osório e Emilieta mergulham o leitor nos temas e
elementos dos contos de fadas (crianças perdidas buscando abrigo ou
atravessando o espaço mágico da floresta); bem como nas legendas e autos
medievais (o diabo metamorfoseado em bode):
De outra vez eles dois iam perdidos na noite, com o pai. E que
frio... Num sobradão isolado, bateram. Quem é?
Responderam que queriam pousada. A voz tornou, dizendo
que não podia. Aí pediram, nem que fosse só um cobertor
para se enrolarem e passarem o resto da noite na soleira da
porta. Abriu-se a janela de cima e um bode enorme e negro
atirou sobre os três uma manta roxa. Eles mal tiveram tempo
de desviar e a manta bateu no chão, virou uma poça de
sangue podre que a terra foi chupando devagar e que chiou
como gordura fervendo quando eles fizeram o nome-do-
padre. A casa desabou. (NAVA, 1974, p. 107)
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
137
Universidade Federal de Sergipe - UFS | ISSN 1980-8879 | p. 127-142
Maria Alice Ribeiro Gabriel_______________________________________________________________
Os simbolismos da noite e da floresta são complexos e vinculam-se tanto
à ameaça do mundo natural, selvagem, além de todo controle social, quanto ao
terror infantil do abandono (TUAN, 1979), motivos essenciais de mitos, lendas e
contos folclóricos. Quando a vegetação é luxuriante, sem cultivação, a folhagem
obscurece a claridade do sol ou da lua, o que é lembrado como antítese do poder
da Luz. E, nesse par de opostos, a escuridão é um princípio identificado ao
inconsciente humano. Por essa razão, Carl Gustav Jung arguiu que os terrores da
floresta, tão proeminentes nos contos infantis, simbolizam aspectos ameaçadores
do inconsciente, em outras palavras, sua tendência de devorar ou obscurecer a
razão (CIRLOT, 2002, p. 112). Assombrações da mata, ou do que foi preservado
dela no perímetro urbano, são distinguidas por Freyre (2000, p. 83) enquanto
“Vozes estranhas. Vozes do outro mundo”:
Um trecho do Recife por muito tempo mal-assombrado foi a
chamada avenida Malaquias que até quase nossos dias se
manteve um resto do Recife do tempo de Cabeleira, com
jaqueiras e mangueiras enormes a lhe darem sombras de
mata, mesmo depois de iluminada a rua pelo “gás dos
ingleses” e até pela luz elétrica: novidade já dos fins do século
XIX e dos começos do XX. (FREYRE, 2000, p. 46)
Freyre explica a crença de como a iluminação das cidades, trazida pelo
progresso,
[...] foi afugentando os fantasmas não só das ruas como do
interior das casas. Obrigando-os a se refugiarem nos ermos,
nos cemitérios, nas ruínas, nos restos de igrejas, de
conventos, de fortalezas, nos casarões abandonados, nas
estradas tão sombreadas de arvoredo a ponto dessas
sombras abafarem a própria luz dos lampiões de gás.
(FREYRE, 2000, p. 46)
“Mal-assombrado ainda mais romântico é o que por muito tempo
animou o escuro das noites recifenses defronte da antiga casa-grande do sítio de
Bento José da Costa, da qual só resta hoje a capela” (FREYRE, 2000, p. 47). Caso
exemplar de transposição do mito de um espaço a outro, a legenda da infeliz dame
blanche que “passeia à noite pelas estradas” (CASCUDO, s/d, p. 338) disseminou-se
em inúmeras variantes, orientais e ocidentais, poucas referenciadas pelo nome,
como o fantasma de Blanche de Beaumont. Freyre ouvir contar de:
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
138
p. 127-142 | ISSN 1980-8879 | Universidade Federal de Sergipe - UFS
____________________________________AUSÊNCIAS E FANTASMAS DA MEMÓRIA EM BAÚ DE OSSOS
[...] mais de um morador antigo do sítio que aí se via sair da
capela — nas noites de muito escuro, sustentavam uns, nas
de lua, diziam outros — uma moça toda de branco, vestida de
noiva, montada num burrico como Nossa Senhora na fuga
célebre. (FREYRE, 2000, p. 47)
Em Baú de Ossos, Nava conjuga o mito a espaço real e à célebre
passagem d’Os Lusíadas:
Ali mesmo, em Belo Horizonte, na sexta-feira manca de cada
mês (que é a terceira) tinha aquela história da noiva fantasma
do último bonde Bonfim. (...) tal e qual a figura do quadro da
Inês de Castro no trono – quando depois de morta foi rainha.
(NAVA, 1974, p. 107-8)
“A história natural às vezes limita a sobrenatural” (FREYRE, 2000, p. 50).
Os “entes-fora-de-portas” do Recife velho – caipora, boitatá, curupira, saci-pererê –
são “mitos rústicos e não urbanos”. Os mitos da floresta ajudam a preservar ou
tentam impedir a completa dissolução da antiga cultura local (HARRISON, 1992
apud KONIJNENDIJK, 2008, p. 28).
“Alma que volta, para contar dinheiro, tocar piano, fazer barulho na
escada, coser à máquina, socar pilão” (NAVA, 1974, p. 108) integra os mitos e
lendas que migraram de espaços feudais, engenhos, fazendas e plantações para
aldeias e vilarejos, mais tarde, burgos em expansão, registrados pelo folclore,
contos de fadas, contos populares e enfim, literários.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se Gilberto Freyre (2001, p. 11) admitiu a possibilidade do estudo
sociológico de uma “sociedade” formada da “associação” de vivos com mortos,
“por meios psíquicos, mesmo imaginários”, a tendência atual das ciências humanas
ateve-se aos espaços “mesmo imaginários”, associados à legenda, ao mito e aos
memorates. Nava empreendeu o registro memorialístico das “avantesmas da noite
de Minas” a partir, nos termos de Le Goff (1996, p. 55) de “todas as espécies de
documentos e nomeadamente o documento oral” ao seu alcance.
Gary Weissman (2004), Marianne Hirsch (2010), Richard Crownshaw
(2010) e Paul Cohen (2014) propõem que memória e literatura encerram a função
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
139
Universidade Federal de Sergipe - UFS | ISSN 1980-8879 | p. 127-142
Maria Alice Ribeiro Gabriel_______________________________________________________________
profilática de recriar experiências e reinterpretar eventos caóticos quando o
homem, “incapaz de compreender ou suportar os terrores despóticos de seu
mundo interior” (SILVERMAN apud CAMPBELL, 2006, p. 170-1), dirige
prematuramente a atenção para o exterior. Segundo essa acepção, textos culturais,
literários, memoriais, monumentos e museus evocariam o que Crownshaw (2010,
p. vi) denominou “testemunho secundário”, ou seja, a identificação por empatia
entre gerações geográfica ou temporalmente separadas. Tal identificação seria
comparável à “capacidade de intercambiar experiências”, referida por Walter
Benjamin (1996, p. 198). Esta capacidade, aprimorada nos grandes narradores,
possuiria íntima relação com os mitos:
Ensinam-nos a responder positivamente a certos sinais, e
negativamente, ou com medo, a outros; e a maior parte
desses sinais ensinados não pertencem à ordem natural, mas
a alguma ordem social local. Eles são socialmente específicos,
embora os impulsos que ativam e controlam provenham da
natureza, da biologia e do instinto. Cada mitologia é,
conseqüentemente, uma organização de sinais libertadores
culturalmente condicionados, estando as tensões naturais e
culturais neles presentes tão amalgamadas que distinguir
umas das outras, em muitos casos, é quase impossível.
(CAMPBELL, 2006, p. 171)
As histórias de fantasmas nas memórias de Nava transformam seus
protagonistas reais em “criaturas representadas sob o aspecto da eternidade, ou
personificações míticas dos aspectos da eternidade conhecidos pelo homem”
(CAMPBELL, 2006, p. 96). De maneira similar, os aspectos históricos dos espaços
concretos são elaborados pela imaginação criativa em intercâmbio com a memória
coletiva e individual, as quais se encontram “tão amalgamadas que distinguir umas
das outras, em muitos casos, é quase impossível”.
Nesse sentido, a memória também conteria um espaço, com fronteiras
permeáveis, destinado ao mito e ao sobrenatural. Mas a geografia imaginária
apreende, além do conteúdo onírico, o elemento espacial e humano, a poesia e a
tradição, segundo referiu Degh (2001, p. 58) sobre a natureza dos memorates.
Categorias culturais, as histórias de fantasmas em Baú de Ossos, surgem “do fundo
da memória, do tempo; das distâncias das associações, da lembrança” (NAVA,
1974, p. 306) para suprir ausências e reestruturar “as dimensões, revivescências
povoadas do esquecido pronto para renascer” (NAVA, 1974, p. 306).
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
140
p. 127-142 | ISSN 1980-8879 | Universidade Federal de Sergipe - UFS
____________________________________AUSÊNCIAS E FANTASMAS DA MEMÓRIA EM BAÚ DE OSSOS
REFERÊNCIAS
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. Trad. Sergio
Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1996.
BESSIÈRE, Irène. O relato fantástico: forma mista do caso e da adivinha. Tradução
de Biagio D’Angelo. Colaboração de Maria Rosa Duarte de Oliveira. Fronteira Z,
São Paulo, vol. 3, nº 3, p. 185-202, setembro/2009.
CAMPBELL, Joseph. Para viver os mitos. São Paulo: Editora Cultrix, 2006.
CASCUDO, Luís da Câmara. Geografia dos Mitos Brasileiros. São Paulo: Global,
2012.
______. Dicionário do Folclore Brasileiro. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d.
______. Literatura Oral no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1984.
CIRLOT, Juan Eduardo. A Dictionary of Symbols. New York: Dover Publications,
2002.
CROWNSHAW, Richard. The Afterlife of Holocaust Memory in Contemporary
Literature and Culture. New York: Palgrave Macmillam, 2010.
DEGH, Linda. Legend and Belief: Dialectics of a Folklore Genre. Bloomington/
Indianapolis: Indiana University Press, 2001.
ELIADE, Mircea. Mito e realidade. São Paulo: Perspectiva, 1972.
ELLIS, Bill. “Fabulate”. In: GREEN, Thomas A. (Ed.). Folklore: An Encyclopedia of
Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art, Vol. I. Santa Barbara: ABC-CLIO, 1997, p.
274-5.
FREYRE, Gilberto. Assombrações do Recife Velho. Rio de Janeiro: Topbooks, 2000.
GORDON, Avery F. Ghostly Matters: Hauntings and the Sociological Imagination.
Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 1997.
KONIJNENDIJK, Cecil C. The Forest and the City: The Cultural Landscape of Urban
Woodland. New York: Springer, 2008.
LE GOFF, Jacques. História e Memória. São Paulo: Editora da Unicamp, 1996.
LÖW, Martina. O spatial turn: para uma Sociologia do espaço. Tradução do alemão
e do inglês de Rainer Domschke e Fraya Frehse. Tempo Social. Revista de
Sociologia da USP, São Paulo, vol. 25, nº 2, p. 17-34, nov. 2013. Disponível em:
www.scielo.br/pdf/ts/v25n2/a02v25n2.pdf. Acesso em: 19/05/2016.
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
141
Universidade Federal de Sergipe - UFS | ISSN 1980-8879 | p. 127-142
Maria Alice Ribeiro Gabriel_______________________________________________________________
MOLINO, Jean. Le fantastique entre l’oral et l’écrit. Europe. Les fantastiques, n.
611, p. 32-41, 1980a.
______. Trois modeles d’analyse du fantastique. Europe. Les fantastiques, n. 611,
p. 12-26, 1980b.
NAVA, Pedro da Silva. Balão Cativo. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1973.
______. Baú de Ossos. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1974.
ROBERTSON, Sarah. The Secret Country: Decoding Jayne Anne Phillips' Cryptic
Fiction. Amsterdam/New York: Editions Rodopi, 2007.
TUAN, Yi-Fu. Landscapes of Fear. New York: Pantheon, 1979.
URRY, John. Consuming Places. London: Routlegde, 1995.
COMO CITAR ESTE ARTIGO:
GABRIEL, Maria Alice Ribeiro. Ausências e fantasmas da memória em baú de
ossos. Interdisciplinar-Revista de Estudos em Língua e Literatura. São Cristóvão:
UFS, v. 25, mai./ago., p. 127-142, 2016.
Recebido: 01.07.2016
Aprovado : 25.07.2016
Interdisciplinar • Ano XI, v.25, mai./ago. 2016
142
p. 127-142 | ISSN 1980-8879 | Universidade Federal de Sergipe - UFS
Você também pode gostar
- 20 Atividades de Geografia para 3º AnoDocumento24 páginas20 Atividades de Geografia para 3º AnoTais rodrigues serra100% (1)
- DO Recife 016 Edição 04-02-2023Documento55 páginasDO Recife 016 Edição 04-02-2023João Barata ConcursosAinda não há avaliações
- Matrizes e Sistemas LinearesDocumento11 páginasMatrizes e Sistemas LinearesJames BomfimAinda não há avaliações
- Fabio Ramos Lacerda de OliveiraDocumento2 páginasFabio Ramos Lacerda de OliveiraFabio RamosAinda não há avaliações
- E1401-13573-Texto Do artigo-50675-1-Roberto-Leila-VF-apDocumento19 páginasE1401-13573-Texto Do artigo-50675-1-Roberto-Leila-VF-apS. LimaAinda não há avaliações
- A Representacao Do Fantastico MaraDocumento17 páginasA Representacao Do Fantastico MaraSophie PhiloAinda não há avaliações
- Folclore Brasileiro de A A ZDocumento5 páginasFolclore Brasileiro de A A ZFellipe Major0% (1)
- 13 Juliano Lima Schualtz-160400158228706Documento1 página13 Juliano Lima Schualtz-160400158228706asdri reyhanAinda não há avaliações
- 474-Texto Do Artigo-1505-1-10-20170914Documento18 páginas474-Texto Do Artigo-1505-1-10-20170914Ana AraújoAinda não há avaliações
- História e Ficção No Romance em Despropósito... Luiza Cesar JacielleDocumento24 páginasHistória e Ficção No Romance em Despropósito... Luiza Cesar JacielleJacielle SantosAinda não há avaliações
- Alteridade - Cerqueira UfrgsDocumento213 páginasAlteridade - Cerqueira UfrgsMartaMendesAinda não há avaliações
- Re 0221 0596 01Documento5 páginasRe 0221 0596 01nymos245Ainda não há avaliações
- 14798-Texto Do Artigo-15314682-1-10-20231004Documento16 páginas14798-Texto Do Artigo-15314682-1-10-20231004Adão De Souza MoraesAinda não há avaliações
- Quijano Arguedes Sociologia LiteraturaDocumento13 páginasQuijano Arguedes Sociologia LiteraturaMaria SarahAinda não há avaliações
- Universidade Federal de Minas Gerais Faculdade de Filosofia e Ciências HumanasDocumento10 páginasUniversidade Federal de Minas Gerais Faculdade de Filosofia e Ciências HumanasDenise Sales RafaelAinda não há avaliações
- Entre A Finitude e A Autenticidade o Ser-Para-A-MoDocumento12 páginasEntre A Finitude e A Autenticidade o Ser-Para-A-Momaurício panAinda não há avaliações
- Otextode TungaDocumento10 páginasOtextode TungaÉrica Burini100% (1)
- A Travessia em Guimaraes Rosa PDFDocumento11 páginasA Travessia em Guimaraes Rosa PDFJosi BroloAinda não há avaliações
- O Narrador Na Literatura ContemporaneaDocumento24 páginasO Narrador Na Literatura ContemporaneaCamila CarvalhoAinda não há avaliações
- TrabalhoFinal - ItaloCalvinoFabulas - AnaCarolinaNCavalheiroDocumento9 páginasTrabalhoFinal - ItaloCalvinoFabulas - AnaCarolinaNCavalheiroAna Carolina Cavalheiro do CarmoAinda não há avaliações
- 31.5 o Gato Eo EscuroDocumento7 páginas31.5 o Gato Eo EscuroRita MendonçaAinda não há avaliações
- Artigo1 PDFDocumento18 páginasArtigo1 PDFNathan FaustinoAinda não há avaliações
- Betty MindlinDocumento21 páginasBetty MindlinJussara Olinev Kuaray Mimbi0% (1)
- Sip 2017 - Caderno de ResumosDocumento10 páginasSip 2017 - Caderno de ResumosZid SantosAinda não há avaliações
- A Narrativa Mitica Da Morte No Conto Popular e Sua Caracterizacao Da Tradicao Oral A EscritaDocumento4 páginasA Narrativa Mitica Da Morte No Conto Popular e Sua Caracterizacao Da Tradicao Oral A EscritaWesley H S. SAinda não há avaliações
- Rogério Rosa - A Relação Afro-Ameríndia Entre o Negrinho Do Pastoreio e o SaciPererê Na MitologiaDocumento29 páginasRogério Rosa - A Relação Afro-Ameríndia Entre o Negrinho Do Pastoreio e o SaciPererê Na MitologiaBruno Giacomelli100% (1)
- A Figura Feminina Na MitologiaDocumento13 páginasA Figura Feminina Na MitologiaPalomaAinda não há avaliações
- O Fantástico e Suas Vertentes Na Literatura de Autoria Feminina No Brasil e em PortugalDocumento9 páginasO Fantástico e Suas Vertentes Na Literatura de Autoria Feminina No Brasil e em PortugalMarcelo PachecoAinda não há avaliações
- Aspectos Do Duplo em Cortázar - As Babas Do Diabo (Trabalho Final)Documento13 páginasAspectos Do Duplo em Cortázar - As Babas Do Diabo (Trabalho Final)Fernando KozuAinda não há avaliações
- Abiografianahistoriografia CorrigidoDocumento14 páginasAbiografianahistoriografia CorrigidoHistória Insurgente [Podcast & Youtube]Ainda não há avaliações
- DOSSIE ARTIGO 15-Cristiano Cezar Gomes Da SilvaDocumento14 páginasDOSSIE ARTIGO 15-Cristiano Cezar Gomes Da SilvaPops SenseAinda não há avaliações
- 13332628042020literatura de Lingua Inglesa IV Aula 05Documento15 páginas13332628042020literatura de Lingua Inglesa IV Aula 05JoséEliasAinda não há avaliações
- A Fronteira Entre A Cruz e A EspadaDocumento4 páginasA Fronteira Entre A Cruz e A EspadaEsc Est Ens Med Dr Augusto Simões LopesAinda não há avaliações
- Artigo Revista MacabeaDocumento23 páginasArtigo Revista MacabeaJoao Batista PereiraAinda não há avaliações
- CONSIDERAÇÕES SOBRE O FANTÁSTICO - Diogo Nonato Reis Pereira PDFDocumento21 páginasCONSIDERAÇÕES SOBRE O FANTÁSTICO - Diogo Nonato Reis Pereira PDFAline RodriguesAinda não há avaliações
- CESERANI, Remo. O Fantástico.Documento21 páginasCESERANI, Remo. O Fantástico.Giovanna GuimarãesAinda não há avaliações
- Admin, 12 - 1519Documento33 páginasAdmin, 12 - 1519Bastos PéreiraAinda não há avaliações
- Descolonizando Corpos e Subjetividades RepresentaçõesDocumento12 páginasDescolonizando Corpos e Subjetividades RepresentaçõesfatimarcariAinda não há avaliações
- 9053-Texto Do Artigo-40464-1-10-20200428Documento26 páginas9053-Texto Do Artigo-40464-1-10-20200428Lilian JunqueiraAinda não há avaliações
- Maria Firmina Dos Reis Negra e Escritora No Século XIXDocumento24 páginasMaria Firmina Dos Reis Negra e Escritora No Século XIXAlice Sales100% (1)
- Poesia Tempo e Historia Na Obra de OctavDocumento18 páginasPoesia Tempo e Historia Na Obra de OctavLisandra SouzaAinda não há avaliações
- Batepa Um Passado Assombrado Fantasmas MDocumento18 páginasBatepa Um Passado Assombrado Fantasmas MEsmeralda FreitasAinda não há avaliações
- 764-Texto Do Artigo-3165-1-10-20071023Documento21 páginas764-Texto Do Artigo-3165-1-10-20071023marcioAinda não há avaliações
- Angelo Barroso Costa SoaresDocumento14 páginasAngelo Barroso Costa Soaresnathalia.ferrazaranAinda não há avaliações
- Eros e Psique em F Pessoa - Rodrigo FaleiroDocumento30 páginasEros e Psique em F Pessoa - Rodrigo FaleiroRodrigoFaleiroAinda não há avaliações
- Amanda SteinbachDocumento13 páginasAmanda SteinbachTarcisio GreggioAinda não há avaliações
- Machado Assis e As Causas Ocultas Da CriaçãoDocumento9 páginasMachado Assis e As Causas Ocultas Da CriaçãoMarciano Lopes e SilvaAinda não há avaliações
- A Construção Imaginária Da História e Dos GênerosDocumento26 páginasA Construção Imaginária Da História e Dos GênerosDébora RodriguesAinda não há avaliações
- 459 2063 1 PB PDFDocumento6 páginas459 2063 1 PB PDFgiulianoinzisAinda não há avaliações
- Geografia e LiteraturaDocumento10 páginasGeografia e LiteraturaJôMoreiraAinda não há avaliações
- HANCIAU, Nubia Jacques. Confluências Entre Os Discursos Histórico e Ficcional - UnlockedDocumento13 páginasHANCIAU, Nubia Jacques. Confluências Entre Os Discursos Histórico e Ficcional - UnlockedAna KlockAinda não há avaliações
- Place of Memory: Myths and Legends in The Construction of IdentitiesDocumento15 páginasPlace of Memory: Myths and Legends in The Construction of IdentitiesPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Considerações Sobre A Narrativa Seriada e Sua Gênese Como Necessidade Atávica HumanaDocumento18 páginasConsiderações Sobre A Narrativa Seriada e Sua Gênese Como Necessidade Atávica HumanaRONDINELE RIBEIROAinda não há avaliações
- Psicanalise e Linguagem Mítica PDFDocumento4 páginasPsicanalise e Linguagem Mítica PDFGilberto AlvesAinda não há avaliações
- 2804-Texto Do Artigo-4679-1-10-20180214 PDFDocumento13 páginas2804-Texto Do Artigo-4679-1-10-20180214 PDFLuciano Dias CavalcantiAinda não há avaliações
- Writing Cultures Introdução Writing Cultures É Um Livro Escrito Por James Clifford e George Marcus e Publicado em 1986 - EtnografiaDocumento13 páginasWriting Cultures Introdução Writing Cultures É Um Livro Escrito Por James Clifford e George Marcus e Publicado em 1986 - EtnografiaRui FernandesAinda não há avaliações
- A Imagem Simbólica Do Unicórnio em Um Espinho de Marfim - Resistir e Libertar-SeDocumento13 páginasA Imagem Simbólica Do Unicórnio em Um Espinho de Marfim - Resistir e Libertar-SeRafael DiasAinda não há avaliações
- Michel de Certeau - Capítulo V. Etno-GrafiaDocumento32 páginasMichel de Certeau - Capítulo V. Etno-GrafiaDarcio RundvaltAinda não há avaliações
- Artigo A Fantasia Na Literatura de FantasiaDocumento16 páginasArtigo A Fantasia Na Literatura de FantasiaMelRosaTMAinda não há avaliações
- Monstros. Disciplina Eletiva 2024Documento4 páginasMonstros. Disciplina Eletiva 2024JV AraújoAinda não há avaliações
- A Cultura Tradicional em Nandyala Ou A Tirania Dos MonstrosDocumento14 páginasA Cultura Tradicional em Nandyala Ou A Tirania Dos MonstrosgadinizAinda não há avaliações
- Autoficcao e Intermidialidade Na Cena CoDocumento11 páginasAutoficcao e Intermidialidade Na Cena CoKarenramosAinda não há avaliações
- 462-Texto Do Artigo-1739-1-10-20200318Documento9 páginas462-Texto Do Artigo-1739-1-10-20200318jubirubuuAinda não há avaliações
- IvsonBrunodaSilva DissertDocumento110 páginasIvsonBrunodaSilva DissertjubirubuuAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO Alberto Soares de Farias FilhoDocumento175 páginasDISSERTAÇÃO Alberto Soares de Farias FilhojubirubuuAinda não há avaliações
- ACinciada Informao Memriae EsquecimentoDocumento17 páginasACinciada Informao Memriae EsquecimentojubirubuuAinda não há avaliações
- Patrimônio Cultural Imaterial Na Ciência Da InformaçãoDocumento25 páginasPatrimônio Cultural Imaterial Na Ciência Da InformaçãojubirubuuAinda não há avaliações
- Nos Matizes Da Memória e Da História - Uma Discussão Sobre o Folclore Fantástico Do Recife e Seus LugaresDocumento17 páginasNos Matizes Da Memória e Da História - Uma Discussão Sobre o Folclore Fantástico Do Recife e Seus LugaresjubirubuuAinda não há avaliações
- Como A Esposa Deve Tratar o Marido Segundo A BíbliaDocumento11 páginasComo A Esposa Deve Tratar o Marido Segundo A Bíbliamarluze luiza de paulaAinda não há avaliações
- APL IPARDES - Porcelanas - Campo - LargoDocumento37 páginasAPL IPARDES - Porcelanas - Campo - LargoPaulo BayerAinda não há avaliações
- Eliphas LeviDocumento1 páginaEliphas Levii.margarida33Ainda não há avaliações
- Resumo Corregedor e ProcuradorDocumento1 páginaResumo Corregedor e ProcuradorCarla CaetanoAinda não há avaliações
- Relatório - Transparência Internacional 2018Documento48 páginasRelatório - Transparência Internacional 2018Adriel Santos SantanaAinda não há avaliações
- Prova de Filosofia Da Linguagem PDFDocumento8 páginasProva de Filosofia Da Linguagem PDFClaudia IsabelAinda não há avaliações
- Atalhos - Funções - CadDocumento8 páginasAtalhos - Funções - CadLucas BohrerAinda não há avaliações
- Uni2 - Contexto Histórico Filosófico Da EducaçãoDocumento26 páginasUni2 - Contexto Histórico Filosófico Da EducaçãoEDMIXAinda não há avaliações
- Charge I: 3 Série Aula 3 - 2º BimestreDocumento16 páginasCharge I: 3 Série Aula 3 - 2º BimestrelulaAinda não há avaliações
- Itanhaem Abarebebe Patrimonio HistoricoDocumento25 páginasItanhaem Abarebebe Patrimonio HistoricoWesley LacerdaAinda não há avaliações
- 1o Simulado Diagnostico 6o Ano Grupo 3Documento7 páginas1o Simulado Diagnostico 6o Ano Grupo 3selmaAinda não há avaliações
- CV TSSHTDocumento3 páginasCV TSSHTJorgeAinda não há avaliações
- 10 Ano - Catequese 1 - DocumentosDocumento16 páginas10 Ano - Catequese 1 - DocumentosMarta SantosAinda não há avaliações
- SenhoraDocumento10 páginasSenhorakhouhai fakeAinda não há avaliações
- Ganhar Nos Jogos de LoteriaDocumento21 páginasGanhar Nos Jogos de LoteriaGilson Yonaha100% (6)
- Redes Sociais Digitais e Educação PDFDocumento11 páginasRedes Sociais Digitais e Educação PDFVanessa CarvalhoAinda não há avaliações
- A Conexão Dos Gentios Com A Casa de Efraim e Também Até Com A Casa de JudáDocumento22 páginasA Conexão Dos Gentios Com A Casa de Efraim e Também Até Com A Casa de JudáThiago G. SanchezAinda não há avaliações
- As Sete Cartas Dirigidas As Sete IgrejasDocumento4 páginasAs Sete Cartas Dirigidas As Sete IgrejasEliza PaixãoAinda não há avaliações
- A Riqueza Cultural Desse Grande ContinenteDocumento2 páginasA Riqueza Cultural Desse Grande ContinenteLuany ChristinaAinda não há avaliações
- Grimorio de SebastianDocumento3 páginasGrimorio de SebastianPedro YumeAinda não há avaliações
- Simulado 06 - Turma - Cfo-Pmba - EliteDocumento12 páginasSimulado 06 - Turma - Cfo-Pmba - Elitecfo pmbaAinda não há avaliações
- Prova de InglesDocumento3 páginasProva de InglesLidiane Oliveira BianchinAinda não há avaliações
- Demografia - Estudos - de - PopulacaoDocumento5 páginasDemografia - Estudos - de - PopulacaoAnne RaphaelleAinda não há avaliações
- Resolucao372 10anexoDocumento22 páginasResolucao372 10anexoAllex GuedesAinda não há avaliações
- Gestão de Projetos - Verum Institute - E-BookDocumento42 páginasGestão de Projetos - Verum Institute - E-Bookabraaosiman059Ainda não há avaliações
- 6 - Gincana Dos Gêneros TextuaisDocumento26 páginas6 - Gincana Dos Gêneros TextuaisROSANA FERRAZA PIRES DOS SANTOSAinda não há avaliações