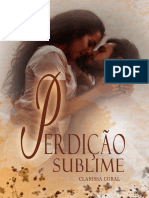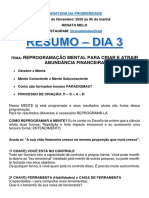Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aula 1 Práticas Pedagógicas
Aula 1 Práticas Pedagógicas
Enviado por
Marcus Vinícius Patente Alves0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações77 páginasTítulo original
Aula 1 Práticas pedagógicas.pptx
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PPTX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PPTX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações77 páginasAula 1 Práticas Pedagógicas
Aula 1 Práticas Pedagógicas
Enviado por
Marcus Vinícius Patente AlvesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PPTX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 77
Práticas pedagógicas:
Cultura corporal e cidadania
Prof. Me. Marcus Vinícius Patente Alves
Aprofundando o Conhecimento
PRÁTICAS CORPORAIS COMO LINGUAGEM:
PASSÍVEIS DE LEITURA E PRODUÇÃO
• A situação-problema desta aula o desafia a pensar uma
solução de caráter teórico-prático para ensinar aos
alunos, por meio de uma sequência didática, o que são
práticas corporais.
• No primeiro passo desta aula, a estratégia é relacionar e
contrapor referências teóricas, selecionando dados e
conceitos que se relacionam diretamente à situação-
problema, com o objetivo de ampliar o conhecimento
acerca da prática corporal como linguagem, por isso
passível de ser lida, criada e recriada.
• Para discutir essas questões, estude o texto
citado nesta seção, que apresenta, de forma
sintética, ideias de autores acerca da relação
entre corpo, linguagem e cultura.
Corpo Linguagem Cultura
Antes da leitura, acesse o podcast a seguir
com as orientações de estudo.
• O corpo, segundo Geertz (1978), é entendido como
um produto de construções culturais. Neira e Nunes
(2007) lembram-nos que desde os primeiros estudos
sobre corpo e corporeidade, percebe-se, por parte
de sociedades diversas, o desejo e a ação em moldá-
lo segundo a ótica e o querer da cultura hegemônica
ou dominante.
• Geertz também fala de relações de poder no que é
socialmente aceito em termos de movimento. Esses
autores revelam o poder comunicativo do corpo.
• Segundo as teorias que desenvolveram, pode-
se supor que o desejo do poder dominante
em moldar e julgar gestos corporais era (e
ainda é) assumir que há comunicação por
meio do corpo, ou seja, há leitura e escrita no
corpo.
• Para Mendes e Nóbrega (2004), não temos um
corpo, somos um corpo que lê, dança, come,
se movimenta.
• Com isso em vista, cabe aos educadores da
escola atual tratar o movimento humano
como uma das formas de linguagem, posto
que o corpo também comunica significados.
• À Educação Física cabe, entre outros, o
estabelecimento do debate entre a cultura
corporal e a constituição de sujeitos, que
também pode ser entendido como o estudo, a
percepção e a abordagem de identidades
culturais presentes nos conteúdos da cultura
corporal.
• Pensando numa definição de cultura corporal
que considere o poder comunicativo do corpo
e de suas produções culturais (práticas
corporais), com base em como Geertz pensava
o alcance da cultura, podemos conceituar
cultura corporal como:
• o conjunto de manifestações socioculturais
por meio do qual indivíduos se comunicam
entre si (mensagens corporais) e partilham
experiências produzidas, transmitidas e
recebidas como processos sócio-históricos
específicos que acontecem via corpo (jogos,
lutas, danças, ginásticas e brincadeiras).
• Assumir, demonstrar e explicitar o poder comunicativo
do corpo e de suas produções, no âmbito da cultura
corporal de movimento, é um ponto de partida muito
importante para ensinar como se realiza a produção
corporal. Um processo linguístico passa,
necessariamente, pelo ato da:
• Leitura
• Fala
• Interpretação
• Escrita
• Para que uma prática corporal seja considerada como
linguagem, deve ser passível de ser lida, escrita, falada
e interpretada.
• Essa ótica de trabalho com o corpo é capaz de suscitar
inúmeras possibilidades no trabalho docente, desde
que se formulem estratégias práticas e claras para o
trabalho do professor junto aos alunos, em vez de se
engessar o ensino-aprendizagem aos conteúdos tal
como os alunos os percebem nas mídias.
• É preciso ter em mente que o contexto
modifica o conteúdo, por exemplo: um jogo
de futebol é diferente na várzea, no campo do
clube e na escola, apesar de terem o mesmo
procedimento motor e um conjunto similar de
regras.
• Os três textos citados anteriormente serão a
base das relações que pretendemos formular
para que você, futuro professor de Educação
Física, se aproprie de diferentes possibilidades
para abordar com seus alunos
a corporeidade (entendida como estudos
sobre o corpo) e o conceito de práticas
corporais.
Texto 1
• O primeiro texto, intitulado A interpretação das culturas, é
de autoria de Clifford Geertz (1978), antropólogo que viveu
entre 1926 e 2006.
• Geertz dizia que a cultura pode ser definida como um
sistema de organização (e controle) das coletividades,
pautado em um mecanismo de apreensão do poder, que
ocorre por meio da posse dos signos de poder. Para esse
autor, os que controlam as altas esferas sociais submetem
outros membros dessa comunidade por meio do
cerceamento cultural (por isso, arbitrário) de seus gestos e
movimentos.
Geertz
• Para o autor, as imagens públicas do
comportamento cultural são vistas como os
mais eficazes elementos do controle social.
Desse modo, a cultura tanto controlaria o
comportamento em sociedade, como também
criaria e recriaria este e outros
comportamentos.
Ideias de Geertz
• Admitir essas ideias não significa trazê-las para
a aula sem a devida criticidade. Pelo contrário,
cada conteúdo deve ser destrinchado em sua
história, revelando, inclusive, as relações de
poder ali existentes e que o influenciam.
• Importando as ideias de Geertz para o campo da
Educação Física, o professor pode atentar para não
tratar os conteúdos apenas segundo seu ponto de vista.
• O professor deve admitir outras formas de
comportamento motor (dançar, por exemplo) além das
que ocupam seu próprio cotidiano cultural, e incluir em
suas aulas as práticas corporais produzidas ou
veiculadas entre a população socialmente excluída.
Texto 2
• Já o texto que será nossa base para discução,
no Passo 2, sobre inclusão social de conteúdos
é intitulado Linguagem e cultura: subsídios
para uma reflexão sobre a educação do
corpo, escrito por Mário Luiz Ferrari Nunes e
Marcos Garcia Neira, professores
universitários com formação na área da
Educação Física.
• Esses autores recorrem a sociólogos e a
antropólogos, tanto brasileiros como estrangeiros,
para reafirmar sua teoria de que é comum que o
repertório de gestos e práticas corporais produzidos
ou acessados pelas comunidades econômica e
socialmente desfavorecidas não seja reconhecido,
nem aceito pelo discurso dominante ou
hegemônico, ou seja, pelos meios que atribuem
juízo de valor aos conteúdos culturais e às práticas
corporais.
• Linguagem e cultura: subsídios para uma
reflexão sobre a educação do corpo
NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. Linguagem e
cultura: subsídios para uma reflexão sobre a
educação do corpo. Caligrama (São Paulo.
Online), [S.l.], v. 3, n. 3, dec. 2007. Disponível
em: <https://goo.gl/AYzocp>. Acesso em: 27
fev. 2018.
Texto 3
• O fato de as produções culturais serem vistas de acordo
com seu produtor nos leva ao terceiro texto citado, escrito
pelas autoras Maria Isabel Brandão de Souza Mendes e
Terezinha Petrucia da Nóbrega (2004). O nome do texto é
“Corpo, natureza e cultura: contribuições para a educação”.
• Trata-se de uma obra literária que desvenda possibilidades
e qualidades de nós, seres humanos, vistos pela
perspectiva de nossos corpos. As autoras ressaltam que
somos um corpo e, desse modo, nossos fazeres só são
possíveis porque nosso corpo nos insere e nos conecta com
o mundo.
• Assim, instrumentalizar determinadas tarefas
é o mesmo que nos instrumentalizarmos para
que possamos realizar diferentes tarefas.
Nesse sentido, o ato de ensinar deve ser visto
com muita seriedade, já que é dirigido a seres
humanos que são sujeitos desse processo.
Principais pontos abordados no material
• Agora, vamos apresentar conceitos que o
ajudarão a ampliar os conhecimentos sobre o
conceito de prática corporal:
1. Princípios do treinamento físico
• Na apresentação desta unidade, definimos
que a diferença entre atividade física e prática
corporal são a intencionalidade e a
consideração do praticante como sujeito
social, fatores presentes mais fortemente na
prática corporal. De modo geral, tudo o que
requer movimento é atividade física.
• No entanto, a atividade física se subdivide em
vários elementos. Dois deles são a prática
corporal e o exercício físico. Também já
discutimos a definição de exercício físico como
uma atividade que segue padrões e
procedimentos com rigor científico e sem o
qual não se alcançam os resultados
planejados.
• O conjunto de elementos que formam esse
rigor científico é chamado de princípios do
treinamento físico.
treinamento físico
• O treinamento físico apoia-se em
conhecimentos da biologia, física e estatística.
Apoiado em princípios, deve adequar e
combinar tais conhecimentos aos resultados,
que vão sendo alcançados pouco a pouco, pois
subsidiam a elaboração e o desenvolvimento
de programas de exercícios voltados à
melhoria das capacidades físicas, tanto de
atletas como de não atletas.
• Atentemos agora ao que prega cada princípio (texto
extraído do Caderno do Aluno, Educação Física, 7º
ano, v. 3. SEESP).
Sobrecarga
Sobrecarga
Continuidade
Continuidade
Reversibilidade
Reversibilidade
Especificidade
Especificidade
Individualidade
Individualidade
Princípio
• Ensinar a essência de cada princípio do
treinamento físico fará com que os alunos
tenham mais consciência, conhecimentos e
critérios para avaliar a qualidade de sua
prática corporal, seja ela orientada por um
profissional da área, seja realizada de forma
autônoma.
Sobrecarga
• Está relacionada ao aumento da carga de trabalho
físico, que deve ser gradual e progressivo, de modo
a estimular o organismo a exercitar-se acima do
nível ao qual está habituado, induzindo adaptações
biológicas que aprimorem suas características
morfológicas e/ou funcionais. Para tanto, deve
adequar diferentes combinações de frequência,
intensidade, duração e/ou volume de treinamento,
conforme a capacidade física a ser desenvolvida.
• A frequência refere-se a: o número de sessões
semanais de determinado exercício, a
intensidade, o nível de dificuldade do exercício
– quantidade de peso e velocidade
suportados, a duração ou volume e o período
de tempo durante o qual o programa é
realizado (semanas, meses), ou tempo gasto
em uma única sessão de exercícios (minutos,
horas).
Continuidade
• Preconiza que a melhoria na capacidade
funcional depende da regularidade com que a
prática de atividades físicas é realizada, e que
as adaptações biológicas pretendidas resultam
da adequada alternância entre esforço e
recuperação.
Reversibilidade
• Também referida como “uso e desuso”, diz respeito ao
declínio na capacidade funcional decorrente das perdas
das adaptações biológicas resultantes do programa de
exercícios, que ocorre quando a atividade física é
suspensa ou reduzida. Representa um reajuste do
organismo ao baixo nível de solicitação das capacidades
físicas, tornando evidente o caráter transitório e
reversível das melhorias oriundas da prática regular e
contínua de exercícios físicos, especialmente quando
essa regularidade deixa de ser mantida.
Especificidade
• Explica que o aprimoramento e o desenvolvimento
de determinada capacidade física (força,
flexibilidade, etc.) decorrem de adaptações
fisiológicas e bioquímicas específicas para
determinados tipos de atividades físicas, conforme
diferentes combinações entre volume e intensidade
de esforço. Por essa razão, a melhoria da
flexibilidade requer exercícios de alongamento
muscular, enquanto exercícios aeróbios
desenvolvem a resistência cardiorrespiratória.
Individualidade
• Diz respeito ao modo como as diferentes
características e condições de cada indivíduo
interferem nos efeitos pretendidos por um programa
de exercício. Compreende aspectos relacionados às
diferenças entre os sexos, ao estágio de maturação
biológica, ao nível inicial de condicionamento físico,
aos aspectos genéticos do praticante e aos fatores
ambientais e/ou comportamentais (alimentação,
hábitos de repouso e sono, existência ou não de
doenças, aspectos motivacionais etc.).
• É importante que os alunos compreendam que cada
indivíduo responde de forma diferente ao treinamento
e que essa resposta depende da perseverança, atenção
e constituição biológica e fisiológica de cada um.
• Também é importante ressaltar que exercícios físicos
devem sempre ser orientados por um profissional da
área. Saber disso torna o aluno capaz de diferenciar o
que pode ser feito por ele, de forma autônoma, como
prática corporal (por exemplo, dança) do exercício físico
(por exemplo, musculação).
• Pensando ainda na realização de práticas corporais
de forma consciente e fundamentada, é preciso
ensinar o que são e como trabalhar a frequência
cardíaca e as atividades aeróbias e anaeróbias.
• Além de serem fatores abordados nos princípios
do treinamento físico, são ,por si só, orientadores
na tomada de consciência do estado fisiológico de
cada indivíduo, antes, durante e após o exercício
físico.
• Já sabemos que a prática de exercícios físicos
provoca alterações no funcionamento do
organismo. Em condições normais, nosso coração
bate, aproximadamente, de 70 a 80 vezes por
minuto, em indivíduos não treinados fisicamente.
• Para indivíduos praticantes de atividades físicas, o
batimento varia entre 50 e 70 batimentos por
minutos (bpm), em repouso.
• Durante o exercício físico, o número de
batimentos aumenta, e uma vez cessada a
atividade, o coração, gradativamente, volta ao
seu padrão usual de bpm. Os batimentos do
coração podem ser medidos colocando-se o
indicador no pescoço e contando o número de
pulsações por minuto.
O número de batimentos
• Pela frequência de batimentos cardíacos,
pode-se avaliar se o esforço realizado durante
uma atividade física foi adequado ou
demasiado.
• Durante atividades físicas intensas há maior consumo
de oxigênio e, por isso, maior produção de gás
carbônico, que deve ser eliminado do nosso organismo
para não causar intoxicação. Como resultado, a
frequência respiratória aumenta para manter nosso
organismo com crédito necessário de oxigênio.
• Neste momento do processo de ensino e
aprendizagem sobre a frequência cardíaca e
respiratória, faz-se necessário ensinar o que são
atividades aeróbicas e anaeróbicas.
Aeróbica
• É a capacidade de a pessoa sustentar um exercício
que proporcione um ajuste cardiorrespiratório e
hemodinâmico global ao esforço, realizado com
intensidade moderada/forte e duração a longa, e
em que a energia necessária para sua realização
provenha principalmente do metabolismo
oxidativo. Isso quer dizer que, durante o exercício,
você tem tempo e condição para repor em parte o
oxigênio que está gastando na atividade em
questão.
Anaeróbica
• É a qualidade física que permite sustentar, pelo maior
tempo possível, uma atividade física numa situação de
débito de oxigênio. É a capacidade de realizar um
trabalho de intensidade máxima ou submáxima, com
quantidade insuficiente de oxigênio, durante um período
de tempo inferior a três minutos. Isso quer dizer que,
durante o exercício, o corpo não tem tempo nem
condição para repor em parte o oxigênio gasto na
atividade.
• Nessa condição, o corpo recorre mais rapidamente a
reservas energéticas do metabolismo.
Resumindo...
• Se, durante a atividade, temos condição de
repor a energia gasta e ela é feita durante um
tempo superior a 20 minutos, sempre de
forma constante, essa atividade tende a
ser aeróbica.
• Se, durante a atividade, temos que recorrer à
reserva de energia em nosso organismo, e se
ela for de curta duração e de grande
intensidade, ela tende a ser anaeróbica.
2. É POSSÍVEL APRENDER COM E
POR MEIO DO CORPO?
• O profissional da Educação Física e a própria
disciplina são comumente conhecidos no
senso comum pelo fato de cuidarem do corpo
físico e do ensino de práticas corporais,
principalmente os jogos.
• No entanto, cuidamos também da educação dos
sujeitos e de sua corporalidade.
• Infelizmente, também é comum encontrarmos,
mesmo entre educadores de outras disciplinas,
pessoas que identifiquem a Educação Física
somente como um daqueles poucos momentos
escolares nos quais a criança pode suar, sair da
sala, brincar, correr, jogar e, quando muito,
aprender a competir.
• Suar, sair da sala, brincar, correr, jogar e,
quando muito, aprender a competir
De fato, a Educação Física pode ter esses
propósitos, além de outros, mas não deve se
reduzir somente a servi-los. É preciso
reconhecer a capacidade do corpo de
aprender e de ensinar.
• Vamos recorrer ao pensamento de Nóbrega
(2005) para pensar o lugar do corpo na educação,
compreendendo que ele não é apenas um
instrumento das práticas educativas, pois as
produções humanas são possíveis pelo fato de
sermos corpo.
• Ainda segundo a autora, precisamos avançar para
além do aspecto da instrumentalidade corporal.
Nóbrega (2005)
• NOBREGA, T. P. Qual o lugar do corpo na
educação? Notas sobre conhecimento,
processos cognitivos e currículo. Educ. Soc., v.
26, n. 91, Campinas, maio/ago. 2005 05.
Disponível em: <https://goo.gl/DFhsSr>.
Acesso em: 27 fev. 2018.
• Segundo Sotero (2010), a promoção da educação
do indivíduo por meio de sua corporeidade pede
que se considere a história do:
• Corpo social;
• Corpo político;
• Corpo biológico;
• Corpo lúdico;
• Corpo religioso;
• Corpo escolar.
Sotero (2010)
• SOTERO, M. A. Questões de gênero e
desconstrução de estereótipos: um plano
lúdico para ensino da dança na educação física
escolar. 2010. Dissertação (Mestrado em
Pedagogia do Movimento Humano) − Escola
de Educação Física e Esporte, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: <
https://goo.gl/8Ww9nD>. Acesso em: 27 fev.
2018.
• Nesse sentido, podemos, como professores,
recorrer à história, antropologia, biologia e
sociologia para trazer à tona o caminho de
construção do lugar do corpo nas sociedades
e, portanto, na escola.
• A mesma autora ressalta que:
• o caminho trilhado pelo pensamento filosófico
desenvolvido na Grécia antiga e que foi sendo
construído, destruído e reconstruído até a
contemporaneidade de Merleau-Ponty mostra
que corpo, sujeito e alma são indivisíveis e
operam juntos, pelo menos para se pensar
educação hoje (SOTERO, 2010, s.p.).
• Corpo, sujeito e alma são indivisíveis e operam
juntos.
• Agindo pedagogicamente dessa forma, a
aprendizagem de conteúdos não pode deixar de
lado o corpo, não somente porque as atividades
envolvem movimento, mas, sobretudo, por se
considerar o aluno como sujeito de seu
processo de aprendizagem.
• No entanto, muitas vezes o fazer docente
desconsidera o contexto em que o estudante
vive e pensa com seu corpo, principalmente
quando se exige dele que não se movimente
em grande parte de seu tempo na
escola (GONÇALVES, 1994).
• GONÇALVES, M. A. S. Sentir, pensar, agir:
corporeidade e educação. Campinas: Papirus,
1994
• Sabe-se que o ser humano vive em contextos
sociais diferentes. Na casa, na escola, no
trabalho ou no lazer, ele interage de forma
dinâmica, pois:
• ao mesmo tempo em que atua na realidade,
modificando-a, esta atua sobre ele,
influenciando e, até podemos
dizer, direcionando suas formas de pensar,
sentir e agir (GONÇALVES, 1994, s.p.).
• Direcionando suas formas de pensar, sentir e agir
• Com esse pensamento em vista, que tal refletirmos sobre
quão saudável (ou não saudável) é calar nossos corpos na
escola, não somente em termos de não movimento, mas
também em termos de desconsiderar sua história, sua
bagagem de vida, suas crenças religiosas.
• Ainda, não apenas para estar em conformidade com o que
o aluno conhece e acredita, mas também para desafiá-lo a
pensar, agir e sentir diferente do que está acostumado.
• O intuito de desafiar o aluno é fazer com que
ele amplie seus limites diversos, sempre de
forma salutar, para que caibam em seu ser a
aceitação de si próprio, de seus sucessos e
fracassos e a afetividade e respeito ao outro,
sempre diferente de si mesmo.
• Se o corpo ajuda a pensar, sentir e agir, e tais
operações compõe o sistema de ensino e
aprendizagem, a educação que considera
a corporeidade investe em metodologias que
incluem o corpo para desenvolver, interpretar,
significar e validar o que se aprende na escola.
Corporeidade
• Este texto trata corporeidade como o conjunto
de conhecimentos adquiridos através dos
estudos sobre o corpo e sua relação com o
indivíduo.
• Nessas concepções, a corporalidade do aluno
está a serviço de seu processo educacional, já
que está intrinsecamente ligada à sua forma
de interagir com o meio para absorvê-lo e/ou
transformá-lo.
Corporalidade
• É entendida pelas ações motoras do ser
humano.
• É justamente o caminho de construção do conceito de
corpo que faz dele algo móvel, permeável,
transformado e transformador, cultural e biológico.
• Logo, é necessário compreender que pontos de vistas
e funções opostas do corpo se complementam, em
vez de se isolarem para fundamentar outro ponto de
vista. Por isso mesmo é que a escola deveria
reconhecer a dependência dos sujeitos corporais do
meio, da cultura e da sociedade em que vivem.
• Ao fazer isso, os processos escolares diversos, e
não somente a área da Educação Física,
perceberiam sua responsabilidade na reescrita da
história entre corpo e escola, como também
perceberiam que têm o: desafio de permitir
desabrochar as subjetividades, abrindo espaços que
possibilitem aflorar um ser que, ao modificar-se
constantemente, provoca mudanças no ambiente,
na sociedade, na cultura (MENDES; NÓBREGA,
2004, s.p.).
• Ademais, não podemos nos furtar do rico momento de
refletir se tal metodologia é eficiente para ensinar
valores ou qualquer outro fator capaz de moldar o
caráter.
• Em outras palavras, é necessário refletir se o
comportamento social ensinado por meio da educação
da corporalidade seria capaz de elevar a autoestima do
aluno, levando em consideração a sua cultura, já que a
personalidade dos sujeitos, segundo Geertz, é também
esculpida pela cultura em que os sujeitos estão inseridos.
• Em sua pesquisa, Sotero (2010) reforça a ideia
de que o corpo é o que o ser humano tem de
mais externo e, ao mesmo tempo, revela o que
há de mais íntimo e misterioso em si.
• No corpo e nos gestos corporais escondem-se
os mais profundos segredos e externam-se,
mesmo sem querer, os mais profundos
sentimentos. Dessa forma, o corpo aprende a
viver enquanto passa pelo processo de viver.
• Por isso, existe a crença de que o conhecimento
emerge do corpo por meio das experiências
vividas. Assim, o corpo e seus sentidos devem
participar do processo de aprendizagem (MENDES;
NÓBREGA, 2004).
• Para Nóbrega: não se trata de incluir o corpo na
educação. O corpo já está incluído na educação.
Pensar o lugar do corpo na educação significa
evidenciar o desafio de nos percebermos como
seres corporais. (NÓBREGA, 1999, s.p.).
• De que modo o estudo desta seção nos ajuda
a resolver a situação-problema?
• Os textos estudados têm por objetivo ampliar seus
conhecimentos sobre o tema levantado, por meio
da situação-problema desta unidade, e ajudá-lo a
enfrentar o desafio metodológico de elaborar uma
sequência didática que ensine aos alunos do 6º
ano o que são práticas corporais, fazendo com que
eles aprendam a diferenciá-las, mesmo que de
forma superficial, de exercício físico e de atividades
físicas, lançando mão, nesse processo, de sua
corporalidade reflexiva.
• Como uma das etapas iniciais do trabalho,
sugerimos a exibição do vídeo Princípios do
treinamento físico #2 – Princípio da
individualidade biológica, acessível pelo
YouTube, no canal Treino em Foco.
• Princípios do treinamento físico #2 – Princípio
da individualidade biológica Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=zuCc26zf0
kI
>. Acesso em: 27 fev. 2020.
• Esse material audiovisual trata dos benefícios
do exercício físico de forma palatável aos
alunos, por meio de ilustrações, de projeto
visual colorido e ágil, e de um apresentador que
se comunica por meio de gírias de adolescente.
• O teor do vídeo são os benefícios dos exercícios
físicos antes da velhice chegar, relacionando
essa prática à obtenção e manutenção da saúde
cerebral e fisiológica.
• Anote as ideias e as informações que lhe vieram
ao ler os textos e ao assistir ao vídeo, tendo em
vista a montagem da sequência didática, para
programar o assunto nas suas aulas.
• Preste atenção às ideias dos autores e procure
relacioná-las com a situação-problema, buscando
formas para abordar esses assuntos, visando a
resolução que você deve apresentar. Esses
materiais certamente iluminarão sua mente!
• Por fim, escreva um parágrafo comentando o
que você entende sobre a crítica à
instrumentalização do corpo e de que modo
essa questão se relaciona à docência em
Educação Física.
Para a próxima aula
• Trazer o texto: Neira e Nunes (2007)
NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. Linguagem e
cultura: subsídios para uma reflexão sobre a
educação do corpo. Caligrama (São Paulo.
Online), [S.l.], v. 3, n. 3, dez. 2007. Disponível
em: <https://goo.gl/nwKKPo>. Acesso em: 27
fev. 2020
Você também pode gostar
- Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley e Pilares Da ResiliênciaDocumento5 páginasEscala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley e Pilares Da ResiliênciaLuana Tenorio100% (14)
- @BibliotecaCrista A Pirâmide Da Sabedoria Brett McCrackenDocumento156 páginas@BibliotecaCrista A Pirâmide Da Sabedoria Brett McCrackenRaul Marx100% (1)
- Perdição Sublime - Clarissa CoralDocumento289 páginasPerdição Sublime - Clarissa CoralIsabel Barbosa100% (1)
- Apostila Curso Doutrina Dos AnjosDocumento18 páginasApostila Curso Doutrina Dos AnjosGerson MarioboAinda não há avaliações
- Planejamento Anual de Educação Física - 4º Ano - FLDocumento6 páginasPlanejamento Anual de Educação Física - 4º Ano - FLMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Plano Anual EscolasDocumento94 páginasPlano Anual EscolasMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Planejamento Anual de Educação Física - 3º Ano FLDocumento5 páginasPlanejamento Anual de Educação Física - 3º Ano FLMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Escola Municipal Amanda Carneiro TeixeiraDocumento13 páginasEscola Municipal Amanda Carneiro TeixeiraMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Planejamento Anual de Educação Física - 5º Ano CorrigidoDocumento7 páginasPlanejamento Anual de Educação Física - 5º Ano CorrigidoMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Jogos e Brincadeiras Na EscolaDocumento2 páginasJogos e Brincadeiras Na EscolaMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Atestado de Educação FísicaDocumento1 páginaAtestado de Educação FísicaMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- ADocumento6 páginasAMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- PLANOS DE AULA Amandinha 06032023 ATÉ DO DIA 10032023Documento4 páginasPLANOS DE AULA Amandinha 06032023 ATÉ DO DIA 10032023Marcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Planos de Aula 0603 A 1003 FundamentalDocumento4 páginasPlanos de Aula 0603 A 1003 FundamentalMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Planos de Aula 2702 A 0303 FundamentalDocumento6 páginasPlanos de Aula 2702 A 0303 FundamentalMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- GrauIII 05 FisiologiaDocumento33 páginasGrauIII 05 FisiologiaMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Aula 1 Fundamentos Do Movimento HumanoDocumento45 páginasAula 1 Fundamentos Do Movimento HumanoMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Cinesiologia e Biomecânica Aula 1Documento56 páginasCinesiologia e Biomecânica Aula 1Marcus Vinícius Patente Alves100% (1)
- Plano Do Dia 2702 A 0303Documento6 páginasPlano Do Dia 2702 A 0303Marcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Fisiologia RespiratóriaDocumento122 páginasFisiologia RespiratóriaMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- SúmulaDocumento26 páginasSúmulaMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Cinesiologia e Biomecanica Aula 2Documento45 páginasCinesiologia e Biomecanica Aula 2Marcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações
- Psicologia Do DelitoDocumento7 páginasPsicologia Do DelitoblackguiitarAinda não há avaliações
- MemoriaDocumento15 páginasMemoriaJornes Da Gloria LuísAinda não há avaliações
- Privacy by Design e Privacy by Default?Documento110 páginasPrivacy by Design e Privacy by Default?anapfurlan16Ainda não há avaliações
- Resumo Dia 3 - Desafio Da Mentalidade PrósperaDocumento4 páginasResumo Dia 3 - Desafio Da Mentalidade PrósperaGéssicaAinda não há avaliações
- Texto 13 - As Principais Linhas de Pensamento Da PsicologiaDocumento2 páginasTexto 13 - As Principais Linhas de Pensamento Da PsicologiaLuiz FelipeAinda não há avaliações
- EBOOK SCHAEFFER Allen PortoDocumento51 páginasEBOOK SCHAEFFER Allen PortoEsther VargasAinda não há avaliações
- A Desordem CadelaDocumento266 páginasA Desordem CadelakairospandemosAinda não há avaliações
- Roteiro para Terapia em GrupoDocumento29 páginasRoteiro para Terapia em Grupoalberto.kaique.lo100% (1)
- Cinco Quebra CabecasDocumento4 páginasCinco Quebra CabecasFilipa OliveiraAinda não há avaliações
- A Recepção Platônica Do Eleatismo No Diálogo o SofistaDocumento129 páginasA Recepção Platônica Do Eleatismo No Diálogo o SofistaCarolina Moreira TorresAinda não há avaliações
- Como Compor Letras de Músicas (Com Imagens) - WikihowDocumento5 páginasComo Compor Letras de Músicas (Com Imagens) - WikihowJoão Filho GoisAinda não há avaliações
- Desdobramento, Ovnis e EsoterísmoDocumento53 páginasDesdobramento, Ovnis e EsoterísmoAlê Torres100% (1)
- Negociações Internacionais - Cuco 8Documento64 páginasNegociações Internacionais - Cuco 8Maria Rita Rodrigues de OliveiraAinda não há avaliações
- Franchi Criatividade e GramaticaDocumento37 páginasFranchi Criatividade e GramaticaElaine NunesAinda não há avaliações
- Questionário para A Prova I UnidadeDocumento21 páginasQuestionário para A Prova I UnidadeSprite Rodrigo100% (1)
- Material Didático - Introdução À Psicopedagogia e Inclusão SocialDocumento71 páginasMaterial Didático - Introdução À Psicopedagogia e Inclusão SocialRudvan Cicotti100% (1)
- SONNENBURG, Solveig Fabienne. Cidadania e o Exercício Do Poder PolíciaDocumento125 páginasSONNENBURG, Solveig Fabienne. Cidadania e o Exercício Do Poder PolíciaKarl MichaelAinda não há avaliações
- Aforismos de Ioga de Patañjali (WWW - Filosofiaesoterica)Documento42 páginasAforismos de Ioga de Patañjali (WWW - Filosofiaesoterica)Thiago C. Gomes100% (2)
- AncorasDocumento5 páginasAncorasAlê VascoAinda não há avaliações
- 1 PB PDFDocumento12 páginas1 PB PDFBárbara Caroline MacedoAinda não há avaliações
- Terra-Pátria - Revisão em 14.5Documento19 páginasTerra-Pátria - Revisão em 14.5eduardosens100% (1)
- Mitos de Criacao Na China AntigaDocumento17 páginasMitos de Criacao Na China AntigaIsrael Paz Vieira NicolauAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Ceará - Trabalho de Teoria e Metodologia Da História II - Resenha de Texto - Memória e Identidade SocialDocumento2 páginasUniversidade Federal Do Ceará - Trabalho de Teoria e Metodologia Da História II - Resenha de Texto - Memória e Identidade Socialluizalvesan100% (2)
- A Ordem Da ManoplaDocumento3 páginasA Ordem Da ManoplaRonaldo Henrique100% (1)
- Bergamaschi - o Intelectual IndígenaDocumento19 páginasBergamaschi - o Intelectual IndígenaLayla Jorge Teixeira CesarAinda não há avaliações
- Aula 1 - Identidade e Cultura - Conceitos e Relações SociaisDocumento9 páginasAula 1 - Identidade e Cultura - Conceitos e Relações SociaisSamara Micaelle Santos OliveiraAinda não há avaliações