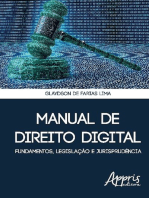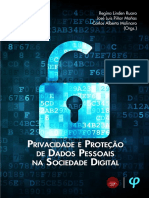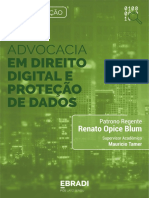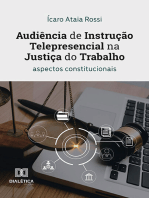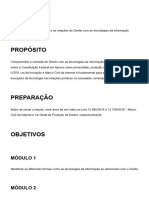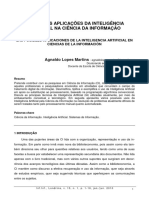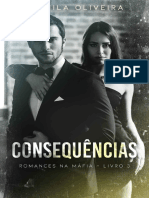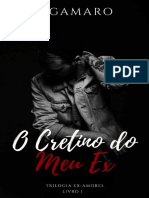Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Tecnologia Da Informação Jurídica
Tecnologia Da Informação Jurídica
Enviado por
gabriel_gonzales_20Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tecnologia Da Informação Jurídica
Tecnologia Da Informação Jurídica
Enviado por
gabriel_gonzales_20Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Tecnologia da informao jurdica A TECNOLOGIA DA INFORMAO JURDICA Sumrio: APRESENTAO 1.
ELEMENTOS PARA APLICAO DE INTELIGNCIA ARTIFICIAL NO DIREITO Hugo Cesar Hoeschl 2. PROTEO DOS DIREITOS AUTORAIS NA INTERNET: UMA QUESTO JURDICA OU TECNOLGICA? Lourdes de Costa Remor 3. DIREITO, TECNOLOGIA E QUALIDADE Tnia Cristina D`Agostini Bueno 4. SIGILO, PRIVACIDADE E INTERCEPTAO NAS COMUNICAES DE DADOS. Orly Miguel Schweitzer 5. GOVERNO ELETRNICO (GOVERNO ON-LINE) - ASPECTOS DE VIABILIZAO E OTIMIZAO DOS SERVIOS PBLICOS Eduardo Marcelo Castella 6. O ENSINO DO DIREITO CRIANA E AO ADOLESCENTE COMO PRESSUPOSTOS DE CIDADANIA COM USO DE TECNOLOGIAS DA EDUCAO Lcio Eduardo Darelli 7. RESOLUES ALTERNATIVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAO. DE CONFLITOS FRENTE S NOVAS
Marco Antonio Machado Ferreira de Mello 8. FUNDAMENTOS JURDICOS PARA O ENSINO POR TELEPRESENA Hugo Cesar Hoeschl e Ricardo Miranda Barcia
9. E-GOVERNO Walter Felix Cardoso Junior 10. GOVERNO ON LINE COMO PRESSUPOSTO DO EXERCCIO DA CIDADANIA Fbio Andr Chedid Silvestre 11. DO DESRESPEITO AUTORIDADE CONSTITUDA DESOBEDINCIA CIVIL COM VILIPNDIO S INSTITUIES Antonio Carlos Facioli Chedid 12. A TECNOLOGIA DA INFORMAO JURDICA E O ENSINO A DISTNCIA COMO FERRAMENTAS PARA A MODERNIZAO DA ADUANA EM TEMPO DE E-GOVERNO Ione Maria Garrido Andreta Lanziani 13. CONCEITOS DE REPRESENTAO JURDICO-POLTICA DIGITAL Marcio Humberto Bragaglia 14. Documentao da disciplina "Tecnologia da informao jurdica" Apresentao Se voc est lendo este texto porque gosta da associao entre direito e tecnologia. E ns lhe parabenizamos por isso. Este livro traz consigo uma discusso inicial: o que tecnologia da informao jurdica, e para que ela serve. O tema oriundo de um fenmeno multidisciplinar, fruto da aproximao de pesquisadores e profissionais de reas como a informtica, a cincia jurdica, a psicologia, a sociologia, a biblioteconomia, a administrao, a economia, a pedagogia, a engenharia e outras. As pesquisas esto se materializando e as discusses esto cada vez mais frequentes e intensas. Os debates sobre a autonomia epistemolgica de qualquer ramo da cincia sempre so muito interessantes, mas geralmente esto restritos ao crculo acadmico, e no atingem o pblico em geral. Se a tecnologia da informao jurdica possui ou no tal capacidade, saberemos no futuro. Por ora nos interessa saber que o fenmeno est ocorrendo, e que a contextualizao operada entre Lei e Justia, de um lado, e Realidade Virtual, Inteligncia Artificial e Internet, de outro, materializa excitantes temas a serem debatidos. Ento, tentamos resumir um pouco disso tudo para voc, neste livro eletrnico, atravs do esforo conjunto do IJURIS Instituto Jurdico de Inteligncia
e Sistemas (www.digesto.net/ijuris), e do PPGEP - Programa de Ps-Graduao em Engenharia de Produo e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina (www.eps.ufsc.br). Este texto possui algumas caractersticas: Foi concebido, desde sua primeira cogitao, para ser lanado no mundo digital. Nunca se pensou nele como um livro de "tomos", mas sempre como de "bits"; fruto de intensas discusses cientficas travadas durante as aulas do curso com o mesmo nome, ministrado no Programa da ps-graduao em engenharia de produo e sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina, nas reas de concentrao "inteligncia aplicada" e "mdia e conhecimento"; Possui em certo descompromisso com a metodologia tradicional de apresentao de obras, em razo de ter sido pensado e realizado em meio digital. Como os endereos eletrnicos dos autores constam dos textos, qualquer dvida de ordem metodolgica, referente a fontes de pesquisa e assuntos similares, pode ser dirimida diretamente com os mesmos, que so responsveis pelo contedo dos respectivos textos; Possui um perfil multidisciplinar, pois as discusses foram travadas em ambiente com tal caracterstica, em grupos de pesquisa que nunca estiveram restritos aos crculos do mundo jurdico. Isso ocorreu porque o tema central no pode, e nunca poder, ser considerado como propriedade acadmica de um nico e especfico ramo da cincia, seja ele o direito, a engenharia ou a computao. As solues cientficas para a sociedade hipercomplexa do novo milnio viro da multidisciplinariedade; Os textos aqui reunidos tratam de aspectos tcnicos sobre o desenvolvimento de ferramentas para a tecnologia da informao jurdica, bem como das implicaes jurdicas, ticas e polticas delas decorrentes. E se voc est lendo estes "bits", porque est engajado no mundo digital. De nossa parte, escolhemos este caminho porque temos apreo pela vida digital e pela facilidade que ela apresenta para este simples ato de divulgao cientfica. Florianpolis, 12 de outubro de 2000. Hugo Cesar Hoeschl, Msc, Tania Cristina D`Agostini Bueno, Msc, e Marcilio Dias dos Santos, Msc Organizadores. Lourdes da Costa Remor, Fbio Andr Chedid Silvestre, Eduardo Marcelo Castela, Orly Miguel Scheitzer, Marco Antonio Machado Ferreira de Mello, Walter Felix Cardoso Junior, Antonio Carlos Facioli Chedid, Ione Maria Garrido Lanziani e Mrcio Humberto Bragaglia Autores. Ricardo Miranda Barcia, PhD Orientador ELEMENTOS PARA APLICAO DE INTELIGNCIA ARTIFICIAL NO DIREITO Hugo Cesar Hoeschl
digesto@digesto.net 1. Introduo As tcnicas que constituem a tecnologia da informao, principalmente a telemtica e a internet, a inteligncia artificial e a realidade virtual, oferecem a possibilidade de desenvolvimento de diversas ferramentas que vo facilitar as tarefas dirias de formao e aplicao do direito. A instalao de redes, a emisso de sinais, a comunicao a distncia, o desenvolvimento de "softwares" especficos, a aplicao da telepresena, entre outras atividades, esto entre as muitas a serem desenvolvidas no cotidiano dos trabalhos jurdicos. Sero dedicadas algumas linhas aqui s possibilidades oferecidas pela inteligncia artificial e algumas de suas tcnicas, comparando-as, quando possvel, a figuras tradicionais do raciocnio jurdico, como, por exemplo, a analogia. Veja-se, ento, uma viso, introdutria e superficial, sobre como possa ser definida a inteligncia artificial (1): " Inteligncia artificial - artificial intelligence O campo da cincia da computao que busca aperfeioar os computadores dotando-os de algumas caractersticas peculiares da inteligncia humana, como a capacidade de entender a linguagem natural e simular o raciocnio em condies de incerteza. Muitos pesquisadores da inteligncia artificial admitem que a IA falhou em alcanar seus objetivos, e os problemas que impedem seu avano so to complexos que as solues podem demorar dcadas - ou at sculos. Ironicamente, as aplicaes da Inteligncia artificial que, antes, eram consideradas as mais difceis (como programar um computador para jogar xadrex ao nvel dos grandes mestres) acabaram sendo produzidas com razovel facilidade, e as aplicaes consideradas, a princpio, como mais tranqilas (como a traduo de Idiomas) tm-se mostrado extremamente complicadas. Contudo, as tentativas de dotar os computadores de inteligncia foram, sob certos aspectos, compensadoras: elas comprovaram a quantidade inacreditvel de conhecimentos que os seres humanos utilizam em suas atividades cotidianas, como decodificar o significado de uma frase falada. Douglas Lenat, pesquisador de inteligncia artificial que est tentando transportar para o computador uma boa parte de seus conhecimentos de vida, assinala que o computador no consegue decodificar plenamente nem trabalhar com frases como 'Sr. Almeida est em So Paulo' sem antes registrar uma infinidade de informaes como 'Quando uma pessoa est numa cidade, seu p esquerdo tambm est na cidade'. Se, algum dia, voc j acordou preocupado com a possibilidade de que os computadores estivessem ficando mais Inteligentes que os seres humanos, este exemplo servir para tranquiliz-lo". Fazer uso dessa tcnica e tentar desenvolver uma ferramentas computacionais dotadas de lgica, para auxiliar na tarefa do estudo de dados jurdicos, envolve um trabalho dificultoso, qual seja, analisar a forma escolhida pelo homem para se comunicar e materializar suas normas: a codificao da palavra em smbolos
abstratos e rigorosas regras gramaticais. Tal sistemtica relativamente recente, levando-se em conta a existncia humana, e, at a idade mdia, ainda estava limitada aos padres e eruditos. Eles entendiam a codificao, e a maioria das pessoas era analfabeta (2). Nos dias de hoje, o nmero de analfabetos ainda grande e ainda relativamente restrito - embora no tanto quanto antes - o universo daqueles que realmente dominam a tcnica da escrita. Vale lembrar que "a inveno e a difuso da tcnica da escritura, somada compilao de costumes tradicionais, proporcionam os primeiros cdigos da Antiguidade, como o de Hamurbi, o de Manu, o de Slon e a Lei das XII Tbuas"(3). Naqueles tempos, no surgimento das primeiras codificaes, estava em curso a maior mudana do direito ao longo de sua histria, quando se passou a considerar a escrita um mecanismo superior memria das pessoas para a armazenagem das normas(4), pelo simples fato de ser uma tcnica mais segura. Isso modificou profundamente o direito e as formas de organizao social, e os grandes sbios, lderes e tiranos deixaram de ser a fonte do direito, passando a ser intrpretes. Ou seja, o surgimento de uma nova tcnica de comunicao e registro de informaes foi o responsvel pela maior mudana at ento registrada no universo jurdico, e no, ao contrrio do que se possa imaginar inicialmente, a discusso de novos temas que foram surgindo com o passar dos anos. Ento, dada a posio atual da escrita nas formas de estruturao e armazenagem dos comandos do direito, o estudo e desenvolvimento de qualquer sistemtica de tratamento automtico e inteligente das informaes jurdicas envolve, basicamente, duas tarefas: 1. O TRATAMENTO DA LINGUAGEM NATURAL; 2. A BUSCA DE NOVAS TCNICAS DE ARMAZENAGEM. Na primeira, necessria a estruturao de um mecanismo que faa uma leitura de textos e, devidamente orientado, identifique uma srie de caractersticas relevantes para o utilizador, em algumas etapas especficas. Deve buscar referncias superficiais e estticas, como datas, nomes, nmeros, etc. Deve identificar assuntos, temas e subtemas. Deve, igualmente, detectar concluses e lies, destacando-as. Alm, claro, de outras funes. Na segunda tarefa, cabe indagar sobre o retorno s origens da linguagem. Explicando: as primeiras formas de escrita eram pictogrficas, e, no mbito computacional, o desenvolvimento de linguagens e interfaces est nos permitindo o uso de cones (formas pictogrficas) (5), um meio de comunicao mais confortvel e prtico do que a ortografia. Isso est nos permitindo idealizar um avano significativo na comunicao, segundo o qual "textos escritos vo dar lugar a imagens mentais que apresentam tanto objetos reais quanto simblicos e enfatizam a interao e a experincia em detrimento do aprendizado passivo." (6) (Destacado do original). 2. Inteligncia artificial X inteligncia natural
No sentido de se buscar, no plano prtico, essa evoluo anunciada, tem-se um poderoso referencial: a interseo entre a inteligncia natural - IN - e a inteligncia artificial - IA -, onde possvel tentar conciliar a velocidade de processamento da segunda e a sofisticao da primeira, como apontou EPSTEIN (7). A inteligncia artificial, dentro do contexto ora delimitado - sem prejuzo da definio j apresentada - pode ser entendida tambm, em uma tica ainda bastante primria, como "o conjunto de tcnicas utilizadas para tentar realizar autmatos adotando comportamentos semelhantes aos do pensamento humano", como apontou MORVAN (8). Sabemos que a IN perde para a artificial na capacidade de busca e exame de opes, mas superior em tarefas refinadas e perceptivas, como fazer analogias e criar metforas. Assim, um mecanismo que combine tcnicas de IN e IA, buscando uma adequada manipulao da linguagem natural, permite a identificao de idias dentro de um texto jurdico. Porm, importante enfatizar que um passo no sentido de se buscar, no corpo de um escrito, aquilo que uma pessoa "pensou", ou seja, suas idias e concluses, est teleologicamente ligado ao desejo de se buscar aquilo que uma pessoa realmente "sentiu" ao analisar o tema sobre o qual escreveu. 3. Figuras de raciocnio Vale frisar que a inteligncia artificial uma figura tpica da tecnologia da informao, praticamente moldada por ela. Para o delineamento da interseo apontada, vamos destinar breve ateno a algumas figuras ligadas inteligncia natural, como o raciocnio analgico, pr-existente aos computadores (9): Raciocnio analgico analogical reasoning Uma forma de conhecimento na qual a dinmica de um fenmeno do mundo real como a aerodinmica de um avio que se pretende construir compreendida a partir do estudo de um modelo do fenmeno. Uma das maiores contribuies da informtica foi reduzir o custo (e aumentar a convenincia) do raciocnio analgico. "O raciocnio analgico era comum antes do cumputador, conforme atesta o uso de maquetes de avies em tneis de vento. Como reduzem muito o custo do raciocnio analgico, os computadores provocaram uma verdadeira exploso de descobertas analgicas e, a propsito, no tempo certo. Os cientistas admitem, cada vez mais, que a maioria dos fenmenos do universo no se caracteriza pelas simples relaes do tipo f=ma que distinguem as grandes descobertas da fsica; pelo contrrio, os sitemas complexos como o sistema imunolgico humano, as sociedades humanas, a ecologia, o clima do mundo e a interao das estruturas cosmolgicas de grande escala se caracterizam por um comportamento no-linera e catico, que no pode ser descrito por equaes simples. Esses sistemas no podem ser entendidos por outros meios que no o raciocnio analgico. Ao permitir que a humanidade crie modelos analgicos de abrangncia sem precedentes, os
computadores possibilitaram o surgimento de uma nova cincia: a cincia da complexidade". Esse instituto, anterior aos computadores - como j dito - foi adequadamente incorporado pela tecnologia da informao, assim como o raciocnio baseado em casos. claro, sabemos, o raciocnio baseado em algum caso algo quase to velho quanto o hbito humano de "andar para a frente". Porm, aqui se trata de uma nova ferramenta da inteligncia artificial que utiliza tal nomeclatura, podendo ser definida como uma "metodologia", que tem como caracterstica bsica buscar em experincias passadas a melhor soluo para uma situao atual, aplicando o conhecimento j consolidado e cuja eficcia j foi validada. Tais procedimentos, derivados da tecnologia da informao, possuem semelhana evidente com uma tradicional figura do raciocnio jurdico, a analogia, um dos mais eficazes e pertinentes instrumentos de integrao dos comandos do direito. Segundo Bobbio (10): "Entende-se por analogia o procedimento pelo qual se atribui a um caso noregulamentado a mesma disciplina que a um caso regulamentado semelhante. . ............... "A analogia certamente o mais tpico e o mais importante dos procedimentos interpretativos de um determinado sistema, normativo: o procedimento mediante o qual se explica a assim chamada tendncia de cada ordenamento jurdico a expandir-se alm dos casos expressamente regulamentados." (Destacado do original) . A noo de utilidade indubitvel, e a delimitao da anlise da semelhana, ponto de contato entre os casos, necessria (11): "Para que se possa tirar a concluso, quer dizer, para fazer a atribuio ao caso noregulamentado das mesmas conseqncias jurdicas atribudas ao caso regulamentado semelhante, preciso que entre os dois casos exista no uma semelhana qualquer, mas uma semelhana relevante, preciso ascender dos dois casos a uma qualidade comum a ambos, que seja ao mesmo tempo a razo suficiente pela qual ao caso regulamentado foram atribudas aquelas e no outras conseqncias." (Destacado do original). Outras figuras assemelham-se ao contexto apresentado, como a interpretao extensiva e o silogismo., com as quais no pode ser confundida. O silogismo possui um mecanismo vertical de obteno de concluses, enquanto a analogia e a interpretao extensiva se valem de um recurso horizontal. Mas, mesmo que prximas e horizontalizadas, analogia e interpretao extensiva possuem significativa diferena entre si, apontada pelo mesmo autor (12): "Mas qual a diferena entre analogia propriamente dita e interpretao extensiva? Foram elaborados vrios critrios para justificar a distino. Creio que o nico critrio aceitvel seja aquele que busca colher a diferena com respeito aos diversos efeitos, respectivamente, da extenso analgica e da
interpretao extensiva: o efeito da primeira a criao de uma nova norma jurdica; o efeito da segunda a extenso de uma norma para casos no previstos por esta". Esta sutil diferena provoca um forte impacto sobre a atividade de construo e modelagem de sistemas inteligentes na rea jurdica, visto que a proposta no a construo de sistemas que gerem normas, mas que facilitem a sua aplicao (por enquanto...). A comparao dos institutos nos demonstra a importncia da anlise dos processos lgicos estruturados em torno do raciocnio de uma rea especfica, e nos demonstra, tambm, que a lgica tem muita contribuio a oferecer inteligncia artificial, residindo justamente a um dos mais fortes aspectos favorveis da interseo apontada entre IA e IN. 4. Concluso O somatrio dos instrumentos, espera-se, produzir bons resultados, e o comparativo tem a finalidade de demonstrar tal possibilidade, bem como a viabilidade das intersees, tando da IA com a IN, como das figuras de raciocnio derivadas da tecnologia da informao com aquelas particulares ao universo jurdico. Por fim, certa a necessidade de ateno produo de ferramentas, enfatizando que tal atividade - que gerar novos mtodos e tcnicas de armazenamento e manipulao de informaes - embora no seja diretamente ligada cincia jurdica, vai provocar fortes reflexos sobre o direito e a justia, como a escrita o fez. Referncias: 1.-PFAFFENBERGER, Bryan. Dicionrio dos usurios de micro computadores, p. 347. 2.-Conforme afirmao de Francis HAMIT, in "Realidade virtual e a explorao do espao ciberntico", p. 36. 3.-A assertiva de WOLKMER, in "Fundamentos de histria do direito", p. 20. 4.-Cf. SUMMER MAINE, citado por WOLKMER, ob. Cit., p. 20. 5.-Segundo constatao de HAMIT, ob. cit., p. 36. 6.-HAMIT, ob. cit., p. 226. 7.- IN "Ciberntica", p. 81. 8.-Citado por EPSTEIN, ob. cit., p. 66. 9.-PFAFFENBERGER, Bryan.Ob. cit., p. 572. 10.-BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurdico, p. 151.
11.-BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurdico, p. 151. 12.-BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurdico, p. 151. Proteo dos Direitos Autorais na Internet: uma questo jurdica ou tecnolgica? Lourdes de Costa Remor lu@saude.sc.gov.br Universidade Federal de Santa Catarina Estrutura: 1 - A Internet e a internacionalizao dos direitos autorais 2 - Histrico 3 - Proteo legal dos Direitos autorais na Internet: a difcil aplicabilidade 4 - Proteo Tecnolgica dos Direitos Autorais na Internet: a difcil aplicabilidade Exemplos de pases que possuem proteo legal e tecnolgica 5 - O futuro do direito autoral na internet - uma questo legal 6 - Concluso 7 - Bibliografia 1 - A Internet e a internacionalizao dos direitos autorais A experincia tem nos mostrado que a mudana ou a necessidade de mudanas gera no s desconforto, mas quase o pnico. Hoje, um dos meios que est propiciando e acelerando a mudana ou a passagem do mundo ps industrial para o mundo da informao essa rede, chamada internet. A internet ou o ciberespao derrubou fronteiras territoriais com suas caractersticas peculiares, sem dono, sem espao, sem bandeira, sem controle, at num certo anonimato. Tais caractersticas tm gerado preocupaes relativas aos direitos autorais, devido aos atributos da virtualidade da rede e tambm de seus usurios. A inexistncia de controle da rede, se por um lado, parece prejudicial ao autor, por outro, pode ser-lhe benfica, na medida em que consiste numa divulgao das obras com rapidez, abrangncia e baixo custo. Pode-se pensar que o aparente prejuzo seria, em muito, compensado pelas vantagens da propaganda. A internet nasceu sem pai e leva consigo as marcas desse parto, como a essncia mesma de seu processo. Um arranho a poderia descaracterizar, ou mesmo
impossibilitar o uso da rede, pois o usurio j est habituado a essa relativa liberdade, e o seu sucesso talvez dependa disso. Contudo, essa relativa liberdade proporcionada pela virtualidade e um certo anonimato, no foi a causa das violaes relativas aos direitos autorais, visto que, a pirataria (atividade de copiar sem nenhuma autorizao nem pagamento) praticada, hoje, no privilgio ou malefcio nico da internet. Ela existe tanto dentro quanto, fora da internet. Sabe-se que o prejuzo patrimonial, referente infrao do direito autoral, nos casos de pirataria, muito maior para o atravessador do que para o autor. Nessa discusso, o direito moral da propriedade parece no ser muito considerado. O plgio, outra preocupao relativa difuso de obras na internet considerado tambm uma violao do direito autoral. Tanto o plgio como a pirataria no so frutos da internet. Combat-los, preservando o direito do autor, deveria ser uma preocupao de longo tempo e no somente direcionado internet Henrique Gandelmann, cita que "vrios estudiosos de literatura confirmam que Shakespeare, em sua dramaturgia, utilizava temas e personagens e at mesmo a linguagem expressa nos dilogos, de outros autores, alterando seus textos, criando os personagens que j existiam." [Gandelmann, 1997, p.48] "Pesquisas recentes comprovam que Galileu utilizou, em seus trabalhos, anotaes provenientes de seus professores do Colgio Romano, que ele freqentou."[Gandelmann, 1997, p.48.] Como pensar o conceito de criao atribudo ao autor? O autor quem criou, inventou ou descobriu? Jacques Lacan, em seu seminrio 23, trata da criao como sendo a "chamada divina". senso comum entre os psiclogos que o que se chama criatividade, no passa de uma impreciso fraseolgica, de que, a rigor, a criatividade no existe. Aurlio Buarque de Holanda Ferreira, traz no verbete criador, como substantivo masculino: aquele que criou; Deus, entre outras. Portanto esse conceito parece mais ligado a ordem do divino do que a do humano. Assim, na impossibilidade de considerar o autor como criador, pode se pensar que tamanho rigor com relao ao plgio, deveria merecer maior ateno, visto que, supostamente, na natureza nada se cria, conforme o clebre dito de Lavoisier. Com referncia contrafao, ou seja, a falsificao de produtos, de valores, assinaturas, ela j existe e combatida legalmente fora da internet. O delito aqui citado continua sendo o mesmo, o que mudou foi o meio em que ele praticado, ou seja, o meio virtual, que dificultou a sua localizao, identificao e conseqente aplicao da lei. H legislaes, brasileira e internacional, os chamados Tratados Internacionais, que tratam exclusivamente dos direitos autorais. Criar outras leis ou acordos no acrescentariam maior proteo aos direitos autorais. A questo no falta de legislao aplicabilidade destas leis na virtualidade dos meios. A Lei Brasileira do Direito Autoral, Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, concede proteo legal ao direito autoral, independente de registro, bastando
para tal, a obra ser fruto de capacidade criativa e tenha o requisito da originalidade. Quanto aos Tratados Internacionais, "A legislao autoral cobre qualquer meio de comunicao, existente ou que venha a ser inventado, ressalvando assim o aspecto legal dos direitos autorais. Ela tem como referncia e objeto as obras de esprito, seja qual for o meio de fixao e transmisso, tendo vocao universal, amparada em convenes que envolvem todos os paises do mundo."[Plnio Cabral, 1999] O Brasil faz parte de importantes Tratados Internacionais. E, por esse motivo, os direitos autorais, no Brasil, do ponto de vista legal, teoricamente no esbarrariam com o ilimitado espao territorial alcanado pela internet. 2 - Histrico O surgimento de problemas ou preocupaes relativos aos direitos autorais bastante antigo. Nos tempos romanos as obras eram reproduzidas por meio de manuscritos, e apenas os copistas eram remunerados pelo seu trabalho. Aos autores s lhe eram reconhecidas honras e glrias quando lhe respeitavam a paternidade e a fidelidade do texto original. Havia o direito natural referente as obras. Com a inveno da impresso grfica, no sculo XV, surge o problema da proteo jurdica do direito autoral, principalmente no que se refere a remunerao.[Gandelmann, 1997, p.28.] Na Inglaterra, desde 1662, com Licensing ACT, era proibida a impresso de qualquer livro no registrado devidamente. Era uma forma de censura. O copyright comea a ser reconhecido na Inglaterra com o "Copyright ACT", de 1709, da rainha Ana. A coroa protegia por 21 anos, as cpias impressas e por 14 anos as cpias no impressas. O prazo de proteo contava da data da impresso. [Gandelmann, 1997, p.29.] Na Frana, a revoluo francesa de 1789, acrescenta a primazia do autor sobre a obra. A Proteo se estende por toda a vida do autor, e at mesmo aps a sua morte, transferindo-se todos os direitos para seus herdeiros. [Gandelmann, 1997, p.30.] No Brasil, a primeira manifestao a respeito encontra-se na Lei de 11 de agosto de 1827, que instituiu os cursos jurdicos no Brasil. Em 1830, com a promulgao do direito criminal, surgiu a primeira regulamentao geral da matria , no Brasil.[Gandelmann, 1997, p.31.] Tratados Internacionais: "A dramtica e dinmica exploso tecnolgica dos meios de comunicao do mundo moderno, com a difuso das obras intelectuais cada vez mais internacionalizada, criou a necessidade de se proteger o direito autoral em todos os territrios do planeta. Tal fato deu origem aos tratados internacionais, nos quais se busca dar aos autores e titulares dos paises aderentes aos convnios a mesma proteo legal que cada pas d a seu autor ou
titular nacional." [Gandelmann, 1997, p.33.] 3 - Proteo legal dos Direitos autorais na Internet: a difcil aplicabilidade A veiculao e divulgao de informao de alcances territoriais ilimitados chegou com a criao da internet. Com ela tambm chegaram alguns problemas. Um deles seria a garantia dos direitos autorais num veculo sem territrio. Para Stuber "A territorialidade sempre foi um dos elementos essenciais para a aplicao do Direito, sendo um dos princpios da Soberania dos Estados contemporneos, o reconhecimento do poder de aplicao do direito nacional de um Estado, dentro de seu prprio territrio." A descentralizao uma das caractersticas da internet, j que no existe um rgo que controle o fluxo, nem o contedo das informaes que circulam pela rede. A informao pode ser lanada na rede, passar por vrios servidores e percorrer vrios paises at chegar no destinatrio final.[ Stuber, 1998] Da surgem as dvidas sobre a responsabilidade das violaes dos direitos autorais na internet, tais como: a responsabilidade das violaes do servidor de acesso, ou de quem incorpora contedo e os transmite? possvel que o servidor, no qual o contedo pirateado esteja armazenado, se localize em determinado pas; o servidor por cujo intermdio ele anunciado, em outro; e o vendedor, num terceiro. [Gandelmann, 1997, p.162.] Na Web, a identificao s possvel para o provedor e seus clientes, mas o usurio mesmo pode ser qualquer pessoa fsica ou jurdica, em qualquer lugar do mundo. A Compuserve, talvez o maior provedor de acesso do mundo, foi obrigada a desconectar cerca de 200 clientes da rede porque veiculavam matria pornogrfica, por deciso de um tribunal alemo. [Gandelmann, 2000] Ainda que no garantam a proteo dos direitos autorais, devido as caractersticas da internet, existem os tratados internacionais que tratam de legislao especfica no esforo de cobrir o maior espao territorial possvel. "A adeso de vrios paises aos tratados internacionais sobre a proteo dos direitos intelectuais, dentre eles, os mais importantes, a Conveno de Berna de 1886 (obras literrias e artsticas) e a Conveno Universal dos Direitos do Autor (Conveno de Genebra), os direitos autorais recebem um tratamento mais ou menos homogneo em todo o mundo." [STUBER, 1998] " necessrio, no entanto, que os paises aderentes aos tratados internacionais, alm das adaptaes que os mesmos esto a exigir, faam tambm alteraes nas suas legislaes internas. S assim os titulares de direitos autorais de um determinado pas tero os seus direitos assegurados nos outros, e vice-versa." [GANDELMAN, 1997, p.164.] No Brasil, a proteo legal aos direitos autorais abrangente - basta que a obra tenha o requisito da originalidade, que seja produto da capacidade criativa
do artista, para merecer a proteo dos direitos autorais. Por exemplo, nos Estados Unidos, h a exigncia do registro da obra para que ela tenha proteo jurdica.[Stuber, 1998] A no exigncia de registro da obra para a concesso do direito autoral no Brasil de certa maneira, uma medida inteligente e que vale pensar para a proteo na internet. O fato da ausncia do registro da obra, nunca tirou do autor a primazia de seu direito, visto que, mesmo das obras antigas, conhecemos seu autor, ainda que criadas antes da impresso grfica. A disponibilizao de obras, na forma digitalizada, no retira o direito da sua autoria, ela continua a ter vigncia no mundo on line da mesma maneira que no mundo fsico, embora o autor levanta um aspecto sobre a definio jurdica da transmisso eletrnica de obras protegidas pelos direitos autorais, se ela uma reproduo ou distribuio? [Gandelmann, 1997, p.154 e 162] 4 - Proteo Tecnolgica dos Direitos Autorais na Internet: a difcil aplicabilidade Alm das leis existentes e em vigor, existem outras formas de proteger o direito autoral, na internet. So medidas tecnolgicas, que dificultariam o acesso do usurio s informaes. Uma delas seria a "utilizao de 'tatuagens' do objeto digital, um tipo de marca ou sinal que acompanhe o objeto digital e seu contedo de forma a permitir a verificao de novas cpias, adaptaes, transmisses, etc."[Santos, 1999] A Elaborao de cdigos de acesso s informaes, as chamadas "chaves" eletrnicas, sem as quais o receptor no poder ler ou reproduzir, uma outra forma. Criptografia, uma escrita enigmtica, permite codificar uma informao de forma a tornar difcil sua decodificao sem a chave adequada. Uma outra medida seria, inserir no material disponvel na rede, mensagens evidenciando a necessidade do pagamento dos direitos autorais, no caso de uso e reproduo (acordo de cavalheiros).[Stuber, 1998] Levantam-se questes: essas medidas tecnolgicas no atentam contra a liberdade de informao? A essncia mesma da internet no estaria na caracterstica da liberdade individual mais do que na do controle, j que no tem dono, nem patres, nem controladores? Se reprodues sem permisses acontecem fora da internet, porque acreditaramos que ela funcionaria para a internet? Podemos perguntar sobre a legalidade da exigncia de que todo usurio de criaes intelectuais disponibilizadas no ambiente digital, seja obrigado a se identificar, e que os objetos digitais assim fornecidos, possam ser posteriormente localizados, sem se ferir o direito privacidade do cidado? [Santos,
1999] Manoel Pereira dos Santos cita a sustentao de alguns sobre a inexistncia de tecnologia segura que permita associar aos arquivos digitais, licenas e condies de uso que subsistam aps a disponibilizao digital da obra, de forma a controlar usos derivados posteriores. Acrescenta ainda que h uma tendncia no sentido de priorizar as medidas legais como a melhor forma de combater os usos no autorizados, na rede. [Santos, 1999] Exemplos de pases que possuem proteo legal e tecnolgica (Comrcio eletrnico) Irlanda : Existe proteo legal e tecnolgica, no comrcio eletrnico Legal: O regime de comrcio eletrnico da Irlanda muito flexvel e orientado para o consumidor domstico tanto quanto as empresa. A abordagem utilizada na legislao e regulao das atividades de comrcio eletrnico foi pautada por um critrio de "neutralidade tecnolgica", ou seja, um regime que permitisse a rpida adoo das transaes comerciais via internet atravs da validao de assinaturas eletrnicas. Contratos e assinaturas realizadas via internet, so cobertos por legislao formal que d plena garantia aos termos firmados, assegurando os negcios conduzidos pelas empresas do ramo. Tecnolgica: Atravs da criptografia. A orientao adotada foi balanar 4 elementos cruciais na questo da privacidade da informao. 1 - A preservao dos direitos individuais privacidade 2 - A necessidade de garantir a segurana nas comunicaes 3 - As exigncias das Agncias governamentais 4 - O desenvolvimento da indstria criptogrfica na Irlanda. Assim, a regulao irlandesa garantiu aos indivduos a capacidade de escolherem o mtodo de criptografia preferido, permitindo a produo, implantao e o uso de produtos criptogrficos sem quaisquer restries legais. A exportao de produtos criptogrficos regulada por sua vez, de acordo com a legislao da unio europia, de modo que o regime jurdico adotado na Irlanda segue o chamado "Acordo de Wasenaar", que regula a proteo da privacidade nas transaes eletrnicas em toda a Europa.[Camarero, 2000] Alemanha: Nos Estados Unidos, a assinatura digital j foi reconhecida, agora a Alemanha reconhece a validade jurdica das assinaturas eletrnicas na internet, 16/08/2000 - Berlim. Os contratos firmados no comrcio eletrnico, atravs da internet, tero a mesma validade legal na Alemanha que os contratos comerciais impressos, segundo um projeto de lei aprovado esta quarta- feira, pelo governo. (Esta notcia circulou no UOL, em 16/08/2000)
5 - O futuro do direito autoral na internet - uma questo legal O futuro sempre desconhecido. Entretanto, de se pensar no que houve com a inveno da fotocpia. Falava-se, poca, que o comrcio dos livros seriam prejudicados, ou at que a maioria das obras seriam apenas reproduzidas, sendo que os direitos autorais estariam correndo grave perigo. A situao da fotocpia, por baixos preos, se instalou, proliferou e, hoje foi superada pelo computador, antes mesmo de ser resolvida. Ser este tambm o destino dos direitos autorais na internet? Outro fato, levantado por alguns autores, de que a cpia ou a reproduo de obras acessadas gratuitamente, via internet, poder diminuir a produo intelectual. Isso no parece fazer sentido, posto que a reproduo intelectual j era possvel por outros meios e nunca desfavoreceu a produo. Uma talvez menor margem de lucro poderia ser compensada pela propaganda. Vale lembrar que o conhecimento difundido se reproduz, e no diminui. Quanto proteo do direito autoral, a aplicao da legislao existente, parece, no momento, no ser suficiente, contudo ela seria a mais adequada visto que a aplicao de mecanismos tecnolgicos que propiciem um alto grau de segurana podem traduzir tambm um alto custo. Isto posto, o encarecimento do processo, inviabilizaria a difuso da informao e descaracterizaria a essncia da internet. 6 - Concluso O homem, diferentemente dos animais, dotado de razo, mas em situaes conflitantes age de maneira irracional, s vezes imprevisvel. O surgimento das questes do direito autoral na internet tem levado o homem a pensar nas diversas maneiras de proteger esse direito, esquecendo de priorizar a legislao existente, que j concede ao autor essa proteo. Essa preocupao exacerbada em controlar, mais do que uma defesa de direitos, mostra-se uma imposio de poder. mesmo de se estranhar, que o homem no seu narcisismo, suportasse por um perodo de tempo significativo uma rede de comunicao na qual no houvesse hierarquia vertical, onde no houvesse comandantes e comandados subordinados. Por isso a caricata preocupao de saber quem controla, de no entender que o mundo virtual no est em nenhum lugar e ao mesmo tempo est em todos os lugares, realmente conflitante com a sua soberba. O homem parece no conviver bem com enigmas e abstraes, avesso ao que no compreende, por no admitir que existam coisas alm da sua capacidade de compreenso. Se o mundo do Direito concede proteo ao autor, das obras difundidas na internet, porque o bloqueio tecnolgico, que descaracterizaria a rede? Segundo Domenico De Masi, h perigos no progresso tecnolgico, porm pesam mais os seus aspectos positivos.[De Masi, 2000, p.77.] A grande incgnita relativa aos direitos autorais se ela emana dos autores ou do chamado atravessador, que deixaria de ter grandes margens de lucro, por intermediar as vendas.
A histria mostrou que, independente de registro, proteo legal ou tecnolgica, o reconhecimento moral do direito autoral sempre existiu. Parece que a preocupao em proteger os direitos autorais meramente comercial. Outras vantagens, outros meios havero de ser reconhecidos que compensaro a aparente perda causada pela internet. No seremos ns, a nossa gerao, o retrocesso da tecnologia. 7 - Bibliografia 1. CABRAL, Plnio. "Problemas relativos a direitos autorais na obra multimdia". In: Revista da ABPI, n 42, set/out/99. p.38-47. 2. CAMARERO, Erik. "Todo mundo fala em internet, mas a Irlanda faz". www.revistadigital.com.br/radar/06012000.htm, 06/01/2000, em 10/07/2000. 3. DE MASI, Domenico. O cio Criativo. Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 4. GANDELMAN, Henrique. De Gutemberg Internet: direitos autorais na era digital. Rio de Janeiro: Record, 1997. 5. GANDELMAN, Slvia Regina Dain. A Propriedade intelectual na era digital - a difcil relao entre a internet e a lei. In: WWW.gilbertogil.com.br/humus/hu_sg.htm, em 18/08/2000. 6. LACAN, Jacques. Seminrio 23. El Sinthoma. "El snthoma y el padre". Classe 1, de 18/11/75. Indito. 7. SANTOS, Manoel J. Pereira. "A proteo e o exerccio dos direitos autorais sobre obras intelectuais e fonogramas no comrcio eletrnico". In: Revista da ABPI, n 42, set/out/1999. p.48-59. 8. STUBER, Walter Douglas e FRANCO, Ana Cristina de Paiva. "A Internet sob a tica jurdica". In: RT 749. v. 749, mar/98. p. 60-81. Direito, Tecnologia e Qualidade Tnia Cristina D'Agostini Bueno bueno@eps.ufsc.br "O nosso universo intelectual comum entrou num processo de fuga, de rejeio do mundo romntico e irracional do homem pr- histrico. Desde antes de Scrates foi necessrio rejeitar as paixes, as emoes, para liberar o raciocnio, com o objetivo de compreender a ordem da natureza, at o momento desconhecido. Agora tempo de aprofundar o conhecimento sobre a ordem natural, atravs da recuperao daquelas paixes, originalmente rejeitadas. As paixes, as emoes, e o universo afetivo da conscincia humana tambm fazem parte da ordem natural. Alis, so o cerne dessa ordem". Robert Pirsig Resumo
A perfeio atingida pelos crebros eletrnicos a muito tempo saiu das pginas da fico cientfica e est sendo absorvida pela realidade. Banco de dados, sistemas especialistas e principalmente a inteligncia artificial esto contribuindo para a formao de um Poder Judicirio mais clere, eficiente e, seguramente mais justo. Entretanto, somente a informatizao no ser capaz de provocar as mudanas a muito requeridas pela sociedade. necessrio uma atuao mais efetiva que substituir a mquina de escrever pelo computador, necessrio reestruturar a Justia utilizando-se dos novos parmetros da sociedade tecnolgica. O presente estudo procura apenas apresentar aspectos da questo tecnolgica sobre a mente humana e suas conseqncias para o mundo jurdico, sob a tica da concluso atingida por Robert M. Pirsig, em seu livro "Zen e a Arte da Manuteno de Motocicletas". Nele o autor joga o impasse filosfico que existe entre a mente e a matria para cima daquilo que ele denomina qualidade: "um evento que torna possvel a inter-relao sujeito-objeto, uma ferramenta do pensamento indispensvel para a compreenso do verdadeiro papel da tecnologia na vida do homem" e, deduz que a viso que o homem tem do mundo - realidade - no obtida pelo desenvolvimento do mtodo cientfico, mas pela viso dessa "qualidade", que um "a priori" do qual deriva a mente e a matria. Introduo Existe uma incompatibilidade entre razo e sentimento, que revela algo profundamente arraigado na mentalidade do homem ocidental, refletindo de uma maneira negativa no relacionamento entre o homem e a tecnologia, algo que o esta destruindo lentamente. Descobrir a origem, ou melhor os fundamentos filosficos desta crise, um modo de eliminar aquilo de podre que ainda constitui a mentalidade do chamado homem "moderno". Na busca de uma orientao filosfica para a questo e empurrados pelo trabalho recente na neurocincia e na inteligncia artificial, filsofos tentam como nunca, resolver a antiga questo da dualidade corpo e mente, perguntando se h realmente uma distino entre ambos e como se processa a interao. A perspectiva materialista est enraizada na filosofia naturalista: como parte da natureza, os homens so objetos da cincia e cada fenmeno humano, incluindo a experincia subjetiva, tem uma causa material. Filsofos como Paul Churchland e Mr. Dennett, freqentemente anunciam que o mistrio da conscincia est resolvido: o crebro para mente, como um computador para o processamento [The economist, (1996)]. Inobstante, talvez por respeito a mente, esta perspectiva ainda um projeto no um resultado, pois mesmo se a computao prever um bom modelo de pensamento, poderia ser ele o certo para o sentimento e experincia? Como poderia a atividade cerebral ser tudo o que existe nos sentimentos de remorso ou nas sensaes de cor? Questes como essas devem ser colocadas com nova veemncia, ou cruis verses do materialismo sero redescobertas. O objetivismo da cincia j no serve para resolver questes que o homem sabe serem reais. to falho como qualquer outro processo do conhecimento. O raciocnio dualista (objetivismo) dominou o homem civilizado de maneira tal, que quase eliminou as outras opes. E essa a origem de todas as queixas.
No direito, a viso positivista, ou seja, o direito como cincia jurdica, nos legou um poder judicirio distante e ineficiente. Este fato que nos levou a concluso que a justia no simplesmente a aplicao da lei e o juiz no imparcial na sua deciso. O universo afetivo que envolve o caso acaba se manifestando, seja na forma da ideologia dominante, seja em forma de discursos retricos que podem ou no ser decises justas. Ento, torna-se primordial reconhecer que para atingirmos a to esperada justia - que muitos buscam nos tribunais, necessrio dar ateno a este universo afetivo que envolve os casos. Pois, partindo deste reconhecimento, ser possvel utilizar as tecnologias necessrias para a aproximao das pessoas envolvidas na relao jurdica e tornar o judicirio mais efetivo e eficiente. Este o primeiro passo para uma viso de qualidade como resposta para o equilbrio das relaes no universo jurdico, onde justia poder ser sinnimo desta qualidade. A seguir, veremos como Pirsig busca a "qualidade" e como ela pode trazer solues para a estruturao de um papel real e efetivo do direito e da tecnologia na sociedade. Razo x sentimento A lgica tradicional, imposta pela racionalidade do homem ocidental como nico modo para se conhecer a realidade, revelou uma certa incompatibilidade entre razo e sentimento (corpo e mente), que refletiu de uma maneira direta no relacionamento do homem com a mquina, impedindo-o de compreender integralmente o que seja essa tecnologia - no uma explorao da natureza, mas uma fuso entre a natureza e o esprito humano, numa criao que transcende a ambos. Quando a lgica tradicional divide o mundo em sujeitos e objetos , est expulsando dele a qualidade. Ento, ao romper com as barreiras do pensamento dualista para preencher esse vcuo racionalista, Pirsig procurou destruir a base da estrutura do conhecimento ocidental, construindo um pensamento antiaristotlico. E a, atravs de uma importante ligao entre as filosofias ocidentais e orientais, entre o misticismo religioso e o positivismo cientfico, que ele encontra uma sada para esse estilo de vida tenso, supermoderno, individualista e egosta, que pensa ter dominado o mundo. Ento, utilizando a motocicleta apriorstica de Kant - filsofo que ele considera, entre os montanhistas modernos, aquele que atingiu um dos mais altos cumes das montanhas do pensamento - Pirsig inicia a sua busca ao conceito de qualidade, principalmente porque para Kant, a racionalidade de um conhecimento no reside no objeto que se estuda, mas no modo como se tenta conhec-lo [Warat, (1995)]. Na sua tese, Kant considerou os pensamentos apriorsticos independentes dos dados sensoriais. Infelizmente, Pirsig considera este pensamento dualista a razo da atual crise social, uma priso intelectual da qual o raciocnio de Kant tambm faz parte, resultado de um defeito gentico da razo. Razo que o homem moderno descobriu ser cada vez mais inadequado para lidar com suas experincias cotidianas, pois a satisfao de seus desejos no funcionavam de acordo com as leis da lgica.
Tal relao entre a Qualidade e o mundo objetivo poderia parecer misteriosa, mas no o que ocorre, ao colocar a qualidade como a essncia da realidade, desencadeou-se, para Pirsig, uma nova sequncia de analogias filosficas. Hegel j havia se referido a isso com o seu conceito de Esprito Absoluto, que tambm era independente da objetividade quanto da subjetividade, era a origem de tudo, mas excluiu a experincia romntica desse tudo. A partir da nada mudou, e tudo mudou, isto , mudou-se a viso apriorstica, os fatos eram os mesmos, mas os resultados no. Como aconteceu com a revoluo copernicana. Na busca deste conceito de Qualidade, o autor descobriu vrios caminhos que partiam da vereda principal, levando a um mesmo ponto. Desembocou na Grcia Antiga. A grande questo como adentrar nos universos ultra-racionais, sem o medo de cair no finisterra, como eliminar a analogia existente entre a razo moderna e o pensamento medieval da terra chata . O retorno ao pensamento mtico e a origem da qualidade Existem questes que preocupam o homem "moderno" mais que outras. Notamos a incrvel evoluo tecnolgica que surpreende a humanidade, superando aquilo que o maior motivo de orgulho do homem, ou seja, a sua racionalidade. Por outro lado, essa mesma racionalidade se torna cada vez mais inadequada para lidar com nossas experincias cotidianas, e isso est gerando um ingresso em reas irracionais do pensamento - ocultismo, misticismo, experincias com drogas e coisas semelhantes. Na sociedade moderna, cada vez mais a tecnologia faz parte do nosso cotidiano, ela amarra nossas relaes e torna-se parte indispensvel da nossa vida. No entanto, subexiste um grande desconforto em relao a essa mesma tecnologia, ao ponto de gerar um certas pessoas uma completa averso a qualquer mecanismo um pouco mais complexo. Mas, retornemos Grcia Antiga, ponto no qual encontraremos a base do pensamento racionalista ocidental, onde iniciou o processo de desligamento entre a filosofia e o pensamento mtico [Aranha et al, (1993)]. O argumento da preponderncia do mythos sobre o logos afirma que a nossa racionalidade moldada por lendas, que o conhecimento atual est para essas lendas assim como uma rvore est para o pequeno broto que j foi. A diferena no est no tipo, nem na identidade; est apenas nas dimenses. A Qualidade que Pirsig fala se situa alm dos limite do mythos . a Qualidade que gera o mythos. "A Qualidade o estmulo contnuo que nos faz criar o mundo em que vivemos, na sua integridade, nos mnimos detalhes. O homem inventa respostas Qualidade, e entre essas respostas est a compreenso do que ele mesmo . Sabe-se alguma coisa, vem o estmulo da Qualidade, a gente tenta trabalhar com aquilo que j sabe. O estmulo uma correspondncia daquilo que j se sabe.
A pergunta "o que qualidade?" havia sido lanada na filosofia sistemtica, abrindo um segundo caminho rumo Grcia Antiga. A filosofia sistemtica grega, as origens da dvida sobre a autenticidade da qualidade tinham que estar localizadas em algum ponto da Antigidade grega. O mundo nem sempre acreditou na superioridade do esprito. A idia de que a mente uma questo de segunda categoria muito antiga. A crena que a matria a base e a mente veio posteriormente ou sobre o topo era a favorita dos primeiros gregos. Isto cansou Plato que insistia que aquelas pessoas tinham almas que sobreviviam morte do corpo. Aristteles ops-se a esta separao entre mente e corpo, impondo uma potente imagem de uma mente com forma e estrutura, retornando ao atomismo de Demcrito, que sustentou que a alma era feita de matria. Plato desprezava os retricos. Ao estudar a razo de tal abominao, Pirsig, chegou a concluso de que o dio que Plato voltava aos retricos fazia parte de um conflito muito mais amplo, no qual a realidade do Bem, representada pelos sofistas, e a realidade da Verdade, representada pelos dialticos, lutavam sem trguas pela posse da mente humana. Como a Verdade venceu o Bem, hoje podemos facilmente aceitar a realidade da Verdade e dificilmente aceitar a da Qualidade. Quando se vai apresentar uma idia nova num ambiente acadmico, age-se objetivamente, sem se envolver com ela. Mas a idia de Qualidade questionava justamente essa objetividade e esse desinteresse, maneirismos apropriados apenas razo dualista. Alcana-se a qualidade dualista atravs da objetividade; mas com a qualidade criativa, diferente. A voz analtica da razo dualista Na tradio aristotlica, interpretada pela escolstica medieval, o homem considerado um animal racional, capaz de buscar e definir uma vida adequada, e tambm de viv-la . Ao ler Aristteles, Pirsig concluiu que o mesmo estava incrivelmente satisfeito com a proeza de identificar e classificar tudo. O mundo aristotlico comeava e terminava com tal proeza. Pirsig adverte: se voc entrar em uma das centenas de milhares de salas de aula de hoje e ouvir os professores fazerem divises, subdivises, estabelecerem relaes e princpios e estudarem "mtodos", ser o mesmo que escutar o fantasma de Aristteles, que fala atravs dos sculos - voz analtica da razo dualista. A substncia no muda. O mtodo no permanece. Um sistema complexo pode ser descrito de forma adequada primeiro em termos de suas substncias: seus subsistemas e peas que o compem. Depois, ele descrito em termo dos mtodos: das funes que desempenha, em ordem. A qualidade no uma substncia. Tampouco um mtodo. o objetivo que o mtodo visa alcanar. Quando tudo se divide em substncia e mtodo, assim como em sujeito e objeto, j no h mais lugar para a Qualidade. O Direito tornou-se cincia, perdeu-se o sentido da Justia, o objetivo a lei. O juiz no decide mais sobre a vida de pessoas, mas se uma norma se aplica
ou no num determinado caso. Usar recursos tecnolgicos onde no h lugar para sentimentos, caminhar para as previses mais cruis sobre uma sociedade tecnolgica. O papel da qualidade criativa ser criar um ambiente jurdico onde a tecnologia ser utilizada para valorizar o seu humano, diminuindo os entraves burocrticos, a corrupo e principalmente a incompetncia. Concluso Importantes transformaes, antes impensveis pelos tericos do direito, esto ocorrendo no mundo jurdico. A tecnologia informtica est provocando mudanas estruturais no ensino do direito, na organizao judiciria e, principalmente, em alguns princpios fundamentais da teoria jurdica, pois os velhos conceitos jurdicos no serem suficientes para compreender os novos fatos que o complexo mundo ciberntico comeam a provocar. No entanto, a evoluo s ser possvel se a tecnologia informtica empregada for orientada para a busca da qualidade criativa, pois, seno tivermos uma orientao terica neste inevitvel envolvimento do Direito com a informtica, num futuro no muito distante estaremos a merc de sistemas informticos mal estruturados, no qual os sentimentos de uma sociedade sero considerado de pouca relevncia na elaborao final das leis, sentenas e destino de toda humanidade. A "qualidade" poder ser a ponte de ligao entre o direito e a tecnologia, pois sem qualidade a tecnologia nada mais que um amontoado de bits dentro de um amontoado de peas mecnicas, coisa que, substncialmente, para quem busca a Justia pouco significa. Bibliografia PIRSIG, Robert M. Zen e a arte da Manuteno de Motocicletas : uma investigao sobre valores. Traduo de Celina Cardim Cavalcanti. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. Science does it with feeling. The economist. july 20th 1996,. p.71 a 73 WARAT, Luis Alberto. O Direito e sua Linguagem.. 2a verso. 2 ed. Sergio Antonio Fabris Editor. Porto Alegre. 1995. ARANHA, Maria Lcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena . Filosofando: introduo filosofia. 2 ed. rev.. SoPaulo : Moderna, 1993, p.67. SIGILO, PRIVACIDADE E INTERCEPTAO NAS COMUNICAES DE DADOS. Orly Miguel Schweitzer orlyms@zaz.com.br RESUMO
A intensa evoluo das comunicaes de dados vem apresentando uma constante necessidade de regulamentao ou de adaptao s normas legais j existentes em todo o universo, respeito do sigilo, privacidade, interceptao e tica nas comunicaes de dados. Este artigo aborda como estas questes esto sendo tratadas no Brasil e em outros pases. INTRODUO As comunicaes de dados, notadamente pela Internet, avanaram fronteiras entre os pases caracterizando a mundializao das informaes virtuais, implicando na necessidade de medidas regulatrias em cooperao internacional e em organismos de carter supranacional. No entanto, considerada a globalizao da informao virtual torna-se difcil a possibilidade de ser conseguido um sistema que substitua a necessidade de educao, pedagogia e informao dos cidados tanto em relao s implicaes de seus atos como em relao aos seus deveres, e ainda sobre a necessidade de garantir a uns e de observar a outros. Para tanto, a administrao pblica federal, estadual, e municipal dever oferecer condies de acesso e mtodos de obteno de informaes bem como a garantia do sigilo e privacidade naquelas prestadas aos rgos pblicos pelas pessoas - naturais e jurdicas - nas informaes administrativas pela via eletrnica, nos procedimentos j existentes. A exemplo de outros pases, no Brasil, a legislao tributria j obriga, ou possibilita em alguns casos, que um grande nmero de procedimentos de natureza fiscal e tributria sejam prestados via Internet, tanto a nvel federal como estadual, a exemplo da declarao ao imposto de renda das pessoas jurdicas e das pessoas fsicas, obteno de certido negativa federal, informaes econmico-fiscais estaduais, etc. A interligao entre os diversos rgos da administrao pblica atravs da Internet que assegure a prestao de informaes com as empresas e os cidados dever garantir o respeito pela privacidade individual, pelos direitos das empresas e instituies privadas e pela prpria segurana do Estado. Surge ento, a necessidade de se criar meios que possibilitem a segurana da informao, a garantia da privacidade e a possibilidade de cobrana de servios, a exemplo, neste ltimo caso, dos cartes bancrios. No entanto, h que se assegurar de que tais medidas no venham se caracterizar em censura. PROTEO DO SIGILO E DA PRIVACIDADE NAS COMUNICAES DE DADOS DOS INDIVDUOS, DAS EMPRESAS E DAS INSTITUIES, SEM IMPOSIO DE CENSURA. O direito privacidade, no Brasil, est assegurado na Constituio Federal, em seu artigo 5, incisos X e XII, que expressam: "Inciso X - so inviolveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenizao pelo dano material ou moral decorrente da sua violao;"
"Inciso XII - inviolvel o sigilo da correspondncia e das comunicaes telegrficas, de dados, e das comunicaes telefnicas, salvo, no ltimo caso, por ordem judicial, nas hipteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigao criminal e instruo processual penal;" (o destaque no consta do texto legal). No entanto, o mesmo dispositivo legal, expressa outros direitos, que a primeira vista se contradizem queles citados anteriormente, porm, aps pequenas consideraes constata-se que no se contrapem. O mesmo artigo 5 do texto constitucional, tambm garante: "IV - livre a manifestao do pensamento, sendo vedado o anonimato;" "IX- livre a expresso da atividade intelectual, artstica, cientfica, e de comunicao, independentemente de censura ou licena;" Verifica-se que a Constituio Federal, do Brasil, ao garantir direitos impe responsabilidades, expressando assim, o consagrado princpio democrtico no qual "o direito de uma pessoa s termina quando inicia o direito de outrem". A respeito argumenta Gomes Jnior: "Se a vida privada do indivduo inviolvel, como admitir que mensagens na Internet possam atingir a honra alheia impunemente?" 1 O doutrinador portugus JJ. Gomes de Canotilho, ressalta: "no h conflito entre liberdade de expresso e o direito ao bom nome em caso de difamao". 2 O dispositivo constitucional no inclui em liberdade de expresso (Inciso IV) o direito difamao ou injria (Inciso X). Os Incisos IV e IX-CF no tm carter absoluto e irrestrito. Existe a possibilidade de o Poder Judicirio coibir abusos, inclusive com a proibio de lanamento de mensagens ofensivas honra e a imagem de terceiros, sem que caracterize a censura, porm, dever haver a iniciativa do ofendido ou de rgos de proteo coletividade como o caso no Ministrio Pblico. (Inciso "XXXV- a lei no prejudicar o direito adquirido, o ato jurdico perfeito e a coisa julgada;") O poder do Estado que se far representar pelo Judicirio, interferir, ento, para evitar abusos praticados nas comunicaes virtuais, como: Propaganda de racismo; instigao a crimes; ameaas de seqestro em listas de discusso; receitas de fabricao de bombas em home pages; pornografia infantil; propaganda anti-negra ou anti-semita; propaganda enganosa entre outras ilegalidades. H que ressaltar que a interferncia do Estado se far exercer, como se afirmou, pelo Poder Judicirio em processo legal. Nunca sob a forma de censura e sim, sob a forma de responsabilizao. A censura a proibio de certos atos e muito usada em regimes governamentais onde no est evidenciada a democracia. o exemplo de necessidade de autorizao prvia do rgo censor para publicao de determinada matria ou exibio de peas teatrais ou cinematogrficas. A responsabilizao se faz presente, atualmente,
no Brasil e de forma democrtica: A publicao por meios de comunicao como jornais, revistas e televiso totalmente livre, porm, os autores respondero pelos abusos que cometerem em contrariedade com a legislao j existente (CF, Cdigo Penal Brasileiro, Lei de Imprensa, Cdigo de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criana e do Adolescente e outras). Sobre a censura na Internet so vrios os juristas e doutrinadores que se expressam totalmente contrrios: a) Opina Georges Charles Fischer: "No obstante a inegvel importncia que desperta, a Internet no pode estar acima da lei, mas a censura no desejvel, pois no mais das vezes constitui instrumento abominvel que serve, quando muito, aos propsitos polticos e ideolgicos dos que a impem." 3 b) Luis Carlos Cancelier de Olivo (obra j citada), assim se expressa: "Para o Procurador da Fazenda Nacional e especialista em Informtica Jurdica pela Univali (SC), Hugo Cesar Hoeschel, a liberdade de comunicao, sob qualquer forma, so mais protegidas pelo direito brasileiro. Isso significa poder publicar qualquer coisa que se queira. No caso dos veculos de comunicao de massa, h cautelas e restries estabelecidas nas esferas constitucional, legal e regulamentar, principalmente no tocante proteo da infncia e da juventude. Porm, elas, - as restries cauteladas - no incidem sobre a Internet, o que vale dizer que pode ser veiculada qualquer coisa, independente de seu contedo, inclusive a to discutida pornografia. Na defesa desta posio Hoeschel utiliza trs argumentos: a rede mundial e nenhuma censura tem seu alcance; o usurio tem opo de visitar o site que quiser, prevalece a sua vontade; e a tica que impera na Internet a da liberdade. Da que o mecanismo hbil reduo dos abusos, como pornografia infantil, calnias e facismo a responsabilizao e no a censura. A divulgao de material pornogrfico, pela Internet, no pode nem ser capitulada como ofensa ao art. 17 da lei n 5.250/67 (ofender a moral pblica e os bons costumes), visto que a infrao deveria ser cometida "atravs dos meios de comunicao e divulgao". A Internet no definida como uma das figuras descritas pelo pargrafo nico do art. 12 - "so meios de informao e divulgao, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras publicaes peridicas, os servios de radiodifuso e os servios noticiosos - hiptese na qual ela simplesmente no insere-se, argumenta para concluir que "a censura, a qualquer ttulo e de qualquer tipo, simplesmente incabvel na Internet... diante da escolha entre censura e pornografia, devemos ficar com a segunda, pois a primeira prejudicou muito mais a humanidade, ao longo de sua histria." CENSURA NO E-MAIL Conforme visto anteriormente, as comunicaes virtuais devero gozar de privacidade. A Internet protegida pela maior parte dos pases do mundo. No entanto as mensagens que circulam nas redes corporativas so consideradas de propriedade das empresas. considerado crime grampear telefones ou abrir correspondncias de funcionrios das empresas e no entanto permitido ler as mensagens do correio eletrnico nas empresas. que ditas mensagens circulam dentro da empresa, nos aparelhos da empresas e entre funcionrios por ela pagos e em horrio de trabalho. Em vrios pases, esto ocorrendo demisses de funcionrios que
fizeram uso indevido de e-mail na empresa, com mensagens contrrias ao direito, como propaganda racista, textos obscenos piadas preconceituosas, correntes religiosas, fotos pessoais, cartes virtuais, currculo ao concorrente, comentrios sobre a empresa, comentrios sobre os chefes, cantadas a colega de trabalho, assuntos de futebol e tantos outros. Em outros pases, como a Alemanha, a lei probe a violao de correspondncia eletrnica corporativa. Se a empresa quiser espionar ter de obter ordem judicial. H tambm uma tolerncia em relao utilizao do e-mail para assuntos particulares, determinando um nmero mximo. A tendncia de que os funcionrios passem a ser avisados de que seus e-mail sero lidos pela empresa. Legislao neste sentido, foi proposta em julho do ano 2000, nos Estados Unidos. So vrias as notcias que se tem sobre o assunto, na atualidade: 21/07/2000 : Proposta apresentada ao Congresso dos EUA a LEI DE AVISO DE MONITORAO ELETRNICA: As empresas devero informar a seus funcionrios se monitoram ligaes telefnicas, uso de computadores e e-mails. BRASIL: Na falta de legislao especfica, o mesmo vale para o Brasil.4 ALEMANHA: L, a situao diferente. Conforme Roland Huegel, coordenador de Internet da Siemens a lei probe a violao de correspondncia eletrnica corporativa. Se a empresa quiser espionar ter de obter ordem judicial. Porm, existe uma tolerncia em relao utilizao do e-mail para assuntos particulares.5 INGLATERRA: Aprovada pelo Parlamento Ingls, a lei de Regulamentao de Poderes Investigatrios (RIP). Falta a assinatura da rainha, para vigncia a partir de 05/10/2000. Concede ao Governo poderes para acessar e-mails e outras comunicaes codificadas na Internet 01/08/2000. O jornal alemo Volkskrant: O servio secreto de espionagem alemo, o BVD estaria interceptando e monitorando o trfego de e-mails entre uma companhia de software da Alemanha e uma empresa purificadora de gua Iraniana, que estaria envolvida em projetos de energia nuclear. INTERCEPTAO TELEFNICA E DE DADOS NO BRASIL. A Lei n 9.296, de 25/07/96, veio regulamentar o inciso XII em sua parte final, do art. 5 da Constituio Federal, dispondo sobre a interceptao das comunicaes telefnicas para fins de investigao criminal e instruo em processo penal. O seu artigo primeiro assim se expressa: Lei n 9.296/96 Art. 1 A interceptao de comunicaes telefnicas, de qualquer natureza, para prova em investigao criminal e em instruo processual penal, observar o disposto nesta Lei e depender de ordem do juiz competente da ao principal, sob segredo de justia.
Pargrafo nico: O disposto nesta Lei aplica-se interceptao do fluxo de comunicaes em sistemas de informtica e telemtica. O dispositivo constitucional (art. 5, XII) determinou a inviolabilidade: 1. absoluta: 1.1 do sigilo da correspondncia; 1.2 do sigilo das comunicaes telegrficas; 1.3 do sigilo de dados. 2. relativa: 2.1 sigilo da comunicao telefnica. Ocorreu uma vedao parcial, ou seja, permitiu que em casos de investigao criminal e instruo em processo penal pudesse ser violada, porm, mediante ordem judicial e na forma que a lei viesse a estabelecer. Trata-se de uma lei de grande importncia no combate ao crime, quando na atualidade muito grande o uso das comunicaes telefnicas, tanto para as prticas lcitas como para aquelas consideradas ilcitas, ou sejam, as prticas criminosas onde os delitos so praticados, articulados com planejados pela via em questo. Da, a necessidade de uma regulamentao legal que possibilitasse e regulamentasse a forma em que pudesse ser concedida autorizao judicial para a escuta das comunicaes telefnicas, permitidas no texto constitucional, j descrito inicialmente. A legislao ordinria concebeu uma abrangncia que no esta prevista na Constituio Federal, ou muito ao contrrio, est determinantemente proibida, quando determina: " inviolvel o sigilo ...de dados". Em decorrncia desse preceito constitucional, o legislador ordinrio deveria restringir-se a regulamentar to somente a escuta telefnica, que no nosso entendimento foi, ali, definida e permitida. No entanto, a interceptao do fluxo de comunicaes em sistemas de informtica e telemtica foi recepcionado no pargrafo nico do art. 1 da referida lei. Da, grande o nmero de juristas, doutrinadores e especialistas em informtica jurdica que consideram ser inconstitucional esse disposito: O jurista Vicente Greco Filho, (citado por Olivo) define: "Em nosso entendimento inconstitucional o pargrafo nico do art. 1 da lei comentada, porque no poderia estender a possibilidade de interceptao do fluxo de comunicaes em sistemas de informtica e telemtica. No se trata aqui de aventar a possvel convenincia de fazer interceptao nesses sistemas, mas sim de interpretar a Constituio e os limites por ela estabelecidos quebra do sigilo". Especialista em Informtica Jurdica: HUGO CSAR HOESCHEL, em sua dissertao de Mestrado em Direito na UFSC, sobre "O relacionamento da telemtica com o Direito e seu tratamento jurdico no Brasil" , defende a idia de que "a comunicao de dados no pode ser interceptada; o pargrafo nico do artigo
1 da Lei 9.296/96 absolutamente inconstitucional". O advogado Jos Henrique B. M. Lima Neto (citar n para a obra no rodap) opina pela inconstitucionalidade do dispositivo em estudo e afirma: "Toda e qualquer prova obsoluta atravs da violao de comunicaes em sistemas de informtica ou telemtica - nos quais existe trfego de dados de computador - deve ser considerada prova ilcita." CONCLUSO O assunto tratado bastante controverso. Vrias leis j existem no Brasil e no mundo, que podero ser aplicadas Internet e outras havero de ser editadas. Deve-se considerar a grande dificuldade se ser alcanada essa regulamentao, eis que so constantes as transformaes das tecnologias e meios de comunicao e informao. importante ressaltar que o esforo de legislao de aspectos do mundo virtual em um pas deve obedecer ao conjunto de premissas e diretrizes que pauta a tradio do direito do pas. H por exemplo clara distino entre as abordagens dos EUA e da Unio Europia face ao desafio da legislao da Internet. Enquanto nos EUA h uma tendncia de "liberdade", na Unio Europia a tendncia dominante aponta no sentido oposto, criando controles mais rgidos. Cabe ao Brasil, definir sua poltica de regulamentao, objetivando sua insero na Sociedade da Informao. BIBLIOGRAFIA * Livro Verde - A Sociedade da Informao no Brasil. Grupo de implantao da SocInfo. Agosto de 2000. * Livro Verde para a Sociedade da Informao em Portugal. Disponvel em: http://www.missao-si.mct.pt * Olivo, Luis Carlos Cancellier. Direito e internet: a regulamentao do ciberespao. Ed. Da UFSC, 1999. Governo Eletrnico (Governo on-line) - Aspectos De Viabilizao E Otimizao Dos Servios Pblicos Eduardo Marcelo Castella ragalodu@bol.com.br Resumo: No mundo ps moderno no h mais lugar para governantes que trabalham de portas fechadas. H a imperiosa necessidade de exercer a cidadania no seu mais amplo espectro. Coincidentemente ou no, as inovaes tecnolgicas vm de encontro a este anseio, possibilitando fiscalizar, acionar e participar das atuaes governamentais de maneira antes inimaginvel. A Internet dinmica, veloz, tudo que vai a Web vai ao mundo. Se o governo precisa mostrar que capaz de produzir bons resultados, assim deve fazer tambm na rede mundial de computadores. Investimentos precisam ser alocados para o desenvolvimento de "sites"
que no sejam puro "marketing", mas que visem dar atendimento ao pblico alvo, o cidado. Construir meios que possam tornar a vida mais simples. Podendo, de outro lado, aumentar a arrecadao de taxas e emolumentos atravs de servios on-line, como no caso j utilizado pela Receita Federal em relao ao IR (imposto de renda), bem como incrementar e agilizar as relaes comerciais e diplomticas estatais, so o "g to c" (governo para cidado), "g to b" (governo para empresas) e o "g to g" (governo para governo). O que este trabalho prope apontar por onde deve o Estado comear, com o objetivo de evitar a criao de sistemas oficiais que no correspondam as expectativas dos destinatrios, seja frustrando-lhes em no oferecer eficincia, seja por no possuir atrativos ou por no ter sido colocado em funcionamento h mais tempo. Introduo: Para alguns trata-se de assunto que no deve receber grande ateno, vez que os problemas sociais so imensos e no foram solucionados, sendo eles reais e no virtuais, podendo-se relegar a um segundo plano a parte eletrnica de um governo. Porm, os avanos tecnolgicos esto abrangendo cada vez mais as aes governamentais no havendo possibilidade de no se atender ao que est sendo pesquisado nas universidades e empresas, com repercusso direta nas atividades oficiais do Estado. Dentre as inovaes tecnolgicas, certamente, o que mais vem se destacando o uso da Internet para atividades comerciais, pessoais e oficiais, dada a sua grande mobilidade e poder de penetrao, atingindo os grandes centros populacionais at os mais distantes rinces, do pas e do mundo, at mesmo em alto mar, bastando para isso estarem conectados a uma linha telefnica, forma mais comum de acesso. A conseqncia disto a possibilidade de disseminao de informaes em tempo real e para um maior nmero de pessoas, bem como proporcionar, no caso de um "site" governamental, a facilidade de acesso tambm para servios. Evidentemente para que sejam implantados servios e informaes em todo o mbito governamental h um longo caminho a percorrer, vez que as atividades so vrias e disseminadas em mltiplos rgos (previdncia social, segurana pblica, sade, etc., no mbito do Executivo) e esferas (federal , estadual, municipal), mas, como disse o poeta, o caminho se faz ao caminhar. E sob esta tica destacamos alguns pontos que julgamos importantes. Implantao: Para disponibilizar uma pgina na WEB o governo precisa dimensionar o que e para que vai montar esta pgina, especificando quais as informaes e servios manter ao alcance dos internautas. Dever realizar um projeto que vislumbre as necessidades imediatas e mediatas. Neste aspecto acreditamos que a melhor maneira de se pensar seja a de Jay Nussbaum, da Oracle, para quem o governo on-line, governo eletrnico ou "e-government", deve seguir a linha do " Start small. scale fast, deliver value." Para que no ocorram atropelos e falhas em um projeto que no venha a atingir todas as possibilidades de uso da tecnologia. Portanto, um plano bem pensado vale muito mais do que um realizado a "toque de caixa" apenas para satisfazer uma determinada situao ou momento poltica.
Dentro desta rea deve-se prever a instalao da rea fsica, com a alocao de equipamentos de informtica que atendam eficientemente a demanda, bem como a extenso da mesma. Se queremos uma rede Federal, devemos estar preparados para investir em todo o territrio nacional. Em alguns pases isto, de certo modo, bem mais fcil, seja porque tratam-se de pases "ricos", seja porque possuem dimenses reduzidas, comparadas s nossas. Exemplos so Singapura e Inglaterra. Ambos possuem condies financeiras e territoriais propcias ao excelente desenvolvimento do e-governo. Tanto assim que Singapura est muito avanada nesta rea implementando servios e atividades governamentais, nas mais diversas reas, como governo para cidado (g. to c.), governo para governo(g. to g.) e governo para empresa (g. to b.), extraindo o mximo de proveito que a Internet pode fornecer, implementando continuamente programas de expanso da rede e facilitao do acesso. Na Inglaterra o primeiro ministro Tony Blair, desenvolve projeto no sentido de implementar o e-governo, disponibilizando para toda a populao da ilha, com um forte apelo para a previdncia social. Como representante das classes trabalhistas inglesas, acredita Blair que a Internet pode democratizar e facilitar a vida da populao menos favorecida da Inglaterra. Pases da Comunidade Europia, de modo geral, j dispem de infra estrutura para a demanda criada, bem como regulamentao sobre transaes comerciais e delitos, havendo legislao semelhante para os Estados integrantes, fazendo-se mesmo o reconhecimento e validao da assinatura digital, caso da Alemanha. No mesmo diapaso os Estados Unidos, onde reconheceram a validade da assinatura digital, anterior a Europa, e proporcionam servios e informaes na Web. Tratando-se de uma organizao gigantesca, apontam os especialistas que a evoluo das redes no servio pblico devem progredir passo a passo. Primeiro um site com um panorama geral, do governo e das suas atividades e servios. Num segundo momento comunicao de uma via (one way), onde o usurio j poder requerer servios mas recebe as respostas posteriormente, e.g. via e-mail. E, a terceira, ao oferecer servios on-line em tempo real. Tudo isto com sites cada vez mais objetivos e prticos, no ficando o internauta pesquisando e navegando pelas pginas at encontrar o link que resolva o problema que o levou a acessar a rede. Estaramos apenas retirando-o da fila fsica e empurrando para a digital. Devero prover o site com sistemas de inteligncia artificial onde bastar a explanao da situao e o link indicar a pgina com a melhor soluo. As iniciativas tanto do governo federal quanto dos governos municipais vm obtendo excepcionais resultados. Estes, por serem regionalizados, tem condies de medir aonde podem ser mais eficientes no atendimento ao cidado. No mesmo sentido o governo Federal brasileiro vm agindo ao implantar pginas de previdncia social e da receita federal, oferecendo informaes e servios que redundem em maior comodidade para a populao, esta ltima inclusive obtendo ndices extremamente altos para a entrega de declaraes de IR via Web. Manuteno: A instalao da estrutura fsica deve obedecer a critrios bastante objetivos, no perdendo de vista a necessidade de expanso da rede na mesma proporo que aumenta a demanda. Como corolrio temos a manuteno do sistema. Este no pode ser relegado a um segundo plano ou considerado menos importante. Tudo
que for disponibilizado estar sendo acessado por milhares de pessoas, empresas e governos. O sistema no pode cometer falhas, vendo-se a a questo da segurana. Todo o sistema deve trabalhar integrado ao mesmo tempo que no pode oferecer riscos aos usurios, seja quanto a invaso por "hackers" seja em razo de "quedas" ou panes ou mesmo m administrao dos equipamentos. Ningum quer ver seus dados trafegando pela rede de forma aberta, muito menos saber que eles foram conseguidos atravs de um "site" oficial do governo. Mesmo que os servios e informaes oferecidos oficialmente no proporcionem o retorno financeiro desejado para o governo, at porque no tem como objetivo o lucro, dever investir muito para que no ocorram falhas no sistema eletrnico. Afinal ter a imagem arranhada pode custar muito mais que o investimento para ver funcionar adequadamente. Descontinuidade: As polticas em inovao tecnolgica (IT) no podem ficar restritas a este ou aquele administrador. Quando falamos em polticas para o desenvolvimento da tecnologia e para sua implementao, em especial quando j esto em funcionamento, no podemos ser iconoclastas. Muito fcil criticar e destruir o que est feito, sem avaliar as conseqncias que isto trar para o futuro, a tpica viso torpe do mope que se recusa a usar culos, enxergando pouco alm do prprio nariz. As inovaes tecnolgicas continuam e continuaro a avanar e permitir que uma pessoa ou grupo poltico, que assuma o poder, em nome de uma suposta readequao de critrios e aes, venha a desconsiderar o trabalho j realizado pode ser catastrfico. Recentemente, na 4 Conferncia Internacional em Poltica Tecnolgica e Inovao (4 ICTPI), realizada em Curitiba/Pr no perodo de 29 a 31 de agosto de 2.000, foram apresentadas diversos trabalhos no quais evidenciou-se que polticas slidas e postas em prtica trazem excelentes benefcios. Isto nas mais diversas reas, tanto na informtica quanto no campo (agro negcios). Em Curitiba, por exemplo, a prefeitura municipal investiu em programas informatizados nas reas de sade e educao. Atravs de cartes eletrnicos os usurios do sistema municipal de sade no precisam carregar vrios documentos, ficando todo o pronturio e dados pessoais armazenados na rede informatizada. Desta forma facilita-se o atendimento ao agilizar procedimentos, no ficando o usurio, consequentemente, restrito a um nico posto de sade. Na parte da educao a prefeitura de Curitiba montou bibliotecas pblicas, chamadas de Farol do Saber, equipando-as com computadores para acesso a Internet, possibilitando que as classes menos favorecidas tenham a disposio, no apenas o equipamento, mas tambm cursos onde aprendem a navegar pela Web, no mesmo sentido na rede municipal de escolas. Normalmente o que se v a oportunidade em se deixar uma marca, um logotipo, quer-se preencher um espao que eventualmente tenha sido deixado aberto, inserindo um "slogan" que identificao daquele administrador o qual, ao perder a funo, acaba vendo tudo o que foi feito ser modificado para atender nova gesto. No se pode olvidar que realmente cada governo procura deixar em suas obras sinais e marcas que os identifiquem, at para que se possa saber quem fez o que. Mas em hiptese alguma deve ocorrer rompimento nos servios ofertados, sejam eles apenas informaes sejam transaes "on-line" com emisso de documentos.
O que se apresenta a possibilidade de muitos aproveitarem a alta da Internet para criarem pginas que possam ser ligadas a seus nomes sem a preocupao, efetiva, com uma poltica que venha a dar sustentao e continuidade para a mesma. Deve ocorrer um intenso comprometimento entre o que for planejado/executado e a poltica a ser implementada. Recursos Humanos: As novas tecnologias necessitam de mo de obra especializada. Cada vez mais as empresas necessitam de pessoas com conhecimentos especficos, exigindo qualificao. Aqueles que no desejam ficar apenas no mercado mas na vanguarda, absorvem os melhores trabalhadores existentes. Para que se tenha uma pgina na Web importante que todos aqueles que trabalhem na elaborao, manuteno e que dela iro se servir, tenham recursos para acessar e, principalmente, que saibam como operar adequadamente os equipamentos. E a o e-governo pode encontrar uma significativa barreira. A tecnologia para o governo pode e deve ser usada de forma muito eficiente, para tanto tem-se que aprimorar os recursos humanos existentes. O que no pode ser admitido a inexistncia de uma postura que mantenha as aes j elaboradas, removendo-se pessoas de setores chave para outros e, colocando, muitas vezes, algum despreparado para exercer determinada funo tcnica, perdendo-se todo o investimento realizado naquele(s) funcionrio(s). A massa de servidores pblicos imensa em todas as esferas e pensar em capacit-los para as novas tecnologias num nico momento pode ser invivel. Criar centros de capacitao e treinamento para grupos que iro gerenciar os bancos de dados seria o melhor caminho, mas no abandonando aqueles que esto hoje atrs dos balces, atendendo direta e pessoalmente o cidado, estes tambm precisaro entender, acessar e fornecer informaes por meio eletrnico. O governo eletrnico tambm precisa definir quem vai estar diante da mquina atualizando seus dados e servios. Mesmo que possua um rgo gestor das informaes, como um banco de dados central, as comunicaes entre este e os demais rgos no podem ocorrem de forma lenta, burocrtica, devem se dar on-line, em intranet, para que se torne eficiente. E para isto implica em ter mo de obra qualificada. Para treinar e preparar no basta que sejam montados cursos e oferecidos a todos os servidores indiscriminadamente, at porque h aqueles que no tem interesse ou motivao, possuem mesmo averso a computadores ou equipamentos eletrnicos. Mas montar equipes, nos diferentes rgos para que possam, em seus setores especficos, estarem habilitados a enfrentar os problemas que possam surgir e poder melhorar o que for realizado. E, esta equipe no poder ser simplesmente dissolvida ao ocorrerem mudanas administrativas, seno por critrios tcnicos e devidamente fundamentados. Desta forma preserva-se o investimento realizado no material humano, procurando mesmo protege-lo de eventuais retaliaes polticas que possam redundar em perda de capacitao tcnica.
Com tais medidas podem ser reduzidos os elevados custos com treinamento de todos os servidores da administrao pblica, podendo, ao revs, elevar o nvel de informao e conhecimento daqueles que efetivamente estaro na linha de frente deste novo servio, agora virtual. O Estado enfrenta alm da escassez de capacitao tcnica tambm a de funcionrios. Decorre tal da estrutura jurdica do Estado, vez que a administrao pblica no pode contratar e demitir servidores livremente. Para tanto deve realizar concursos pblicos, os quais so dispendiosos e lentos e, para demitir, criar processos administrativo disciplinares, que igualmente costumam arrastar-se por longos perodos. Uma empresa, regida pela CLT (Consolidao das Leis Trabalhistas), possui maior facilidade em movimentar seus empregados, assumindo prejuzos, com a contratao/demisso, mas otimizando custos na produo que retornam em forma de lucro. O governo administrado no para ter lucro, mas para cumprir com suas obrigaes perante a nao, promovendo o bem estar social. O calcanhar de Aquiles estatal est justamente no engessamento do funcionalismo, onde um servidor estvel pode significar um salrio pago para algum no trabalhar, trazendo conseqncias desastrosas para o bom atendimento ao cidado. Polticas que facilitem o trnsito na admisso e demisso de funcionrios tambm deveria estar na pauta do Congresso. Iniciativas foram tomadas, pela ento Ministra Cludia Costim, mas muito ainda deve ser feito para que os servidores pblicos, federais, estaduais e municipais, venham a atingir os nveis de qualidade de padro internacional, a ISO , para que realmente o Estado torne-se eficiente. Burocracia: A administrao pblica torna-se inoperante no por incompetncia mas por excesso de burocracia. Veja-se esta como sinnimo de lentido, exatamente o que no deve ocorrer com quem quer estar na Internet, na vanguarda da informao e tecnologia, pouco importando se grande ou pequeno, mas sim o tempo que se leva para demonstrar eficincia. O Estado por natureza burocrtico. Dividido em inmeras reas, secretarias, assessorias, departamentos, etc., etc. Transforma-se num labirinto sem fim, onde o cidado que procura por determinada informao tranqilamente percorrer diversos guiches para chegar ao objetivo. E, internamente, a preocupao com a forma no muito diferente. Os rgos do prprio governo para se comunicarem tambm dependem de vrios procedimentos; protocolando documentos e submetendo certos assuntos a anlises de vrios funcionrios. Resultado disto a apatia e o descrdito do cliente para com o prestador de servios, "c to g". O que vemos hoje so secretarias de governo desenvolvendo trabalhos na rea de Internet, com "sites" bem elaborados, mas que no cruzam as informaes. Seja por motivo de segurana, seja por total falta de poltica na rea. Temos ento a situao onde alguns avanam muito, porque seus administradores acreditam
nas solues tecnolgicas e apostam nos resultados e benefcios que isto traz. E do outro lado aquele que no enxerga como bons olhos, seja porque no os tem seja porque no quer ver, e relega a segundo plano a possibilidade de aproximar-se daquele que justamente a razo dele existir, que o cidado para quem presta atendimento. Tem-se, ainda, os problemas corporativos, decorrentes da verticalidade estrutural do Estado, fazendo com que seus rgos sejam estanques. Por exemplo, polcias Militar e Civil, embora pertenam a mesma pasta, secretaria de segurana pblica, no conversam no mesmo diapaso. Seja por possurem funes constitucionais divergentes, seja por no abrirem mo de suas corporaes, apesar de ambas serem polcias. Repetindo-se nas esfera Federal, entre as Foras Armadas, nas secretarias estaduais e municipais. Tais divergncias e burocracias tornam-se especialmente maiores quando h oposio poltica, os partidos que esto no comando no so aliados. Impondo-se, novamente, a definio e efetiva aplicao de protocolos que subsistam ao momento, que transponham a barreira das eleies. Mais precisamente, h a necessidade de que exista um procedimento uniforme e uma mesma linguagem para todo o sistema pblico funcionar de maneira rpida e gil, tornando-se menos burocrtico e mais efetivo. Segurana: Ao tratar com informaes de milhares de pessoas, gerenciando dados, recebendo e fornecendo informaes, emitindo documentos, tudo deve estar funcionando com sistemas de segurana que sejam, no mnimo, confiveis. Em casa como no trabalho privacidade e sigilo nas comunicaes direito protegido constitucionalmente, o que torna uma obrigao governamental proporcionar esta tranqilidade queles que iro dela usufruir. Representando uma significativa parcela de investimentos, vez que exige tecnologia de ponta e, a nosso ver, no poderia ser entregue integralmente a empresas do setor privado, devendo o prprio Estado desenvolver os sistemas a serem utilizados, como garantia de inviolabilidade. Com efeito, tal alicera-se nas instituies de ensino e pesquisa existentes, Universidades e Centros Tecnolgicos pblicos, que j desenvolvem trabalhos capazes de atender as necessidades oficiais. Faz-se projetos sob encomenda, com "softwares" que atendam as diferentes necessidades dos rgos a um custo muito menor, reforando a soberania nacional, ao evitar que sistemas "aliengenas" rodem nas mquinas estatais. Acesso Por outro lado o acesso Web tambm tem que ser facilitado, onde no apenas o computador torna-se um empecilho, mas tambm as tarifas de ligao telefnica e dos provedores. Pases como o Brasil, onde as disparidades sociais so gritantes, os partidrios da desnecessidade do e-governo, alegam que o acesso ficaria restrito s classes mais elitizadas da sociedade. Para combater tal argumento alguns Bancos, tais como Caixa Econmica Federal e Banco do Brasil,
bem como outros do setor privado, esto abrindo linhas de crdito para aquisio de equipamentos de informtica. Nos Estados Unidos empresas provedoras de Internet criaram um sistema de fidelidade, onde o cliente assina o contrato com o provedor por um prazo mnimo de 03 (trs) anos, em mdia, e ganha o computador. A idia colheu bons resultados na medida que expandiu o nmero de usurios e incrementou o comrcio. Como a informao deve ser livre, se no possvel que todos tenham acesso a Web neste momento, que seja ento, ao menos, disponibilizada esta para que, a pouco e pouco, atravs de aes conjuntas, governo/populao/empresas, sejam produzidos novos equipamentos com preos acessveis todos que se interessem pela rede. Ultrapassando a barreira atual dos 5% (cinco por cento) da populao que acessa a Internet. Concomitante a isto espera-se que o Congresso Nacional aprove legislao que regulamente as comunicaes via computador, fornecendo meios para que posam ser combatidas as fraudes e delitos que esto sendo praticados bem como fomentando as negociaes e transaes comerciais. Concluso: O governo eletrnico, embora esteja iniciando com vrios anos de atraso, um fato consumado, no h que descartar a sua necessidade. Cada dia que passa mais e mais pessoas acessam a rede atrs de informaes, lazer e conhecimentos. Vrios rgos estatais j testaram e aprovaram a utilidade da Web como meio para agilizar aes oficiais. So justamente as obrigaes que o poder pblico tem para com o cidado que devem nortear os projetos de e-governo; proporcionando qualidade e eficincia nos servios oferecidos, divulgando e promovendo eventos pblicos que realmente faam a diferena, para que todos possam se sentir no meros administrados, vivendo sob o jugo de um poder central, mas parte ativa no sistema de governo, acompanhando as aes, resultados e buscando melhorias. Chegar o dia em que no ser necessrio deslocarmos de casa ou do trabalho para obter uma certido, requerer uma autorizao, fazer uma comunicao de delito. O acesso ao governo ser on-line, em tempo real, tanto o que se procura como a resposta que buscamos, atravs de um crescimento contnuo, gradual e sem interrupo dos sistemas informatizados oficiais. O ENSINO DO DIREITO CRIANA E AO ADOLESCENTE COMO PRESSUPOSTOS DE CIDADANIA COM USO DE TECNOLOGIAS DA EDUCAO Lcio Eduardo DARELLI Abstract: Desde a promulgao da Constituio de 1988, pouco, ou quase nada se fez em termos de educao cidad, ou seja, a escola permaneceu omissa formao e ao ensino da cidadania. Em nenhum momento, do desenvolvimento estudantil da criana ou do adolescente, encontraremos qualquer meno sobre a Constituio
Brasileira inseridos nos currculos. A precariedade da divulgao e do ensino aos nveis prescolares, do primeiro, e do segundo graus, no so compensados, nem de longe, no nvel universitrio, haja vista, inexistirem disciplinas especficas que abordem a matria, ou mesmo, inclusas como ementas em disciplinas congneres. Este trabalho, aborda a necessria introduo da conscincia de cidadania atravs do estudo da Constituio Brasileira, utilizando-se como meios, as tecnologias de ponta em ensino a distncia e educao com tecnologia aplicada, como forma de disseminao em massa da educao cidad. 1. INTRODUO "Votar um direito e um ato de cidadania, pois atravs de um processo democrtico, escolher-se- aqueles que iro represent-lo na esfera poltica em nome do bem comum." Esta frase, talvez tenha sido a mais usada nos pases democrticos em todos os tempos em pocas de campanha eleitoral. Usada e ousada! Usada, porque somente em pocas de campanha eleitoral, aparentemente, se descobrem os brasileiros como cidados, vivendo na plenitude de um Brasil livre e democrtico. Terminada a campanha, no somente os discursos parecem ser descartveis, como tambm o prprio eleitor, ou seja, seu voto. Ousada, porque votar, nunca foi um ato de cidadania. Enganam-se, e ajudam a enganar, aqueles que assim o dizem. Votar pois, nada mais , do que um ato obrigacional, previsto pela Constituio, e que por esse nico motivo, tem, na esfera do direito, seu argumento maior de cunho meramente "cidadanesco". Cidadania antes um exerccio, certo, uma constante atividade. O homem, ser social que , precisa de movimento, precisa produzir sua histria, necessita "fazer e acontecer' para se sentir integrado e participante. atravs do outro, que a "pessoa" - ser social, encontra-se e revela-se como ser social. A "venda" da imagem de completude no simples ato de votar, o maior engodo que algum pode impingir a outrem. No h completude no ato de votar, mas, h completude na solidariedade, que tambm ato, e como tal, necessita de atores. antes a solidariedade, que impulsiona o ser social a identificar-se com os problemas que afligem o seu igual. Esta sensao de semelhana, vincula um certo grau de confiana entre as partes, a solidariedade aproxima e compreensiva. A compreenso leva a um certo estado de conscincia do fato, assim, h completude, pois os elementos envolvidos no ato buscam a interao social. Deste ponto em diante entendemos que o ato de votar, representado por um pequeno pedao de papel, ou por simples apertar de botes, a sutil demonstrao da confiana de um em relao ao outro. Neste caso, do eleitor e seu candidato. O voto a corporificao simblica da confiana, e nada mais. Esta representao seria ainda mais significativa no fosse obrigatrio o ato de votar. Resta-nos uma pergunta ento: - O que de fato exercer cidadania?
A resposta, embora possa parecer simplista, est carregada de pressupostos histricos: Exercer cidadania "conhecer e aplicar a Constituio brasileira". Conhecer, para exercitar diuturnicamente as diretrizes poltico-sociais afirmadas, garantidas e conquistadas na Constituio. Este , o verdadeiro exerccio de cidadania no seu mais alto grau. Como nos diria o "Betinho", que outra coisa no fazia seno, cidadania, servindo de exemplo vivo em palavras e obras. Agora, servindo de exemplo memorvel. Os pressupostos so encontrados na histria das constituies brasileiras, que foram, nada menos que oito, desde de D. Pedro I, que nos outorgou a primeira Constituio, em 1824. Todas, sem exceo, de 1824 1988, contam a saga do povo brasileiro. Nas entrelinhas destas (histrias) constituies, vamos encontrar, demonstrado e positivado: o jogo poltico, os interesses de governo, os anseios populares, as reservas, os medos, as impossibilidades, as impunidades, os cerceamentos de direitos, as conquistas, a liberdade, a liberalidade, a ineficcia, o abuso, o desleixo, a inoperncia, a manipulao, e, o descontentamento. A tudo isso, elas prprias autodenominaram ao povo, impingindo-nos como "Direitos e Deveres" Constitucionais. Entramos, ou estamos entrando, no sculo 21 com uma das mais belas constituies que o mundo livre e democrtico j produziu, a Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1988. Afirmam os constitucionalistas, que a nossa Constituio completa, pois foi legitimamente gerada, gestada e promulgada segundo a vontade do povo brasileiro, que, em um processo Constituinte democrtico, participou ativamente na engenharia e arquitetura, do instrumento que seria mais tarde o legtimo diploma de toda sociedade. Outras questes, importantes e preocupantes vm com as consideraes que se fez: - Quantos de ns, conhece realmente a Constituio brasileira? - Se, ser cidado, exercer cidadania, como posso s-lo, se no conheo o instrumento do exerccio? - Como posso aprender, se a escola no me ensinou? So por estas questes, e embasado na certeza que possumos um dos maiores instrumentos democrticos para o exerccio da cidadania, que a propositura deste trabalho, encaminha-se no sentido de ofertar um modelo de ensino da cidadania, criana e ao adolescente, utilizando como veculo e instrumental didtico-pedaggico, as tecnologias de ensino a distncia, ou, as tecnologias de educao. 2. A ESCOLA OMISSA E A FORMAO PRECRIA DA CIDADANIA Os filsofos entendem que o ser social, a "pessoa" na realidade uma abstrao, parte do indivduo, este sim, um ente real, feito de clulas, msculos, rgo, matria enfim.
A pessoa, ao contrrio, somente pode ser compreendida na esfera social. atravs da existncia do outro que o ser individual encontra-se como pessoa, pois no ambiente social, l est o outro para afirmar as existncias que se cruzam no cotidiano da vida. O ser humano percebe-se em grupo, entre iguais, e percebe-se fazendo e agindo, de acordo com determinados modos e costumes. Albert Jacquard que nos ensina a lgica desta constatao: "(...) A qualidade das interaes que so capazes de instalar graas a seus meios de comunicao tal que seu conjunto, ou seja, a comunidade humana, tem poderes muito estranhos e, essencialmente o poder de despertar a conscincia em cada um dos indivduos, transform-lo em uma pessoa." (JACQUARD, Filosofia para no filsofos, pg. 121) Jacquard nos coloca de forma clara, do ponto de vista filosfico, que a comunidade humana possui poderes que muitas vezes so incontestes. Porm, o maior dos poderes sociais a capacidade de despertar a conscincia, uns aos outros, em atividades, em obras, em palavras e aes. Podemos perceber este despertar em todos os nveis por onde atua o ser humano. Assim, se falamos da conscincia ecolgica, se falamos da conscincia cosmolgica, da conscincia do preconceito, da conscincia urbana, da conscincia da prpria conscincia enfim, estamos falando em "formas" de convivncia humana, por onde as pessoas ou os grupos humanos buscam identificar-se, crescer e evoluir como pessoas, fazendo da epopia das civilizaes por onde o homem trilhou, um conjunto de aes nica, que resume a saga da prpria aventura humana, de cada um como indivduo, como pea absolutamente fundamental no jogo da evoluo da espcie. Com isso, pode-se inferir que a pessoa uma inveno das mais poderosas, uma vez que, o conjunto de pessoas formam a sociedade, e esta, a Nao. precisamente deste ponto, de onde passamos a analisar a grande importncia que tem o Estado nas relaes sociais, sendo este mesmo Estado, abstrao, uma outra inveno a servio de uma Nao. Precisamos ter claro quem exerce o "poder", e, se em uma sociedade democrtica, esse "poder" pode perder-se para alm das pessoas. Com efeito, em uma sociedade democrtica, a exemplo dos ensinamentos (inveno) herdado dos gregos, o exerccio do poder pelo povo, nada mais , que o ditame das regras para o convvio social. No contexto do convvio, a sociedade busca organizar-se para desfrutar das relaes sociais. No contexto da aplicao das regras, a sociedade elege o Estado, para de forma neutra operar a igualdade e a justia, ambas, necessitam administrao. O poder se faz presente em esferas de atuao, com reflexos sociais distintos - Legisla, Executa (administra) e Julga. Exatamente neste contexto, cremos que a escola tornou-se omissa, pois desde o advento da Constituio de 19888, nada se engendrou, ao nvel dos currculos educacionais qualquer tentativa de resgatar os verdadeiros valores de cidadania. Ensinar e aplicar, ensinado a ser cidado. Buscando frmulas de cumplicidade na descoberta maior da conscincia dos atos, dos direitos e deveres do "Ser Cidado". A escola esteve a margem desde rito, nada ensinou, embora algumas vezes, tenha tentado cobrar. No se cobra o que no se tem, no se ensina o que no se aprendeu. Como ento podemos esperar que um pas possa sobreviver sua prpria corrupo, se a maior delas omitir informaes, vedar os olhos do futuro com o vu
da ignorncia, apostando no "controle" das leis e na centralizao do poder, que embora corrupto, ainda poder? Que tirania maior pode haver em esconder-se o maior dos tesouros - o conhecimento? Embora tenha se passado 12 anos, no tarde demais. E tudo pode ser resgatado a tempo, pois a nosso dispor temos as tecnologias da informao, temos os servios informatizados, e temos as tecnologias da educao. com base nelas, e com novas metodologias, que poderemos resgatar o tempo perdido. E embora esteja perdido o tempo, no est ainda, a esperana, pois esta nao criana, so os nossos filhos, que nos emprestaram esta terra, e para os quais devemos a responsabilidade de lhes entregar. Propor medidas e inventar solues para que eles a perpetuem, nossa sina, e nossa maior obrigao. 3. PROPOSTA PARA UMA DISSEMINAO EM MASSA Vamos encontrar nos laboratrios de ensino a distncia - LED da Universidade Federal de Santa Catarina, departamento de Engenharia de Produo e Sistemas, nosso referencial tecnolgico de ponta, de onde afluem, para o uso destas tecnologias, grandes empresas e universidades do mundo inteiro. Como referencial de cidadania, o foco deste trabalho no poderia ser outro a no ser as clusulas constitucionais garantidoras do pleno exerccio da cidadania. Os artigos 1 ao 7, e notadamente, o artigo 5, que trata dos direito e deveres individuais e coletivos, e, o artigo 7, que trata dos direito e deveres sociais. Nestas clusulas constitucionais introdutrias, encontramos a sntese do verdadeiro exerccio da cidadania, que cada brasileiro deveria conhecer e aplicar. Se nos parece "in gloria" estender a todos os brasileiros, tais ensinamentos, que o faamos pelo menos queles nossos cidados do futuro, nossas crianas e adolescentes. Desta forma, acreditamos que a proposta de ensino e a abordagem pedaggica do laboratrio de ensino a distncia da Universidade federal de Santa Catarina, o LED, como conhecido, pode e deve ser utilizado para a massificao dos ensinamentos de cidadania. A princpio atravs dos currculos normais nas escolas de primeiro e segundo graus. Posteriormente, embora no necessariamente nesta ordem, as empresas que contratarem servios do LED, poderiam aderir a uma espcie de programa, que poderia ser dado como brinde extra, na forma de horas/aula de cidadania. Os mdulos podem ser elaborados de tal forma que no sejam superiores a 20 h/aula por mdulo, em no mnimo trs mdulos independentes mas complementares: Mdulo bsico - ementa: Conhecendo a Constituio da repblica Federativa do Brasil. Conceitos bsico sobre lei. Formas de criao das leis. A Constituio como fonte de direito. Os direitos individuais e coletivos, centrado nos artigos 1 ao 7. Clusulas Ptreas. Elaborao do "ABC" da Constituio para repasse do aprendizado.
Mdulo intermedirio - ementa: Constituio Brasileira, conhecendo as divises internas da Constituio, tpicos avanados. Legislao trabalhista. Relao entre os cdigos, leis complementares, medidas provisrias e a Constituio. Aspectos econmicos e de ordem tributria nacional. Elaborao do "ABC" da Constituio para repasse do aprendizado. Mdulo Avanado - ementa: Estudo e anlise das emendas constitucionais. Interao dos poderes e reflexos constitucionais na sociedade. Legislao poltico/partidria e as previses constitucionais. As relaes internacionais, soberania, e divisas. Estudo comparado de aspectos da constituio de 67. Elaborao do "ABC" da Constituio para repasse do aprendizado. Todos os mdulos devero ter o chamado "ABC" da Constituio, que ser o trabalho de final de curso, consistindo em uma espcie de cartilha com os dados principais e assuntos mais interessantes que foram abordados nas aulas. Esta cartilha ser reproduzida contendo o nome dos participantes daquele mdulo e os mesmos devero distribuir a todos quantos se interessarem. uma forma de disseminar os conhecimentos. 4. Experincia e criatividade - a importncia do voto Foi na disciplina de "Tecnologias da Informao Jurdica" que se pode redescobrir uma didtica, que a muito era aplicada nas escolas pelo Brasil afora, sem contudo, suscitar o verdadeiro entusiasmo que era sempre esperado, mas, muito pouco alcanado. Refiro-me ao tedioso mtodo do "debate". A experincia vivida nesta disciplina, graas a criatividade dos professores Hugo Csar Hoeschl e Tnia Cristina Bueno, trouxe-nos uma reflexo extremamente profunda sobre a eficincia e a eficcia dos mtodos pedaggicos e sua didtica, alm de constatar algo que foi surpreendente, votar excitante. E essa experincia trouxe-nos um grande aprendizado, "que nem sempre precisamos utilizar de recursos tecnicistas para inserir novos conceitos pedaggicos". Muito pelo contrrio, a experincia mostrou claramente, como devemos e podemos repensar posturas pedaggicas a partir de novas imposies, ou disposies sociais. Tratamos o tempo todo de conceitos de tecnologia e suas aplicaes para o direito com ressonncia vida do cidado. A metodologia aplicada nos debates propostos tiveram um dado que incrementou e modificou por completo a motivao, que, de tediosa passou a ser excitante, de inerte passou a ser participativa, de aptica para ardorosa defesa de teses. A metodologia a seguinte: proposto vrios temas escolha. Duas equipes escolhem o mesmo tema, sendo que uma ir defender a idia central do assunto, enquanto que a outra, dever atacar ou refutar a validade da idia central do tema. Arma-se assim um cenrio bastante interessante que lembra um julgamento, onde h uma turma para a defesa, e, outra para a acusao. As regras para apresentao so livres, cada equipe pode se utilizar dos recursos que bem entenderem, no podendo porm, extrapolar o tempo. Alis, as nicas regras rgidas so os
tempos. No caso de uma equipe citar a outra, nominalmente ou pelo contedo abordado, d direito ao citado rplica, para sustentao ou esclarecimento do exposto. O seminrio tem incio, uma equipe se pronuncia, pode comear a defesa, e logo depois o ataque. Aps a exposio de ambos, e terminadas as rplicas devidas, abre-se o debate ao pblico, que deve formular perguntas objetivas a qualquer das equipes. O debate nesta altura j est com grupos divididos tambm na platia. O debate leva em mdia trinta minutos, podendo ser mais elstico dependendo do tema em discusso. A concluso do debate, o dado metodolgico modificado. Tendo sido encerrado o debate pelo moderador, a platia, transforma-se nesse momento em grande jri, e ter a misso de VOTAR, pelo melhor argumento. Ou seja, o debate tem uma concluso formal e vlida, e surpreendente, porque mesmo as opinies estando divididas, h uma votao que culmina em resultado do debate. Quem conseguir os melhores argumentos, as melhores provas, os melhores recursos didticos de apresentao, etc... etc..., demover o "grande jri". O resultado final passou a ser o grande motivador para todos os participantes. Aqueles que defendem as teses, querem fazer o melhor, portanto, pesquisam e elaboram, armam-se de informaes capazes de satisfazerem at o mais crtico dos membros do grande jri. O pblico que assiste, e depois se transforma em jurado, precisa no perder nenhum momento da exposio e das rplicas, porque do seu entendimento e compreenso do tema, depender seu juzo de valor para votar. Impressionantemente, o ato de votar, foi o dado metodolgico que transformou a didtica do ex-enfadonho debate. E nisso esto de parabns os jovens mestres professores Hugo e Tnia, pela criatividade e pelo empenho de tentar o novo. 4.1. SEGUINDO O EXEMPLO O exemplo de nada vale se no for para ser seguido. Sou professor j a quinze anos, tenho formao em pedagogia, e em minha poca o que mais se fez foi aprender mtodos de ensino-aprendizagem. O mtodo do seminrio com debate era uma das opes comuns. Inclusive, como acadmico pedagogo, em pocas de estgio, ramos obrigados a elaborar planos de ensino contemplando os debates. Para mim pessoalmente, o debate, sempre foi uma verdadeira "via crucies" pois os debates esvaziavam-se em si mesmos, e o papel do moderador era muito mais apartar os "bate-bocas" do que conduzir o aprendizado. Alis, pouco aprendizado havia, uma vez que no havia consenso. Depois que conheci a criatividade do Hugo e da Tnia mudei de opinio! Com muita satisfao, adotei em minhas aulas na Universidade do Vale do Itaja UNIVALI, nas disciplinas que leciono: Filosofia e Sociologia Jurdica no curso de Direito, Informtica e Sociologia no curso de Computao e Legislao Social no curso de Automao de escritrios e Secretariado. Basicamente os mesmos princpios da metodologia aplicada disciplina "Tecnologias da Informao Jurdica" no curso de Mestrado da UFSC, foram adotados em minhas aulas. Com efeito, o entusiasmo na apresentao comprovou a metodologia como aplicvel e eficaz. E visvel o grau de interesse pela pesquisa, uma vez que ao
final cobrado um "paper" das equipes, onde constam as anotaes de pesquisa, tais como: recortes, jornais, revistas, xerox, citaes, etc... que serviram para embasamento da apresentao no debate. A concluso do trabalho nada mais do que contar a histria do que ali sucedeu-se, e, qual foi a votao, ou seja, qual dos argumentos tornou-se vencedor. Ao rescrever as histrias que foram vivenciadas pelos mesmos atores da pesquisa, o aluno, no s apreende mas compreende da utilidade e da necessidade da pesquisa elaborada. A metodologia atinge, pois, os objetivos pedaggicos da pesquisa, exposio, reelaborao e aprendizado concreto. Passei a adotar esta ferramenta didtica que a muito tempo havia abandonado. 5. CONSIDERAES FINAIS Parece bastante claro, que a soluo para os problemas do ensino no se esgota apenas em ensinar nas escolas, mas, principalmente como ensinar, e em que locais. Educadores por todo pas, tambm precisam ser inseridos nesse contexto de cidadania que passa, como vimos, pelo aprendizado consciente ao estudo da Constituio Brasileira. No se ensina o que no se sabe, por isso mesmo, preciso aprender para transmitir o conhecimento. E no por menos que centramos nossa proposta no pblico infantil e adolescente, a quem mais interessa um pas de oportunidades seno aos nossos jovens. Sero eles a garantia do nosso futuro como Nao, ou somos ns, que lhes devemos garantir os conhecimentos para que queiram estar nesta Nao? Podemos e devemos utilizar das tecnologias que a esto. Elas operam um milagre, o da multiplicao instantnea das informaes. Tambm pode operar o milagre da multiplicao do aprendizado. No precisamos ficar apenas nas escolas, podemos utilizar meios como a internet, o telefone, o WAP, etc... . Com mdulos didaticamente elaborados para o contexto telemtico, a disciplina de cidadania pode tornarse uma das disciplinas mais atrativas de todo e qualquer currculo educativo, mesmo porque, a avaliao no outra seno a prpria aplicao dos conhecimentos adquiridos. O exerccio da cidadania ser a nota que cada um ir tirar, e esta no ter limites mximos, simplesmente porque, exercer cidadania nunca ser demais. Iniciei este artigo com uma reflexo sobre "votar", e deixamos patente que o ato de votar em ocasio de campanha eleitoral, de forma inconsciente, como ocorre hoje em dia com a grande maioria das pessoas, no sinnimo de exerccio de cidadania, como de fato no o . Porm, este mesmo ato, executado em trabalhos didticos nas aulas, de muitos "Hugos" e "Tnias" por este Pas afora, so, com certeza, a mais nobre expresso de cidadania, porque o conhecimento se completa com a conscincia, e esta completude, transforma o cidado. 6. BIBLIOGRAFIA: 1. JACQUARD, Albert. Filosofia para no filsofos. Trad. Guilherme Joo de Freitas Teixeira. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 2. CONSTITUIO DA REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL de outubro de 1988. 3. BRUNAZO FILHO, Amilcar. Artigo apresentado no ITA/CTA, durante o SSI'99.
4. CAMARO, Paulo Csar Bhering. O Voto Informatizado: Legitimidade Democrtica. - So Paulo: Empresa das Artes, 1997. 5. LEGISLAO ELEITORAL E PARTIDRIA- lei 4737/65 6. JAMES, Jennifer. Pensando o futuro. So Paulo: Futura, 1998. O impacto das novas tecnologias da informao e o papel da mediao no mundo psmoderno. Marco Antnio Machado Ferreira de Melo marcofm@iaccess.com.br "H conflitos porque as pessoas pensam diferente, desejam diferentemente as mesmas coisas; agem diferente numa mesma situao. Lidar com as diferenas o grande segredo da Mediao. Minimizar as diferenas, o grande objetivo. Terminar com as diferenas, jamais. Posto que as pessoas so eternamente diferentes." 1. Justia: fornecer respostas to rpidas quanto a evoluo das novas tecnologias. No podemos negar que o desenvolvimento tecnolgico tem trazido humanidade constantes transformaes, marcadas por inmeros acontecimentos no mundo social, jurdico, institucional, econmico e poltico dos Estados-Nao. Nestas transformaes, modelos universalmente seguidos so substitudos por novos paradigmas(1). Em toda nova transformao, a sociedade passa a exigir novas respostas e solues para os problemas emergentes diante dos desafios trazidos pela insero de tecnologias paradigmticas. Novos desafios so colocados frente a muitas das cincias, principalmente das humansticas, chamadas a absorver e oferecer respostas s mudanas scio-poltico-culturais. O Direito e a Cincia Jurdica esto constantemente colocados diante de novos e cada vez mais complexos desafios. So chamados a encontrarem, dentro do sistema jurdico, solues adequadas aos novos conflitos, s novas demandas. Se formos rapidamente verificar a evoluo do Direito atravs do tempo, poderemos entender melhor porque cada vez mais este sistema jurdico custa a se reorganizar e dar respostas mais rpidas s questes emergentes deste findar de sculo. O poder jurisdicional do EstadoNao parece combalido diante da velocidade das transformaes de agora e da necessidade de reproduzir to rapidamente, quantas possveis, normas capazes de refletir a necessidade normativa da sociedade. Primeiramente, deveremos entender porque, no sistema jurdico, h posio distinta entre a Funo de Legislar e a de Jurisdicionar, ou seja, legislador de um lado e Juiz de outro. Esta distino autodisciplina o sistema jurdico, impedindo que todas as questes jurdicas possam ser decididas a partir de um nico ponto. Esta separao da funo legisladora da judicante impede que de um nico centro as decises jurdicas pudessem interferir nos interesses sociais. H que se ter normas que reflitam o estgio atual da sociedade. Normas que sero interpretadas pelo Estado. No mundo antigo, no era bem assim. Este princpio da diferenciao inexistia. O poder de execuo, legislao e jurisdio era concentrado nas mos de poucos. Na Idade Mdia esta forma de diferenciao
tinha, ainda, um significado muito limitado, porque qualquer separao mais profunda entre Legislar e Jurisdicionar estaria, certamente, pondo em perigo a unidade do Estado Territorial Poltico e juridicamente autnomo, governado pelo Prncipe. No sculo XVI esta forma de diferenciao do sistema jurdico aceita a idia de que qualquer Direito direito positivo segundo a substncia das normas e sua efetividade. O Direito Natural e o Direito da Razo servem como referncia em questes de justificao, como elemento de argumentao. H a reduo do Sistema Jurdico onde se aplica somente o Direito Positivo, ou seja, normatizado. No sculo XVII e nas primeiras dcadas do sculo XVIII vive-se a tica estritamente utilitarista, rompendo-se a superestrutura do Jus-naturalismo, onde a vontade de Deus era fonte fundamentadora de toda e qualquer moral, para dar lugar ao aparecimento de uma ruptura. A sociedade passa a ser o vis e fonte produtora das normas. Na Segunda metade do Sculo XVIII o sistema jurdico assume o papel de ser autoconstituinte, uma Lei Constitucional, incluindo fundamentos de vigncia do Direito. Passa a ter importncia a positividade da Lei Constitucional como fundamentadora do Direito e do Poder Estatal. Desta forma a legislao constitucional em sua reorganizao passa a ter uma importante referncia externa, "o povo" como uma soluo desta reorganizao do Direito, no estando mais nas "mos de Deus" ou do desptico Monarca, que o representava aqui na Terra. H um processo de codificao legal. No fim do Sculo XVIII o modelo sofre nova reviso, passando para um modelo de ordem/obedincia, onde h alterao com vistas relao legislao e jurisprudncia, ou seja, a exegese ou interpretao da norma. A funo jurisdicional do Estado passa a ter a reserva da interpretao da norma produzida pela funo legislativa do Estado. No Sculo XIX fica bem caracterizado o espao pblico e o privado, tanto na produo quanto na interpretao da norma. De um lado temos a vontade poltica, legislao e de outro a vontade privada, jurisprudncia, reconhecida pelos Tribunais. O grande paradoxo que o Juiz, fica vinculado Lei. A norma Constitucional nos diz que os Juzes so independentes e esto sujeitos Lei. So independentes sim, mas nem tanto, esto adstritos aos ditames da Norma Jurdica. Significando que a separao de legislao e jurisprudncia, na prtica, trata de uma no-separao, uma vez que o Juiz, no sistema jurdico, vincula-se Lei. Este aspecto da diferenciao das funes manifesta-se enquanto relacionada, materializada e observada do ponto de vista sistmico. Por exemplo, ningum ir solicitar divrcio ao parlamento ou requerer modificao de Lei ao juzo cvel. Esta diferenciao importante sim, frente s estruturas do sistema e da sociedade. Conforme vimos acima que da diferenciao do ponto de vista organizacional vale como pressuposto de tarefas, por exemplo: legislativa, justia, sade, educao e outras. Por sua vez, a diferenciao do ponto de vista social importa como unidade, ou seja, "sistema social jurdico", que operativamente fechado e reproduz suas prprias operaes, abrigando, na sua periferia, o legislador (faz as leis) e, no centro, o Juiz, aquele a quem cabe compreender e aplicar a norma jurdica dentro de uma certa discricionariedade. A modernidade(2), oferece uma viso de mundo prpria em que o sistema social, poltico, econmico, cultural, jurdico constantemente se inter-relacionam, cabendo funo legisladora captar, acomodar e positivar as normas, permitindo, assim, no que se chamou de autopoiesis do sistema jurdico, o filtramento
das irritaes vindas do mundo circundante. Isto nos remete abordagem da "Teoria della societ" luhmaniana, no sistema jurdico como funcionalmente autopoitico, autnomo porque produz novos elementos, complexo, dinmico e operativamente fechado, porque entra em contato consigo mesmo a cada nova operao. Que em sua periferia, est relacionando-se com o mundo circundante, numa forte relao de dependncia recproca, sofrendo "interferncias", "irritaes" de outros sistemas. Na metade do sculo XX, a modernidade d lugar mudana de paradigma. Comea a vigorar nova viso de mundo macro-econmica, geo-poltica, cultural, social. O novo paradigma da ps-modernidade(3), determina a falncia da Modernidade. A sociedade torna-se cada vez mais complexa, diferenciada internamente, onde cada subsistema a constroe segundo perspectivas prprias. Assim subsistemas tais como economia, famlia, moral, ensino, poltica, direito, sade, entre outros, esto funcionalmente diferenciados, organizados e, claro, estruturados dentro de suas peculiaridades. O capitalismo financeiro toma importncia cada vez maior na diferenciao das sociedades que passam de uma sociedade de massa para uma sociedade ciberntica, cuja seiva o intercmbio de informaes. H deteriorao das ideologias, no h mais sentimento. Capital no tem tica. Cada vez mais h fortalecimento das grandes corporaes econmicas, transnacionais e um enfraquecimento do Estado-Nao, com conseqente fortalecimento do Direito Comunitrio. Mudam-se as relaes internacionais e o poder econmico passa a concentrar-se nos que detm a tecnologia da informao. Novos valores aparecem ou so reforados nesta nova sociedade, como o sentimento de cidadania, resgate dos direitos humanos, preocupao ecolgica, entre outros. Em todas estas transformaes, existem descompassos gigantescos. Um dos quais e que mais nos tem chamado a ateno a do sistema jurdico, que no acompanha a rapidez das mudanas dos outros sistemas. O caminho do legislar longo e penoso. At que a funo legislativa perceba as "interferncias" advindas de outros sistemas e subsistemas, positivando-as para que a funo judicante interprete e jurisprudncia o percurso, complexo em processos morosos. "Se verdade que a soluo jurdica precede a soluo tecnolgica, tambm no menos verdade de que a soluo jurdica para as questes das novas tecnologias, que evoluem rapidamente, no pode depender de um processo legislativo arcaico, moroso por natureza, concebido num outro tipo de sociedade. bvio que no est mais atendendo s necessidades da sociedade ps-moderna. O derrame intermitente de tantas Medidas Provisrias vem, tambm, denunciar a falncia de todo o processo jurdico-normativo vigente. H que se encontrar mecanismos de legislao mais geis, caso contrrio a nova sociedade ter um modelo tecnolgico que no pra de evoluir e um modelo jurdico envelhecido."(4) Outra questo passa pelas solues esdrxulas encontrada pelos Poderes Executivo e Legislativo, aqui no Brasil. Assim que, no intuito de acelerar importantes votaes, de celerizar o processo legislativo e de retirar dos representantes do povo e dos EstadosMembros sua concincia de opinio, implanta-se o famigerado Voto de Liderana e do conceito distorcido, maquiavelicamente, de "Fidelidade Pardidria". Ambos usurpam a liberdade de conscincia individual dos parlamentares que aceitam e se prestam a papis anti-democrticos, tirados de decises dos chamados lderes do governo, que seduzidos por tais aes impositivas do Poder Executivo, decidem em nome da maioria amordaada. Sinais dos novos tempos. Nada mais do que solues de atalhos, infelizmente, utilizados em grande escala. Mais importante do que estas observaes ter em mente de que todas estas medidas destroem a capacidade de formao poltica e institucional de nossas
representaes, deixando muito a desejar a qualidade de nossas normas. Normas, regras legais, que deveriam dar o suporte necessrio ao sustentamento dos anseios da nova sociedade e, por conseqncia, aprofundaro o agravamento das crises a longo prazo nos mais diversos setores da economia, sade, educao, segurana, dentre outros. Tais aes, com certeza, no fortalecem o processo democrticolegislativo. Tais prticas desvirtuam suas funes ao sabor dos interesses e da interferncia de outros Poderes. Na ps-modernidade, na prtica, o Estado perde o conceito real de ser tripartide. A nova sociedade vem exigir respostas mais rpidas deste sistema jurdico, emergido em crise na ps-modernidade. Est cada vez mais patente que, contemporaneamente, a evoluo tecnolgica muda velhos paradigmas, erigindo outros modelos de comportamento, criando novas tcnicas, surgindo novas Cincias. Por estas razes est a se exigir, numa velocidade cada vez maior, a adequao de novas regras que dem guarida sociedade. Percebe-se que aquele modelo do Sistema Jurdico fechado e hierarquizado no consegue responder, na mesma velocidade, s necessidades normativas de uma sociedade extremamente afetada pelo desenvolvimento tecnolgico exacerbado. H que se buscar por um direito mais dinmico, mesmo que alimentado pelos inmeros sistemas contemporneos, de realidade ps-moderna, onde uma verdadeira teia de microsistemas legais, admitidos no sistema jurdico, possam construir, nas suas inter-relaes, a nova realidade tcnico-poltico-juriddico-cultural-social. Este novo contexto traz a idia de Justia Privada que toma importncia cada vez maior por ser mais gil, menos burocratizada, sem hierarquizao, podendo oferecer respostas mais adequadas aos interessados, a um custo muito mais baixo. Neste contexto ps-moderno o princpio da diferenciao toma outra conotao: o poder de execuo e jurisdio ser desconcentrado. Nesta viso, no cabe somente ao poder do Juiz a jurisdicionalizao e execuo da justia. Novas tcnicas e novos meios produziro justia e levaro seus efeitos ao Poder Jurdico Estatal, eliminando etapas processualsticas complicadas e morosas, permitindo deixando que as partes decidam, resolvendo o conflito utilizando-se da Mediao(5) . Na Arbitragem(6), o processo litigante e ao final produzida uma sentena arbitral dizendo com quem est a razo. Ser, sem dvida alguma, o desafogo dos nossos Fruns e Tribunais formais, bem como a democratizao da justia queles que tm dificuldades no acesso justia estatal. No temos dvida de que a Justia Estatal ir aos poucos facilitar a Justia Privada, principalmente por tratar-se de um sistema gil, dinmico, verdadeiro e mais prximo da sociedade. Com certeza, a Mediao e a Arbitragem encontraro neste mundo Globalizado o espao ideal para a soluo de interesses diversos e adversos, principalmente para as novas questes trazidas pelas novas tecnologias, pelas novas cincias, pelos novos Direitos. Tero mais liberdade e estaro mais prximos da realidade social, a lhes oferecer os meios necessrios na formulao de respostas hbeis e velozes aos seus anseios por justia. 2. Mediao no uma soluo. Uma necessidade. Neste contexto, h que se redefinir os papis de uma e de outra Justia. H que se dar espao para que a Mediao possa cumprir o papel de levar a justia nas questes que lhes cabe, democratizando seu acesso a todas as camadas sociais. No modelo atual do Direito, a resoluo de conflitos d-se na forma do
poder do Juiz, que decide o litgio.De outro lado, a Mediao no pode ser reduzida prtica jurdica. uma tcnica de resoluo de conflitos. H conflitos porque as pessoas pensam diferente, desejam diferentemente as mesmas coisas; agem diferente numa mesma situao. Lidar com as diferenas o grande segredo da Mediao. Minimizar as diferenas, o grande objetivo. Terminar com as diferenas, jamais. Posto que as pessoas so eternamente diferentes. Estamos atravessando um perodo de turbulncia globalizada, comandadas por novos paradigmas, onde modelos da modernidade vo mostrando sua falncia, dando lugar a novos modelos poltico-social-econmicos que impulsionando os Estados-Nao. Novos modelos de prestao de justia, menos onerosos e democrticos ressurgem com muita fora diante da necessidade que a sociedade possui de dar respostas s suas necessidades com maior celeridade. A Mediao torna-se, na atualidade, um modelo de justia privada necessria. Trata-se de um procedimento de criatividade interativo que requer pelo menos duas pessoas fsicas ou jurdicas, podendo ser uma fsica e outra jurdica, que estejam em conflito, denominadas de partes(7). Para ajud-las na resoluo do conflito, elegem pelo menos uma terceira pessoa, o mediador(8). A Mediao um processo de resoluo de conflitos autnomo e no heternimo, ou seja, no necessita de uma terceira pessoa para resolver ou decidir o conflito. Assim, o poder de busca da justia passa a ser autnomo, transferindo este poder para as partes em conflito. O desafio juntar as pessoas conflitantes e torn-las parceiras neste processo. Na Mediao no h culpados, h que se buscar incessantemente o entendimento entre as partes para que resolvam total ou parcialmente o conflito. Decidir por si mesmo, este um princpio regulador da Mediao. As partes tem que ter autonomia, interesse e solidariedade na soluo do conflito. A mediao tem por objeto principal a minimizao do conflito, ajudando a convivncia das pessoas e podendo, inclusive, fortalecer os seus vnculos, na medida em que cada qual, atravs do dilogo, reconhece no outro seus limites, possibilitando acordos que tragam benefcios desejveis, eficazes e duradouros por excelncia, evitando, com isso, o penoso enfrentamento dos trmites da Justia Estatal. Trata, portanto, de um processo clere, cercado da confiabilidade e da informalidade, que no pode se reduzido prtica jurdica. A Mediao poder ser Obrigatria(9) ou Voluntria(10). As diferenas aqui so mais de cunho processuais. Por exemplo: na Mediao Obrigatria os mediadores, inscritos em um Centro de Mediao, so sorteados para garantir a neutralidade. O acordo vincula as partes e tem fora de sentena, podendo ser executada. Na mediao voluntria as partes escolhem o Mediador. O melhor tipo de mediao, sem dvida, a voluntria, pois as partes vo predispostas a se aproximarem de uma soluo satisfatria. O Direito cincia. A Mediao no cincia. uma tcnica e como tal utiliza-se de regras e estratgias na conduo de suas sesses. muito mais a interpretao
de sentimentos do que de normas. Todavia, no pode ultrapassar os limites ticos e normativos vigentes. A nova sociedade informatizada est a demonstrar cada vez mais que as mudanas tecnolgicas vm ocorrendo em passos cada vez mais acelerados, interferindo na vida de toda a sociedade e, por conseguinte, de todos os cidados. As crises sociais decorrentes das mudanas tecnolgica tm demonstrado que o atual modelo de prestao jurisdicional estatal enfrenta sria crise. No consegue acompanhar a necessidade de resoluo de problemas na mesma velocidades com que so gerados. Cada vez mais a justia estatal fica assoberbada de processos que, diante de um sistema processualstico moroso, deixa de dar respostas em tempo compatvel. As mudanas tecnolgicas que se processam diante de ns nos permite viver o maior e mais formidvel acontecimento de nossa poca. No h dvida de que seremos todos afetados de forma direta ou indireta, integrados ou excludos nesta nova tecnologia. H uma nova configurao da atual ordem social. Cada vez mais a conscincia humana globalizada indica-nos a importncia do respeito aos direitos do homem e do cidado, a preservao ambiental, a constante necessidade de capacitao, a interdisciplinaridade, o aparecimento de novas cincias, a mudano nas relaes internacionais, nas relaes de emprego e assim por diante. A Mediao, com sua tcnica de resoluo de conflitos, capaz de oferecer respostas s mais diversas demandas. Est capacitada a permitir acesso justia a todas as camadas sociais. clere e altamente democrtica. Esta plenamente inserida neste novo contexto, nesta nova ordem social. A Mediao no somente uma soluo para os reclamos de justia, mas uma necessidade diante da velocidade de mudanas sociais. Tem condies de desempenhar seu papel, servindo de equilbrio e mantenedora das liberdades e dos direitos fundamentais do cidado, como por exemplo o acesso justia. Tem toda condio de ser instrumento de resoluo de conflitos ambientais, tecnolgicos, informticos, bem como das novas questes trazida pela cincias emergentes, tais como a biotecnologia, ciberntica, telemtica, entre outras. Sem dvida, a Mediao, neste contexto da sociedade informatizada diante do embate entre o novo e o antigo, tem nas partes conflitantes o caminho para o entendimento e a melhora da qualidade de vida de cada um e, por conseguinte, de nosso planeta. No est nas mos de nenhum magistrado, est nas mos dos maiores interessados, os cidados comum. Mediador, facilitador da comunicao entre as partes Mediador - pessoa com formao tcnica especializada, treinada e preparada para, com a mxima imparcialidade coordenar sesses de mediao Escuta atentamente as partes. O Mediador deve ter todo o tempo do mundo para escutar. Ter pacincia e Ter sempre em mente que se h uma mediao porque falhou a comunicao entre as partes. O Mediador possibilita que esta comunicao seja restaurada. Que as partes tenham o mximo de oportunidade para dialogarem
entre si. importante que sintam-se escutadas e compreendidas, o que lhes dar maior confiana no processo. Desta forma, o Mediador dirige a sesso, conduzindo-a imparcialmente, sem julgar, nem decidir. Sua funo informal e de aproximao das partes. Controla o processo da mediao sem interferir no seu mrito. Parafraseia cada parte para demonstrar que entendeu, sem no entanto expor o seu ponto de vista do conflito. Tcnica que serve para simplificar e ordenar, jamais para decidir ou orientar decises. O parafraseamento no obrigatrio, porque o relato da parte pode ser conciso e claro. Todavia, se for necessrio, deve ser realizado com cautela. No para fazer uma repetio exata do que foi dito e nem colocar a sua interpretao. Deve assumir o carter de um resumo, digamos mais humanizado, onde o mediador deve procurar retirar da fala os pontos negativos, palavras chulas, ofensivas. E se o conflito esquentar, as partes passarem a se ofender, deve o Mediador interromper? O papel do Mediador, como j frisamos, o de facilitar a comunicao entre as partes. Nem toda interrupo negativa. Deve saber discernir o momento adequado. Todavia, tomar cuidado ao fazer esta interrupo. Nunca entrar no clima das partes, discutir com elas. Lembrar que a Mediao um dilogo. Que no dilogo algum fala e outra escuta. Que a oportunidade ser dada igualitariamente. Poder utilizarse da Sesso Privada(11) com a parte mais agressiva e dar a mesma oportunidade outra parte. Porm, observar sempre a regra do sigilo e trabalhar no sentido de que tudo o que seja tratado nesta sesso, seja trazido sesso conjunta pela prpria parte. Fundamental para firmar a confiabilidade no Mediador. fundamental que o Mediador saiba as razes do conflito. Por isso tem que trabalh-lo, lidando com os receios e as expectativas. Lidar com os segredos que esto por detrs do conflito. Se o jurista deve interpretar o segredo da norma, cabe ao mediador interpretar o segredo do conflito. Interpretar os segredos de cada participante, bem como os segredos que envolvem as relaes. Neste aspecto a mediao cercada de infinitos detalhes para os quais o Mediador tem que estar atento. Atentando para estes aspectos poder, atravs de perguntas, abrir novos caminhos no descobertos pelas partes, escondidos pelas questes mais fortes que os levaram mediao. Ter em mente de que tudo faz parte do conflito, incluindo as questes scioeconmico-culturais. Por isso salutar que trabalhe o conflito tendo a viso de mundo. Podemos afirmar que o conflito vai alm do normativo. No processo jurdico o pretendido no pode ser modificado. Somente atravs de novo processo, novo pedido. O Juiz no pode julgar alm do pedido. Na mediao, no h esta estrutura rgida de poder e de processo. A pretenso pode ser modificada a qualquer tempo. Alterada ao sabor do entendimento das partes. Ajustada realidade de cada um. Mas democrtica e distributiva. Tudo porque muita das vezes os interesses que envolvem o conflito no a pretenso inicial e sim so desejos ocultos e expressos que afloram durante a Mediao. Atrs de cada problema, de pedidos materiais h sempre interesses em jogos. Sejam interesses comuns, compartilhados entre as partes ou interesses opostos que se chocam. Interesses cuja satisfao
de um incompatvel com a do outro. So interesses incompatveis que necessitam ser negociados. H tambm interesses diferentes sobre uma mesma questo, como por exemplo o rompimento de uma sociedade. Um quer permanecer com o negcio o outro deseja afastar-se. Interesse plenamente negocivel. Cabe ao Mediador detectar os interesses comuns, opostos ou diferentes e trabalh-los, sem influenciar, sem sugerir, sem interferir. Ou seja, ajudar as partes para que vejam seus interesses, que na maioria das vezes nem elas sabem quais so e como trabalh-los. O Mediador pode ajudar atravs de perguntas circulares(12), abertas(13( ou fechadas(14) . Perguntas que devem ser formuladas com cuidado para que seja mantida a imparcialidade do Mediador. As perguntas abertas do melhores condies de trabalho ao Mediador que adquire uma viso maior do conflito e do que pensam as partes. J a perguntas fechadas, se forem usadas em larga escala podero dar a impresso de que as partes esto sendo interrogadas, criando um distanciamento entre Mediador as partes conflitantes. Questionar , sem dvida, a melhor forma de incentivar o dilogo entre as partes fazendo com que discutam, reflitam e decidam o que fazer e o que transacionar. Pode chegar inclusive a concluso de que determinados interesses no podem ser satisfeitos, seja por questes sociais, tica, morais ou legais. muito importante que o Mediador trabalhe sem prever o resultado e sem querer a qualquer custo "fazer" um acordo ou ter o acordo como um fim. O seu desafio maior chegar ao final da Mediao e que as partes se sintam melhor e recompensadas. Para isso o Mediador deve ser solidrio e afetivo, colocar-se como catalisador positivo, transformador. O pensamento do mundo jurdico o de que tudo que no est nos autos no existe. O que no est no processo, no est no mundo. Se o fato no pode ser provado no existe. Na mediao no bem assim, nesta certeza, na plenitude do Direito moderno. A mediao revigorada na vivncia da incerteza constante, do dito pelo no dito. Aproximar-se pelo segredo, pelo que est atrs da prpria fala do outro. No cabe ao Mediador o papel de procurar provas e verdades. Talvez aqui o aspecto mais difcil da mediao, o de permanecer eqidistante do mrito do conflito, sem influenciar nenhuma das partes. Neutralizar-se sem manipular a mediao e sem oferecer solues. Sem dvida estamos diante de um problema difcil. Como evitar que inconscientemente o Mediador sutilmente possa persuadir uma das partes ou as partes propondo solues, para que firmem um "acordo desejado"? Acordo este desejado por quem? Pelas partes ou a que o Mediador julga ser? Somente com muita tcnica, estudo e experincias acumuladas permitiro que, ao longo do exerccio profissional, o Mediador desenvolva suas habilidades essenciais, adquirindo tcnicas de comunicao e de conduo de sesses que lhes dem a imparcialidade, a empatia necessria na conduo do processo de mediao. Haver de desenvolver cada vez mais a criatividade, saber olhar atravs e alm dos relatos, ter o raciocnio gil, flexibilidade, autoridade, segurana e cada vez mais valorizar sua capacidade de escutar sem opinar. Ter em mente que os conflitantes tornam-se presas fceis e vulnerveis a receberem opinies, "conselhos", por estarem, de certa forma, predispostos resoluo do conflito. Um outro fator tico que cerca a profisso do Mediador o sigilo que deve envolver todos os procedimentos da mediao. Jamais poder revelar s partes
o que sabe sobre as mesmas ou da situaes que envolvem o conflito quando lhes passado em Sesso Privada(15), somente se por elas autorizado. Tal procedimento proporcionar a confiabilidade das partes seja no Mediador ou no processo de mediao. O Mediador tem, tambm, a responsabilidade tica de no assumir os problemas de nenhuma das partes ou seja, no tomar partido. Dever para isso despir-se de seus preconceitos para evitar idias pr-concebidas do conflito ou de atitudes das partes ou de uma das partes. Bem como fugir daqueles modelos excludentes na sociedade, tipo modelo sexual, prestgio social, mulher ser sempre a parte frgil e assim por diante. Na realidade muito difcil portar-se desta maneira to isenta, visto que cada indivduo est envolto por inmeros preconceitos que moldam a sua estrutura cultural, tica, religiosa e moral. A luta para eliminar os preconceitos deve ser diria, isto evitar rotular uma das partes, bem como eliminar a possibilidade de proteger a parte que julgar ser a mais fraca no conflito, em virtude da sua viso dos modelos e esteretipos criados pela sociedade e absorvido durante a vida. A Inter-disciplineralidade da Mediao: "No h nada fixo nas idias, h um fluxo de saber" A Mediao s ter xito se lhe for garantida a interdisciplinaridade de funcionamento. O de no ser privilgio de nenhuma classe profissional. H correntes, no entanto, que defendem o exerccio somente para Advogados. No mnimo um erro de avaliao e de conhecimento. A destempo de pertencer a esta Classe, creio ser destemperada tal pretenso. No mnimo uma pretensiosa e desnecessria reserva de mercado. A viso de conflito por parte do Advogado diametralmente oposta das tcnica da Mediao. O advogado v no conflito um litgio e como tal tenta resolv-lo dentro de tcnicas pelas quais foi treinado durante toda sua vida universitria e profissional. Tcnicas estas que no se coadunam com as da Mediao, que no enxerga o conflito sob a tica litigiosa. O Advogado foi treinado para interpretar normas. O Mediador treinado para ver o que est por detrs dos fatos. Deve escutar sem a preocupao com a razo jurdica e sim com os interesses em jogo. So, pois, diferentes as tcnicas de comunicao. O advogado tem por princpio tomar as rdeas do litgio e decidir qual o caminho a trilhar, convencido de ser o melhor para seu cliente. Trabalha num plano superior ao do cliente e do litgio. O grande "plus" da mediao que todos trabalhem num mesmo plano de comunicao. S assim poder-se- criar ambiente propcio para escutar e escutar, entender a relao conflituosa, identificar os interesses de cada parte, os interesses comuns e os interesses ocultos. Somente numa posio de comunicao mais horizontal, sem interferir no processo mediatrio poder obter algum sucesso, na vontade nica das partes, solucionando total ou parcialmente o conflito. Vejo na advocacia uma das profisses mais difceis de ajustar-se aos princpios e objetivos da mediao, no que seja impossvel, mas porque o advogado, no processo litigioso, est numa posio de poder, de mando, de controle das decises e o cliente procurando por justia, resignado pela confiana e crena que a capacidade do seu patrono resolver o litgio, mesmo este tendo, ainda, que passar por todo o moroso processo na Justia do Estado. De outro lado, o advogado-mediador de suma importncia, pois que dar, com certeza, maior segurana aos ditames dos acordos. Todavia, para ser mediador
ter que enfrentar treinamento e reformular toda sua conduta, a comear pela viso do conflito, libertando-se da viso litigiosa, que parte do princpio do culpado e do inocente. Diante desta dicotomia, arquiteta suas peas jurdicas, onde muito pouco ou nada existe da participao do cliente, a no ser pelos relato dos fatos e das provas. Na Mediao, tenta-se diminuir o nvel do conflito, aproximando-se pessoas. Isto no significa que advogados no possam ser mediadores, como quaisquer outras profisses, desde que todos que desejam mediarem, indistintamente da profisso que abracem, participem de cursos de especializao e de curta durao para assimilarem tais tcnicas. H em certos tipos de mediao, mais especficas, como por exemplos as familiares, a necessidade de se trabalhar com a tcnica da co-mediao(16), ou seja, com mais de um mediador, sendo que um destes mediadores poder ser advogado, psiclogo, assim por diante. Os bons Centros de Mediao devem primar para possuir um quadro interdisplinar de mediadores. S assim o Centro ter capacidade de oferecer mediadores mais qualificados. Necessitamos abrir as portas do prximo milnio para que todos possam laborar em igualdade de condies, sobressaindo-se pela melhor capacitao e tcnica. Por esta razo, no devemos nos enclausurar, impedindo a participao, neste processo clere e democrtico, de classes de profissionais. Sabemos que nesta nova Era, liderada pelas tecnologias da informao, reinar, sem dvida, a interdisciplinariedade na conduo das mais diversas questes do cotidiano, num mundo globalizado, aproximando-se cada vez mais do Estado Global, cujos verdadeiros direitos do homem e do cidado sero universalmente reconhecidos e tratados sob a tica solutiva por intermdio da Justia Privada Supranacional ou pela Justia Comunitria. Encastelar a mediao e arbitragem no privilegiado exerccio de uma nica profisso , tambm, vedar os olhos da justia privada, desconhecendo os anseios e necessidades da nova sociedade da informao. no ter a viso de mundo, certamente no vislumbrando as oportunidades multidisciplinares existentes alm de seu quintal . 5. Mediao Transformadora, garantia de melhor qualidade de vida. A Mediao Transformadora tem por objeto fazer com que os conflitantes detenham o poder de buscar entre si a melhor das solues, minimizando o conflito e alcanando, com isto, uma melhor qualidade de vida. Este o aporte epistemolgico da Mediao Transfomadora, a oportunidade de transfomao do indivduo na direo de uma melhor qualidade de vida. A melhor qualidade de vida se obtm na medida em que as pessoas no fiquem aprisionadas ao passado, mas que vejam, na mediao, a possibilidade de se sentirem fortes para decidir suas vidas e, por conseguinte, o conflito em si mesmo. Portanto, na Mediao Transformadora as pessoas entendem que no modificaro seus passados. A grande transformao acontece no presente, prevendo um melhor comportamento para o futuro. Neste prisma, existe uma importante funo pedaggica na mediao, na medida em que transforma o conflito em busca de uma melhor qualidade de vida. Quando na Justia Estatal o Juiz decide um conflito, no h preocupao com a funo pedaggica, ou seja, se as partes se transformaram ou no. Na Mediao Transformadora h sempre uma preocupao pedaggica no sentido de que as partes se transformem, de que o conflito minimize sua intensidade ao mnimo possvel, para que tenhamos uma mediao exitosa.
A Mediao Transformadora permite trabalhar com a diferena do outro. A parte se transforma, colocando-se no lugar da outra. Quando se preocupa com as outras pessoas est preocupando-se consigo mesmo. Este um princpio em que na medida, por exemplo, que analiso e me preocupo com a diferena, com o conflito do outro, abre-se uma enorme possibilidade de realizar-se a minha transformao. Logo, possibilitando-me crescer individualmente, a entender o problema do outro e obter , com isto, uma melhora na qualidade de vida. O Mediador tem a funo primordial de atuar no sentido de que cada parte se coloque dentro do problema do outro, no intuito de que se modifiquem a partir desta viso alheia, no para entend-lo, e sim para entender-se. O objetivo a transformao do conflito nas pessoas, realizando a diferena, produzir com o outro o novo, ou seja, uma nova diferena. Portanto, o Mediador ajuda as partes a produzirem um novo atravs de seus conflitos. Desta forma, o conflito transformado por intermdio de uma administrao constante. Todavia, o Mediador no deve incorporar estas diferenas produzidas, elas no se transferem. A confiana das partes no Mediador fundamental para o sucesso deste processo transformativo. 5. Mediao Ecolgica, qualidade de vida universal O homem sempre foi o maior e mais voraz depredador da natureza. No tem a viso sistmica integrada de mundo e to pouco absorve esta viso do Universo. Todavia, neste findar de milnio, h uma conscientizao para a importncia das questes ambientais. Danos ambientais, em sua maioria, so irreversveis, o que requer uma atuao preventiva rpida e eficaz. A Mediao tem a possibilidade de ocupar espao em discusses desta natureza. Com sua tcnica e possibilidade de minimizao do conflito, de resoluo parcial ou total, soluo buscada pelas partes, agressora ambiental e defensora do meio ambiente, possvel que todos ganhem em qualidade de vida. Por certo tratar-se- de Mediao especializada e como tal requerer muito treinamento por parte do Mediador. O Mediador deve ter bem claro o que qualidade de vida, necessita ter a concepo ecolgica da vida. Deve deixar exposto em seu discurso inicial o que ecologia; ambiente e Mediao Ecolgica. E, se todos esto numa sesso de Mediao-Ecolgica porque esto preocupados com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. O objetivo da Mediao-Ecolgica o princpio regulador da ecologia, dever de cuidado; viver o mximo possvel em melhores condies. A sobrevivncia um desejo latente no ser humano. H um desejo de viver bem, melhor e mais. Na medida em que este desejo de sobrevivncia for trabalhado, nascer o desejo de lutar para sobreviver. O somatrio ser o nascedouro do desejo coletivo de preservao da vida e teremos uma melhor qualidade de vida planetria. As partes devem ter a conscincia, tambm, de que um dos princpios da Mediao o dever de decidir por si mesmo, ou seja, ter autonomia para decidir, interesse em decidir e solidariedade com a humanidade. Ser tambm aconselhvel a realizao de Co-Mediao, visto que as sesses conjuntas so muito mais complexas
porque dela participam muitas partes e esto implcitos mltiplos interesses. Tambm h elementos sociais, polticos e econmicos a considerar. Por sua vez, as partes podero ter assessoramento, consultores e advogados. Na MediaoEcolgica a ecologia pode ser vista sob a forma de um paradigma, uma nova viso de mundo, tendo como funo a de melhorar a qualidade de vida. Epistemologicamente, consiste na oportunidade de transformao do indivduo, das partes, para melhorar suas qualidade de vida. A Mediao-Ecolgica tem funo mais pedaggica do que punitiva. Muito mais preventiva e de inserir uma conscincia ecolgica. A mediao ecolgica tem muito pouco a ver com os ditames das normas, tem a ver com o que as partes adquiram a verdadeira conscincia ecolgica. Para se mediar no h que tomar, necessariamente, o normativo, como prioridade. A norma existe para ser cumprida, mas se o indivduo adquirir a conscincia ecolgica no necessitar da norma. satisfatrio para o Mediador Ecolgico se conseguir que as partes, ao final da mediao ou co-mediao, adquiriram um certo grau de conscincia de qualidade de vida, compreenderam, entenderam e aprenderam a importncia da ecologia. Marco Antnio Machado Ferreira de Melo Notas (1) Thomas S. Kuhn, in A Estrutura das Revolues Cientficas explica que paradigmas constituem-se nas realizaesuniversalmente reconhecidas que fornecem problemas e solues modelares para uma comunidade de praticantes da cincia. Dois divisores de guas , dois paradigmas que mudaram a sociedade planetria. O paradigma da modernidade: industrializao; o paradigma da ps-modernidade: as novas tecnologias da informao (2) A Industrializao ou a chamada Revoluo Industrial foi o grande marco, o paradigma da modernidade. Uma viso de mundo. Uma nova concepo do modelo econmico. Iniciada no sculo XVIII, na Inglaterra, quando fatores econmicos, polticos e sociais da poca lhe propiciaram estar frente e deflagrar um novo perodo frtil para a humanidade. Surge o capitalismo, a produo em massa substitui produo artesanal. O Estado absolutista e arbitrrio d lugar ao Estado de Direito. O Estado Constitucionalista, prima pelo equilbrio dos trs poderes: legislativo - produtor das leis, limitando as tarefas do executivo; ao judicirio delega o dever de solucionar os conflitos. A Modernidade, no seu processo evolutivo, interferiu nas relaes scio-econmico-poltico-sociais da humanidade at no final da primeira metade do Sculo XX. (3) Tem como marco a inveno do primeiro computador, em 1947, Eletronic Integrator and Caculator-ENIAC, nos estados Unidos. A partir da inveno do micro chip, nestas trs ltimas dcadas, a informtica, aliada s tecnologias das telecomunicaes imprime mudana radical nos modelos econmicos, geo-polticos, culturais, cientficos da humanidade. a chamada novas tecnologias da informao ou de revoluo digital vm dar um tom todo especial para este findar de milnio, na formao de uma nova sociedade estruturada alm dos conceitos da modernidade, onde a velocidade das inovaes tecnolgicas acontecem em espaos de tempo cada vez mais curtos e de impacto universal.
(4) Ferreira de Melo, Marco Antnio - Spam - Lixo Eletrnico. Revista da Informtica Jurdica, 04/08/98, http://infojur.ccj.ufsc.br/revista.htm (5) A Mediao um processo de resoluo de conflitos autnomo e no heternimo, ou seja, no necessita de uma terceira pessoa para que resolver ou decidir o conflito. Assim, o poder de busca da justia passa a ser autnomo, transferindo este poder para as partes em conflito. (6) Processo que requer pelo menos duas pessoas fsicas ou jurdicas, ou uma fsica e outra jurdica, que estejam em litgio. Para ajud-las na soluo do litgio elegem pelo menos uma terceira pessoa, rbitro, que atravs de uma sentena por fim ao litgio na rea arbitral. Na Arbitragem h um processo que reveste-se de formalidades. Clere, cercado da confiabilidade e da formalidade necessrias ao desenvolvimento do processo arbitral. Cabe ao rbitro conduzir todo o processo, colhendo depoimentos das partes e de testemunhas, provas, documentos, laudos periciais, para fundamentar sua sentena arbitral. O rbitro tem o poder de decidir pelas partes. De sua sentena arbitral no cabe recurso, podendo ser impugnada a chamada Ao de Nulidade, por erro cometido na conduo do processo, mas nunca sobre questes de mrito. A arbitragem tem por objetivo principal a soluo do litgio, evitando, com isso, o penoso enfrentamento dos trmites da Justia Estatal. (7) Decidem livremente se vo ou no participar da mediao. Possuem o livre arbtrio para retirarem-se do processo de mediao a qualquer tempo. Desobrigadas a chegarem a um acordo. O acordo poder ser total ou parcial e ter o mesmo valor de um acordo extrajudicial. Podem, mesmo durante o processo da mediao, optarem por outras formas para resolver seus problemas. (8) Pessoas com formao especializada, treinada e preparada para, com a mxima imparcialidade, aplicar tcnicas de comunicao acurada e regras para conduzir as sesses de mediao. (9) Quando est estipulada em clusula compromissria. Na sesso obrigatria as partes podem no querer realiz-la e ir direto para a Arbitragem. De qualquer forma instalada a Sesso e lavrado Termo, que vai assinado por todos. (10) As partes escolhem como meio para derimir o seu conflito a Mediao. Pode ser realizada sem a presena de advogados. (11) Reunio realizada entre o Mediador e uma das partes reservadamente. Sesso sigilosa. Mediador no pode transmitir nada do que ocorreu nesta sesso, a no ser se autorizado expressamente pela parte. Sendo que se realizada com uma delas, deve ser realizada uma nova sesso com a outra parte, para manter a iseno do Mediador. uma excepcionalidade. Poder ser solicitada pelas partes ou sugerida pelo Mediador. Situaes em que poder ser solicitada pelo Mediador: quando notar que uma das partes est muito agressiva e se puder trabalhar esta agressividade; quando perceber que uma das partes por demais tmida e tem dificuldade de expressar seus pontos de vista; quando perceber que uma das partes est deliberadamente atrapalhando o andamento da sesso; para tranqilizar uma das partes, se esta estiver muito nervosa; quando notar que poder detectar interesses ocultos no conflito; para verificar o que
se chama de preo reservado, verificar qual o mximo a parte est disposta a dar e qual o mnimo que a outra est disposta a receber; para avaliar e fazer com que uma parte se coloque no lugar da outra; para tocar em aspectos legais que se trabalhado em conjunto poderia ser demonstrado com quem est a razo, mesmo porque pode uma das partes pretender direitos indisponveis. O Mediador tem que manter sua imparcialidade. Aqui trabalha-se questes da seguinte forma: voc consultou seu advogado sobre sua pretenso? O que o Advogado falou? Por que sabendo isto voc reclama? Por que no consulta um advogado? Podemos suspender a sesso. Mas nunca dizer com quem est a razo. A Sesso Privada tambm pode ser realizada com os advogados das partes, principalmente se estiverem dificultando a sesso, interrompendo-a constantemente e solicitar-lhes colaborao ou at mesmo para demonstrar que o advogado est tendo uma viso errnea do conflito, querendo, por exemplo, propor acordo imediatamente. Mostrar que as partes devem chegar s suas concluses. (12) So perguntas que buscam contextualizar a situao, principalmente quando poder ampliar o campo contextualizado. Muito utilizadas em sesses privadas, sendo vivel a aplicao da mesma pergunta a cada uma das partes. (13) So as que buscam um maior leque de informaes. D oportunidade para que a parte se abra mais, saia de dentro de si. Muitas vezes so perguntas que coloca uma parte no lugar da outra, para que enxergue o problema na tica do outro. (14) So aquelas que esto mais focalizada, mais centradas no interesse ou na questo, esperando respostas mais concretas, do tipo sim e no. (15) Sesso Privada. Reunio em separado realizado entre uma das partes e o Mediador. Oportunidade em que a parte envolvida no conflito poder relatar fatos mais ntimos ou aspectos que julga ser importantes esclarecer. O sigilo fundamental e o Mediador s poder reportar-se na Sesso conjunta somente naquilo que lhe for autorizado falar. Caso contrrio ter que guardar em absoluto segredo o que lhe for relatado e no autorizado falar. (16) Quando mais de um Mediador trabalha em uma mediao. Alm da afinidade que deve existir entre eles, a tcnicas utilizadas na co-mediao so as mesmas da mediao, incorporadas outras para facilitar o trabalho em conjunto, tais como: sempre que desejarem replanejar ou modificar alguma estratgia na sesso, devem ausentar-se da sala e estabelecer em conjunto os novos rumos; nunca discutir questes de conduo da sesso na frente dos mediados; sempre falar no plural; o trabalho em conjunto e em igualdade de condies. A vantagem da comediao uma melhor viso do fenmeno, bem como a possibilidade de multiplicar a viso do conflito. BIBLIOGRAFIA BRASIL. Lei no 9307, de 23 de setembro de 1996. Dispe sobre a arbitragem. CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. Traduo: Roneide Venncio Majer. Editora Paz e Terra, So Paulo, 1999, p. 77
RIBEIRO, Darcy. O Processo Civilizatrio: estudos de antropologia da civilizao; etapas da evoluo scio-cultural. 8a. Ed. Petrpolis, Vozes, 1985. 260p. p.47 FARIA, Jos Eduardo (org.). Direito e Globalizao Econmica: Implicaes e Perspectivas. So Paulo. Malheiros Editores Ltda. 1996 160 p. FERRAJOLI, Luici. O Direito como sistema de garantias in: O novo em Direito e Poltica/ Jos Alcebades de Oliveira Jnior (org.). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p 89-109 KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revolues Cientficas. Ed. Perspectiva, 1975. LVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligncia: O Futuro do Pensamento na Era da Informtica. Trad. Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993, 208 p. LVY, Pierre. A Inteligncia Coletiva: por uma antropologia do ciberespao. Trad. Luiz Paulo Rouanet. So Paulo: Ed. Loyola, 2 ed., 1999, 12-212 p. LVY, Pierre. O Que o Virtual?. Trad. Paulo Neves. So Paulo: Ed. 34, 1996, 160 p. MATHELOT, Pierre. A Telemtica. Trad. ngelo Barreto e Leonor Ramos. Lisboa Portugual: Edies 70, 1982, 126p. MENEZES, William e Lus Francisco. Resumo de Histria: O Movimento Operrio e as Ideologias do Sculo XIX. Disponvel na Internet. http://www.inx.com.br/~william/resumo1.htm em 26/06/2000 ROVER, Aires Jos. Introduo aos Sistemas Especialistas Legais: Dificuldades acerca do Sistema Jurdico in, Paradoxos da auto-observao: Percursos da Teoria Jurdica contempornea / Leonel Severo Rocha (org.). Curitiba: JM Editora, 1997. p93-125. Y. DEZALAY, David M. Trubek, "A Restruturao Global e o Direito", in Direito e Globalizao Econmica: implicaes e perspectivas, FARIA, Eduardo Lima (org.). Ed. Malheiros, SP, 1996, p.49. SALES, Jos Roberto da Cunha. Tratado da Praxe Conciliatria ou Theoria e Prtica das Conciliaes e da Pequena Demanda. Ed. Nicolao DOliveira S.C. Rio de Janeiro, 1879 MAUBERT, Jean-Franois. Negociar - A Chave para o xito. Edies CETOP. Portugal. 1991. 272 p. Levantamento e reedies de medidas provisrias: dados atualizados em 28 de fevereiro de 1999. 8. Ed. Braslia: Senado Federal, 1999. 368p. FUNDAMENTOS JURDICOS PARA O ENSINO POR TELEPRESENA
Hugo Cesar Hoesch Ricardo Miranda Barcia .................... "RECONHEO QUE, SE PODERIA CAMINHAR COM O EMPREGO DA INFORMTICA PARA AGILIZAR O ANDAMENTO PROCESSUAL, UTILIZANDO-SE A TELECONFERNCIA PARA SE INTERROGAR RUS E TESTEMUNHAS RESIDENTES EM OUTRAS COMARCAS...". .................... Jesus Costa Lima Ministro do Superior Tribunal de Justia 1. Introduo A utilizao da telepresena est destinada a ser uma prtica comum para os atos da vida civil. Muitos avanos positivos esto por vir, mas alguns deles j esto ao nosso alcance, como, por exemplo, na educao. Algumas Universidades brasileiras j oferecem cursos regulares - devidamente aprovados, reconhecidos e homologados nas instncias competentes e ministrados dentro do campus das respectivas instituies, em suas respectivas cidades - que contam com a participao de alunos conectados atravs das tecnologias da telepresena, de forma tal a que alunos participem das aulas, interativamente, em salas previamente preparadas, mediante a transmisso bilateral de imagens, voz e dados, como se estivessem nas salas da respectiva instituio, configurando a chamada "presena virtual", a qual reconhecida como similar "presena" pelos tribunais brasileiros. 2. Presencial virtual = Presencial. Presena e telepresena so, juridicamente, iguais, no mbito de seus efeitos, para os fins aqui discutidos. O ensino realizado pelo modelo telepresencial equivale quele realizado pelo modelo presencial, pois "telepresena" equivale "presena", conforme esto decidindo os Tribunais nacionais. No se restringindo a decidir sobre o assunto, o judicirio nacional est aplicando a telepresena em atos judiciais tradicionamente solenes, como, p. ex., interrogatrios, conforme se ver mais adiante. A modalidade de ensino denominada como "presencial virtual" materializa absoluta interatividade entre os participantes. Seu funcionamento o seguinte: cmeras e monitores posicionados nas salas onde se encontram professores e alunos permitem que todos possam efetivar perfeita comunicao interativa, como se presentes estivessem. Eles esto "telepresentes entre si", como se estivessem todos no mesmo lugar. A telepresena diferencia-se do aparendizado passivo, modelo "telecurso", pois permite o dilogo imediato entre mestre e aluno, como se estivessem na mesma
sala. Isto , o aluno pode interromper o professor, a qualquer momento, para esclarecer dvidas e efetuar questionamentos, "olho no olho", podendo o mestre visualisar o aluno e conferir suas ponderaes em tempo real, podendo, inclusive, avaliar seu comportamento em aula, com tranquilidade. 3. Ensino por telepresena diferente de ensino a distncia Telepresena e ensino a distncia so conceitos diferenciados. O uso da telepresena no pode ser erroneamente confundido com o ensino a distncia. A telepresena no uma espcie integrante do gnero ensino a distncia. Este normatizado pelo DECRETO N. 2.494, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998, o qual, por sua vez, regulamenta o artigo 80 da LEI 9.394/96, a LDB. O ARTIGO 1. do referido Decreto estabelece a noo de ensino a distncia: "Art. 1 Educao a distncia uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediao de recursos didticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informao, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicao". Telepresena outra coisa, mais sofisticada e humanizada. Na telepresena, os homens conduzem o processo, no as mquinas, eis que ela no se restringe a uma emisso de sinais que geraro condies para o aprendizado passivo. O modelo baseado na telepresena diverso do descrito no Decreto citado, por diversas razes. As principais so as seguintes: I - "...auto-aprendizagem...". O modelo telepresencial no baseado na auto-aprendizagem. No h uma participao passiva do aluno, simplesmente assistindo s aulas pelo vdeo e respondendo questes em sua apostila. Muito pelo contrrio, o sistema baseado na telepresena dinmico, como j foi enfatizado, no qual o aluno e o professor esto se enxergando mutuamente, cada qual em seu video, com retorno integral de udio, imagens e dados, em tempo real; II - "...veiculados...". A sistemtica telepresencial no se resume veiculao, em vdeo, do material ditdico, pois promove a conexo, por telepresena, entre os participantes da aula (professores, alunos e monitores), todos ao mesmo tempo. No se trata de uma simples emisso de sinal, passivamente captada pelo aluno, como se estivesse assistindo a um canal de televiso. Pelo contrrio, pois mestre e aluno esto vendo uns aos outros todo o tempo, enquanto estiverem conectados telepresencialmente. Assim, os cursos em tela no podem ser caracterizados como "a distncia", mas sim como "presenciais", sob a modalidade da telepresena. 4. Diretriz Jurisprudencial O emprego da telepresena admitido pelos tribunais brasileiros como prtica vlida, segura e confivel. Atos nos quais as leis exigem que as pessoas estejam presentes diante de um magistrado esto sendo praticados mediante a telepresena, como depoimentos e interrogatrios. Isso est acontecendo em razo da
admisso de que a presena remota, ou telepresena, surte, juridicamente, os mesmos efeitos que a presena, em situaes como as discutidas, nas quais as pessoas necessitam ver e ouvir, interativamente, umas s outras, podendo dialogar livremente, debater, questionar e responder, como se estivessem presentes no mesmo local. Os depoimentos e testemunhos judiciais so atos pessoais, que exigem a presena da parte interessada, que ser ouvida. Sobre isso, veja-se a seguinte deciso do egrgio Superior Tribunal de Justia: Acrdo: RHC 7462/DF ; RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS (1998/0022261-8) Fonte: DJ DATA:22/02/1999 PG:00112 Relator: Min. JOS ARNALDO DA FONSECA Data da Deciso: 16/06/1998 Orgo Julgador: QUINTA TURMA Ementa: "RECURSO EM "HABEAS CORPUS". PROCESSUAL PENAL. EXECUO. REGRESSO DE REGIME. FALTA GRAVE. INQURITO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA DO CONDENADO. - Nos termos da Lei de Execuo Penal, faz-se imprescindvel a presena fsica do condenado para ser ouvido, em audincia, pelo juiz, e desse modo o amplo direito de defesa pode e deve ser exercitado mediante oposio tcnica ao pedido de regresso requerido a realizar-se por seu patrono, constitudo ou integrante da defensoria pblica". - Recurso conhecido e provido. Deciso: Por unanimidade, dar provimento ao recurso. No h dvida quanto necessidade de presena da pessoa diante do magistrado, conforme reitera o precedente a seguir transcrito, da mesma Corte: Acrdo: RHC 7459/DF ; RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS (1998/0022253-7) Fonte: DJ DATA:31/08/1998 PG:00120 Relator(a): Min. VICENTE LEAL Data da Deciso: 23/06/1998 Orgo Julgador: - SEXTA TURMA Ementa:
"EXECUO PENAL. FALTA GRAVE. APURAO. REGRESSO. PRVIA AUDINCIA DO CONDENADO EM JUZO. INDISPENSABILIDADE. LEI N 7.210/84, ART. 118, 2. - A Lei n 7.210/84, que instituiu entre ns a poltica de execuo penal, incorporou no seu texto dogmas de elevado contedo pedaggico e de grande alcance na busca do ideal de recuperao e ressocializao do condenado, conferindo, para tanto, especial relevo atuao do Juiz da Vara das Execues Penais. Dentro dessa viso teleolgica, de se emprestar rigor regra do art. 118, 2, da LEP, no sentido de se entender imprescindvel a audincia pessoal do condenado pelo Juiz, aps a apurao das ocorrncias no inciso I, do citado artigo, para fins de imposio de regresso de regime prisional. - Recurso ordinrio provido". Porm, esta presena - imprescindvel - pode ser a telepresena, conforme decidiu o mesmo Superior Tribunal de Justia, em deciso pontual a seguir apresentada: Acrdo RHC 4788/SP ; RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS (1995/0039109-0) Fonte DJ DATA:25/09/1995 PG:31118 Relator(a) Min. JESUS COSTA LIMA (0302) Data da Deciso 23/08/1995 Orgo Julgador QUINTA TURMA Ementa "PROCESSUAL PECULIARIDADES. PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUO.
I. IMPETRAO ALEGANDO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUIR A INSTRUO. O TEMA IMPLICA EM SE CONSIDERAR A POCA EM QUE FOI ELABORADO O CDIGO DE PROCESSO PENAL, AS MUDANAS OCORRIDAS NO PAS E, ESPECIALMENTE, EM SE CUIDANDO DE PROCESSO INCLUINDO VRIOS REUS, AS DIFICULDADES POR ELES OPOSTAS PARA SEREM CITADOS OU A DEMORA
NA APRESENTAO AO JUZO, A FIM DE SEREM INTERROGADOS, O QUE NO DEPENDE DO PODER JUDICIRIO. RECONHEO QUE, SE PODERIA CAMINHAR COM O EMPREGO DA INFORMTICA PARA AGILIZAR O ANDAMENTO PROCESSUAL, UTILIZANDO-SE A TELECONFERNCIA PARA SE INTERROGAR REUS E TESTEMUNHAS RESIDENTES EM OUTRAS COMARCAS, COM O QUE SE EVITARIA, NO CASO DOS REUS, AS COMUNS FUGAS. NO CASO, POR EVIDENTE, SE NO ESTA DEMONSTRADO QUE A COAO DECORRE DE ATO PROVOCADO PELO MINISTERIO PUBLICO E NEM PELO JUIZO DA CAUSA, A DEMORA ENCONTRA-SE JUSTIFICADA. EM OPORTUNIDADE ANTERIOR SALIENTEI QUE SE TRATA DE REU DE ACENTUADA PERICULOSIDADE, TENDO AGIDO COM MAIS DOZE "COLEGAS", INTERCEPTANDO UM CARRO FORTE COM RAJADAS DE METRALHADORAS E DISPAROS DE REVOLVERES E FUZIS SUBTRAINDO APRECIAVEL QUANTIDADE EM DINHEIRO. II. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS DO JULGADO. Deciso POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO" (Destacado). Note-se que o judicirio no est apenas reconhecendo a validade da telepresena, mais do que isso, ele est aplicando a tecnologia em seus atos de administrao da justia. 5. Concluso Assim, a admissibilidade do emprego da "presena virtual" para a prtica de atos judicirios eminentemente solenes, materializada por deciso unnime do Superior Tribunal de Justia, torna slido o entendimento de que esta tecnologia vlida e confivel para atividades que envolvam o contato "vis a vis" entre os seres humanos, pois ela permeada pela interatividade, ensejando perfeita possibilidade de avaliaes. Se um magistrado pode "sentir" a segurana de um depoimento telepresencial, um professor pode avaliar um aluno, em seu mistr pedaggico, nas mesmas condies. Muitas so, portanto, as aplicaes vlidas da telepresena. Entre elas, no h dvida, esto as atividades pedaggicas, ora em discusso. Referncias: http://www.stj.gov.br http://www.senado.gov.br http://www.brasil.gov.br
http://www.planalto.gov.br http://www.mct.gov.br E-governo Walter Felix Cardoso Jnior Na sociedade ciberntica que se instala, no mais o grande que engole o pequeno. Agora o veloz que devora o lerdo, e isso vale para as pessoas, empresas, governos, naes e sistemas. Mrio Henrique Simonsen O governo est chegando tarde WEB, embora ela tenha sido criada por sua inspirao, nos Estados Unidos da Amrica, h cerca de dez anos. Mas, apesar do atraso, a presso para recuperar o tempo perdido muito forte, pois existe um papel insubstituvel a ser exercido pelo governo na internet. A lgica principal que domina a criao do governo on line, ou e-governo, bem simples: se possvel fazer generalizadamente comrcio na internet, certamente possvel exercer aes de governo l de dentro da WEB. O governo digital, como est sendo chamado, um conceito que vem criando cultura tanto no poder pblico como na cabea das populaes. Embora a internet e suas aplicaes governamentais possam ser analisadas sob a gide de uma abordagem incremental, voltada para a melhoria de servios ou de relacionamentos, trata-se de ferramental que pode ser conjugado s melhores prticas de administrao, lanando perspectivas inovadoras sobre a forma de organizar e de gerir a coisa pblica. Sabe-se de antemo que essa grande aspirao de modernidade s dar certo mesmo se o acesso dos cidados ao governo on line for comprovadamente fcil, barato, descomplicado e seguro. Segurana, neste caso, implica em manter os hackers afastados, impedindo o congestionamento dos sites e evitando o vazamento dos dados pessoais dos usurios. Outro aspecto que deve ser considerado para o desenvolvimento do e-governo o estgio de evoluo j alcanado pelos diversos grupos sociais dentro do Pas. Enquanto encontramos comunidades altamente evoludas, em termos de tecnologia e conhecimento, subsistem aquelas parcelas da sociedade que permanecem intelectual e materialmente atrasadas, sem falar naqueles tantos quantos seres humanos que ainda se encontram na idade da pedra, literalmente. Contudo, o que h dez anos era considerado totalmente impossvel, agora a emergente TI Tecnologia da Informao - tornou exeqvel. Como fazer para licenciar pela internet um novo negcio, efetivar a venda de um imvel, ou mesmo registrar uma criana recm nascida, um bito, um casamento? O quanto fazer tudo isso pela internet no mudaria a prpria imagem to desgastada do setor pblico?
Uma das principais causas da propalada ineficincia do governo a burocracia administrao dos bens pblicos por funcionrio sujeito a hierarquia complexa e regulamento rgido, e a uma rotina inflexvel, o que ocasiona morosidade, ineficincia e complicaes no desempenho do servio administrativo. Mas h outros problemas a serem equacionados. Com reparties historicamente organizadas verticalmente, torna-se difcil obter a colaborao entre os prprios rgos governamentais envolvidos em qualquer tipo de empreendimento. Exemplo disso, so as polcias brasileiras (Federal, Civil e Militar) que praticamente trabalham de costas umas para as outras, enquanto a criminalidade cresce perigosamente. Neste caso, infelizmente, o que tem sido observado at aqui que mesmo quando existe uma sincera vontade poltica para reduzir o desencontro na segurana pblica, misteriosas foras internas conspiram para que tudo continue confuso e ineficaz como sempre foi. A WEB pode ajudar muito no equacionamento desses problemas. Nesse sentido, ela facilita e acelera os processos de mudana. As possibilidades de aplicao da TI na administrao pblica abrangem um amplo leque de atividades que pode modernizar as estruturas existentes ou o processo de gesto. A diversidade de usos que podem ser facultados pela informtica compreende as dimenses da: coleta de informaes; fornecimento de informao; prestao de servios; interao; e transaes. Dentre as vantagens que podem ser auferidas para a organizao governamental esto a agilidade, o baixo custo operacional e a reduo de intermediao. Por outro lado, para o cidado, o e-governo poder propiciar ganhos em comodidade, economia de tempo, reduo de burocracia e transparncia. Alm disso, deve ser enfatizado o potencial de aplicao da informtica no desenvolvimento de projetos em nvel local, na criao de mecanismos de consulta ao cidado e de revigoramento do processo governamental, por meio da expanso das instncias de discusso e acesso informao, proporcionadas pelo prprio governo. Na terra dos idealizadores da WEB a infra-estrutura j est mais evoluda. Uma pesquisa realizada entre os norte-americanos, apresentada pelo NIC - rgo provedor de solues eletrnicas para o governo, revela que os servios eletrnicos oferecidos pelo governo j conquistaram 65% dos internautas adultos. Entre os servios mais procurados esto aqueles que permitem a emisso de carteira de motorista e votar nas principais eleies. Outras experincias avanadas e bem sucedidas com e-governo tambm esto sendo realizadas em Cingapura, na Austrlia e no no Reino Unido. No Brasil, em que pese a nossa histrica defasagem tecnolgica, podemos registrar expressivos avanos cibernticos no setor pblico, o que evidencia a existncia de um processo em curso de assimilao renovadora da informtica, conjugada a iniciativas de modernizao institucional e de melhoria do atendimento ao cidado. Algumas evidncias ilustrativas dos avanos j realizados caracterizam que o site da Rede Governo, que d acesso instantneo a informaes e servios em
todas as reas da administrao federal, est sendo plenamente bem sucedido. As visitas mensais que recebe so da ordem de 40 mil. O "Comprasnet", que divulga editais de compras governamentais e auxilia os fornecedores do governo a participar das licitaes, recebe cerca de 30 mil acessos por ms. O site do Programa Avana Brasil, que apresenta os 365 programas que compem o Plano Plurianual 2000-2003, j recebeu 80 mil visitas desde o seu lanamento. Pesquisas recentes revelam que, de uma maneira geral, a busca de informaes junto a rgos pblicos uma das 4 maiores motivaes de utilizao da internet pelos seus usurios. A expanso e a sofisticao crescente dos servios oferecidos ao pblico j avana em direo ao "e-service concept", com a supresso da tramitao de papis e a plena resolutividade dos processos em meio eletrnico. Estes avanos, todavia, no deixam de contrastar com as ainda persistentes limitaes de acesso da maioria da populao aos servios de telefonia e equipamentos de informtica. O projeto "E-Receita", da Receita Federal, conta com expressivos resultados na oferta de servios por meio da internet: vejam o que ocorreu este ano, quando as pessoas fsicas entregaram cerca de 10 milhes de declaraes de Imposto de Renda, via internet. A certificao digital e o pagamento de tributos por meio de dbito em conta so projetos em fase de implantao. Quanto Previdncia Social, por sua vez, vem ocorrendo uma experincia assombrosa, em vista das grandezas envolvidas, representando a maior folha de pagamentos do pas, com 18 milhes de beneficirios, alm de recolhimentos mensais de 3 milhes de empresas e 5 milhes de contribuintes individuais. O Dataprev, juntamente com o Ministrio da Previdncia Social - MPS e o INSS vem atuando de forma integrada na divulgao de informaes e oferta de servios ao pblico, desde 1996. A experincia teve incio com a disponibilizao na internet de estatsticas da Previdncia Social e da recepo eletrnica de mensagens e de servio de atendimento. Os servios evoluram com a introduo de grande volume de informaes e noticirio, culminando na oferta de servios diretamente aos segurados e contribuintes. Estes servios atualmente abrangem um amplo leque, com elevada carga de visitas dirias, dentre os quais se destacam: o clculo de contribuies em atraso (2.300 acessos); o recebimento de pedidos de CND (7.900 acessos); o fornecimento de histrico de benefcios (1.500 acessos) e o acompanhamento de processos de concesso de benefcios (1.300 acessos). A introduo de servios de auto-atendimento e a unificao de servios e informaes no Portal da Previdncia Social, so as novas linhas de trabalho em desenvolvimento. O auto-atendimento est sendo implantado por meio do chamado "Prev-Fcil", que um quiosque de atendimento. O Portal dever integrar todas as informaes num site nico. i. A rea de Sade outro segmento no qual a oferta de informaes de natureza educativa ao grande pblico fundamental. A disseminao de dados dessa rea teve incio com a Fiocruz e as pginas na internet sobre a AIDS. A expanso dos servios se deu com o progressivo envolvimento de todas as reas do MS e da Fundao Nacional de Sade - FNS e a incorporao das bases de dados do Ministrio, que contm informaes sobre servios hospitalares e dados demogrficos. Atualmente, esta experincia percebida como em plena maturidade, adotando a internet como meio natural de relacionamento com a sociedade.
Os servios hoje oferecidos em 8 sites na rea de sade, no computados os inmeros sites estaduais e municipais, contemplam as reas de vigilncia sanitria, sade suplementar, epidemiologia, informaes em sade, alm da legislao e dos projetos do Ministrio. No que tange aos Correios, a sua trajetria se situa de forma original entre dois extremos: de um lado, a entrada da empresa na rea de prestao de servios "on line", por meio de seu site na internet, e de outro, a preocupao de atender s necessidades de sua vasta clientela popular, que no dispe de meios para aquisio de equipamentos de informtica. A soluo encontrada tem sido a conjugao de tecnologias tradicionais e de ponta num mesmo servio. Com essa finalidade, os Correios introduziram os servios de Telegrama e Carta via internet. Visando o pblico empresarial, foi criado ainda o Sedex "on line". Como evidncias do potencial desta nova frente de expanso, o volume de vendas de servios pela internet j se coloca entre as 100 maiores agncias, sendo que o crescimento dos produtos de internet, como a Carta, foi da ordem de 327%, e o Telegrama, de 675%, em 1999. O Serpro, prestador de servios de informtica do Governo Federal, tem procurado desbravar novas possibilidades de aplicao do conceito de "e-service" em parceria com seus clientes, representados por rgos e entidades da administrao pblica. A atuao do Serpro est na base de diversas iniciativas importantes da administrao federal que tm explorado este caminho, como o SIAPEnet, mantido pelo Ministrio do Planejamento, que oferece informaes e servios relacionados com a folha de pagamentos dos servidores federais, registrando cerca de 169 mil acessos por ms. Outros servios representativos deste esforo so o Comprasnet, na rea de licitaes, tambm mantido pelo MP e direcionado principalmente para os fornecedores governamentais. Com a Receita Federal, o Serpro mantm o Receitanet e o site da Receita, pioneiros e lderes no volume de acessos e pblico alcanado, como j mencionado. H ainda outros setores governamentais que no podem deixar de ser citados, como alguns rgos de direo das Foras Armadas, que usam regularmente a videoconferncia para coordenar aes operacionais. Mas h tambm as ligaes on line que funcionam plenamente na gesto oramentria e financeira de qualquer rgo pblico. O SIAFI, o SIAPPES, o CABIN (Cadastro de Inadimplentes) e outros. O Banco Central e o Ministrio do Planejamento esto completamente informatizados. Alm disso, o governo tornou-se signatrio do Sistema OTAN de Catalogao e vem cadastrando em massa os fornecedores e produtos nacionais. Muitos sistemas corporativos vm sendo implantados nos diversos ministrios. O RENAVAM um exemplo, assim como o Cadastro Nacional de Segurana Pblica (INFOSEG), que j contm mais de 400.000 pronturios. No campo das parcerias entre governo e setor empresarial, o Brasil apresenta simultaneamente elementos extremados de avano e de atraso, quando se trata de avaliar o desenvolvimento do setor de informtica e especificamente da internet. So impressionantes, por exemplo, os indicadores relativos ao porte do setor de telecomunicaes no pas, que responde por uma gerao de valor da ordem de US$ 45,8 bilhes, maior do que o PIB de muitos pases. Alm disso,
o Brasil tem avanado rapidamente no ranking mundial: o n. de "hosts" na internet cresceu de 215.086 em janeiro de 1999 para 446.444 um ano depois, em janeiro de 2000. Com tal intensidade de crescimento, o pas evoluiu da 17 para a 13 posio neste curto perodo. Mas, persistem limites e obstculos. Considerou-se significativa barreira expanso do setor a dificuldade de acesso telefonia, apesar do pas contar com nmeros no-desprezveis de 35 milhes de linhas telefnicas, das quais 24,5 milhes fixas e 10,2 milhes celulares, com expressivo crescimento a partir da privatizao. Um indicador que vem suscitando grande interesse no setor privado o fato de o acesso internet estar ainda restrito a percentuais entre 3% e 5% da populao, equivalente a um contingente de internautas da ordem de 5 milhes, bastante reduzido face aos 160 milhes de brasileiros. Entretanto, estes clculos carecem de um suporte metodolgico que seja universalmente aceito, inclusive pelo mercado. O provedor UOL, por exemplo, trabalha com estimativas mais otimistas, da ordem de 8 milhes de usurios, supondo a existncia em mdia de 3 usurios por residncia provida de computador. Ainda assim, persistem dvidas, porque a dupla contagem e o uso simultneo no trabalho e na residncia, complicam este clculo. Sob outros ngulos, os dados podem ser surpreendentes, como o relativo ao registro de 35 milhes de pginas acessadas por dia, no UOL, ou ao crescimento no nmero de domnios na internet, da ordem de 1.250 por dia. Assim, estabelecer esta metodologia dever ser uma tarefa necessria ao amadurecimento deste segmento no mercado. Para finalizar, podemos enfatizar a coragem e a determinao do governo brasileiro em realizar as prximas eleies de forma totalmente informatizada (votao e apurao), enquanto que, nos EUA, apesar de sua confortvel situao econmica e tecnolgica, o processo ainda no foi plenamente incorporado. Assim, entendemos que o governo est caminhando rpido numa direo bastante promissora: a de uma tecnologia barata, agregadora, simples de usar e efetiva do ponto de vista da gesto. No parece haver motivos para mudar de direo. GOVERNO ON LINE COMO PRESSUPOSTO DO EXERCCIO DA CIDADANIA FBIO ANDR CHEDID SILVESTRE 1. INTRODUO Dentro do quadro perspectivo do estudo formulado, no mdulo de Tecnologia da Informao Jurdica, julgamos valioso o tema do Governo On Line ou Virtual como esteio tcnico-constitucional capacitador de uma efetiva qualificao das relaes entre os Estado e o cidado, tudo sob perfil da democracia. Num pas de dimenses continentais, como o Brasil, possuidor de enorme diversidade social, o encargo de construo de um Estado Democrtico, Republicano e Federativo, onde o equilbrio sistmico se d pela representao popular, pelo voto ou mesmo diretamente, a dimenso da governabilidade se faz patente. Tomar o controle do curso de um Estado, bem qualificando as suas funes, circunscrevendo seus limites e fiscalizando sua executabilidade, j no tarefa
simples na atualidade. A variedade das demandas populares, acrescidas da manipulao dos poderes decisrios por elites auto sustentadas no atrelamento histrico mquina pblica fazem parecer relativa e insuficiente a figura estatal. Ento quando os mecanismos tradicionais de inteligncia humana, aplicados conformao do Estado-governo (incluam-se aqui os trs poderes estatais), a tica e a lei, j no so suficientes para o atendimento efetivo das demandas pblicas, faz-se mister a busca de solues em outros campos do saber. Notadamente aqueles onde a aplicao de tcnicas menos sujeitas a processos decisrios humanizveis ( a vontade moral do governante ou a jurisdicionalidade aplicada) podem criar um campo mais preciso e imediato de qualificao do indivduo ou grupo social voltado uma interveniente e controladora participao na gesto da "res pblica", estamos a falar das novas tcnologias da informao. A relevncia do tema se torna evidente na medida em que o executivo federal, notadamente o Presidente da Repblica e a Secretaria de Comunicao Social (Secom), abriram debate e convidaram a sociedade para a constituio de um grande portal do governo, onde as suas estruturas funcionais, os procedimentos a elas afetos e a maior publicidade dos atos administrativos sero a tnica. Entretanto, h que se ter em conta que a adoo de tecnologias de informao no representam apenas mais um servio disposio da comunidade. que estas novas possibilidades tecnolgicas no esto no mesmo espao ou universo das tradicionais atividades do Estado. E pelo que se l (vide entrevista do Secretrio da Secom, no site da revista Meio e Mensagem de 21/01/2000) o prprio governo ainda pensa neste processo como um inevitvel comportamento geral, porm declaradamente no conhece os limites, extenso e profundidade das possibilidades. O presente estudo busca demonstrar que a adoo de um certo sistema tecnolgico pode vir a se constituir numa profunda mudana nas relaes de poder entre o Estado e seus sditos, ultrapassando efetivamente as tmidas expectativas da tecnocracia federal e depois poder vir a estender-se, tambm, para as outras esferas de governo, estadual e municipal. Numa avaliao superficial, as tecnologias da informao representam a possibilidade de um servio padronizado e simplificado, como j se v na declarao imposto de renda on line, na expedio de certides on line e at nos sites do governo onde este apresenta seus serventurios, suas atribuies e as normas legais afetas operacionalidade do orgo. S que isto muito pouco e incipiente, no contm dinmica participativa. Uma das condies histricas de continuidade soberana dos Estados a sua conformao aos processos tecnolgicos disponveis s comunidades, pois que os que detiverem mais conhecimento tendero, como j , a dominarem as posies de vanguarda e participao nos cenrios internacionais. A tese proposta visa, noentanto, demonstrar que a aplicao das tecnologias da informao podero estabelecer novos paradigmas no relacionamento do cidado com o Estado, mesmo porque este efeito j sentido nas comunidades privadas que se apropriaram das ferramentas de informao e comunicao, notadamente a WordWideWeb, trafegando pela Internet.
Duas, parecem ser, as qualidades fundamentais destas novas tcnologias, a uma que a Internet uma linguagem em s mesma, e a duas que o universo onde as informaes trafegaro, o Ciberespao, no est sujeito a uma burocratizao material como a conhecemos. Ao convite do executivo federal, devero atender prioritariamente as universidades e centros de pesquisas eminentemente brasileiros, detentores do material cientfico-humano necessrio ao desenvolvimento scio-tecnolgico mais apropriado destes sistemas de informao, sobretudo em contraponto tendncia destas administraes "neo-libertinas" em franquear acesso sem qualquer pudor s reas mais importantes e estratgicas do Estado ao amplo convvio de multinacionais e governos estrangeiros, sem qualquer interesse real na soluo das demandas do Estado e afrontando continuamente a soberania nacional ainda restante. O que parece de curial importncia que a tomada de postura visando uma maior tecnologizao das relaes informativas entre o Estado e o indivduo no pode adotar a conformao predatria das recentes e ainda no cicatrizadas privatizaes dos ativos estatais brasileiros. Esta experincia, ainda viva, demonstra claramente que a adoo de modelos imediatistas e incalculados de gesto da coisa pblica, mesmo calcados nas legalidades de ocasio, no lhes confere a legitimidade plasmada na ordem constitucional. Por estar feito, submetemo-nos, mas no carece de repetio. O que urge, da o tema, que a magnitude da possibilidade de controle do Estado pelo cidado atravs das tecnologias da informao, pode vir a ser relegado apenas a uma simples licitao e outros remendos, e o contedo da informao de governo continuar a ser aquele vazio colorido, maquiado por publicitrios, no atingindo, como no atinge a nenhum objetivo sistmico informativo, servindo apenas manipulao e relativizao dos dados gerenciais do Estado. O desconhecimento geral das atividades que "acontecem no palcio", por parte dos sditos, e a impossibilidade de acompanhar em tempo real o movimento da governana, aliados a um ausente debate pblico sobre o que, como e o quanto cumpre-se da Constituio Federal em cada ato administrativo, poltico ou no, acaba por produzir um emaranhado de decises incontrolveis. Se todos os cidado capacitados no conseguem de forma imediata saber de tudo o quanto se passa nas administraes, as verbas pblicas e suas destinaes, quem as liberou, se foram efetivamente usadas e procederam das rubricas legais; se h controle do desperdcio, com amplo conhecimento pblico de onde, quanto e como podero serem utilizados os alimentos ensilados, os remdios estocados, as ferrovias desmontadas, e so apenas exemplos. que j no se trata mais de uma luta pelo poder de exercer o poder, para rentabilizar os prprios interesses e ocupar um privilgio no "wellfare state". Este Estado-refugo da nova fase do processo industrial (ps-industrial!), como relata GIDDENS, comporta novas demandas, porquanto "na sociedade industrial as lutas de classes esto centradas na apropriao de recompensas econmicas, na sociedade ps-industrial elas referem-se aos efeitos alienativos da subordinao s decises tecnocrticas".(grifamos)
A apropriao das linguagens tecnocrticas pelos sistemas legais e complexa executabilidade procedimental do aparato de gesto pblica, cria o falacioso discurso do campo de dominao exclusiva, onde reina o tecnocrata. Da que o "tipo principal de oposio ao controle tecnocrtico enfatizar a 'participao' na tomada de decises, e assumir com frequncia uma forma cultural ou, como colocam ROSNAK e outros, 'contracultural'".(grifamos) Modernamente no h ao scio-poltica mais inteligente, informada e principalmente contracultural do que as novas tcnologias da informao, a Internet e seus desdobramentos. 2. ESPAOS CONSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA DEMOCRACIA
A democracia no , ainda, democrtica. O aparato pblico como instituio, posto disposio das comunidades, calcado numa imensa malha legislativa e tocado por membros eleitos do povo, sob os olhos de uma ordem constitucional, no bastam para a efetivao de uma verdadeira democracia constitucional. Segundo CASTORIADIS, a instituio " uma rede simblica, socialmente sancionada, onde se combinam em propores e em relaes variveis um componente funcional e um componente imaginrio". E na feliz interpretao de COELHO, a "alienao justamente se caracteriza pela dominncia do momento imaginrio na instituio, o qual se torna autnomo e, assim, propicia a autonomizao e a dominncia da instituio relativamente sociedade". Da a crise na democracia. Quem domina a instituio domina a sociedade. que a superestrutura burocrtica criada para a legitimao dos interesses dos grupos dominantes, o Estado, afastando-se da funcionalidade constitucional, sua "ratio essendi", passa a ser permeada pelo elemento imaginrio, que tentativa de justificar os discursos de certas categorias sociais, grupos ou classes, em face de outras, encabresta a mquina pelo elemento ideolgico. A alienao, nesta esfera de relacionamento social, no Estado, implica na impossibilitao dos demais grupos ou classes, de se fazerem representar efetivamente, ou mais apropriadamente, intervirem diretamente na governabilidade para alm dos interesses de tais ou quais grupos. Ento, escorando-se em BOBBIO, a evoluo da democracia poltica para a democracia social se dar menos pela determinao de quem vota mas principalmente onde se vota. Por isto "quando se quer saber se houve um desenvolvimento da democracia num dado pas o certo procurar perceber se aumentou no o nmero dos que tm direito de participar nas decises que lhes dizem respeito, mas os espaos nos quais podem exercer este direito."(grifamos)
A dominao ideolgica do Estado burocrtico cria um labirinto propositalmente preparado para dissuadir a entrada de no iniciados ou dificultar a percepo dos que se aventuram em contrapor-se sua ordem. Por obvio, a grande massa votante, mesmo supondo um livre exerccio de direito, no consegue suplantar o momento do imaginrio, pois que no tendo pleno acesso s informaes gerenciais aplicadas gesto da coisa pblica tornam-se alienadas. Ento o que se apresenta mais emergencial a instrumentalizao de mecanismos objetivos que representem um agigantamento real na possibilidade de participao dos indivduos e grupos, um verdadeiro espao para o exerccio da cidadania. O Ciberespao. 3. O CIBERESPAO O objetivo do tema no busca a discriminao de proposies tcnicas especficas, mas a apropriao constitucional das tecnologias de informao existentes, com o objetivo de imprimir efetividade aos princpios e normas do contrato social elementar. Imersos num mundo de comunicaes, a difuso indiscriminada de toda sorte de informaes, vagando solta e liberada pelos cabos, canais e variadas ondas de freqncia, tem, desde o incio deste sculo, provocado a sensibilidade do homem. Em decorrncia, difundiu-se a crtica inevitvel pela multi-pulverizao dos mais amplos e diversos conceitos, deteriorando o sistema de valores sobre o qual repousava o consenso, e com isto tem-se quebrado os esteretipos implantados pelo ensino tradicional da histria, filosofia, matemtica , literatura, religies e etc. Da, as comunicaes abrirem espao para transformaes radicais nas estruturas mentais e polticas, j que sociedades inteiras se comunicam atravs do que Marshall Macluhan, citado por Macel Merle chamou de "gesticulao microscpica", e que no o discurso como o conhecemos. Considerada em sua onipresena universal, as comunicaes representam a base da primeira sociedade planetria.(grifamos) A terminologia de Macluhan induz ao universo do ciberespao, que na viso de HOESCHL "trata-se de um ambiente gerado eletronicamente, formado pelo homem, as mquinas, a informtica e as telecomunicaes, onde possvel a prtica de atos de vontade, dotado de limites diversos dos tradicionais, norteado e dimensionado fisicamente por comprimentos de onda e freqncias, ao invs de pesos e medidas materiais, e no constitudo por tomos, mas por correntes energticas". O que parece bastante relevante que a percepo desta "nova dimenso" do existir consciente do homem, no foi idealizado para assim manifestar-se, visionaria e pr-elaboradamente, o ciberespao tornou-se, antes e de fato, uma realidade vivel. Desta maneira, toda a orbita capitalista j planeja e executa suas tarefas, desde as mais elementares at outras de repercuo global, dentro da geografia ciberespacial, com alto grau de efetividade, embora com certa inconsequencia.
Ento, no parece absurdo exigir-se dos Estados, vestidos com a carapaa das atitudes capitalistas, que se ocupem da implantao de mecanismos tecnolgicos capazes de lhes atribuir a mesma dinmica de existncia bidimensional, material e ciberespacial. que no ciberespao, a tendncia manipulao dolosa de informaes ter que vencer, em tempo real, a vigilncia fiscalizatria de uma mirade de sujeitos, capacitados pela diversidade e em locais mui distintos, dioturnamente. Ento o dolo da corrupo e a indolncia do desperdcio no tero como se reacomodar placidamente, logo deixaro de serem sistmicos. Parece mesmo uma situao de embate poltico, pois neste ponto que se verificar quais grupos sociais tendero exigirem existir de modos mais secretos, obtusos, obscuros, no participativos, impondo a alienao aos demais grupos interessados. Esta perspectiva encontrada em LVY, quando afirma que "a defesa de poderes executivos, das rigidezes institucionais, a inrcia das mentalidades e das culturas podem evidentemente levar a utilizaes sociais das novas tecnologias muito menos positivas, conforme critrios humanistas". Deste momento do tema, onde os interesses sociais devem ser sopesados, o debate torna-se constitucional. 4. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL O espao reservado para o tema, dentro do escopo constitucional absoluto, sobretudo como foi proposto, no sentido de demonstrar que as informaes pblicas pertinentes gesto de um Estado democrtico respeitaro, necessariamente, a qualidade participativa de sua finalidade. Estabelecendo primazia teleolgica, o Prembulo Constitucional deixa claro que se est diante da instituio de um Estado Democrtico, destinado a assegurar o exerccio dos direitos que menciona. E fazendo leitura fria do artigo 1. e pargrafo, da Carta Poltica brasileira, poderamos dessumir o seguinte: A Repblica Federativa do Brasil, constitui-se em Estado Democrtico de Direito e tem como fundamentos a soberania, cidadania e a dignidade da pessoa humana, pois que todo o poder emana do povo que o exerce diretamente. Seguindo a construo Constitucional, o art. 5. em seu inciso XXXIII, diz: todos tem direito a receber dos orgos pblicos informaes de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que sero prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindvel segurana da sociedade e do Estado; Vale ressaltar que a finalidade informativa do Estado de tal grau de imponibilidade, que a lei no poder limitar seno prazo, o agente pblico no poder neg-la, sob pena de sano. O que se ressalva a segurana nacional, coisa de contornos relativos.
Com isto habilita-se a sociedade como um todo a exercer o direito constante do artigo 5. LXXIII, assim: Qualquer cidado parte legtima para propor ao popular que vise a anular ato lesivo ao patrimnio pblico, ou entidade de que o Estado Participe, moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimnio histrico e cultural. O que se quer dizer com isto que todos os cidado devidamente informados sobre todas as coisas do Estado, podero fazer uso legtimo das prerrogativas constitucionais reativas. Como a Carta Magna proposta em dimenso ao todo, no se deve menosprezar a potencialidade dos princpios gerais, supondo serem materialmente inatingveis, porquanto, algumas vezes intangveis. O que se prope, que o princpio da moralidade administrativa, agregado ao carter informativo de uma democracia seja evidentemente clarificadores das condies reais em que convivem, em certo momento histrico, uma sociedade organizada. E pelo que se dessume, tudo o quanto possa ser realizado para o atingimento dos objetivos constitucionais, inclusive a aplicao das tecnologias da informao mais pujantes, devero assim ser procedidos, pois se h uma forma melhor de fazer realizarse o Estado, a esta que devem submeter-se os governantes. Tudo o mais discurso setorial de grupos. 5. CONCLUSO O estado de calamidade por que passam as relaes sociais no Brasil indicam um desequilbrio sistmico na participao dos grupos e classes. bem conhecida a desigualdade implantada por segmentos ou grupos que insistem na elitizao do poder, pelo cerceamento do saber. As atrocidades cometidas com a populao mais pobre e mesmo com a classe mdia produtiva, desprestigiam a continuidade do contrato social, como se encontra. Os desmandos das elites polticas, calcados no s na prtica profissional da corrupo, fazendo nascer a figura do "governo paralelo" de BOBBIO, atravs da interveno dos "arcana imperii", os agentes do poder invisvel, s no so piores do que sua prpria incapacidade governativo-gerencial, embora tudo nasa da mesma derrota da tica pela vitria da esttica, patrocinada pelo capitalismo. Pensamos objetivamente na implantao de um Portal do Estado, para todas as suas esferas, e que possa, mais do que vigiar a "mo trmula" do escroque, diante da verba pblica indefesa, tambm controlar o desperdcio, o desvio de finalidade das decises, antecipar debates pblicos sobre grandes questes nacionais, trazer mecanismos plebiscitrios para questes que afetem a sociedade com um todo. Em fim apresentar de uma vez por todas, e com toda a parafernalha interativa, que torna o saber mais elementar, qual a verdadeira dimenso do Estado que habitamos. Tudo em tempo real e calcado em lei que imponha sano ao administrador
omisso, que deixe de apresentar seus relatrios para toda a comunidade, em fim fazer ver a moralidade administrativa pelo controle tecnologico dos agentes pblicos. Se caso de fazer prova do desmando, sob pena de impunidade, melhor no deixar para terceiros, de outros grupos sociais, aquilo que em verdade cabe a cada qual, participativamente fiscalizar e exercer o poder da cidadania. a. BIBLIOGRAFIA * Antony Giddens. A Estrutura Social das Sociedades Avanadas. Zahar Editores.1975 * Luis Fernando Coelho, em Teora Critica do Direito, Editora Livros HDV, Curitiba, 1987 * Norberto Bobbio. O Futuro da Democracia,- Uma Defesa das Regras do Jogo. Editora Paz e Terra .So Paulo. 1987.. 3. Ed. * Marcel Merle, Sociologia das Relaes Internacionais, Braslia, Editora Universidade de Braslia, Coleo Pensamento Poltico, vol. 25, 1987, p. 138. * Hugo Cesar Hoeschl. O Ciberespao e o Direito. No endereo da Internet digesto.net/ijuris - 25.06.96 * Alvim Toffler. Previses e Premissas. Ed. Record.1983. Do desrespeito autoridade constituda desobedincia civil com vilipndio s instituies *Antonio Carlos Facioli Chedid Recentes agresses verbais produzidas em nvel poltico entre as autoridades constitudas legtima e democraticamente, num primeiro momento, parece que inflamaram a m-imprensa nacional e geraram na internacional declaraes desprestigiosas em relao seriedade e educao scio-poltica de nossas autoridades. Declaraes graciosas em desfavor da moral e da dignidade das instituies e das autoridades que as representam produziram manchetes extraordinrias em jornais de circulao nacional e nos telejornais mais importantes, notadamente quando dirigidas contra o Judicirio e nascidas da Presidncia do Senado Federal. Samos assim procura insana dos honestos e dignos, pois apenas os agressores se arvoram em s-lo. Todos os dias, durante longo e infeliz perodo, acordvamos com declaraes, no mais das vezes panfletrias e graciosas, e acusaes de parlamentares contra magistrados, ministros, outros parlamentares e at contra as autoridades mximas da Nao, como o Presidente da Repblica, da Cmara dos Deputados e, pasmem (!) pela ousadia e ineditismo, da Suprema Corte Brasileira, ante a ausncia de autoridade de planto para ser atacada publicamente ou falta de outras do Executivo e do Legislativo. Parece que vivemos em uma poca em que as coisas desnecessrias so as nossas nicas necessidades (Oscar Wilde).
Ameaas e constrangimentos de toda ordem resultaram nas CPIs para apurar o j ressabido e conhecido, com o escopo de obter publicidade e a adorvel paternidade, de filho incestuoso e extrapolamento de poder com decretao de prises ilegais (S.T.F. MS-23.452-RJ- Rel. Min. Celso Mello Informativo 162). Rolaram as CPIs como a bola no gramado, a ponta-ps, chutes, sensacionalismo, porm sem o esprito esportivo e a f na certeza de que a vitria seria comemorada com a lisura de quem tem o melhor domnio e conhecimento da arte e joga com o objetivo de elevar o nome, a dignidade, a moralidade e o bem-estar comum da instituio a que serve e da coletividade (o clube e a torcida). As disputas entre as torcidas talvez decorram da falta de formao tcnica e moral e indisciplina esportiva, com desrespeito s instituies, s autoridades e populao (time, jogadores e a prpria torcida civilizada). A agressividade nasceu, sem dvida, da indisciplina, do afastamento dos objetivos coletivos, da primazia dos interesses particulares e pessoais, da arrogncia e da vaidade eleitoreira, mas, fundamentalmente, do exemplo negativo gerado pelas autoridades que tinham o dever de demonstrar civilidade, cidadania, tranquilidade, bom-senso e equilbrio pblico. As agresses produzidas pelo MST, grevistas, grupos organizados e pela populao em geral contra as autoridades pblicas, com vaias ao Presidente da Repblica (autoridade legtima e mxima de uma Nao democrtica), e tentativa de agresso ao Prefeito da maior cidade brasileira e ao Governador do Estado de So Paulo, entre outras, so fruto do desrespeito e da irreverncia produzidos num primeiro momento, isolado, e ao depois por outras autoridades constitudas, em especial, contra as instituies democrticas e garantidas pela Constituio vigente. Assim que, hoje, a populao nem sequer tem o respeito ento devotado ao Poder Judicirio, que se manteve historicamente sempre eqidistante das disputas polticas at por fora legal e constitucional - e o nico Poder em que o povo, segundo as pesquisas e apesar de tudo, ainda cr (88% da populao acredita nos juzes Dirio Catarinense de 23.01.2000). Os ataques contra o Judicirio como um todo, produzidos durante as CPIs, em face da constatao pblica da prtica de atos de improbidade por magistrados, todos de longa data respondendo ao devido processo legal e judicial, serviram apenas aos interesses daqueles que, somente com o enfraquecimento da Justia, podero atingir seus desejos e desviar a ateno, reconheo, inteligentemente para o mal, da sociedade. O produto social foi e o exemplo de irreverncia, incria, desdia, desrespeito, indisciplina, falta de civilidade, permitindo que se acolha a democracia com o estado de irresponsabilidade, disputa ignbil de poder, e que a insatisfao em qualquer nvel de vontade ou interesse, ante a ausncia de necessidade de cumprir as normas de conduta social, como ensinam as autoridades que no acreditam nas instituies a que deveriam servir, leva iniludivelmente o povo insatisfeito ao desforo fsico, agresso moral, ao desrespeito mtuo, enfim, a toda ordem de agressividade reprimida.
Apesar da produo industrializada de leis e da reforma constitucional feroz contra um dos pilares de sustentao da democracia, com o escopo de amordaar os juzes, retirando da sociedade a garantia de julgamento imparcial, com a permisso de demisso administrativa, criao de um cdigo criminal da magistratura, smulas que tornaram as decises cristalizadas pelo pice, certamente ainda os juzes no foram agredidos pela sociedade. Contudo, o Judicirio est sendo agredido, como instituio, em desfavor direto dos interesses maiores mesma da sociedade. Na verdade, o Judicirio o mero e fiel representante da sociedade na difcil misso de manter a harmonia social, mediante a distribuio da justia e a preservao dos valores maiores do homem: o direito vida, liberdade e propriedade. A punio de parlamentares que foram cassados e de outros que esto presos pela prtica de homicdio (at com uso de moto-serra, instrumento at ento desconhecido para a finalidade), de trfico de drogas e de fraudes contra o errio no autoriza os magistrados, que jamais o fizeram, a declarar que h necessidade de extino do Congresso Nacional. Ao contrrio, na verdade, foi e o Judicirio que est ajudando a purificar aquela instituio democrtica, processando e condenando, quando culpados, os parlamentares infratores. O desrespeito e a indisciplina civil tem preocupado tambm a OAB e em especial alguns advogados de nomeado, com se v da seguinte indigao: "Como brasileiro e advogado, gostaria mesmo de saber o porqu da orquestrao contra a magistratura nestes tempos de reforma. Que reforma do Judicirio essa que no sai, que se transforma na Cmara em uma colcha de retalhos, que, mediante o estardalhao de uma comisso, busca a corrupo no Judicirio e descobre apenas um juiz, que j estava respondendo judicialmente a processo, e o tiro sai pela culatra, acertando membro do prprio Poder Legislativo? Quantas notcias foram veiculadas contra o Poder Judicirio. Por que aquela idia lanada de que teria de acabar com a Justia do Trabalho, terminar com os direitos sociais, que os juzes tm de ser punidos por um rgo externo, que deveria ser extinto o Superior Tribunal Militar, tudo isso agora completado com esse ataque ao Supremo Tribunal Federal? Deve mesmo existir algo no ar. Reflitam, o povo brasileiro, e, em especial as autoridades que honradamente cuidam deste pas. Deve haver algo de negro no ar " ( Jos Alberto Couto Maciel Correio Brasiliense). Todo o exemplo de irreverncia, desrespeito ordem e s instituies, como o ataque gracioso e com interesse inescondvel ao Judicirio, certamente tem o escopo maior de produzir na sociedade a sensao de falta de credibilidade na instituio, notadamente quando ressabido que os rus das demandas judiciais, de regra, so os poderosos (em todo o sentido), assim como os detentores do poder econmico, ou seja, os agressores que vilipendiam as instituies que certamente examinaram ou examiro sua conduta social. Sem o respeito mtuo entre os representantes da sociedade e o esforo conjunto para o aperfeioamento das instituies do Estado, com a realizao do bem-comum, fim ltimo de todos, certamente os ataques, o desrespeito, a desordem, a indisciplina e o descaso democracia, esta como smbolo imorredouro da liberdade
com responsabilidade, no cessaro e a histria registrar mais esta passagem desarrazoada da vida pblica nacional com demonstrao inequvoca de que ainda no sabemos exercitar a democracia e realizar o Estado Democrtico de Direito. *Antonio Carlos Facioli Chedid Juiz do TRT/SC e Professor Universitrio nas disciplinas de Direito Processual Civil, Direito Civil e do Trabalho. Junho/2.000 A Tecnologia da Informao Jurdica e o Ensino a Distncia como ferramentas para a modernizao da Aduana em tempo de e-governo Ione Maria Garrido Andreta Lanziani advogada ionel@matrix.com.br Resumo Inicialmente a disciplina "Tecnologia da informao Jurdica" foi percebida no sentido de aliar a moderna tecnologia da informtica ao Direito "stricto sensu", para melhor aproveitamento e disseminao do conhecimento jurdico. No decorrer das aulas e, considerando o Governo em seu papel de responsvel, tanto na qualidade de fomentador da inovao e desenvolvimento de projetos, como tambm no de disseminador desse conhecimento, descortinou-se a possibilidade de incrementar as Aduanas de todo o Pas com uma nova viso do mundo e da realidade dos dias de hoje, mediante a utilizao daquele conhecimento aliado ao ensino a distncia, especialmente considerando o leque de opes que o curso de PsGraduao em Engenharia de Produo visualiza ao estudante. Alm disso, em tempos de globalizao, realidade virtual e troca de informaes em tempo real, a Nao cobra uma maior agilidade e transparncia nas aes governamentais: estamos em tempo de e-governo. 1.0 INTRODUO Ao realizarmos uma comparao entre a estrutura governamental e a iniciativa privada, constatamos o quanto a segunda est frente da primeira em termos de potencial de trabalho. Enquanto a fora de trabalho da iniciativa privada estimulada ao aperfeioamento contnuo, em um processo de permanente ampliao do saber, em especial por conhecer da concorrncia a ser enfrentada ao longo da vida profissional, os funcionrios pblicos, que representam a fora de trabalho governamental, com raras e honrosas excees, demonstram uma tendncia estagnao em seu processo de desenvolvimento pessoal, aps obterem a certificao de "aprovados" em um concurso pblico com nvel superior. Superada a etapa do ingresso na carreira, o funcionrio pblico est to satisfeito consigo prprio que se v como um pequeno "deus", muito poderoso e credor de todo o respeito. Por alguma razo somente explicvel pela psicologia, esse funcionrio graduado "atingiu a sua marca e no h mais nada a fazer para superar a prpria barreira".
Isso extremamente desastroso para a administrao pblica. Seu pessoal que foi selecionado quando do ingresso na carreira, mediante rigoroso critrio, passa a ser de segunda qualidade, em decorrncia do desastroso processo de estagnao pessoal, cultural e profissional. O problema avoluma-se e ganha destaque quando se fala em globalizao, modernizao e custo "Brasil", com destaque para os funcionrios da Aduana Brasileira, rgo que cuida da fiscalizao das operaes advindas do comrcio exterior e que est subordinado Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda. Causa impresso o desnivelamento entre os membros do rgo central (Secretrio da Receita e Coordenao do Sistema Aduaneiro) e os funcionrios "de ponta", encarregados de executar as normas. Enquanto os primeiros participam de reunies em nvel internacional, conhecem a legislao de outros pases, especializam-se nos diversos tipos de procedimento operacional, estudam e implementam mudanas na legislao para adapt-la necessria agilidade do mundo moderno e globalizado, o segundo grupo contesta essas mudanas, sob a pueril alegao de que as "modernidades" criam facilidades ao contrabando e prejudicam as empresas nacionais. Ignoram o fato de que sempre houve contrabando, mesmo em tempos da mais rigorosa fiscalizao, quando estvamos em pleno e assumido protecionismo ao mercado nacional. Muitas vezes, por pura ignorncia, esses funcionrios defendem a manuteno de esquemas antigos que impem dificuldades para a importao de determinados itens tarifrios, pensando com isso proteger a indstria nacional, quando, de fato, esto protegendo a manuteno da ditadura de algumas empresas transnacionais sobre nosso pas, que sonegam informaes e utilizam-se da mdia para manter seu status quo, respaldadas na falta de informaes e no despreparo que assola, especialmente, entre aqueles que, por se julgarem "privilegiados", face estabilidade de seus cargos, no se esforam em saber o que ocorre, de fato, no mundo real. Nesse contexto, onde prevalece a viso oblubinada dos agentes do Fisco, o trabalho desenvolvido pelos rgos centrais tem sido desgastante e de resultado quase nulo, no sentido de aniquilar gargalos e reprimir os atrasos na Aduana Brasileira. A realidade tem demonstrado que apenas o emprego de verbas em tecnologia no satisfatrio. No basta Siscomex, automao, informtica. preciso mais. preciso investir nos homens para que eles, conhecendo e interagindo com os avanos tecnolgicos, saibam explorar e tirar vantagem de seu uso em prol da Nao. Transparncia e agilidade devem ser o norte de nossos representantes e seus agentes. tempo de um e-governo. 2.0 GOVERNO E INTERNET No mundo de hoje, com a permanente necessidade de atualizao para um maior domnio sobre o conhecimento, a informtica, em especial a internet, uma das mais importantes armas tecnolgicas disposio do homem. Apesar de, ainda tmido, o governo vai ocupando alguns espaos, criando "sites" na internet, os quais, alm de imprimir uma maior transparncia administrao,
tem prestado inestimvel auxlio aos usurios (acompanhamento de processos, consultas legislao, concursos, etc.). Um bom exemplo so as urnas eletrnicas, que devero garantir maior agilidade e segurana s eleies. A prpria Receita Federal, j h alguns anos vem estimulando o contribuinte a apresentar suas declaraes e imposto de renda por meio eletrnico, alm de permitir, mais recentemente, o pagamento de impostos pela internet, o que ajuda, entre outros, a evitar filas bancrias. Na rea de Comrcio Exterior, foi implantado o Siscomex (Sistema Integrado de Comrcio Exterior), que possibilita tanto ao importador quanto ao exportador, obter licenas e apresentar declaraes para o despacho de mercadorias, a partir de seu prprio escritrio, mediante o uso de computador interligado ao sistema. 2.1 Globalizao e Comrcio Internacional Apesar desse esprito de modernidade que parte da cpula da Receita, os fiscais e seus sindicatos permanecem contestando toda e qualquer modernizao das Aduanas. Desconhecem que essa busca por uma maior agilidade, especialmente em se tratando de comrcio exterior, uma necessidade dos tempos modernos diante das mudanas provocadas pela globalizao. Por outro lado, ignoram que, a partir de um software com inteligncia fiscal, montado com base em dados simples como despesas com energia eltrica, gua e telefone, nmero de empregados, poderiam incrementar a fiscalizao e obter excelentes resultados, direcionando o trabalho fiscal para empresas que apresentem indcios concretos da prtica de sonegao e burla legislao. Assim, fica claro que no basta ao Governo projetar uma poltica modernista. O Estado no se realiza apenas atravs de seus lderes. Necessita da participao ativa de seus agentes, que traduzem em realidade os propsitos governistas. Esses elementos "de ponta" como so chamados, necessitam estar preparados para o papel que o Governo deseja imprimir administrao. Atualmente, a postura de alguns fiscais assemelha-se de ferrenhos inimigos dos empresrios que atuam em comrcio exterior. Acreditam que o papel da Alfndega dificultar as operaes de importao e exportao, como se o exerccio empresarial dessas atividades se constitusse, per si, em prtica criminosa. Do mesmo modo, nota-se que os empresrios vem os fiscais como improdutivos e pertencentes a uma categoria com elevado grau de corrupo. Assim, as duas categorias observam-se com extremas restries e, absolutamente, no confiam uns nos outros. A diferena entre essas duas categorias que o poder est nas mos dos fiscais. Estes, mais ainda quando se trata da rea de comrcio exterior, onde qualquer atraso provoca perdas significativas (majorao de armazenagem, demourrage, rompimento de contrato na exportao, perda da validade de carta de crdito, etc.), em sua maioria comportam-se como deuses inatingveis, por saberem-se detentores do poder.
Nesse contexto, o Governo necessita de instrumentos modernos para melhorar a qualidade de seu quadro funcional enquanto no exerccio de atividades extremamente tcnicas, alm de atender necessidade de disseminao de leis, normas e regulamentos, de forma homognea pelas Aduanas de todo o Pas. Para tanto, o ENSINO A DISTNCIA, com o respaldo da TECNOLOGIA DA INFORMAO JURDICA, constituem-se em ferramentas essenciais nesse processo, especialmente considerando a agilidade na obteno e troca de informaes, o enorme banco de dados para pesquisa, alm de, entre outros, a possibilidade de acesso ao mercado internacional para a segurana no exerccio da atividade profissional. 3.0 AS NOVAS TECNOLOGIAS E A MODERNIZAO DA ADUANA A crescente expanso e a sofisticao dos servios oferecidos pela internet (coleta de dados, informaes, prestao de servios, mltiplas interaes e transaes), permitem concluir que a informtica avana no sentido de suprimir a tramitao de papis e a plena resoluo dos processos em meio eletrnico. Nesse contexto, a educao , de fato, requisito indispensvel para o homem acompanhar e interagir com o processo de evoluo social em que est inserido, provocando com isso uma intensificao em sua formao profissional, de maneira continuada e permanente. Considerando que os funcionrios pblicos que trabalham nas Aduanas esto espalhados por todo o territrio nacional, geograficamente um dos maiores do mundo, nada melhor do que recorrer a um formato de educao que pode atender, rapidamente, a uma gama enorme dessa massa: ensino distncia (EAD). Sobre esse tema, escreveu Landim, em sua obra, "Educao Distncia Algumas Consideraes" (Rio de Janeiro, [s. n.], 1997, pg. 4, 5 e 32): "A escola, na sua concepo tradicional, no tem como assumir sozinha o papel de propulsora do desenvolvimento e do conhecimento humano. Faz-se necessrio que novas formas de abordagem da difuso do saber sejam utilizadas para atender forte demanda da sociedade atual, cujas perspectivas sociopolticas, econmicas, pedaggicas e tecnolgicas, entre outras, apresentam, por sua prpria dinmica, novos enfoques. A globalizao da economia intensificou a competio. As constantes transformaes culturais e tecnolgicas requerem elevao generalizada dos nveis de educao geral e da capacitao para o trabalho. Surge ento, a necessidade real da educao permanente, considerada uma nova fronteira da educao e convertida, pelas Organizaes Internacionais de Educao em um tema prioritrio em suas Recomendaes." ... "A EAD surge como a modalidade educativa que pode atender aos setores sociais no alcanados pelo ensino presencial, que constituem um capital humano infra-utilizado,
como, por exemplo: os residentes em reas geogrficas distantes, onde no h escolas convencionais ou com nmero insuficiente de vagas para todos; os trabalhadores adultos que, cumprindo suas jornadas de trabalho, no podem freqentar a escola tradicional; os presos, os imigrantes; as pessoas que j no se encontram na faixa etria de freqncia escola, mas que podem e desejam continuar seu processo educativo; os trabalhadores que buscam qualificao ou requalificao profissional em conseqncia das mudanas tecnolgicas e das transformaes polticas e sociais." ... "Na atualidade, no h distncias nem fronteiras para o acesso informao e cultura. Os recursos tcnicos de comunicao (impressos, udios, vdeos, informticos, etc.) acessveis boa parte da populao, tm possibilitado o grande avano da Educao Distncia e se convertido em propiciadores da igualdade de oportunidades de acesso ao saber e da democratizao das possibilidades da educao e da democratizao das possibilidades da educao." Esse tipo de ensino est hoje contemplado na Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional, especificamente em seu artigo 80 e pargrafos. Sobre esse tema, o Ministro da Educao, Paulo Renato Souza, publicou carta na internet ( www.mec.gov.br), manifestando a necessidade e a importncia do ensino distncia, diante da realidade da educao nos dias de hoje: "O recurso da educao a distncia se faz necessrio no porque faltem cursos de formao de professores, mas sim porque a maioria desses cursos so presenciais, difceis, portanto, de serem acompanhados por quem j trabalha, ou se localizam nos centros urbanos, impossibilitando o atendimento personalizado a populaes rurais, dispersas geograficamente. Sendo assim, a educao a distncia constitui-se em um instrumento eficaz de democratizao da educao e uma opo de qualidade para atender a uma vasta demanda por habilitao historicamente reprimida." Assim, o ensino distncia visto hoje como uma ferramenta fundamental para desenvolver saberes num processo didtico-metodolgico acessvel a todo e qualquer profissional interessado em dar continuidade ao conhecimento cientfico em qualquer rea. Ao Governo, que necessita preparar seus funcionrios a atuarem como agentes no processo de modernizao do Estado, em carter de urgncia, o ensino distncia ferramenta indispensvel, considerando que sua utilizao vai propiciar, alm do conhecimento em si, uma reproduo homognea desse conhecimento a todos os envolvidos, fundamental na formao desses agentes. Buscando os maiores conhecedores de cada tema, espalhados pelas universidades e meios acadmicos em geral, o Governo poder montar um programa de formao de excelente qualidade por preo relativamente reduzido, se comparado com o nmero de pessoas que ir formar, sem que necessite retirar essas pessoas de seus locais de trabalho.
Pode ir alm e agregar a esse curso, premiaes para aqueles que apresentarem melhores resultados, como por exemplo, viagens culturais, bnus, cursos de especializao do modelo presencial. Pode o Estado, inclusive, buscar parcerias junto iniciativa privada, especialmente com associaes comerciais e industriais de todo o pas, como a FIESP, FIESC, FIERGS, etc. Os resultados sero tantos e to positivos que aps um tempo veremos, espantados, os salutares resultados. 3.1 Formao Cultural e Humanstica Partindo dessa realidade, importante ao Fisco melhorar a formao de seus agentes, tanto no sentido cultural como no humanstico. Cultural, para que os agentes "de ponta" compreendam que passado o momento de fechar as fronteiras. Esse sistema de protecionismo que os pases subdesenvolvidos implantaram na Amrica Latina aps 1947, sob a orientao da CEPAL, apesar de eivado de boas intenes, no deu os resultados esperados, infelizmente. Algumas concesses s empresas multinacionais contriburam bastante para que os projetos de ideais implementados poca deixassem de atingir, em boa parte, a expectativa aguardada. As ltimas estatais nascidas dentro daquela filosofia esto sendo agora privatizadas ou sucateadas. Estamos em um novo tempo. a hora da globalizao. No interessa se gostemos ou no, se somos contra ou no. J decidiram por ns muito antes de agora. Dificultar a circulao de mercadorias em nada contribui para o crescimento de nosso Pas. Aos membros do governo que cuidam das fronteiras hora de derrubar as burocracias que somente causam entraves aos movimentos decorrentes dessa globalizao. A fiscalizao necessita ser gil, acompanhar o preo das mercadorias no mercado internacional (valorao aduaneira real), agir de forma a facilitar a circulao de mercadorias e cuidar apenas para que no se pratiquem concorrncias desleais em nosso mercado. Retardar ou dificultar o acesso de nosso empresariado ao mercado internacional, seja comprando, seja vendendo, no traz qualquer benefcio Nao. Num mercado globalizado fundamental a troca, o que implica que no iremos exportar se no importarmos, especialmente porque se ficarmos segregados, deixaremos, ou melhor, no seremos efetivamente competitivos. O mercado somente est evoluindo face concorrncia que se instala no Pas, em que pese a miopia generalizada que ainda grassa, fazendo com que alguns funcionrios esforcem-se por manter o quadro de protecionismo praticado h dcadas, sem visualizar as mudanas j ocorridas no horizonte internacional. Em caso recente, tentamos fazer ver a um fiscal da Aduana, que o exportador perderia a validade de uma carta de crdito no valor de quase um milho de dlares, caso no embarcasse a mercadoria objeto do contrato (300.000 camisetas), no prximo navio. quela altura, o fiscal tinha conhecimento de que a mercadoria no estava pronta porque dependia da liberao de 900.000 botes que foram remetidos pelo comprador estrangeiro para serem agregados s camisetas. O processo de admisso temporria desses botes estava estagnado a mais de trinta dias porque o fiscal entendia tratar-se de hiptese normativa que exigia a apresentao
de contrato de servio entre as partes, documento este que deveria estar chancelado pela embaixada brasileira e ainda traduzido por tradutor juramentado. Apresentamos "proforma" e "ordem de produo". Oferecemos a carta de crdito. Nada convenceu o fiscal a agir com presteza no caso, pois entendia que estes documentos no se prestavam a substituir o contrato de servio exigido pela norma. O empresrio acabou por desistir da admisso temporria e efetuou o pagamento dos impostos "indevidos". Nota-se assim, que por mais que a Coordenao Central da Aduana edite normas no sentido de agilizar os servios aduaneiros, os fiscais no "vestem a camisa" desses projetos de modernizao. De alguma forma necessrio que esses funcionrios sejam sensibilizados para o seu papel. Comuniquem as dvidas Coordenao, peam ajuda, externem os problemas, contribuam nas solues de forma honesta, transparente, idnea. Busquem atender ao esprito da lei, conscientes do papel que lhes cabe como agentes do Governo. Humanstica, para que os funcionrios aduaneiros assumam seu papel de responsveis para com a sociedade, no sentido de que, enquanto membros do Governo, cabe-lhes revelar o objetivo da poltica governamental e, para tanto, necessitam divulgar ao contribuinte as normas legais e administrativas, orientando-os quanto aos seus direitos e deveres em relao ao Fisco. Essa viso no pacfica entre os agentes do Fisco. O discurso que predomina na atualidade que no tm quaisquer obrigaes em informar ou prestar esclarecimentos ao empresariado. Ainda sobre o caso relatado acima, quando ponderado de que o atraso na liberao daqueles botes poderia gerar a quebra de um contrato de exportao no valor de quase um milho de dlares, o funcionrio responsvel disse que "nada tinha a ver com o problema do contribuinte". No entanto, a quebra do contrato possivelmente representaria a "quebra" de uma empresa nacional e ainda o desemprego de uma centena de funcionrios. 3.2 Temas para estudo Finalmente, considerando que o momento exige mudanas no apenas na estrutura fsica da Aduana, mas especialmente em seus recursos humanos, uma vez que sua formao deve estar voltada para a agilizao do comrcio internacional, considerando ainda que o momento do protecionismo j est ultrapassado, apresentamos uma lista de temas, que, apesar de no ser exaustiva, ajuda a pensar sobre qual , de fato, o mais grave problema da Aduana Brasileira: a importncia e as conseqncias da globalizao; o reconhecimento de que a rea aduaneira tem um importante papel social e no simples arrecadadora de tributos; a tomada de conscincia de que o momento de trabalho, e trabalho com responsabilidade e honestidade, compreendendo o importante papel destinado Aduana no processo de globalizao;
convencimento de que, assim como reduzido o nmero de funcionrios desonestos, tambm poucos so os criminosos atuando no comrcio internacional (a exemplo do que ocorre na sociedade), no sendo correto julgarem-se todos por poucos; conscientizao dos prejuzos causados pela burocracia alfandegria aos nossos empresrios, e a responsabilidade de cada um nesse processo; conscientizao de que ao criar problemas indistintamente, esto prejudicando especialmente os empresrios brasileiros sem estrutura jurdica de apoio, eis que os grandes conglomerados, especialmente de multinacionais, fruem do mximo de privilgios legais concedidos pelo Governo, at porque para serem informados e orientados no necessitam dos fiscais de planto; a possibilidade de reduo do custo-Brasil com a agilidade da Aduana: armazenagem, capatazia, taxas, demourrage, etc a importncia da celeridade das decises no comrcio, especialmente no cenrio internacional (prazos, validade de contratos); disseminao e estmulo (no sentido de boa orientao) utilizao da legislao relativa aos regimes aduaneiros especiais e atpicos por se constiturem em verdadeiras alavancas para o desenvolvimento de qualquer pas; reforo nos estudos de ingls, fundamentais a um bom profissional da rea de comrcio exterior; compreenso das operaes financeiras ligadas ao comrcio internacional, tais como: carta de crdito (tipos, caractersticas, exigncias, responsabilidades), contrato de cmbio, etc. transporte internacional, multimodal, agilizao e reduo de custos; a importncia das negociaes internacionais e as dificuldades inerentes, especialmente em se tratando de empresas pequenas e de mdio porte; tica profissional; regras de conduta; o comportamento fora da repartio e seu reflexo na imagem do funcionrio; integridade, honestidade, orgulho de sua atividade profissional como forma de contribuir para uma sociedade melhor e mais justa; importncia do tratamento a ser dispensado a todos os profissionais que atuam em contato com o Fisco (seriedade, respeito e isonomia); o papel do funcionrio pblico no contexto da Sociedade e o reflexo do prprio Governo. Conjunto de normas que regem o comrcio exterior e a obrigao do Fisco em orientar o usurio;
Obrigao do Fisco em prestar informaes e orientar ao contribuinte quanto ao procedimento adequado. 4.0 CONCLUSO evidente que a burocracia assola nosso Pas e pode enterrar a chance de acompanharmos a evoluo em compasso de globalizao que ocorre no mundo todo. Precisamos mudar esse cenrio. Nessa tarefa dever ter parcela importante o prprio Governo, no s contribuindo com a educao da populao em geral, mas, especialmente, com a formao de seus agentes, considerando que a ignorncia destes invalida quase todo o esforo por modernizao porventura intentado. Sem dvida, a educao fundamental para concretizar a modernizao, pois somente ela capaz de promover mudanas efetivas no homem. Para tanto, vale conhecer o pensamento de um dos maiores educadores do momento, Peter Drucker: "Vivemos numa economia cujos recursos mais importantes no so instalaes e mquinas, mas conhecimento, e onde os trabalhadores do conhecimento compem a maior fora de trabalho... a educao j consome uma grande parcela do produto nacional bruto dos Estados Unidos... o pas j est gastando cerca de 1 trilho de dlares em ensino e formao. Essa cifra vai aumentar rapidamente, mas o crescimento no deve se dar nas escolas tradicionais, que hoje consomem cerca de 10% do PNB (do jardim da infncia at o ensino mdio, 6%; faculdades e universidades, 4%). O crescimento ser visto no setor da educao contnua para adultos. O gatilho desse crescimento a transmisso do ensino pela Internet, mas a demanda por educao vitalcia se deve s transformaes profundas pelas quais a sociedade est passando. Falando em termos mais simples, est aumentando entre as pessoas que j tm alto nvel de instruo e timo desempenho profissional a percepo de que no esto conseguido manter-se em dia com as mudanas...a maior parte dos alunos formada por homens e mulheres na casa dos 40 anos, apontados por suas respectivas empresas como pessoas de alto potencial. Elas voltaram a estudar porque querem e precisam encontrar novas maneiras de enxergar o mundo, fora de suas reas de competncia. Querem aprender a ter uma viso mais global. Muitos esto l para refletir sobre suas experincias e enxerg-las de uma perspectiva mais ampla. Eles precisam dessa perspectiva para lidar com as mudanas econmicas e tecnologias atuais, diante das quais esto perplexos" (e-ducao Revista Exame, pgina 64, 14.06.2000, Editora Abril S/A, So Paulo). 5 BIBLIOGRAFIA: -LANDIM, Cludia Maria das Mercs Paes Ferreira. Educao A Distncia: Algumas Consideraes. Copyright : Rio de Janeiro, 1997. -DRUCKER, Peter, em artigo: e-ducao Revista Exame, pgina 64, 14.06.2000, Editora Abril S/A, So Paulo;
-MURTA, Roberto de Oliveira, in Contratos em Comrcio Exterior", So Paulo: Editora Aduaneiras, 1992; -LUNARDI, Angelo Luiz, Professor de Pagamentos Internacionais da Aduaneiras e Diretor da Proficam Consultoria e Finanas e Cmbio, em artigo intitulado "O contrato comercial na prtica", publicado no boletim "Sem Fronteiras", ano 2, n 89, de 07.08.2000, da Editora Aduaneiras, So Paulo. Conceitos de Representao Jurdico-Poltica Digital Mrcio Umberto Bragaglia Mestrando do Programa de Ps-Graduao em Engenharia de Produo Universidade Federal de Santa Catarina mubby@eps.ufsc.br Abstract The Electronic Juridical Representation is an ambitious application of theories and techniques of Artificial Intelligence at the Democracys context. Although our constitutional norms limit the direct exercise of peoples political power to the cases foreseen in the own Major Law, it is of important interest the study of models of attendance and electronic procurement in a society that develops itself into automation as improvement of the productive process, the quality of the citizens' life and of the increment of the democracy as a stable institution. This article intends to present and to briefly discuss some aspects of that polemic theme, besides introducing elementary technological concepts, with the objective of alerting the juridical operator for the future possibilities of integration among the technology, the Law and the organized society itself. Resumo A Representao Jurdica Eletrnica uma ambiciosa aplicao de teorias e tcnicas de Inteligncia Artificial no mbito da Democracia. Embora nossas normas constitucionais limitem o exerccio direto do poder aos casos previstos na prpria Lei Maior, de relevante interesse o estudo de modelos de assistncia e procurao eletrnica em uma sociedade que evolui no caminho da automao como melhoria do processo produtivo, da qualidade de vida dos cidados e do incremento da prpria democracia. Esse artigo pretende apresentar e discutir brevemente alguns aspectos desse polmico tema, alm de introduzir conceitos tecnolgicos elementares, com o objetivo de alertar o operador jurdico para as possibilidades futuras de integrao entre a tecnologia, o direito e a prpria sociedade organizada.
Palavras-chave Eletrnicas, Agentes. INTRODUO
(keywords):
Procuradores
Digitais,
Representao
Democracia
Nos tempos atuais, a maioria expressiva das naes civilizadas opta pelos sistemas polticos baseados na democracia, na repartio de poderes e na expresso da vontade do cidado atravs da representao. Logo no incio, nossa carta magna j consagra tal opo, no pargrafo nico do art. 1o: "Pargrafo nico - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituio." A primeira implicao imediata que pode ser percebida a capacidade de outorga de mandato, ou seja, de transmisso consciente de poderes entre o cidado alienado da expresso direta de sua vontade e o cidado habilitado ao exerccio coletivo desta. A segunda a viabilidade de exerccio do poder poltico de forma direta. Ignoremos inicialmente a ressalva relativa aos limites constitucionais do exerccio do poder poltico, j que a discusso que se pretende apresentar no est normatizada na Constituio ou em estruturas infraconstitucionais atuais. A ressalva no atrapalha o desenvolvimento do raciocnio que se segue. Ao contrrio, teremos sempre a possibilidade de argir a previso legal futura para nossa "nova" representao por meio de emenda constitucional. Analisemos a expresso do poder poltico sob a tica da expresso efetiva da vontade, realizvel hipoteticamente em um sistema perfeito no qual cada cidado expressa diretamente sua vontade poltica a respeito de uma questo determinada: Recentemente, a CNBB (Confederao Nacional dos Bispos do Brasil) promoveu um plebiscito objetivando consultar a nao interessada na questo da dvida externa a respeito do seu pagamento. Deve ou no ser realizado? 1. OS OBJETIVOS DA REPRESENTAO Podemos perceber com clareza a existncia de dois tipos de processos decisrios no exerccio da vontade, sua expresso direta ou atravs de representao apropriada. Surge uma questo de carter filosfico: sabemos que a representao existe, priori, em decorrncia da impossibilidade prtica de se consultar cada indivduo do grupo social para colher sua opinio pessoal. Assim, o tipo de representao que agrega em um indivduo faculdades de decidir "em nome" de um grupo maior o modelo fundamental da representao poltica (um vereador, por exemplo, representa os interesses de um conjunto de pessoas de seu municpio, possuindo mandato para concretizar aquilo que julga ser a vontade poltica de seus eleitores). Conclui-se ento que um dos objetivos da representao agregar vontades polticas de orientao semelhante, em um princpio prtico de economia e viabilidade
administrativa do Estado ou da organizao que a suporta. Todavia, muito comum observarmos a representao unitria, que ocorre quando um cidado outorga poderes para que outro o represente. Exemplo clssico o do procurador em juzo (advogado), que atua postulando o direito subjetivo de seu mandante. A j no cabe a concluso de que a representao uma medida prtica pretendendo viabilizar problemas de ordem de grandeza. O que de fato podemos inferir que a representao a transferncia de poderes por motivos de capacidade restrita do mandante, seja ela apenas formal, de conhecimento ou de especialidade, ou ainda de interesse. Nesse ltimo caso, podemos levantar o exemplo de uma pessoa que seleciona um representante para decidir em seu nome sobre aplicaes financeiras de seu patrimnio. H um interesse em sentido amplo de que o objetivo "incremento patrimonial" seja alcanado por meio das atitudes do representante eleito para tanto. No h, todavia, um interesse interno, especfico, em relao aos mecanismos operacionais que iro prover tal ganho efetivo. No interessa saber como ser feito, mas sim que ser feito segundo a vontade inicial que fundamenta e d razo ao mandato. Logo, a segunda concluso de que a representao tambm objetiva a transferncia de responsabilidades operacionais, ficando reservados os objetivos previstos. Partindo dessas duas concluses, podemos formular premissas que iro fundamentar um modelo de representao eletrnica da vontade do cidado, cabendo o modelo proposto tanto no conceito de representao quanto no conceito de exerccio direto do poder poltico, positivado nos princpios constitucionais supra-referidos. Nosso objetivo demonstrar que em diversas esferas ou contextos, desde a formulao e validao de um ordenamento jurdico (legislar), quanto em sua fiscalizao e aplicao (administrar), e ainda em relao a jurisdio dos preceitos legislados (julgar), poderamos, munidos de devida previso legal, tomarmos como representantes sistemas de informao autnomos, personalizveis e inteligentes, os quais denominaremos Agentes Jurdico-Polticos. Nagib Slaibi Filho, ao tratar dos meios de integrao entre o povo e o poder apresenta a seguinte questo, que nos serve como pea de doutrina, demonstrando que estamos em boa companhia: "somente a Constituio pode criar mecanismos de participao direta do povo no exerccio do poder, em face da restrio aparente que se encontra no pargrafo nico do art. 1?" e responde considerando absurda a resposta afirmativa a tal indagao, pois "teria a conseqncia de se considerar inconstitucionais todos os mecanismos de democracia a ser exercida diretamente pelo titular do poder... O prprio caput do artigo dispe que fundamento da atuao do Estado o respeito soberania (evidentemente do titular do poder) e cidadania". Devemos ter em mente que no se pode limitar a democracia somente ao voto - ato mais rudimentar de participao, segundo Slaibi, pois ela deve ser algo muito maior, nas palavras do doutrinador: "a mais ampla integrao do indivduo, entidades da sociedade civil e do povo no exerccio do poder." [SLAIBI1998].
Consideremos justificadas nossas premissas em face de tal percepo ampla do conceito de organizao democrtica do exerccio e da titularidade do poder poltico. 2. EXEMPLIFICANDO Vamos traar situaes hipotticas que ilustrem um ambiente dessa natureza. Aps verificarmos os exemplos, descreveremos mais tecnicamente como a Cincia Computacional e a Engenharia de Produo podem tratar da implementao de tal modelo, munidas de ferramentas da Inteligncia Artificial Aplicada. Caso 1: Marcos, economista, 35 anos, casado, dois filhos menores de 5 anos. Marcos tem profundo interesse pela situao econmica e fiscal do pas, pela parte do ordenamento jurdico que diz respeito proteo de crianas e adolescentes, a favor de penas mais brandas para os crimes de baixo potencial ofensivo, favorvel a absoluta liberdade de expresso e propaganda, fumante, no se interessa por poltica internacional, acha que as escolas deveriam preparar os adolescentes para o mercado de trabalho ao invs de investirem em cultura geral. Caso 2: Bete mdica, homossexual, tem uma companheira h 12 anos, favorvel ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Gosta muito de tecnologia e acredita que seu pas precisa de mais investimentos em pesquisa e segurana, e menos em gerao de empregos formais. Acredita que a legislao penal pouco rigorosa. Acha que toda propaganda de bebidas deveria ser proibida. Gostaria de ver limites mais rgidos em relao liberdade de imprensa. Os cidados hipotticos Marcos e Bete tem posies parecidas em relao a algumas matrias, e divergem frontalmente em relao a outras. Assim acontece no apenas em relao s diferenas e semelhanas entre os dois, mas praticamente entre todos os indivduos da sociedade em que vivem. So tantos e to variados os interesses e desinteresses que seria impossvel agregar adequadamente os mesmos em correntes intelectuais, em definies de "esquerda" e "direita", em partidos polticos, etc. Quem afinal ser apto a representar adequadamente (e simultaneamente) ambos? justo que Bete escolha seu representante (um deputado, por exemplo), s porque ele atende a algumas de suas opinies pessoais, mas no todas ou mesmo maioria delas? Agora imaginemos o seguinte modelo de representao: Marcos escolhe um representante para tratar de todas as questes relativas aos Direitos da Criana e do Adolescente. O seu procurador para esse assunto ir mant-lo informado a respeito de qualquer iniciativa legislativa na rea, ir acompanhar a jurisprudncia e a doutrina sobre a matria, ir representa-lo em qualquer votao ou consulta que lhe caiba participar como cidado. O representante ser, claro, um especialista estudioso do assunto, em constante contato com outros procuradores de outras pessoas. Ir inclusive informar a Marcos como os outros cidados interessados na matria se posicionam perante
questes especficas e coloca-lo, caso deseje, em contato com elas atravs de seus procuradores. Alm desse representante, Marcos tambm outorga mandato para que outro procurador acompanhe o mercado de aes, auxiliando suas decises nesse sentido, alm de acompanhar questes tributrias nos tribunais, coletando exemplos que iro determinar sua conduta, caso venha a demandar o Estado ou ser por este demandado. Todavia, Marcos no instituir representantes para cuidar da fiscalizao das verbas pblicas, para acompanhar o que dizem os tribunais sobre a Boa-f objetiva no Direito das Obrigaes, nem para votar contra medidas que restringem a publicidade na mdia. Bete, por sua vez, elege representantes especficos para acompanhar e participar ativamente do desenvolvimento da legislao referente s unies entre homossexuais. Escolhe tambm um procurador para mant-la informada sobre o destino e a aplicao das verbas pblicas em atividades acadmicas de pesquisa e extenso. Impossvel? Invivel do ponto de vista poltico (sobrecarga de representantes especializados, superestruturas eleitorais) e econmico (nus imenso tanto para o representado quanto para o Estado)? Sim, desde que estejamos tratando da representao de cidados por outros cidados. Mas pretendemos aqui imaginar um modelo de representao por agentes inteligentes de software, especficos para assuntos selecionados segundo os interesses do cidado, e to personalizados e atados sua personalidade e ao seu perfil poltico quanto suas crenas e sua assinatura, de modo a contribuir para a falncia do famoso ditado: "No Direito, todas as novidades tem duzentos anos". 3. IMPLICAES Obviamente, tal implementao requereria inmeros investimentos de infra-estrutura, uma vontade poltica praticamente impossvel, j que simplesmente no seria mais necessrio o representante eleito com poderes imensos de deciso e no restrito vontade momentnea do eleitor, conforme o modelo vigente, que timo para o representante e terrivelmente perigoso para o representado, j que o escopo e a garantia de postura do representante fogem completamente do poder de sano ou veto imediatos do representado. Porm, o objetivo da discusso apresentar a possibilidade no ponto de vista mais amplo possvel (o prprio ordenamento jurdico em sua concepo abstrata e em sua concretizao prtica) para, verificadas e validades as propostas de autonomia digital da representao, portar o modelo para estruturas mais simples (sem maiores implicaes polticas e resistncias emocionais) como por exemplo a pesquisa jurisprudencial monitorada, a formulao automtica de "ordenamentos jurdicos" para sistemas especialistas (definio das regras), alm da montagem de contedo inicial para sistemas inteligentes de raciocnio baseado em casos (RBC) dinmicos, de aplicao imediata na tomada de deciso crtica, concebidos na percepo do problema.
Como se pode perceber, a abordagem pretensiosa se justifica em relao aos subprodutos viveis da abordagem utpica ampla. Como funcionaro esses procuradores digitais, qual ser seu escopo de atuao, seus limites prticos e a segurana de suas decises ? Tais questes relevantes do ponto de vista prtico demandam a explicao de uma Teoria Bsica de funcionamento dos procuradores, que estaro baseados na ligao de trs grandes tecnologias de inteligncia artificial: Agentes Inteligentes, Sistemas Especialistas e Raciocnio Baseado em Casos. 4. NOES DE TECNOLOGIAS J sabemos que na maioria dos casos um dos requerimentos dos agentes ser sua Especialidade. Guizoni Teive, em tese de doutoramento (1997), estudou com maior profundidade os Sistemas Especialistas, e trouxe com nfase a definio de Bar e Feigenbaum (1981), que apresentam um sucinto conceito de Sistema Especialista:" um programa computacional inteligente que utiliza conhecimento e procedimentos para resolver problemas que so suficientemente difceis por requererem significativa experincia humana para a sua soluo". [TEIVE1997]. Logo, devemos estabelecer como pressuposto de um procurador no-genrico um conjunto de algoritmos e procedimentos operacionais que envolvam tcnicas de Sistemas Especialistas. Quanto aos sistemas de Raciocnio Baseado em casos, memorvel a definio clssica (Reisbeck e Schank 1989): " A case-based reasoner solves new problems by adapting solutions that were used to solve old problems " Em dissertao de mestrado, Marco Koslosky apresentou conceito de Raciocnio baseado em casos (RBC) como sendo "uma metodologia recente de resoluo de problemas cuja origem o trabalho desenvolvido por Schank e Abelson em 1977. Seu desenvolvimento foi estimulado pelo desejo de entender como as pessoas recuperam informaes e que comumentemente resolvem problemas lembrando como solucionaram problemas similares no passado." [KOSLOSKY1999]. Podemos tambm agregar tal caracterstica aos nossos procuradores digitais, objetivando capacita-los para a otimizao de suas decises, baseadas no somente nas peculiaridades de um caso concreto mas tambm no perfil de posies tomadas em situaes prvias similares. Para a primeira das tecnologias supra-elencadas necessria uma maior exposio dos seus fundamentos, de modo a permitir ao operador jurdico a concepo de um conceito tcnico aplicvel soluo de problemas conhecidos. A respeito dos Agentes Inteligentes, em excelente trabalho de doutoramento, Marcelo da Costa compilou diversas definies de agentes, entre elas a de Maes (1994), que reproduzimos devido sua simplicidade:
"Agentes so componentes de softwares que atuam autonomamente de forma a atender os interesses do usurio". Outra definio tambm apresentada por Costa a de Russel e Norvig (1995), que introduzem exatamente a qualidade mais importante da representao "justa" e apropriada da vontade de um cidado: "Agente algo que possui a capacidade de atuar sobre um ambiente atravs de sua percepo sobre esse ambiente". Concordamos com Costa, na seguinte concluso: essa "percepo do ambiente" significa a tomada de atitude que almeja "alcanar metas definidas por algum, dadas as crenas deste algum.". Assim, um agente seria um programa de computador que, portando caractersticas peculiares que discutiremos adiante, atua no sentido de realizar um objetivo de uma pessoa, de acordo com o pensamento e as opinies da pessoa sobre um assunto relacionado estritamente ao objetivo. porm de Nissen (1995) o mais simples e mais imediato dos conceitos apresentados por Costa, que "cai como uma luva" para a discusso que hora travamos: Agente um software que "atua como um procurador com o propsito especfico de realizar aes que podem ser entendidas como benficas parte representada". [COSTA1999]. Vamos aproveitar as definies escolhidas e traar um exemplo de um agente de software : Bete, atravs de um sistema em seu computador, cria um procurador que ir circular pelas redes e sistemas de informaes governamentais, colher informaes e envia-las de volta para ela classificadas, votar em seu nome e segundo suas convices pessoais e se comunicar com outros agentes de outras pessoas tambm interessadas sobre a questo de Empregos Informais. O agente ir se alojar em sistemas compatveis com a estrutura de agentes, que estaro disponveis em rgos legislativos, empresas privadas, tribunais de justia, etc, sempre "falando" em nome de Bete. Bete pode delegar ao agente-procurador autonomia absoluta ou relativa, isto , ela pode autorizar o agente a tomar posio (votar, por exemplo) por ela sem consulta-la previamente, somente se baseando no perfil que o agente j traou de sua representada no momento de sua definio, ou poder exigir que o agente pea sua confirmao antes de exercer qualquer ato em seu nome. Notamos que tal flexibilidade exclui antecipadamente a possibilidade de erros de compreenso irrevogveis devido tomada imediata de posio, j que se pode "aprender" e configurar o funcionamento do programa representante com o decorrer de sua utilizao. 5. OBSERVAES Percebemos tambm mais trs importantes observaes: Funcionando da forma descrita acima, o agente se comporta segundo nossa segunda premissa de possibilidades da representao: ela a transferncia de poderes
por motivos de capacidade restrita do mandante, seja ela apenas formal, de conhecimento ou de especialidade, ou ainda de interesse. Nesse caso, o agente toma como base algumas consideraes iniciais sobre a postura de seu criador (posio atual sobre a questo, perfil) e o representa de forma especializada em um interesse de sua escolha. A segunda observao fundamental: Como o funcionamento do agente no exige a interatividade em tempo integral com o representado, este pode outorgar poderes de representao para inmeros agentes em diversos assuntos que lhe interessam, colhendo apenas ocasionalmente a sntese dessas matrias que lhe so interessantes, incrementando no s seu escopo e poder de posicionamento poltico direto, como tambm o grau de cultura especfico sobre as matrias em questo. Finalmente, percebemos que um sistema no qual a cidadania exercida segundo interesses especficos e especializados tende a ser mais rica em resultados efetivos, dado o nvel de satisfao subjetiva com o sucesso e o grau de percepo do envolvimento subjetivo no fracasso das decises. Ainda possvel fotografar a sociedade e sua evoluo de posicionamento perante os mais diversos assuntos, presumindo-se que haja pessoas interessadas em participar de praticamente qualquer atividade de interesse pblico. Naquelas nas quais a participao for mnima, pode-se instituir a representao digital pblica, com poderes especiais outorgados pelos prprios agentes individuais, e revogvel na mesma medida de facilidade. Para que o leitor se situe melhor em relao as possibilidades dessa tecnologia, faz-se mister apresentarmos sucintamente algumas das caractersticas que diferenciam os agentes das demais categorias de programas de computador que auxiliam a tomada de deciso por parte do usurio. Uma das mais importantes caractersticas dos agentes, ainda segundo Costa, a Autonomia, referindo-se esta ao princpio de que os agentes agem "baseados em seus prprios princpios, sem a necessidade de serem guiados por humanos." Tais softwares so dotados de status e objetivos internos, agindo de maneira a atingir estes objetivos em favor de seus usurios. "O elemento chave da autonomia a pr-atividade, que a sua habilidade de tomar iniciativas, sem a necessidade de agir em virtude de uma mudana de seu ambiente"(Wooldridge e Jennings, 1994). A Autonomia, para o funcionamento de agentes como procuradores jurdicos, por exemplo, poderia envolver validao de suas tcnicas de posicionamento e tomada de deciso por entidades de classe especializadas. Poderamos imaginar uma "Ordem dos Advogados do Brasil- Digital" como uma entidade certificadora da tecnologia de inteligncia acoplada a tais dispositivos, autorizando-os por meio de assinatura digital, por exemplo, feitura de certos atos processuais que no envolvessem a necessidade de inteligncia humana (julgamentos de valor, i.e.). Outra importante peculiaridade dos procuradores digitais deve ser sua mobilidade, ou seja, a capacidade de mover-se em estruturas de redes de computadores, navegando em sistemas de informao aptos sua acoplagem temporria, munidos ambos (agentes e sistema de interface) de fortes tcnicas de segurana e
de garantia de autenticidade e inviolabilidade, pois podemos imaginar que se fcil "corromper" um representante humano, pode ser ainda mais fcil, atravs de meios tecnolgicos apropriados, hackear um agente e faze-lo tomar decises incompatveis com a vontade de quem representam. Seria a corrupo poltica digital. A questo de segurana uma das mais crticas, que podem inviabilizar toda a tecnologia e o modelo proposto, caso no se adotem rigorosas tcnicas de criptografia, assinatura eletrnica e protocolos de transaes seguras, desde a concepo in-loco do agente na mquina do cidado representado at sua transmisso pela rede, replicao, clonagem e envio de informao agente-representado e agente-agente. Tal discusso pode se prolongar ad infinitum com argumentos contra e a favor, fugindo do escopo original deste trabalho. Pretendemos aprofunda-la em artigo adjacente futuro. Alm dos dotes da autonomia e da mobilidade, uma importante caracterstica adicional dos procuradores deve ser a comunicabilidade. Devem ser capazes de "conversar", trocar informaes entre si, cooperar (desde que para tanto autorizados) com fins semelhantes de terceiros, e inclusive entrar em contato como outras entidades alm de procuradores, por exemplo, sistemas de bancos de dados, bases de conhecimento, e inclusive seres humanos. Um procurador que investiga a situao jurisprudencial de uma lei em relao sua possvel inconstitucionalidade pode alm de verificar as informaes que outros agentes de terceiros disponibilizam, consultar bases de conhecimento, sites da internet, e pedir por e-mail um parecer de um advogado ou jurista, por exemplo. Obviamente, a compreenso e o tratamento de tais dados e sua efetiva converso em informao e conhecimento exigem a aplicao de inmeras tcnicas de conhecimento e inteligncia artificial, modelos matemticos, anlise semntica, compilao, estatsticas, etc. Porm, podem existir agentes especializados em tais tarefas, que atravs do princpio da Cooperao (habilidade que os agentes tem de trabalharem em conjunto para realizarem tarefas de interesse mtuo) podem fornecer "servios" ao ambiente virtual no qual esto inseridos. Nasce ento um mercado de troca de informaes e servios entre procuradores pessoais e agentes de tecnologia comercial, liberando do usurio a necessidade de dotar seus agentes com avanadas tecnologias de inteligncia. (No procede do mesmo modo um advogado que consulta um contador para melhor compreender um caso, ou um juiz que manda juntar ao processo um laudo pericial, j que o conhecimento universal foge de sua competncia?) Os agentes ainda possuem outras caractersticas que os diferenciam de outros tipos de programas de computador, como a Aprendizagem (devem ser capazes de avaliar seu ambiente, decidir e aprender com os erros ou acertos ocasionados pela deciso. A entra a integrao com a tecnologia de Raciocnio Baseado em Casos), e a Reatividade (devem ser capazes de reagir s alteraes do ambiente. Ex: Mudou o sistema de votao em uma cmara legislativa digital. O agente deve perceber as alteraes e se adaptar a elas de modo a continuar operando, e caso no seja possvel, informar seu representado). Na parte mais tcnica, necessrio termos cincia de que existem diversos modelos de comunicao para agentes, arquiteturas de vrias complexidades, protocolos
e regras de funcionamento ambientais, controles de trfego, "federaes de agentes", linguagens de mensagens, polticas de conversao, entre outras definies. 6. CONSIDERAES FINAIS Obviamente, para que fosse implementada uma democracia com representao eletrnica, alm das centenas, talvez milhares de alteraes s quais nosso ordenamento jurdico deveria ser submetido, vrias definies de infra-estrutura deveriam ser protocoladas, muitas entidades de fiscalizao, segurana e controle criadas, enfim, toda uma estrutura digital e humana voltada para a possibilitao do exerccio direto do poder poltico deveria ser projetada, indo de encontro a inmeros dispositivos legais, formais e regras prticas, o que torna o projeto de tal empreendimento visionrio ao extremo, e, por que no dizer, absolutamente romntico. No obstante tal adjetivao "depreciativa", cabe a lembrana de Nagib Filho, que enumera diversas instncias de exerccio direto do poder: "O art. 14 da Constituio de 1988 coloca como instrumentos da democracia o voto direto, secreto e igual, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, mas no esgota a os instrumentos democrticos, pois so previstos, tambm, diversos remdios jurdicos processuais, como a ao popular, ao penal privada subsidiria da pblica (art. 5, LIX), ao de inconstitucionalidade (art. 103, art. 125, 2), bem como outras formas de participao individual ou de entidades da sociedade civil no processo de tomada de deciso ou de execuo da atividade estatal". [SLAIBI1998] Entre essas formas, podemos citar o mandado de segurana coletivo, liberdade na criao e funcionamento dos partidos polticos (art. 17), cooperao das associaes representativas no planejamento municipal (art. 29, X), iniciativa legislativa popular (arts. 29, XI, 61, 2), participao na administrao da justia (art. 5, XXXVIII, 98, 115, 116, 121, 124), gesto democrtica no ensino pblico (art. 206, VI), todos da Constituio Federal. Todavia, mesmo fora do mbito jurdico e da realidade poltica, o estudo de tais modelos ideais possibilita o desenvolvimento de metodologias e tecnologias de consulta popular e expresso da vontade normativa e interpretativa de entidades detentoras do poder de deciso, podendo ser til em inmeros domnios de aplicao, como por exemplo sistema de determinao de perfil, teorias de coeso de bancadas, conjuntos de regras formais em sistemas especialistas, entre outros. Trata-se porm de possibilidade poltica remota, mas tambm de tecnologia e ferramenta para engenharia de produo e sistemas. 7. REFEFNCIAS BIBLIOGRFICAS: COSTA, Marcelo T. C. Uma arquitetura baseada em agentes para suporte ao ensino distncia. Florianpolis: UFSC, 1999. (Tese de doutorado em Engenharia de Produo)
KOSLOSKY, Marco Antnio Neiva. Aprendizagem baseada em casos um ambiente para ensino de lgica de programao. Florianpolis: UFSC, 1999. (Dissertao de Mestrado em Engenharia de Produo) Maes, P. Intelligent Software: Programs That Can Act Independently Will Ease the Burdens that Computers Put on People. IEEE Expert Systems, Vol. 11, No. 6, December 1996, pp.62-63,. Russell, S. e Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995. SLAIBI FILHO, Nagib. Povo e Poder: Meios de Integrao. CD de Doutrinas Plenum Informtica, 1998. TEIVE, Raimundo Celeste Guizoni. Planejamento da Expanso da Transmisso de Sistemas de energia eltrica utilizando sistemas especialistas. Florianpolis: UFSC, 1997. (Tese de doutorado em Engenharia de Produo) Wooldridge, M. e Jennings, N. R. Intelligent Agents: Theory and Practice. Submitted to the Knowledge Engineering Review, 1994. Documentao da Disciplina: Tecnologia da Informao Jurdica Professores: Hugo Cesar Hoeschl, Msc Tania Cristina DAgostini Bueno, Msc Ricardo Miranda Barcia, PhD 1. Ementa: Noes de Tecnologia da Informao Jurdica. Trs partes: a) desenvolvimento de ferramentas de tecnologia da informao no mundo de justia e das leis; b) procedimentos para registro e preservao de direitos sobre os projetos e descobertas na tecnologia da informao; c) esclarecimento sobre questoes jurdicas da tecnologia da informao, em linguagem acessvel. 2. Estratgia: Exposies, seminrios, debates e estudo de casos, visando a uma aplicao efetiva das informaes abordadas. Anlise de sites temticos. Avaliao mediante seminarios, participao e trabalho final. 3. Programa: Introduo e conceitos operacionais; Ferramentas de aplicao da TI na justia. Informtica Jurdica; Sites: Findlaw ( www.findlaw.com.br), Infojur ( www.ccj.ufsc.br) Inteligncia artificial e direito, I; Sites: Icail, Giad Inteligncia artificial e direito, II;
Sites: Jurix, Enia Justia na web (avaliao dos tribunais); Site: Tribunal de Justia da Paraba ( www.tjpb.gov.br), Tribunal Superior Eleitoral ( www.tse.gov.br) Registro de software. O que e como fazer. Pirataria e contra-pirataria; Site: Abes ( www.abes.com.br) Registro de direitos autorais, marcas e patentes. O que e como fazer. Montando a empresa digital (tica jurdica); Site: INPI ( www.inpi.gov.br). O ciberespao e o direito digital; Site: Direito Digital ( www.digesto.net/ddigital). Censura na web e sigilo das comunicaes digitais. tica jurdica e telemtica; Site: Direito Digital ( www.digesto.net/ddigital). Mediao e arbitragem na internet. Soluo rpida de conflitos jurdicos; Site: NAM Corporation ( www.clicknsettle.com). Bibliografia on line: Inteligncia artificial e direito: http://www.digesto.net/ddigital/inteligencia/ia1.htm http://www.digesto.net/ddigital/inteligencia/ia2.htm http://www.digesto.net/ddigital/inteligencia/iamed1.htm http://www.digesto.net/ddigital/inteligencia/iamed2.htm http://www.digesto.net/ddigital/inteligencia/iamed3.htm http://www.digesto.net/ddigital/inteligencia/enia99b.htm Panorama geral: http://www.digesto.net/ddigital/digital/Panorama1.htm http://www.digesto.net/ddigital/digital/panorama2.htm O Ciberesao e o direito: http://www.digesto.net/ddigital/digital/ciber1.htm http://www.digesto.net/ddigital/digital/ciber1.htm http://www.digesto.net/ddigital/digital/ciber3.htm Ciberdemocracia: http://www.digesto.net/ddigital/democracia/orwell1.htm http://www.digesto.net/ddigital/democracia/orwell2.htm http://www.digesto.net/ddigital/democracia/orwell3.htm
Direito e telemtica: http://www.digesto.net/ddigital/dt/telematica.htm Internet e direito: http://www.digesto.net/ddigital/internet/liberdade1.htm http://www.digesto.net/ddigital/internet/liberdade2.htm http://www.digesto.net/ddigital/internet/liberdade3.htm Justia e tecnologia da informao: http://www.digesto.net/ddigital/justica/direitotecnologia.htm http://www.digesto.net/ddigital/justica/quatro1.htm http://www.digesto.net/ddigital/justica/quatro2.htm http://www.digesto.net/ddigital/justica/quatro3.htm http://www.digesto.net/ddigital/justica/quatro4.htm Sigilo de dados: http://www.digesto.net/ddigital/sigilo/telem1.htm http://www.digesto.net/ddigital/sigilo/telem2.htm http://www.digesto.net/ddigital/sigilo/telem3.htm http://www.digesto.net/ddigital/sigilo/principios1.htm http://www.digesto.net/ddigital/sigilo/principios2.htm http://www.digesto.net/ddigital/sigilo/principios3.htm Contratos em sistemas de inteligncia artificial: http://www.nts.com.br/tarcisio/artigos/contratos_em_sistemas.htm Comentrios lei 9.609 de 19/02/98 (SOFTWARE): http://www.nts.com.br/tarcisio/artigos/direito_ciberespaco.htm O Direito do Ciberespao: http://www.nts.com.br/tarcisio/artigos/direito_ciberespaco.htm Pginas de referncia: www.digesto.net ( busca jurdica, Brasil) www.findlaw.com ( busca jurdica, EUA) www.clicknsettle.com ( mediao e arbitragem na web) http://juris.eps.ufsc.br (
inteligncia artificial e direito) Avaliao dos tribunais na web: www.digesto.net/ijuris Tecnologia da informao Jurdica - Aula 1 (sumrio): Histrico do Grupo JURIS Especializao Mestrado - Direito Cadeiras EPS Prottipo Trabalhos internacionais Criao da linha de pesquisa Formao do Grupo Prmio 99 Avaliao dos tribunais, 99 Abrangncia Tecnologia da Informao Jurdica em sentido estrito; Procedimentos Jurdicos na internet; Impacto social das novas tecnologias; Ainda : Direito Digital e Democracia Eletrnica Tecnologia da Informao Jurdica Sitemas de informao; Informtica Jurdica; Inteligncia artificial e direito. Desdobramentos Procedimentos jurdicos na internet: interao
atos jurdicos digitais (*) emisso de documentos com f pblica Impacto social das novas tecnologias: excluso aprendizado baseado na autonomia soberania, conhecimento cientfico Direito Digital questes jurdicas atos jurdicos digitais (*) provas digitaisv Democracia eletrnica questionamento da representatividade escolhas mais constantes participao mais efetiva Tecnologia da informao jurdica Discusso terica, apresentao de seminrios baseados nos textos web e artigos internacionais; Apresentao dos prottipos j desenvolvidos pelo grupo: Avaliao de sites Metajuris Sectra Jurisconsulto Themis Prxima aula: Apresentao do Metajuris; Debate: validade dos documentos pblicos digitais. Assinatura eletrnica e f pblica.
Seleo dos textos para as proximas aulas. Regras para o debate Duas pessoas para cada lado (escolhidas hoje); 15 min para cada debatedor, 30 min no total; rplica e trplica, 5 min por debatedor, 10 min no total; Mediadora: Tnia; Pontos a serem observados na argumentao: Normatizao (Constituio, Legislao, Jurisprudncia, normas infra-legais, Doutrina); Outros pases; Aspectos ticos; O Futuro. Ao final, votao. Resumo do Debate: "Pesquisadores de tecnologia aprovam documento digital" "Um grupo multidisciplinar de pesquisadores reuniu-se para debater a validade de documentos oficiais, com f pblica, emitidos atravs da internet. O exemplo tpico deste tipo de documento so as certides negativas emitidas por orgos pblicos. O debate fez parte das atividades da cadeira "tecnologia da informao jurdica", do curso de Ps-Graduao em Engenharia de Produo e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina. A discusso seguiu o formato de um julgamento, semelhante a um jri, onde os debatedores tem igual tempo para apresentar seus argumentos e replicar a tese adversria. Depois da argumentao, o debate ficou livre entre todos os presentes, mesmo aqueles que no fazem parte do grupo de pesquisa. Ao final, aconteceu uma votao direta, com voto universal. Por se tratar de um grupo multidiciplinar, a discusso foi extremamente rica, com exemplos consistentes a argumentao forte, tanto por parte dos debatedores como por todo o grupo, composto por profissionais e pesquisadores das reas de sistemas computacionais, direito, administrao, segurana, psicologia, biblioteconomia, pedagogia e gesto da informao. Os debatedores foram: Lucio Eduardo Darelli e Marcio Bragalia, defendendo a validade, e Elenice Regina Borges e e Vanessa Luiz Neumzicz, defendendo a necessidade de maior segurana.
Dentre os argumentos apresentados, merecem destaque os seguintes: A favor: facilidade administrativa; maior acesso informao; maior satisfao do interessado no servio; possibilidade de adulterao similar ou menor do que os documentos emitidos em papel; impossibilidade de pagamento de propina; Contra: ausncia de seguranca total; possibilidade de adulterao digital; ausncia de efetiva comprovao da validade dos mtodos de criptografia e assinatura eletrnica; falibilidade ainda no dimensionada dos procedimentos adotados para emitir tais documentos. O resultado final da votao foi o seguinte: 76,5% dos pesquisadores consideram vlidos os documentos digitais com f publica, emitidos por mecanismos digitais, desde que possuam meios de checagem e validao; 23,5% consideram que ainda no existe seguranca suficiente para aceitar a validade de tais documentos. Ao final, prevaleceu o entendimento no sentido de que as fraudes podem ocorrer tanto em meios fsicos como digitais, e que este tipo de problema de ordem tica e moral, e no pode ser resolvido pelos computadores, mas eles podem sem dvida, tornar a nossa vida mais fcil, desde que adotadas as cautelas necessrias. Uma delas que a falsificao de uma certido digital tem as mesmas consequncias jurdicas que a falsificao de uma certido fsica. A cadeira "tecnologia da informao jurdica", da EPS/UFSC, foi criada pelo Professor Ricardo Miranda Barcia, PhD, professor titular da UFSC. Hugo Cesar Hoeschl e Tania Cristina D'Agostini Bueno, mestres e doutorandos, atuam como professores colaboradores. O interessante de se realizar a discusso neste tipo de formato que as pessoas vivenciam a experincia de chegar a um resultado concreto e imediato sobre um determinado tema, o que facilita a descrio do estado da arte em pontos polmicos e controversos. O grupo promete outros eventos similares em breve, e alguns dos temas a serem futuramente debatidos sero os seguintes: "validade da mediao e arbitragem pela internet"; "sigilo de dados e interceptao das comunicaes"; e "procedimentos de proteo da propriedade intelectual no ciberespao". Por enquanto, resta parabenizar as entidades brasileiras que j realizam este tipo de procedimento, oferecendo documentos pela internet." Matria veiculada no Estado de So Paulo (www.estadao.com.br)
Você também pode gostar
- Cora Reilly - Sins of The Fathers 4 - by Fate I ConquerDocumento600 páginasCora Reilly - Sins of The Fathers 4 - by Fate I ConquerRita de Cássia Sartori Ramos100% (10)
- A Biblia de Vendas Jeffrey GitomerDocumento6 páginasA Biblia de Vendas Jeffrey GitomerHelder CenteioAinda não há avaliações
- Rainha Dos Vampiros - LEXI C. FOSSDocumento327 páginasRainha Dos Vampiros - LEXI C. FOSSCarol Santos100% (1)
- Manual de direito digital: fundamentos, legislação e jurisprudênciaNo EverandManual de direito digital: fundamentos, legislação e jurisprudênciaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- 5 Pieces To Life - Jim Rohn - En.pt PDFDocumento95 páginas5 Pieces To Life - Jim Rohn - En.pt PDFMatheus Santos50% (2)
- Aula de Direito Digital - UnidrummondDocumento35 páginasAula de Direito Digital - UnidrummondLéa FreitasAinda não há avaliações
- Trabalho Livro HexagonalDocumento5 páginasTrabalho Livro HexagonalRaquel MaschmannAinda não há avaliações
- ▷▷【ASSISTIR】 - O Último Duelo (2021) Filme Completo Dublado E Legendado Em PortuguesDocumento9 páginas▷▷【ASSISTIR】 - O Último Duelo (2021) Filme Completo Dublado E Legendado Em PortuguesJoy DickersonAinda não há avaliações
- Privacidade e Proteção de Dados Pessoais Na Sociedade Digital PDFDocumento192 páginasPrivacidade e Proteção de Dados Pessoais Na Sociedade Digital PDFNelson Rodrigo Marcelino100% (3)
- Manual MikroC Pro Portugues (WWW - Mecatronicadegaragem.blogspot - Com)Documento706 páginasManual MikroC Pro Portugues (WWW - Mecatronicadegaragem.blogspot - Com)aitczak89% (9)
- Aula 2 NovastecnologiasparasaladeaulaDocumento13 páginasAula 2 NovastecnologiasparasaladeaulaLuAnaAinda não há avaliações
- M Numero10Documento30 páginasM Numero10Filippe OliveiraAinda não há avaliações
- Ius Ex Machina. Da Informática Jurídica Ao Computador-Juiz (RJLB, 2017) - A. L. Dias PereiraDocumento84 páginasIus Ex Machina. Da Informática Jurídica Ao Computador-Juiz (RJLB, 2017) - A. L. Dias PereiraPedro G SAinda não há avaliações
- Revolução Da Internet e A Tecnologia Como Um Facilitador DoDocumento11 páginasRevolução Da Internet e A Tecnologia Como Um Facilitador DoNiâni Guimarães MedeirosAinda não há avaliações
- Jurimetria Indo Muito Alem Dos Dashboards Ebook - FinchDocumento24 páginasJurimetria Indo Muito Alem Dos Dashboards Ebook - FinchArthur DobonAinda não há avaliações
- Os Direitos Humanos e a Ética na Era da Inteligência ArtificialNo EverandOs Direitos Humanos e a Ética na Era da Inteligência ArtificialAinda não há avaliações
- E-Due Process: Devido Processo Digital e Acesso à JustiçaNo EverandE-Due Process: Devido Processo Digital e Acesso à JustiçaAinda não há avaliações
- As Novas Tecnologias Da Informacao e Da ComunicacaoDocumento34 páginasAs Novas Tecnologias Da Informacao e Da ComunicacaoNathalia Andressa Frizeiro De AlmeidaAinda não há avaliações
- 9047-Texto Do Artigo-43779-1-10-20200331 PDFDocumento23 páginas9047-Texto Do Artigo-43779-1-10-20200331 PDFLucas SilvaAinda não há avaliações
- Propriedade Intelectual Na Era DigitalDocumento11 páginasPropriedade Intelectual Na Era Digitalanapfurlan16Ainda não há avaliações
- Como Surgiu A InternetDocumento2 páginasComo Surgiu A InternetlucskiwalkerAinda não há avaliações
- A Justiça sub judice: reflexões interdisciplinares: Volume 1No EverandA Justiça sub judice: reflexões interdisciplinares: Volume 1Ainda não há avaliações
- Fundamentos Do Direito CibernéticoDocumento51 páginasFundamentos Do Direito CibernéticoDoubt NatorAinda não há avaliações
- Branco S 2022 IA Aplicações e DesafiosDocumento170 páginasBranco S 2022 IA Aplicações e DesafiosRúben Sousa100% (1)
- A Questão Digital: o Impacto Da Inteligência Artificial No DireitoDocumento18 páginasA Questão Digital: o Impacto Da Inteligência Artificial No DireitoMurilo RicartAinda não há avaliações
- Devido Processo Tecnológico: na prestação de serviços digitais (tratamento de conteúdo digital) sob responsabilidade das Big TechsNo EverandDevido Processo Tecnológico: na prestação de serviços digitais (tratamento de conteúdo digital) sob responsabilidade das Big TechsAinda não há avaliações
- Dissertação Novas Formas de TrabalhoDocumento161 páginasDissertação Novas Formas de TrabalhoMaria Clara PinheiroAinda não há avaliações
- OrganizacÌ Aì o Disciplina para o Terceiro e Quarto BimetreDocumento5 páginasOrganizacÌ Aì o Disciplina para o Terceiro e Quarto BimetremurilofranzoniiAinda não há avaliações
- Direito DigitalDocumento9 páginasDireito DigitalPatrícia CordeiroAinda não há avaliações
- Slides TCC - Inteligência ArtificialDocumento34 páginasSlides TCC - Inteligência ArtificialGeovane PlácidoAinda não há avaliações
- Responsabilidade Etica e Moral Do Uso Das Novas Tecnologias de Informaã Ã o e Comunicaã Ã oDocumento5 páginasResponsabilidade Etica e Moral Do Uso Das Novas Tecnologias de Informaã Ã o e Comunicaã Ã oSp3llAinda não há avaliações
- Constitucionalismo, Democracia e Inovação: Diálogos sobre o Devir no Direito ContemporâneoNo EverandConstitucionalismo, Democracia e Inovação: Diálogos sobre o Devir no Direito ContemporâneoAinda não há avaliações
- Estudo de Impactos Na Constituição Brasileira Do Uso de Sistemas Baseados em Inteligência ArtificialDocumento14 páginasEstudo de Impactos Na Constituição Brasileira Do Uso de Sistemas Baseados em Inteligência ArtificialEderson ZanchetAinda não há avaliações
- Inteligencia Artificial - Aula 4Documento23 páginasInteligencia Artificial - Aula 4Junior DóriaAinda não há avaliações
- Inteligencia ArtificialDocumento7 páginasInteligencia ArtificialMadalena CastroAinda não há avaliações
- 142-Texto Do Artigo-LEIS GERAIS E LEIS NO PAIS DAS MARAVILHASDocumento16 páginas142-Texto Do Artigo-LEIS GERAIS E LEIS NO PAIS DAS MARAVILHASDébora MartinsAinda não há avaliações
- Aula 4 - Inteligência Artificial (Educa)Documento23 páginasAula 4 - Inteligência Artificial (Educa)Carlos Adriano De AnchietaAinda não há avaliações
- Direito, Tecnologia e DisrupçãoDocumento15 páginasDireito, Tecnologia e DisrupçãoCarolina Rondon Roloff100% (1)
- Alexandre Zavaglia - Tecnologia e Design Na Justiça BrasileiraDocumento12 páginasAlexandre Zavaglia - Tecnologia e Design Na Justiça BrasileiraAndressa ZanonaAinda não há avaliações
- Inteligencia Artificial y Proceso Un Mecanismo Extralegal de Efectividad Del Principio de Celeridad ProcesalDocumento11 páginasInteligencia Artificial y Proceso Un Mecanismo Extralegal de Efectividad Del Principio de Celeridad ProcesalRonaldo AgraAinda não há avaliações
- Ii Congresso Internacional de Direito E Inteligência ArtificialDocumento12 páginasIi Congresso Internacional de Direito E Inteligência ArtificialGeielleLemosAinda não há avaliações
- Algumas Reflexoes em Materia Apreensao DDocumento44 páginasAlgumas Reflexoes em Materia Apreensao DeathewrldAinda não há avaliações
- Direito Autoral: Marco Civil Da InternetDocumento304 páginasDireito Autoral: Marco Civil Da InternetIago NázaroAinda não há avaliações
- Racionalidade Crítica e Fundamentação Das DecisõesDocumento10 páginasRacionalidade Crítica e Fundamentação Das DecisõesNiâni Guimarães MedeirosAinda não há avaliações
- Audiência de Instrução Telepresencial na Justiça do Trabalho: aspectos constitucionaisNo EverandAudiência de Instrução Telepresencial na Justiça do Trabalho: aspectos constitucionaisAinda não há avaliações
- 1279-Texto Do Artigo-3258-1-10-20201224Documento22 páginas1279-Texto Do Artigo-3258-1-10-20201224Livia NobreAinda não há avaliações
- Direito Aplicado A InformáticaDocumento76 páginasDireito Aplicado A InformáticaSildinéia De Andrade RanghettiAinda não há avaliações
- A Privacidade Da Sociedade Contemporânea - o Obstáculo Da Aplicabilidade Do Direito DigitalDocumento25 páginasA Privacidade Da Sociedade Contemporânea - o Obstáculo Da Aplicabilidade Do Direito DigitalFrancianny AraujoAinda não há avaliações
- Tecnicas de Informacao de Comunicacao e Negociacao PDFDocumento48 páginasTecnicas de Informacao de Comunicacao e Negociacao PDFCINFORTECH SUPORTEAinda não há avaliações
- Disciplina - FUNDAMENTOS DO DIREITO DIGITAL - ApostilaDocumento119 páginasDisciplina - FUNDAMENTOS DO DIREITO DIGITAL - ApostilaJustino Ramos de Souza NetoAinda não há avaliações
- Inteligencia Artificial e Processo DecisDocumento10 páginasInteligencia Artificial e Processo DecisThaisa Nara Victor FranciscoAinda não há avaliações
- Fundamentos Do Direito Cibernético1Documento45 páginasFundamentos Do Direito Cibernético1Davi Dos SantosAinda não há avaliações
- Informática e Negócios Na Construção Civil 1Documento29 páginasInformática e Negócios Na Construção Civil 1Jair PaladinoAinda não há avaliações
- Edital SUBMISSÃO RESUMOSDocumento8 páginasEdital SUBMISSÃO RESUMOSNatan RWAinda não há avaliações
- Uso IA Prática JurídicaDocumento34 páginasUso IA Prática JurídicaGeorgia FontouraAinda não há avaliações
- 14450-Texto Do Artigo-59960-60353-10-20230926Documento22 páginas14450-Texto Do Artigo-59960-60353-10-20230926Paulo Henrique Lima SoaresAinda não há avaliações
- Tecnologia, Racismo e Reconhecimento Facial Os RiscosDocumento11 páginasTecnologia, Racismo e Reconhecimento Facial Os RiscosERICK ROBERTHAinda não há avaliações
- 02.08.2023 ANeves Direito Constitucional FDUL - Ficha - UC - PT ENDocumento4 páginas02.08.2023 ANeves Direito Constitucional FDUL - Ficha - UC - PT ENantoniomanuellopes2024Ainda não há avaliações
- A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Seus Impactos No Direito Do TrabalhoDocumento42 páginasA Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Seus Impactos No Direito Do TrabalhoMilena RitzelAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento7 páginas1 PBZahirAinda não há avaliações
- Arranjos Institucionais e Regulamentações Legais Na Era Da Inteligência Artificial - China Law Network TraduzidoDocumento12 páginasArranjos Institucionais e Regulamentações Legais Na Era Da Inteligência Artificial - China Law Network TraduzidoSimone SouzaAinda não há avaliações
- 839-Texto Integral-1360-1914-10-20230531Documento18 páginas839-Texto Integral-1360-1914-10-20230531Omar Ame ChandeAinda não há avaliações
- A Influência Da Inteligência Artificial Na EducaçãoDocumento12 páginasA Influência Da Inteligência Artificial Na Educaçãovanderlei.medeirosAinda não há avaliações
- TCC Sobre Direito DigitalDocumento30 páginasTCC Sobre Direito Digitalcopom bpm100% (1)
- E Tica e Inteligencia Artificial Una MirDocumento36 páginasE Tica e Inteligencia Artificial Una MirstzvhcqrdgAinda não há avaliações
- PDF - 9fd59eb3a9 - 0012231 POTENCIAIS APLICAÇÕES DA INTELIGÊNCIADocumento16 páginasPDF - 9fd59eb3a9 - 0012231 POTENCIAIS APLICAÇÕES DA INTELIGÊNCIAcatia.santosAinda não há avaliações
- Alfabeto Da Coordenação MotoraDocumento53 páginasAlfabeto Da Coordenação MotoraSinezia CoutoAinda não há avaliações
- Manual Estagio FaelDocumento12 páginasManual Estagio FaelEmerson CarvalhoAinda não há avaliações
- CheckList Casamento - Jessica BonaldiDocumento13 páginasCheckList Casamento - Jessica BonaldiAna Santos CerimônialAinda não há avaliações
- Patentes2721 28.02.2023Documento607 páginasPatentes2721 28.02.2023CpharmaceuticaAinda não há avaliações
- 2bensinoreligioso 6anoDocumento15 páginas2bensinoreligioso 6anoJhenna Kelly RibeiroAinda não há avaliações
- Termo de Responsabilidade - Práticas SociaisDocumento2 páginasTermo de Responsabilidade - Práticas SociaisKelvisNascimentoAinda não há avaliações
- Projeto G3M30 - Mashup em ProcessoDocumento24 páginasProjeto G3M30 - Mashup em ProcessoNadiaEthelBasantaBraccoAinda não há avaliações
- Romances Na Máfia 3 - Consequências - Camila Oliveira 71955Documento306 páginasRomances Na Máfia 3 - Consequências - Camila Oliveira 71955Clayton PatraoAinda não há avaliações
- AlfaCon Teoria Geral Dos Direitos Fundamentais PDFDocumento7 páginasAlfaCon Teoria Geral Dos Direitos Fundamentais PDFRosilda NetaAinda não há avaliações
- Ulfd133974 TeseDocumento113 páginasUlfd133974 TeseFeliciana HatewaAinda não há avaliações
- Obrigações Solidárias PDFDocumento3 páginasObrigações Solidárias PDFJoão Fellipe MarchioAinda não há avaliações
- Milionário IrresitivelDocumento421 páginasMilionário IrresitivelJoao Mocono50% (2)
- O Cretino Do Meu Ex - MG AmaroDocumento196 páginasO Cretino Do Meu Ex - MG AmaroTainara Soares Silva100% (1)
- Autoestima y Rendimiento Academico en Estudiantes UniversitariosDocumento72 páginasAutoestima y Rendimiento Academico en Estudiantes UniversitariosWalter Gino Otero GuillermoAinda não há avaliações
- Um Amor de Ceo - Anne KrauzeDocumento734 páginasUm Amor de Ceo - Anne KrauzeJoice Morais CamargoAinda não há avaliações
- Pro5100 PDFDocumento60 páginasPro5100 PDFIurAinda não há avaliações
- Wato Ex 30Documento121 páginasWato Ex 30Mauro GonzalezAinda não há avaliações
- Administração PúblicaDocumento9 páginasAdministração PúblicaSantos Diego100% (2)
- 00 - Livro - Ambientação em EAD PDFDocumento86 páginas00 - Livro - Ambientação em EAD PDFARILSON RIBEIRO OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Ipsilon 20210319Documento32 páginasIpsilon 20210319Inês A TeixeiraAinda não há avaliações
- 6524058fe4fdd48723ad320a Termos-Uso StardeskDocumento10 páginas6524058fe4fdd48723ad320a Termos-Uso StardeskhnrsfAinda não há avaliações
- GoGEAR Sounddot PortuguêsDocumento20 páginasGoGEAR Sounddot PortuguêsKeiko Marìa Duarez FloresAinda não há avaliações
- 109251082.023 (BZ Inst Por)Documento111 páginas109251082.023 (BZ Inst Por)Flavio MoreiraAinda não há avaliações