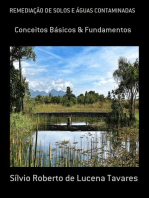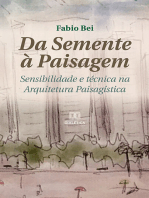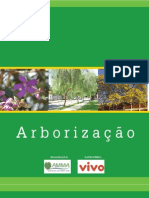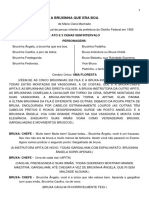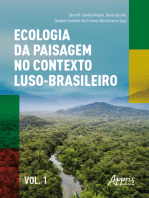Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
13 Matas
13 Matas
Enviado por
Edivaldo Da Silva SouzaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
13 Matas
13 Matas
Enviado por
Edivaldo Da Silva SouzaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
fevereiro/2002
Mata Ciliar
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Secr etaria de Estado de Meio Ambiente e Secretaria Desen volvimento Sustentv el Desenv Sustentvel
REST AURAO D A RESTA DA MA TA CILIAR MAT
Manual para recuper ecuperao - Man Manual para recuper ecuperao ao de de ual par ar r reas ciliares microbacias reas eas ciliar ciliares es e e micr microbacias obacias -
Autores
Paulo Yoshio Kageyama Flvio Bertin Gandara Renata Evangelista de Oliveira Luiz Fernando Duarte de Moraes
Projeto Plangua Semads / GTZ de Cooperao Tcnica Brasil-Alemanha fevereiro/2002
Mata Ciliar
Depsito legal na Biblioteca Nacional conforme Decreto n 1.825, de 20 de dezembro de 1907.
Ficha catalogrfica
K11 Kageyama, Paulo Yoshio Restaurao da mata ciliar - manual para recuperao de reas ciliares e microbacias Paulo Yoshio Kageyama, Flvio Bertin Gandara, Renata Evangelista de Oliveira, Luiz Fernando Duarte de Moraes Rio de Janeiro: Semads 2001 104 p.: il ISBN 85-87206-14-1 Cooperao Tcnica Brasil - Alemanha, Projeto Plangua Semads / GTZ Inclui Bibliografia. 1. Mata Ciliar. 2. Restaurao Ecolgica. 3. Biodiversidade. 4. Recursos Hdricos. 5. Meio Ambiente I. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel. II. Plangua. III. Gandara, Flvio Bertin. IV. Oliveira, Renata Evangelista. V. Moraes, Luiz Fernando Duarte. VI. Ttulo CDD-333.91
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel Rua Pinheiro Machado, s/n Palcio Guanabara Prdio Anexo / 2 andar Laranjeiras RJ / 20 238 900 e-mail: comunicacao@semads.rj.gov.br www.semads.rj.gov.br
Projeto Plangua Semads / GTZ O Projeto Plangua Semads / GTZ, de Cooperao Tcnica Brasil-Alemanha, vem apoiando o Estado do Rio de Janeiro no gerenciamento de recursos hdricos com enfoque na proteo de ecossistemas aquticos. Campo de So Cristvo, 138 / 315 So Cristvo RJ / 20 921 440 Tel./Fax: ( 0055 ) ( 21 ) 2580-0198 e-mail: serla@montreal.com.br
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Coordenadores Antnio da Hora Subsecretrio Adjunto de Meio Ambiente da Semads Wilfried Teuber Planco Consulting / GTZ Reviso e adaptao William Weber Consultor Plangua Diagramao Luiz Antonio Pinto Semads Editorao Jackeline Motta dos Santos Raul Lardosa Rebelo Semads / Plangua
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Consultores Paulo Yoshio Kageyama * Flvio Bertin Gandara Renata Evangelista de Oliveira Luiz Fernando Duarte de Moraes Consultores do Projeto Plangua Semads / GTZ
* kageyama@esalq.usp.br
Colaborao Adauto A. Grossmann Emater - Rio Eduardo Ildefonso Lardosa IEF Ignez Muchelin Selles Serla Ivan Mateus Moura Esalq / USP Jackeline Motta dos Santos Plangua Maria Jos Brito Zakia Esalq / USP Norma Crud Maciel Feema Raul Lardosa Rebelo Plangua Sabina Campagnani IEF ILUSTRAES Vania Ada Viana de Paulo ( Ilustradora Cientfica ) Feema / Servio de Ecologia Aplicada Creuza M. Chaves Irmgard Schanner Isis Braga FOTOS Eduardo Santarelli Ignez Muchelin Selles Jos L. Simionato Flvio Gandara Paulo Kageyama Projeto Plangua FOTO DA CAPA Mata ciliar no rio Jacuacanga - RJ ( Municpio de Angra dos Reis ) lia Marta Samuel
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Apresentao
As reas de matas ciliares degradadas em de toda a populao quanto a importante todo o Estado do Rio de Janeiro so funo das matas ciliares para os evidentes. Refletem o grande ecossistemas, em especial dos rios e lagoas, desconhecimento da sociedade da de que todos dependemos. importncia dessas formaes arbreas para So as matas ciliares que possibilitam, a manuteno dos ecossistemas por exemplo, habitat e refgio fauna caractersticos das margens e reas terrestre, e alimento com a produo de adjacentes, em especial, de rios, lagos, folhas e frutos , fauna aqutica. As lagoas, represas, crregos, nascentes e vegetaes ciliares atuam ainda como vrzeas. corredores ecolgicos, concorrem para a Com o manual Restaurao da Mata manuteno do microclima e da qualidade da Ciliar, pela primeira vez editado com vistas s gua. Por sua presena, as matas ciliares peculiaridades fluminenses, tem continuidade possibilitam a conteno de processos a srie Semads de publicaes no mbito do erosivos nas margens dos cursos dgua, Projeto Plangua Semads / GTZ, da maior assim como tm funo importante na relevncia, pois resgata e amplia reteno natural das guas, contribuindo para conhecimentos acerca de importantes o amortecimento de enchentes. questes ecolgicas do Estado do Rio de Este manual, acessvel, inclusive, a Janeiro, imprescindveis sociedade. leigos em restaurao e manuteno de reas A Secretaria de Estado de Meio ciliares, destina-se a contribuir para a Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel crescente conscientizao da vivel Semads, ao coexistncia disponibilizar esta harmnica entre o publicao s homem e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente entidades natureza, desde estaduais e que todos e Desenvolvimento Sustentvel municipais, aos apliquemos os tcnicos, aos princpios do uso ambientalistas, s racional dos ONGs, empresrios e produtores rurais, o faz recursos naturais, base do desenvolvimento consciente, contribuindo para o entendimento sustentvel. Dever de toda a populao amplo deste Estado.
fevereiro/2002 7
Mata Ciliar
ndice
13 15
INTRODUO RESTAURAO DE REAS CILIARES
Bases tericas e importncia da restaurao de reas ciliares . o papel da vegetao ciliar . sucesso florestal: conceitos e aplicaes . modelos de associao de espcies na restaurao Elaborao de projeto bsico . caracterizao do projeto de restaurao . definio do modelo de plantio no campo . implantao . preparo de solo . transporte das mudas e plantio . manuteno do plantio . estrutura organizacional e recursos humanos . estimativa de custos Avaliao e monitoramento de rea restaurada . avaliao da qualidade do plantio e manuteno . monitoramento ( indicadores )
19 19 20 24 27 27 27 29 31 37 38 39 39 43 43 43
45 71
VIVEIROS: PLANEJAMENTO, IMPLANTAO E OPERAO
Bases tericas para a produo de sementes Tecnologia de produo de mudas Elaborao de projeto bsico . caracterizao do projeto de instalao do viveiro . estrutura e equipamentos . operaes . estrutura organizacional e recursos humanos . estimativa de custos
LEGISLAO
49 51 55 55 57 61 67 70
fevereiro/2002
Mata Ciliar
75 77 81
GLOSSRIO
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
1. Croqui de viveiro: exemplo de um viveiro de mudas de espcies nativas, com capacidade para 40.000 mudas 2. Croqui de viveiro: sistema operacional radial ou tradicional e sistema operacional setorizado 3. Lista de equipamentos permanentes e materiais no viveiro 4. Lista de equipamentos permanentes e materiais para a restaurao florestal 5. Lista de insumos para o viveiro 6. Lista de insumos para restaurao florestal 7. Lista de espcies arbreas do RJ com potencial para a restaurao de matas ciliares, com recomendao de grupo ecolgico 8. Modelo de ficha para coleta de sementes para as diferentes espcies utilizadas para plantios de restaurao florestal 9. Modelo de ficha para controle de operaes em viveiro 10. Modelo de calendrio fenolgico para as diferentes espcies utilizadas para plantios de restaurao florestal 11. Modelo de ficha de acompanhamento da restaurao florestal 12. Lista de viveiros 13. Normas federais e estaduais ( RJ ) que disciplinam a proteo de reas marginais de corpos dgua 14. Leis de crimes ambientais: artigos relacionados s reas ciliares
81 82 83 83 84 84 85 88 88 91 91 92 94 95
100
fevereiro/2002
PROJETO PLANGUA SEMADS / GTZ
71
Mata Ciliar
Lista das ilustraes do acervo do SEA / Feema
Pgina:
Aquarelas:
12-LECYTHIDACEAE. Lecythis pisonis Cambess. rvore e fruto. Sapucaia. Arte: Iris Braga 16-BIGNONIACEAE. Tabebuia serratifolia. Ip-amarelo. Arte: Vania Ada 28-BOMBACACEAE. Chorisia speciosa St. Hill. Paineira. Arte: Vania Ada 36-CAESALPINOIDEA. Caesalpinia echinata. Pau-brasil. Arte: Vania Ada 48-LECYTHIDACEAE. Cariniana estrellensis. Jequitib-branco. Arte: Vania Ada
54-LECHYTIDACEAE. Lecythis pisonis. rvore e fruto. Sapucaia. Arte: Iris Braga 60-MELASTOMATACEAE. Tibouchina granulosa. Quaresmeira. Arte: Vania Ada 72-MYRTACEAE. Eugenia uniflora. Pitangueira. Arte: Vania Ada
Pgina:
Bico de pena ( nanquim ):
18-ANACARDIACEAE. Schinus terebinhifolius - Aroeirinha. Arte: Vania Ada 22-ANACARDIACEAE. Tapirira guianensis - Fruta-de-pombo. Arte: Vania Ada 26-BIGNONIACEAE. Tabebuia cassinoides - Pau-de-tamanco, caxeta. Arte: Vania Ada 30-BORAGINACEAE. Cordia trichotoma - Louro-pardo. Arte: Vania Ada 34-MORACEAE ( ou CECROPIACEAE ) - Cecropia hololeuca. Embaba. Arte: Irmgard Schanner 40-CAESALPINOIDEAE - Melanoxylon brauna. Brana-preta. Arte: Creuza M. Chaves 42-MIMOSOIDEAE - Enterolobium contortisiliquum. Orelha-de-negro. Arte: Vania Ada 46-PAPILIONIDAE - Myrocarpus frondosus. leo-pardo. Arte: Vania Ada 52-LECYTHIDACEAE. Cariniana legalis - Jequitib-rosa. Arte: Vania Ada 56-MAGNOLIACEAE. Talauma ovata - Pinha-do-brejo. Arte: Vania Ada 64-MORACEAE. Ficus hirsuta - Figueira. Arte: Vania Ada 68-MORACEAE. Ficus insipida - Mata-pau. Arte: Irmgard Schanner
10
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel Rua Pinheiro Machado, s/n Palcio Guanabara - Prdio Anexo - 2 andar / sala 210 Laranjeiras - RJ 22238-900 e-mail: comunicacao@semads.rj.gov.br www.semads.rj.gov.br
SEMADS
FEEMA
Fundao Estadual de Engenharia do Meio Ambiente Rua Fonseca Teles, 121 / 15 andar So Cristvo - RJ 20940-200 www.feema.rj.gov.br
IEF
Fundao Instituto Estadual de Florestas Avenida Presidente Vargas, 670 / 18 andar Centro - RJ 20071-001 www.ief.rj.gov.br
Serla
Fundao Superintendncia Estadual de Rios e Lagoas Campo de So Cristvo, 138 / 3 andar So Cristvo - RJ 20921-440 www.serla.rj.gov.br e-mail: serla@serla.rj.gov.br
fevereiro/2002
11
Mata Ciliar
12
Lecythidaceae, Lecythis pisonis: rvore e fruto - Sapucaia
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Introduo
Objetividade e clareza. Estes so os elementos bsicos que este manual sobre Restaurao da Mata Ciliar segue, ampliando a um nmero maior de interessados a compreenso deste tema. Para fins deste manual, consideramos reas ciliares aquelas reas que, outrora, estavam cobertas por vegetao e que, atualmente, necessitam de restaurao. As reas ciliares ocorrem, naturalmente, s margens de rios, lagos, lagunas, igaraps e outros corpos das guas naturais, bem como s margens das obras de arte feitas pelo homem como audes, reservatrios, represas, etc. Os ensinamentos e instrues elaborados no mbito do Projeto Plangua Semads / GTZ e justificados na srie Semads, objetivam se transformar em instrumento de conscientizao de todos os segmentos da sociedade, alm dos tcnicos, ecologistas e ONGs, acerca da importncia da vegetao ciliar para o Estado do Rio de Janeiro. Dado o grau de devastao em que se encontra o Bioma da Mata Atlntica em solo fluminense e, certamente em todo o pas, este manual pretende ser de grande valia queles que desejam ver mitigada a crescente perda das matas ciliares dos rios, lagoas e outras formaes hdricas fluminenses para tantas atividades e empreendimentos realizados de forma ecologicamente incorreta, nas ltimas dcadas. Questes relevantes como as tcnicas desejveis na recuperao de matas ciliares e de microbacias na Mata Atlntica, de coleta de sementes, alm da importncia dos animais para a
sustentabilidade do ecossistema restaurado, esto aqui em destaque. Conceitos para o entendimento das florestas tropicais, ricas em biodiversidade, tambm so formulados nesta publicao. Este manual se prope tambm a contribuir para a construo de toda uma metodologia acerca de matas ciliares no Estado do Rio. De forma didtica e simples, em captulos, itens e subitens, este trabalho descreve, alm da elaborao de projeto bsico de restaurao de reas ciliares, como a vegetao ciliar reduz o impacto de fontes de poluio em reas a montante, minimiza processos de assoreamento dos corpos dgua, a contaminao por lixiviao e o escoamento superficial de defensivos agrcolas e fertilizantes. A vegetao ciliar mantm a estabilidade dos solos, minimizando os processos erosivos e o solapamento das margens. A mata ciliar e as matas de vrzea retm as guas superficiais, especialmente em poca de cheias, contribuindo para o amortecimento das enchentes e, assim, para a reduo dos seus prejuzos. Este trabalho pretende oferecer um guia prtico para a restaurao de matas ciliares e a recuperao florestal de microbacias. Por isso, ao terminar de ler este manual voc, com certeza, ser um dos multiplicadores dos conceitos e das diretrizes acerca da importncia da vegetao ciliar, que recebe tambm outras denominaes: mata ciliar, floresta ou mata de galeria, veredas, mata de vrzea e beiradeira.
Os Autores
fevereiro/2002 13
Mata Ciliar
14
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Restaurao de reas ciliares
Este manual sobre restaurao de reas ciliares degradadas no Estado do Rio de Janeiro , em primeiro lugar, de extrema importncia, principalmente no muito devastado Bioma Mata Atlntica. Muita dificuldade foi tambm superada ao ser elaborado, por envolver temas altamente complexos e ainda pouco estudados. Dessa forma, este manual no pretende esgotar o assunto, porm, apresentar os principais conceitos tcnico-cientficos imprescindveis para tratar do tema restaurao de reas ciliares, assim como atualizar as diferentes experincias desenvolvidas sobre o assunto, principalmente no Estado do Rio de Janeiro. O tema restaurao de reas ciliares, pela sua prpria conceituao, deve envolver o entendimento de como so esses ecossistemas, ou sua diversidade, estrutura e dinmica, j que as matas ciliares devem ser as nossas referncias para a reconstruo do novo ecossistema restaurado. Dessa forma, os conceitos de: 1) riqueza de espcies e a diversidade gentica em suas populaes; 2) dinmica da sucesso ecolgica nesses ecossistemas; e 3) interao ecolgica entre plantas e animais, devem ser bastante enfatizados nos programas de restaurao de matas ciliares. Deve-se enfatizar que, mesmo que as tcnicas de implantao de florestas sejam ao final simples, a fundamentao bsica das mesmas sempre envolver conceitos extremamente complexos. A importncia de quantas espcies devem ser consideradas como um mnimo desejvel na restaurao de uma mata ciliar na Mata Atlntica, e como deve ser a representatividade gentica na coleta de sementes dessas espcies, so questes fundamentais a serem consideradas nas aes de restaurao. Da mesma forma, como essas espcies devem ser implantadas na restaurao, ou que grupos de espcies devem ser considerados e quais so os modelos de arranjo desses grupos de espcies no plantio, tambm so outras questes essenciais. Deve-se ressaltar a importncia dos animais na restaurao, pois atuam na fevereiro/2002
reproduo das espcies arbreas, seja como polinizadoras, seja como dispersores de sementes. Isso , de novo, essencial, se queremos a sustentabilidade desse novo ecossistema restaurado. interessante colocar que todos esses conceitos de entendimento das florestas tropicais, com toda a alta biodiversidade to enfatizada e valorizada atualmente, foram e vm sendo construdos desde pouco tempo, na sua maioria a partir da dcada de 70 veja Gomez-Pompa ( 1971 ), Budowski ( 1965 ), Janzen ( 1970 ), Kricher ( 1990 ) dentre outros. Portanto, toda a metodologia que vem sendo construda e aprimorada para a restaurao de matas ciliares em nosso pas baseada numa teoria tambm em construo, necessitando ser revisada e atualizada continuamente. As experincias de restaurao documentadas no Estado de So Paulo datam da dcada de 60 ( Nogueira et al., 1977 ) e foram imprescindveis para mostrar que essa ao era possvel, assim como apontando direes do que seguir, ou no, nessas aes. Porm, decisivas para dar mais cunho cientfico ao trabalho de restaurao foram as experincias desenvolvidas pela Companhia Energtica de So Paulo - CESP a partir de 1988, em convnio de pesquisas com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirz - ESALQ / Universidade de So Paulo USP ( Kageyama et al., 1990 ), quando foram testados modelos de implantao de matas ciliares baseados na sucesso secundria, no entorno dos reservatrios de usinas hidreltricas do Estado de So Paulo. Concomitantemente a esse projeto de pesquisa, outras experimentaes foram e vm sendo desenvolvidas, com avanos no entendimento das matas ciliares e nas propostas de modelos de implantao ( Rodrigues et al., 1992; Durigan et al, 2001; Barbosa, 2000 ). Vrios compndios e livros foram e vm sendo publicados sobre esse tema, alm de eventos especficos sobre o assunto, assim como vrias aes desenvolvidas em diversas regies, mostrando haver uma massa crtica acerca do tema e 15
Mata Ciliar
16
Bignoniaceae. Tabebuia serratifolia. Ip-amarelo
fevereiro/2002
Mata Ciliar
acmulo de conhecimento significativo na rea. Para que um manual sobre o assunto restaurao de reas ciliares seja de fato til e acessvel aos tcnicos, ambientalistas e produtores, consideramos que alguns itens bsicos devem ser bem abordados, contendo os principais conceitos muito fundamentados, assim como todos os passos importantes numa restaurao, bem explicitados e claros. Dessa forma, na produo de mudas, no s as diferentes tcnicas devem ser abordadas, mas tambm a produo de sementes de boa qualidade fisiolgica e gentica para essas mudas a serem produzidas. Da mesma forma, os diferentes modelos de arranjo na implantao das matas ciliares devem ser acompanhados de justificativas, em funo da situao no entorno dessas reas. Mais importante do que colocar as mudas no campo o controle local, desde as atividades de pr-
plantio at as de ps-plantio, assim como o monitoramento do desenvolvimento do novo ecossistema restaurado. Alm disso, modelos de fichas de acompanhamento que vm sendo utilizados nos diversos projetos devem ser discutidos, seguidos ou adaptados. Finalmente, para que seja tambm estimulador de novas experincias, o manual relata e discute mtodos tcnicos inovadores no tocante ao entendimento das matas ciliares e aos modelos de arranjo dos grupos de espcies no plantio. Como a questo do custo de implantao sem dvida a principal limitao adoo de propostas de restaurao por pequenos produtores descapitalizados, propostas de novos modelos que visem baixar os custos prioridade absoluta em nosso manual.
Foto: Flvio Gandara
Vista geral de mata ciliar preservada do rio Mogi-Guau ( SP )
fevereiro/2002
17
Mata Ciliar
18
Anacardiaceae. Schinus terebinthifolius. Aroeirinha
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Bases tericas e importncia da restaurao de reas ciliares
O papel da vegetao ciliar
A vegetao ciliar pode ser definida como aquela caracterstica de margens ou reas adjacentes a corpos dgua, sejam esses rios, lagos, represas, crregos ou vrzeas; que apresenta em sua composio espcies tpicas, resistentes ou tolerantes ao encharcamento ou excesso de gua no solo. Essa vegetao recebe diversas denominaes, como mata ciliar, floresta ou mata de galeria, veredas, mata de vrzea, floresta beiradeira, entre outras. Dentre as inmeras funes atribudas a essa formao, esto a possibilitao de habitat, refgio e alimento para a fauna; a atuao como corredores ecolgicos; a manuteno do microclima e da qualidade da gua; e a conteno de processos erosivos, descritos a seguir. Essa formao exerce grande influncia na manuteno da biodiversidade, pois compreende um excelente habitat para a fauna terrestre e aqutica, pela prpria estrutura da vegetao e da existncia de madeiras cadas e arbustos que servem de refgio para pequenos mamferos, oferecem ninhos para muitas espcies de aves, possibilitam alta produo de alimentos para herbvoros e estabilidade para comunidades invertebradas aquticas e terrestres. Fornece alimento, cobertura e proteo trmica para peixes e outros organismos aquticos, alm de gua e alimentos para a fauna terrestre ( de insetos a mamferos ).
Foto: Paulo Kageyama
Vista geral de uma mata ciliar natural
fevereiro/2002
19
Mata Ciliar
como associar diferentes Devido a essas espcies nos plantios mistos de caractersticas, e sua nativas contribuio, a vegetao ciliar quais espcies so as mais um elemento chave da paisagem, potenciais para esse trabalho de servindo como corredores restaurao. ecolgicos naturais, que possibilitam o fluxo de Foto: Eduardo Santarelli animais e propgulos ( plen e sementes ) ao longo de sua extenso; e interligando importantes fragmentos florestais. A vegetao ciliar reduz o impacto de fontes de poluio de reas a montante, atravs de mecanismos de filtragem ( reteno de sedimentos ), barreira fsica e processos qumicos; minimiza processos de assoreamento dos corpos dgua e a contaminao por lixiviao ou escoamento superficial de defensivos agrcolas e fertilizantes. Alm disso, mantm a estabilidade dos solos marginais, minimizando Plantio misto utilizando-se o conceito de sucesso secundria e alta diversidade de espcies, com 1 ano de idade em Ilha Solteira ( SP ) os processos erosivos e o solapamento das margens. A vegetao ciliar pode ainda A sucesso nos trpicos reduzir a entrada de radiao um tema que vem sendo solar e, desta forma, minimizar estudado, relativamente, h flutuaes na temperatura da pouco tempo, sendo que os gua dos rios. primeiros trabalhos elucidativos e que esclareceram pontos fundamentais para nos desvincularmos da teoria clssica da sucesso datam das dcadas Sucesso florestal: 60 e 70 para c. Os conceitos e aplicaes de principais autores que marcaram presena nesse avano da compreenso da sucesso nos O entendimento do processo de ecossistemas tropicais podem sucesso ecolgica nos ser enumerados como: ecossistemas naturais, tanto em Budowski ( 1965 ), Whitmore reas primrias como em reas ( 1975 ), Denslow ( 1980 ) e antropizadas, importante para Martinez-Ramos ( 1985 ). Aps servir como referencial para a essa fase, muitos autores, implantao de florestas mistas, incluindo ns prprios, principalmente de proteo avanaram na aplicao dessa ambiental. A sucesso natural teoria nos plantios mistos de um modelo a ser copiado quando espcies nativas para fins de queremos restaurar uma rea proteo ambiental, degradada, principalmente para principalmente no Brasil, apontar: podendo-se citar: 20 fevereiro/2002
. .
Mata Ciliar
Foto: Paulo Kageyama
Kageyama e Castro ( 1989 ); Rodrigues et al. ( 1992 ) e Barbosa et al. ( 1992 ), dentre outros. Vale lembrar que esses autores citados foram importantes para o nosso caso de uso da sucesso para a restaurao de reas degradadas, pois esses autores no s tentaram interpretar a dinmica da sucesso nas florestas tropicais, como tambm separaram as muitas espcies desses ecossistemas em grupos com caractersticas e funes comuns. Por isso, esses grupos tm sido denominados de grupos sucessionais ou grupos
Experimento de restaurao utilizando-se espcies nativas vista geral de uma parcela com associao de uma espcie secundria inicial ( Peltophorum dubium canafstula ) com uma espcie clmax ( Hymenaea courbaril jatob )
Foto: Paulo Kageyama
Plantio misto utilizandose o conceito de sucesso secudria e alta diversidade de espcies ( 100 espcies/ha ), com 4 anos de idade em Primavera ( SP )
fevereiro/2002
funcionais. Esses trabalhos foram fundamentais para se entender, pragmaticamente, a dinmica da floresta e de como utilizar esses conceitos para plantar muitas espcies nativas juntas nos plantios de restaurao florestal. Para se entender de como avanou a aplicao dos conceitos da sucesso ecolgica nos plantios mistos florestais, deve-se analisar a evoluo do uso dos grupos sucessionais nesses plantios. Inicialmente, procurou-se utilizar os quatro grupos sucessionais de Budowski ( 1965 ), ou: Pioneiras, Secundrias Iniciais, Secundrias Tardias e Climcicas, justamente porque este autor analisou, no a sucesso secundria em florestas primrias, mas sim a sucesso antrpica, conforme alcunhada por Kageyama, et al. ( 1994 ). Deve-se apontar que os grupos sucessionais de Denslow ( 1980 ) foram importantes para se entender a sucesso secundria na floresta natural primria, porm no se prestando para aplicao nos trabalhos de restaurao de reas degradadas. Assim, deve-se considerar 21
Mata Ciliar
22
Anacardiaceae. Tapirira guianensis. Fruta-de-pombo
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Foto: Paulo Kageyama
Plantio misto utilizando-se o conceito de sucesso secundria e alta diversidade de espcies ( 100 espcies/ha ), com 8 anos de idade no Pontal do Paranapanema ( SP )
os grupos sucessionais como importante ferramenta para se aplicar nos modelos de plantios mistos envolvendo muitas espcies representativas da alta riqueza da floresta tropical. Porm, deve-se apontar que esses grupos representam uma discusso ainda no acabada, com diferentes terminologias sendo utilizadas por diferentes grupos de pesquisadores. Portanto, ao se utilizar uma determinada classificao de espcies quanto sucesso, deve-se esclarecer a que estamos nos referindo, explicando a classificao, os grupos e suas caractersticas. Isso por se tratar de um conceito, tanto terico como aplicado, ainda em construo, necessitando de muita discusso e muita experimentao.
Dessa forma, a sucesso ecolgica, tanto secundria como antrpica, a qual nos referimos neste manual ser aquela conceituada por Kageyama e Gandara ( 2000 ), baseada em intensa experimentao com grupos ecolgicos desde 1988, dentro do Convnio entre a ESALQ / USP e CESP, atravs do Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais IPEF.
Foto: Paulo Kageyama
Detalhe de espcies secundria tardia ( Baufourodendron ridelianum pau-marfim ), rodeada por uma espcie pioneira ( Trema micrantha embaba ), em experimento de restaurao florestal
fevereiro/2002
23
Mata Ciliar
Modelos de associao de espcies na restaurao
A escolha ou criao de um modelo de associao de espcies um processo em constante aprimoramento, que alimentado no s pelos conhecimentos bsicos sobre ecologia, demografia, gentica, biogeografia, mas tambm pelas informaes sobre o ambiente fsico e biolgico da regio onde ir ser implantado. Alm dos conhecimentos cientficos, outro ponto importante a ser mencionado a disponibilidade de tecnologia de silvicultura de espcies nativas, envolvendo produo e beneficiamento de sementes, produo de mudas e implantao. A interao dos conhecimentos tericos bsicos a as informaes sobre a rea e tecnologia disponvel que vo determinar qual o modelo mais adequado para cada situao. O uso da sucesso ecolgica na implantao de florestas mistas a tentativa de dar, regenerao artificial, um modelo seguindo as condies com que ela ocorre naturalmente na floresta. A simulao de clareiras de diferentes tamanhos e a situao de no-clareiras fornecem condies apropriadas, principalmente, de luz, s exigncias dos diferentes grupos ecolgicos sucessionais ( Kageyama, 1984 ). Adicionalmente, a observao de laboratrios naturais, como enfatiza Carpanezzi et al., 1990, ou a sucesso em reas antropizadas, fornece indicaes seguras do comportamento de espcies que fazem o papel de pioneiras nesses ambientes muito degradados pelo homem. O modelo sucessional 24
separa, portanto, as espcies em grupos ecolgicos, e juntando-as em modelos de plantio tais que as espcies mais iniciais da sucesso dem sombreamento adequado s espcies dos estgios mais finais da sucesso ( Kageyama, 1984 ). A concepo bsica a de que as espcies pioneiras do condies de sombra mais cerrada s espcies climcicas, enquanto as espcies secundrias iniciais
Foto: Jos L. Simionato
Vista geral de experimento de restaurao florestal. No detalhe, parcela com associao de uma espcie secundria inicial ( Peltophorum dubium canafstula ) com uma espcie clmax ( Hymenaea courbaril jatob ), aos 12 anos de idade, com rvores de at 20 metros de altura
fornecem sombreamento parcial s secundrias tardias ( Kageyama et al., 1990 ). O fornecimento dessas condies de diferentes graus de sombreamento s espcies das fases mais adiantadas da sucesso, que representam os grupos ecolgicos mais importantes para a estrutura da fevereiro/2002
Mata Ciliar
floresta ( secundrias tardias e climcicas ), feito pelas espcies dos grupos sucessionais mais iniciais ( pioneiras e secundrias iniciais ), e que so efmeras na estrutura florestal ( Kageyama & Castro, 1989 ). A forma com que essas condies so dadas no plantio pode mudar, em funo da maneira como as plantas so arranjadas no campo, se em mdulos ou se em linhas de plantio. Deve-se enfatizar que o plantio em linhas mais indicado para plantios em grande escala ( dezenas a centenas de hectares ), quando a operao fica automatizada. O plantio em mdulos mais preciso, sendo mais interessante em plantios pequenos e em plantios experimentais. O mais importante adequar o espaamento e a
quantidade de mudas de cada grupo ecolgico, de forma tal que cada grupo ecolgico tenha a maior probabilidade de ocupar um espao, o mais adequado possvel, no menor tempo e durante o maior perodo. No plantio sucessional, sem dvida, as espcies pioneiras so as chaves do modelo, j que elas que vo dar as condies adequadas para o desenvolvimento normal das mudas das espcies nopioneiras. Na classificao das pioneiras, tm que ser consideradas as caractersticas silviculturais, podendo haver, ento, tanto as pioneiras tpicas, que fecham clareiras grandes na sucesso secundria, como as pioneiras antrpicas, que fazem o papel de pioneiras, mesmo no sendo pioneiras na floresta primria ( Kageyama et al., 1994 ).
Mdulos a colocao em mdulos pressupe uma planta base central, dos grupos finais da sucesso, rodeada por quatro ou mais plantas sombreadoras ( grupos iniciais ), segundo usado por Kageyama ( 1984 ) e Rodrigues et al. ( 1992 ). Linhas o plantio em linhas pode ser com a alternncia das linhas, sendo uma de pioneiras ( pioneiras e secundrias iniciais ) e outra de no pioneiras ( secundrias tardias e climcicas ); a outra situao seria com a alternncia de plantas pioneiras e no-pioneiras na linha, sendo que as plantas de diferentes linhas seriam desencontradas quanto aos grupos ecolgicos ( Kageyama et al., 1990 ).
. .
fevereiro/2002
25
Mata Ciliar
26
Bignoniaceae. Tabebuia cassinoides. Pau-de-tamanco, caxeta
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Elaborao de projeto bsico
Caracterizao do projeto de restaurao
Neste item deve-se incluir os seguintes tpicos: Introduo um prembulo com aspectos gerais da restaurao, contexto ambiental da regio, atores no processo de restaurao, etc. Objetivos especificar os objetivos do projeto que podem envolver a proteo das margens de cursos dgua, proteo do solo contra processos erosisvos, melhorar a qualidade da gua, recuperar a diversidade biolgica, ou outros. Localizao e acessos situar detalhadamente onde ser localizado o projeto, incluindo um mapa ou croqui que facilitem a localizao. Caracterizao da rea deve incluir fatores climticos, edficos e biticos. O conhecimento e caracterizao adequados vo possibilitar uma melhor escolha dos mtodos a serem seguidos. Na caracterizao deve-se observar e analisar: fertilidade e condies fsicas do solo, topografia, potencial de regenerao e disperso natural, plantas invasoras, espcies nativas da regio e causa da degradao. fevereiro/2002
Atividades preparativas dentre as atividades preparativas pode-se citar o isolamento da rea, se necessrio ( por exemplo: evitar o acesso de animais ), cessar a causa de degradao ( por exemplo: ocorrncia de incndios, caa, explorao de madeira, etc. ) e requerer autorizao do rgo competente.
Definio do modelo de plantio no campo
As caractersticas da rea e a disponibilidade de recursos mo-de-obra e implementos , sero os fatores principais para a definio do modelo de plantio.
o isolamento da rea, no caso de reas sujeitas a pisoteio por animais ou mesmo por pessoas, fundamental para o sucesso da restaurao florestal
27
Mata Ciliar
Bombacaceae. Chorisia speciosa St. Hill. Paineira
28
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Foto: Paulo Kageyama
Vista geral de um plantio de espcies arbreas nativas recm-instalado ( 60 espcies/ha )
Implantao
A implantao de vegetao em reas ciliares compreende as seguintes etapas: pr-plantio ( inclui as atividade de preparo de solo ), plantio ( alocao das mudas no campo ) e ps-plantio ( manuteno e replantio ). As atividades referentes implantao de vegetao florestal em reas ciliares dependem das caractersticas da rea a ser restaurada, como topografia/declividade, condies edficas ( fsico-qumicas ) e composio da cobertura vegetal presente. Os fatores citados acima, aliados escala do plantio ( tamanho da rea a ser restaurada ) so fatores a serem avaliados quando da seleo do fevereiro/2002
modo de implantao ( se mecanizada, semimecanizada, ou manual ). Alm disso, a capacidade operacional do implantador/ restaurador ( recursos disponveis ) outro ponto a ser considerado. Esse um fator de extrema relevncia para determinar o escalonamento do plantio ( distribuio das reas a serem restauradas ao longo do tempo ). Cabe ressaltar que o isolamento da rea, no caso de reas sujeitas a pisoteio por animais ou mesmo por pessoas, fundamental para o sucesso da restaurao florestal. A preveno contra incndios ( atravs da instalao e limpeza de aceiros para proteo contra a passagem de fogo ) tambm de grande relevncia para o sucesso do empreendimento. Uma ferramenta disponvel para o controle de plantas invasoras em plantios de restaurao florestal ( implantao e manuteno ), embora polmica atualmente, em especial em reas ciliares, o uso de herbicidas. Experimentos em andamento mostram que o uso de herbicidas de contato no especficos, reduz, significativamente, os custos de
29
Mata Ciliar
Boraginaceae. Cordia trichotoma. Louro-pardo
30
fevereiro/2002
Mata Ciliar
implantao, no entanto, sua utilizao depende de anlise e aprovao do rgo ambiental competente. Deve-se levar em conta que o uso desse agroqumico deve ser feito com todos os cuidados tcnicos necessrios, a fim de evitar danos ambientais.
preparo de solo
tcnicas de conservao do solo considerada essencial. Dentre as tcnicas recomendadas contra processos erosivos esto: preparo de solo e plantio em nvel e subsolagem quando da ocorrncia de camadas impermeveis no subsolo. Geralmente, em plantios de restaurao florestal com espcies nativas, em reas ciliares, as operaes realizadas so as seguintes:
Considera-se preparo de solo o limpeza da rea conjunto de atividades realizadas anteriormente ao plantio propriamente dito, e envolve Essa operao se constitui na operaes distintas, relacionadas diretamente s condies da rea erradicao ou controle de espcies vegetais invasoras que e ao tipo e objetivos do plantio a possam vir a competir com as ser realizado. mudas, vindo a prejudicar o Os objetivos das desenvolvimento das mesmas. atividades envolvidas no preparo Essa atividade se constitui de solo so, principalmente, reduzir a competio ocasionada na roada da vegetao invasora, mecnica ( com uso de roadeiras por espcies invasoras e ou implemento equivalente ) ou melhorar as propriedades fsicas manualmente ( com uso de e qumicas do solo. Cabe ressaltar que o ideal que o solo presente na rea a ser restaurada seja o uso de herbicidas de contato no minimamente manuseado, a fim de especficos reduz significativamente os proteg-lo contra custos de implantao processos erosivos. As excees so as reas extremamente degradadas, com solos altamente compactados ou enxada/enxado ). O controle mesmo ausentes ( onde os das espcies invasoras pode ser horizontes superficiais foram feito na rea total, nas linhas de retirados ), como reas de plantio ou apenas na forma de emprstimo, reas mineradas, um coroamento ao redor do local etc. Nessas reas, faz-se onde ser feita a cova. necessrio intenso uso de A opo a respeito da implementos agrcolas ( arados, modalidade de controle, assim grades, subsoladores, etc. ) para como sua intensidade, tem de ser que as mudas a serem plantadas avaliada em funo do nvel de encontrem as condies mnimas infestao e composio das necessrias ao seu espcies invasoras, tendo em desenvolvimento. vista que em alguns casos, Alm disso, a utilizao de apesar de alto nvel de infestao, fevereiro/2002
31
Mata Ciliar
algumas espcies no representam competio com as mudas. Deve-se sempre tomar o cuidado de preservar a regenerao de espcies nativas que, por acaso, esteja ocorrendo na rea.
Durigan et al. ( 2001 ) descrevem de forma sucinta os mtodos mais utilizados na restaurao florestal:
. Termonebulizao o inseticida lquido misturado com leo diesel, transformado em fumaa e injetado no formigueiro por um
equipamento motorizado chamado termonebulizador. A fumaa que penetra no formigueiro mata as formigas por contato. A aplicao desse mtodo recomendada com tempo seco ou chuvoso, apenas para controle de savas.
.combate a formigas
Essa atividade considerada primordial para o sucesso do empreendimento de restaurao florestal, tendo em vista a alta capacidade desses insetos de danificar o plantio ( por desfolhamento, levando morte das mudas ). O combate a formigas cortadeiras pertencentes aos gneros Atta ( savas ) e Acromyrmex ( quenquns ) em sua grande maioria , realizado em funo das condies ambientais, tipo de formigueiro, infestao, produtos e equipamentos disponveis. Cabe ressaltar, que cada produto utilizado requer o uso de equipamento de proteo individual ( EPI ) adequado s suas caractersticas, e que a utilizao desse equipamento obrigatria. Entre os formicidas encontrados no mercado, existem produtos slidos ( granulados ou em p ), lquidos ( termonebulizveis ) e gasosos.
. P seco esse mtodo recomendado para formigueiros pequenos ( savas e quenquns ). aplicado por meio de
polvilhadeiras, que injetam o p no formigueiro, matando as formigas por contato.
. Isca granulada trata-se do mtodo mais utilizado atualmente no combate a formigas cortadeiras. A isca pouco txica e de fcil
aplicao. As iscas, geralmente, so acondicionadas em saquinhos plsticos ( em torno de 10g ), que so colocados ao longo dos carreiros prximos aos olheiros ativos. A quantidade de iscas depende do tamanho do formigueiro e do produto selecionado. Recomenda-se as iscas para aplicao em pocas secas.
.alinhamento e
marcao das covas
Podem ser feitos manualmente ( o que geralmente recomendado para reas pequenas ou no mecanizveis ), onde aps definido o modelo de plantio espaamento e densidade de plantio , marcam-se as curvas de nvel atravs do uso de gabarito ( geralmente composto por duas
os objetivos das atividades envolvidas no preparo de solo so, principalmente, reduzir a competio ocasionada por espcies invasoras e melhorar as propriedades fsicas e qumicas do solo
32 fevereiro/2002
Mata Ciliar
balisas com as quais definem-se as distncias entre as covas dentro das linhas de plantio, assim como as distncias entre as linhas ). O alinhamento para confeco das covas tambm pode ser feito de forma mecanizada, com o uso de sulcadores que vo demarcando as distncias entre as linhas, cabendo posteriormente a alocao das covas nas linhas.
o ideal que o solo presente na rea a ser restaurada seja minimamente manuseado, a fim de proteg-lo contra processos erosivos
cova para ser utilizado no recobrimento das mudas. Nessa poro de solo retirada da prpria cova que se deve acrescer os eventuais fertilizantes antes de se recobrir a muda. Outro cuidado importante no deixar espaos sem solo entre o torro da muda e as paredes da cova, pois esses formam bolhas de ar que podem comprometer o desenvolvimento das mudas.
.coveamento
No planejamento das atividades de plantio, na etapa do coveamento, deve-se avaliar as dimenses das covas a serem feitas em funo do recipiente que contm as mudas, que podem ser sacos plsticos ou tubetes. Para o preparo das covas, pode-se utilizar trator com broca ou sulcador, ou a abertura manual com enxado, conforme a disponibilidade no momento e as condies da rea. As dimenses utilizadas para as covas, geralmente so de 30 x 30 x 40 cm, mas utilizam-se tambm covas de 40 x 40 x 40 cm. De modo geral, quanto maior for a cova, melhor o desenvolvimento inicial das mudas. No caso do coveamento ser realizado de forma mecanizada, deve-se quebrar as paredes da cova, utilizando-se enxada ou outra ferramenta disponvel, a fim de evitar o que chamamos de espelhamento ( endurecimento das laterais da cova que impede o desenvolvimento das razes ). Umas das medidas mais importantes no processo de coveamento para subseqente plantio, se refere necessidade de reservar o solo retirado da fevereiro/2002
.sulcamento
Ao invs da utilizao de covas, pode-se optar pelo sulcamento, realizado de forma mecanizada. O sulcamento deve ser realizado em funo do espaamento determinado e sempre obedecendo o traado das curvas de nvel.
.adubao
A implantao de florestas tem ocorrido principalmente em solos de baixa fertilidade, seja ela natural ou em funo do nvel de degradao, em especial das reas ciliares. Quando se pretende a construo e a manuteno de ecossistemas estveis e
33
Mata Ciliar
Moraceae ( ou Cecropiaceae ). Cecropia hololeuca. Embaba
34
fevereiro/2002
Mata Ciliar
funcionalmente ativos, so essenciais a identificao e caracterizao de solos, de ambientes dominantes e de aspectos especficos desses, tais como, uso da terra e exigncias nutricionais das espcies nativas. Dois fatores principais devem ser considerados na adubao de reflorestamentos com espcies nativas: a fertilidade dos solos e os ambientes conservadores e exportadores de nutrientes. Antes de tudo, vale a pena lembrar que nem sempre a adubao nos plantios necessria, uma vez que essa operao eleva substancialmente os custos de implantao. Tanto a calagem como a adubao de base so efetuadas mediante anlise de solo, por meio da qual procura-se corrigir e prevenir as deficincias nutricionais. A demanda por nutrientes varia entre espcies, estao climtica e estdio de crescimento e mais intensa na fase inicial de crescimento das plantas. As espcies dos estdios sucessionais iniciais possuem maior capacidade de absoro de nutrientes, que as dos estdios sucessionais subseqentes, caractersticas intimamente relacionadas com o potencial de crescimento ou taxa de sntese de biomassa. As espcies pioneiras e secundrias
iniciais, com maior potencial de crescimento, devem receber recomendaes de fertilizao mais criteriosas, especialmente em solos com deficincia de fertilidade. H grande dificuldade em se enquadrar as espcies florestais nativas em grupos ecolgicos com relao ao aspecto nutricional.
.modo de aplicao
A adubao realizada na cova, misturando-se o adubo terra que foi retirada no coveamento. Em seguida, colocando-se a terra misturada ao adubo, bem revolvida, de novo na cova. Se houver a disponibilidade de matria orgnica, esta tambm deve ser utilizada na adubao da cova com dosagens definidas conforme a sua origem. Em casos de solos que apresentem alta acidez, recomendvel, quando possvel, a realizao de calagem. Esta feita aplicando-se calcrio dolomtico, tambm na cova, e seguindo as etapas descritas para a adubao. A dosagem deve seguir a anlise do solo, e a calagem deve ser realizada por volta de 60 dias antes do plantio.
espaos deixados sem solo entre o torro da muda e as paredes da cova formam bolhas de ar, que podem comprometer o desenvolvimento das mudas
fevereiro/2002 35
Mata Ciliar
CAESALPINOIDEA. Caesalpinia echinata. Pau-brasil
36
fevereiro/2002
Mata Ciliar
transporte das mudas e plantio
. Transporte das mudas o acondicionamento das mudas para transporte deve ser feito de forma a causar os menores danos possveis. No caso de mudas em sacos plsticos,
devem ser transportadas lado a lado, em p; mudas em tubetes podem ser acondicionadas em caixas, deitadas. A quantidade de mudas transportadas deve obedecer ao cronograma de plantio, ou seja, deve corresponder quantidade que vai ser plantada no mesmo dia ou at o dia seguinte. Se por algum outro motivo, as mudas permanecerem no campo por um tempo longo antes do plantio, elas devem estar sombreadas e receber suplementao de gua.
. Plantio as mudas devem, inicialmente, ser distribudas ao longo da linha, segundo o modelo de plantio previamente determinado ou seja, obedecendo distribuio
recomendada dos diferentes grupos ecolgicos. Deve-se tomar o cuidado de no se repetir, seguidamente, mudas da mesma espcie, evitando a formao de reboleiras da mesma espcie arbrea. O plantio realizado de acordo com o sistema de produo de mudas utilizado, se em saquinhos ou tubetes. Para o plantio das mudas em sacos plsticos, pode ser utilizada uma enxada ( ou ferramenta semelhante ) para realizar uma abertura ( cavidade ), compatvel com o tamanho do torro. A muda deve ser colocada, e em seguida, o plantador deve puxar a terra ao redor do torro, tapando a cavidade e compactando ligeiramente a terra ao redor da muda. Para o plantio de mudas em tubetes, o processo semelhante, mas Foto: Paulo Kageyama ao invs de uma enxada utilizado um chucho, para abertura de uma cavidade com o mesmo formato do tubete utilizado. A muda deve ser retirada do tubete e colocada dentro da cavidade em posio vertical, com o cuidado de no entortar o sistema radicular da muda. No ato do plantio, deve-se eliminar as embalagens sem prejudicar o torro da muda e, se necessrio, efetuar a poda das razes prejudicadas. recomendvel se fazer o embaciamento da Produo de mudas de espcies nativas em sacos plsticos cova e irrig-la, quando necessrio, at o pegamento da muda. Sempre que possvel, deve-se realizar o plantio durante os meses de maior precipitao, para propiciar melhor pegamento das mudas e eliminar custos adicionais com irrigao. fevereiro/2002 37
Mata Ciliar
.espaamento
O espaamento deve ser determinado em funo do modelo inicial adotado. No caso de se optar pela manuteno mecanizada da rea,
devem ser utilizados espaamentos que possibilitem a utilizao dos diferentes implementos nas ruas de plantio ( entre linhas ). Um espaamento maior resulta numa menor densidade de plantio ( vide tabela abaixo ).
Vantagens e desvantagens do uso de diferentes densidades de plantio
Densidade de Plantio Vantagens
Alta (mais de 1500 mudas por ha)
fechamento rpido baixo custo de manuteno pouco replantio ou desnecessrio baixo custo em mudas baixo custo de plantio regenerao mais fcil no futuro
Desvantagens
custo alto em mudas custo alto de plantio competio fechamento lento replantio pode ser necessrio alto custo de manuteno ( vrias operaes de limpeza )
Baixa (menos de 1000 mudas/ha)
Manuteno do plantio
A manuteno dos plantios de restaurao, desde que estes tenham sido implantados de forma a possibilitar o fechamento do plantio ( sombreamento suficiente para evitar a competio com invasoras ) no tempo ideal, realizada at no mximo, o segundo ou terceiro ano. A manuteno envolve, principalmente, as seguintes atividades:
.capina em faixa e
coroamento
As espcies invasoras devem ser eliminadas sempre que necessrio, at as mudas sobrepujarem a vegetao herbcea. Deve ser realizada a 38
limpeza seletiva na rea, para eliminao das espcies invasoras, na forma de uma capina em faixas, nas entrelinhas de plantio. Alm disso, deve ser feito o coroamento limpeza ou eliminao de espcies invasoras ao redor da muda. feito, manualmente, e o ideal que se coloque a palha resultante do coroamento ao redor da muda para auxiliar na reteno de umidade. A avaliao da necessidade de capina e coroamento realizada de forma visual. Cabe ressaltar que a regenerao natural de espcies arbustivas e arbreas nativas deve ser preservada.
.combate a formigas
O combate a formigas na fase de manuteno segue as fevereiro/2002
Mata Ciliar
recomendaes feitas anteriormente quando do preparo da rea. importante que se faa um monitoramento peridico nas reas restauradas, a fim de determinar a necessidade do combate a formigas. A simples presena de formigas na rea no deve ser o nico fator considerado. Uma pequena infestao tolervel e considerada normal, desde que os danos causados pelo ataque sejam pequenos. Em reas de tamanho significativo e com alta diversidade de espcies tem sido verificado que o combate a formigas necessrio at no mximo o segundo ou terceiro ano.
.replantio
O replantio a substituio das mudas mortas, ou com problemas fitossanitrios irreparveis, ao longo da rea de plantio. Deve ser realizado, sempre que necessrio, at os trs meses aps o plantio, ainda no perodo mido. O aceitvel que a necessidade de replantio no ultrapasse 10 a 15% do total de mudas plantadas. O replantio pode tambm ser utilizado no caso da necessidade de substituio de mudas plantadas no local errado, ou seja, desobedecendo o modelo inicial proposto; ou ainda no caso da ocorrncia de reboleiras da mesma espcie.
implementao do projeto devem estar especificados, bem como as suas habilidades para cada atividade a ser desenvolvida ao longo do processo de restaurao. Um projeto, necessariamente deve ter o acompanhamento de um tcnico de nvel superior ( engenheiro florestal, engenheiro agrnomo, bilogo ) preparado e capacitado para tal. Alm disso, a equipe de campo necessita de preparao para esta atividade, uma vez que em muitas regies a mo-de-obra rural no tem experincia em plantio de espcies arbreas, muito menos quando se trata de espcies nativas. Esta preparao deve incluir aspectos relacionados ao plantio por mudas de espcies arbreas, reconhecimento expedido de espcies arbreas, capina seletiva, etc., dependendo das atividades desenvolvidas por cada projeto.
a manuteno dos plantios de restaurao, desde que tenham sido implantados no tempo ideal, realizada no mximo no segundo ou terceiro ano
Estimativa de custos
Os custos so calculados com base no rendimento operacional e custo por hora trabalhada. Devem tambm ser computados os custos materiais e insumos, levando-se em conta, geralmente, as seguintes operaes:
Estrutura organizacional e recursos humanos
Os recursos humanos necessrios para a fevereiro/2002
39
Mata Ciliar
40
Caesalpinoideae. Melanoxylon brauna. Brana-preta
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Custos de implantao manual ( baseado em Santarelli, 1996 ) Atividade Construo de cercas Roada Combate a formigas Alinhamento e marcao de covas Calagem nas covas Incorporao do calcrio e aterro de covas Adubao de plantio Distribuio e plantio de mudas Capina e coroamento Total Rendimento Custo por hectare ( R$ ) homem/dia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custos de implantao mecanizada Operao Gradagem Subsolagem Roada mecanizada ( pr-plantio ) Calagem Combate a formigas Sulcamento e adubao Coveamento Adubao de cobertura Distribuio e plantio de mudas Roada mecanizada ( manuteno ) Outras Total Equipamento Rendimento h/ha Custo por hectare ou unidade/ha ( R$ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fevereiro/2002
41
Mata Ciliar
Mimosoideae. Enterolobium contortisiliquum. Orelha-de-negro
42
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Avaliao e monitoramento de rea restaurada
Avaliao da qualidade do plantio e manuteno
Inicialmente, deve ser avaliado o plantio em si ( se obedece o modelo original proposto, incluindo o espaamento e a colocao adequada das mudas no campo ). Num segundo momento, devem ser avaliadas as espcies utilizadas. Deve ser dado destaque a esse item, j que a diversidade a base para o sucesso da restaurao. Devem ser consideradas as espcie em si e a proporo dos diferentes grupos ecolgicos. Finalmente, a manuteno deve ser avaliada. Para tanto, devem ser analisados a infestao de daninhas e o estado fitossanitrio das plantas ( em especial ataque de formigas cortadeiras ). Cabe ressaltar que no fundamental, nem necessrio, que a rea se encontre totalmente livre de plantas invasoras e formigas; mas, sim, que esses organismos no estejam causando problemas significativos ao desenvolvimento das plantas, lembrando que esses fazem parte do ecossistema a ser restaurado.
Monitoramento ( indicadores )
sabido que a biodiversidade em reas de floresta tropical composta por diversos grupos de espcies, sejam vegetais ( como lquens, fungos, brifitas, pteridfitas, epfitas, lianas, entre outros ), ou animais ( vertebrados e invertebrados ). Aps a reintroduo das espcies arbreas no sistema, e,
no plantio deve-se tomar o cuidado de no se repetir, seguidamente, mudas da mesma espcie, evitando a formao de reboleiras da mesma espcie arbrea
fevereiro/2002 43
Mata Ciliar
conseqentemente a formao de uma fisionomia florestal, espera-se que uma parte dessa biodiversidade tenha a possibilidade de retornar ao local, por disperso natural. A recuperao de um local s pode ser considerada efetiva quando, pelo menos parte dessa biodiversidade, e dos processos a ela associados, encontram-se presentes. Portanto, a avaliao da eficincia de recuperao de uma rea deve considerar a presena dessa biodiversidade atravs de indicadores que mostrem a sua dimenso, e que
a dinmica de seus processos caminhe para a sustentabilidade. Para atingir os objetivos propostos, importante a utilizao de indicadores de biodiversidade de fcil obteno, que empreguem um mtodo de levantamento rpido e que propicie diagnosticar o grau de recuperao atravs de parmetros que indiquem riqueza de grupos importantes de animais e plantas e processos ecolgicos fundamentais, como por exemplo, a ciclagem de nutrientes. Nesse sentido, os indicadores mais adequados so:
. regenerao das espcies arbreas implantadas: observada a partir de levantamento florstico das plntulas e indivduos jovens presentes na rea; . regenerao de outras espcies de plantas ( incluindo tambm espcies no arbreas ): dem anterior; . presena de avifauna: observada a partir de levantamento, observaes e sinais da presena da avifauna; . presena de macroinvertebrados do solo: observada a partir da anlise e contagem desses organismos ( minhocas, insetos, crustceos e outros artrpodos )
produo de folhedo ou serapilheira: observada a partir da observao ou quantificao de matria seca produzida sobre o solo.
em amostras de solo;
44
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Viveiros: planejamento, implantao e operao
O viveiro de mudas de espcies arbreas o passo inicial para o sucesso de um programa de restaurao de matas ciliares num local ou regio, devendo ser dada toda ateno que o mesmo exige. O viveiro de mudas, tambm denominado berrio de mudas, a fase onde, a partir dos propgulos ( sementes, estacas, rizomas, etc. ) obtidos das rvores matrizes, se formaro as futuras rvores da nova floresta a ser formada. importante ressaltar, que, da mesma forma que nas sementes j esto formadas todas as principais partes das mudas, tambm nas mudas todas as partes da rvore adulta j esto configuradas. Isso significa que todas essas fases, desde as sementes, passando pelas mudas e terminando com as rvores adultas, so igualmente importantes num programa de restaurao de matas ciliares. Quando se planeja a instalao de viveiros de mudas de espcies nativas para restaurao de matas ciliares, deve-se considerar tanto a questo da diversidade de espcies, assim como as qualidades fisiolgica e gentica das mudas a serem produzidas. Dessa forma, h que se pensar numa fase anterior produo de mudas, que a de produo ou obteno de sementes, de boa qualidade, das diferentes espcies a serem utilizadas, assim como na fase seguinte, que a de implantao das mudas no fevereiro/2002 novo ecossistema a ser restaurado. A ligao do viveiro com essas duas outras fases, assim como a sua concatenao em termos de tempo, essencial para o sucesso do projeto. Mudas, de boa qualidade, devem ser referidas a um tempo.
os sistemas de produo de mudas, sem dvida, vo depender da situao onde os viveiros vo ser instalados, com maior ou menor nvel de tecnoogia, se temporrios ou definitivos, se maiores ou menores em termos de quantidade de mudas
Felizmente, em funo da grande demanda por sementes de espcies nativas para restaurao, tem feito com que tenham se multiplicado nesses ltimos anos ( 1995 para c ) viveiros comerciais dessas espcies, com boa diversidade de espcies e com mudas de boa qualidade. Certamente, h muito ainda a se caminhar, mas a tendncia que se vem verificando para um aumento cada vez maior para a produo de mudas de espcies nativas, com um avano rpido para a melhoria da qualidade e aperfeioamento das tcnicas, tanto de produo de sementes como de mudas.
45
Mata Ciliar
Papilionoideae. Myrocarpus frondosus. leo-pardo
46
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Muitos aspectos devem ser abordados na produo de sementes de boa qualidade de espcies nativas, porm devem ser mais enfatizados:
maior ou menor nvel de tecnologia, se temporrios ou definitivos, se maiores ou menores em termos de quantidade de mudas, etc.
. escolha da populao base adequada das diferentes espcies . coleta de sementes de um nmero adequado ( tamanho efetivo ) de rvores matrizes das populaes . coleta de sementes na maturao fisiolgica com base em estudo fenolgico . uso de tcnicas corretas de beneficiamento para espcies dos diferentes grupos tecnolgicos ( com polpa, sem polpa, . . .
aladas, etc. ) armazenamento correto para espcies recalcitrantes e no recalcitrantes uso correto de metodologias de quebra de dormncia para as espcies pioneiras e climcicas recomendaes especiais para espcies com problemas especficos ( as que no suportam repicagem, sementes muito pequenas, tipo p, etc. )
Na produo de mudas em si, cuidados especiais devem ser tomados com as diferenas entre as muitas espcies, principalmente as inerentes aos grupos ecolgicos s quais pertencem. Assim, por exemplo, espcies pioneiras tpicas, cujas sementes tm dormncia e so geralmente muito pequenas, assim como tm alta exigncia de luz direta ( espectro vermelho ), devem ser semeadas plena luz e com muito fina cobertura de solo. J as espcies climcicas tpicas e que tm sementes normalmente recalcitrantes, devem ser semeadas, preferencialmente, logo aps a coleta, assim como as mudas mantidas no viveiro em ambiente de semi-sombra, para melhor adaptao s suas exigncias. Os sistemas de produo de mudas, sem dvida, vo depender da situao onde os viveiros vo ser instalados, com fevereiro/2002
Deve-se enfatizar que o nvel tecnolgico utilizado no indica diretamente o nvel de qualidade de mudas produzidas. Dessa forma, planejar cuidadosamente qual o sistema de produo a ser utilizado em cada situao, determina o sucesso do projeto. Como os tipos de mudas e os custos so muito diferentes nos diferentes sistemas, essencial que se conhea bem os prs e os contras para cada tipo em cada situao, para uma deciso acertada. As vrias experincias desenvolvidas, tanto na produo de sementes como na produo de mudas de espcies nativas, devero ser transformadas em propostas, recomendaes e fichas no manual, de modo a permitir que esses pontos mais importantes sejam considerados nos diferentes projetos de restaurao. Na medida do possvel, todas essas informaes
47
Mata Ciliar
48
Lecythidaceae. Cariniana estrellensis. Jequitib-branco
fevereiro/2002
Mata Ciliar
devero ser acompanhadas de autores, laboratrios e projetos, de modo a permitir interaes posteriores e visitas in loco pelos usurios. Finalmente, deve-se tambm enfatizar que a diversidade de espcies de uma mata ciliar tem implicaes muito grandes com a produo de mudas, por exemplo, no tempo de produo para cada grupo ecolgico. Produo de mudas de nativas no como produo
de mudas de eucaliptos, por exemplo. Somente exemplificado, as espcies pioneiras tm tempo de durao no viveiro semelhante aos eucaliptos, enquanto as espcies de estgios mais avanados na sucesso tm tempo de produo de mudas coerente com seu comprimento de ciclo vital. Isso exige um planejamento diferente, se queremos plant-las todas no mesmo e melhor perodo sazonal, que o do incio das chuvas.
Bases tericas para a produo de sementes
A produo de sementes , indubitavelmente, o ponto chave para o sucesso em qualquer plantao, incluindo-se a de restaurao de reas degradadas. Quando se refere produo de sementes implicitamente devemos considerar a qualidade da semente produzida, tanto gentica como fisiolgica, e que vai ter relao direta com a qualidade da plantao. Felizmente, tambm nesse campo se avanou bastante em nosso meio, sendo que se tem atualmente, tanto instituies com boa qualidade, tanto de sementes como de mudas de espcies arbreas nativas, o que nos d alento para sugerir modelos de restaurao utilizando boa qualidade e quantidade de espcies para esse trabalho. Infelizmente, o problema de quantidade, tanto de sementes como de mudas ainda um problema a ser resolvido, porm observa-se que, no Estado de So Paulo a auto-suficincia de fevereiro/2002 sementes e mudas caminha a passos largos, pressionada pela alta demanda que se vem verificando atualmente. Quando nos referimos produo de sementes de boa qualidade e em alta quantidade, temos que considerar sementes em quantidade adequada de uma alta diversidade de espcies, com diversidade gentica representativa dentro de cada uma dessas espcies. Assim, no se pode falar somente em nmero de espcies a se utilizar mas, tambm, em sementes representativas das populaes naturais dessas espcies. Os conceitos de ecologia e de gentica de populaes devem ser, portanto, resgatados nesse momento, j que manter a variao gentica das espcies a serem utilizadas considerar a auto-sustentabilidade das plantaes de restaurao, o que deve ser nosso objetivo. Dessa forma, muito embora de uma forma pragmtica,
49
Mata Ciliar
comportamento contrrio, ou s vezes simplificando a menor diversidade gentica aplicao dos conceitos, aqui se dentro de populaes e maior tratar da representatividade entre as mesmas. As espcies do gentica das populaes das grupo das secundrias so espcies em uso na restaurao intermedirias quanto atravs do parmetro Tamanho Efetivo da Populao ( Ne ), que diversidade gentica. A escolha o tamanho gentico da populao de rvores ( quantas e quais ) para a colheita de sementes de e no somente do tamanho boa qualidade deve levar em numrico de indivduos da mesma. Isso significa que, ao se conta essas caractersticas dos diferentes grupo de espcies. coletar sementes de uma Um outro aspecto, que populao de uma espcie, deve ser levado em conta, em deve-se levar em conta, por relao distncia mnima entre exemplo, de quantos indivduos indivduos ( rvores matrizes ) coletar para que aquela numa populao para a coleta populao esteja bem adequada de sementes. representada na plantao. Antigamente, acreditava-se que Porm, como esse nmero de mnimo de rvores matrizes a ser rvores prximas uma das outras, em uma populao natural, eram coletado depende do estado sempre aparentadas entre si gentico dessas populaes, ( endogmicas ), e que deveria uma certa generalizao deve ser mantida uma distncia mnima ser feita para alguns conceitos a entre rvores matrizes ( por fim de se estabelecer algumas exempo, 100 metros ). regras de coleta de sementes Atualmente, sabe-se que, na nativas de qualidade. Os estudos genticos de populaes naturais, a produo de sementes , manejadas e indubitavelmente o ponto chave para o degradadas de espcies sucesso em qualquer plantao, incluindo-se representativas da a restaurao de reas degradadas floresta tropical, vm tambm avanando nesses ltimos anos, o que grande maioria das populaes permite algumas generalizaes que de rvores em matas nativas podem ser feitas para definir como coletar sementes de espcies nativas com boa conservao, as rvores mais prximas, ou mais de boa qualidade gentica. Assim, distantes, no so mais ou pode-se fazer algumas menos aparentadas, ou mantm consideraes genticas e de uma distribuio dos indivduos reproduo de rvores tropicais, ao acaso na mata. Por outro lado, como se tem verificado considerando, por exemplo, as caractersticas de sucesso ecolgica que o fluxo de plen , relativamente, de longa distncia, e de densidade de rvores das tanto entre rvores como entre espcies. Dessa forma, pode-se populaes, um nmero mnimo dizer que as espcies do grupo das de rvores ( por exemplo 50 ) j pioneiras tm menos diversidade representa os genes de uma gentica dentro das populaes e populao grande, ou de alguns maior diversidade entre populaes. milhares de hectares. Nas matas alteradas, que As espcies clmax, por sua vez, tm 50
fevereiro/2002
Mata Ciliar
so a grande maioria, na Regio Sudeste, cuidados devem ser tomados para a coleta de sementes das espcies que so raras ( baixa densidade ) na mata primria e que se tornam comuns na mata mexida. Nesse caso, poucos ( 3-5 ) indivduos de cada populao degradada devem ser coletados em cada mata, e juntando-se com as sementes coletadas da mesma forma em outras matas tambm degradadas. Portanto, o conhecimento dos diferentes padres da floresta tropical, quanto estrutura de suas populaes, fundamental para que regras adequadas sejam
estabelecidas na coleta de sementes de espcies nativas de boa qualidade gentica. Considerando todos esses entraves para se definir os critrios para a boa produo de sementes de espcies arbreas nativas, uma regra bsica estabelecida com certo consenso internacional pode ser estabelecida. Para coleta de sementes com uma boa representatividade populacional, um tamanho efetivo ( Ne ) mnimo de 50 deve ser respeitado, o que permite vrias regras prticas, considerando todos os problemas citados anteriormente.
Tecnologia de produo de mudas
A produo de mudas em viveiros florestais teve, nos ltimos anos, um grande avano tecnolgico, resultando em um aumento considervel na produtividade e na qualidade das mudas. Essa evoluo acarretou reduo nos custos de produo das mudas e maior possibilidade de planejamento da produo. Pela sua grande importncia, a muda pode ser considerada como um ponto estratgico num processo de restaurao florestal, pois as mudas fornecidas em quantidade e qualidade fisiolgica e gentica contribuem substancialmente para o sucesso dessa atividade.
Foto: Paulo Kageyama
Vista geral de viveiro de espcies nativas em sacos plsticos
fevereiro/2002
51
Mata Ciliar
52
Lecythidaceae. Cariniana legalis. Jequitib-rosa
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Alm disso, o custo da muda, dentro de um projeto de restaurao, considervel, o que torna esta etapa tambm muito importante para o custeio total do projeto. No entanto, dependendo das dimenses do projeto e das disponibilidades tecnolgicas, devemos atentar para a escolha da estrutura e manejo de viveiro mais adequados para cada situao. Segundo Zani ( 1996 ), um viveiro florestal pode apresentar os seguintes sistemas operacionais:
. sistema operacional tradicional: onde as mudas so mantidas no mesmo canteiro em . sistema operacional setorizado: onde as mudas so deslocadas de um setor para outro
em funo do seu desenvolvimento Estes sistemas podem ser visualizados em anexo. Alem disso, podemos utilizar diferentes embalagens para a produo das mudas: todas as fases de sua formao
. sacos plsticos: embalagens plsticas de normalmente 1 a 2 l com a utilizao de terra como
substrato
. tubetes: embalagens rgidas de plstico com a utilizao de substrato orgnico prprio para esta
finalidade Podemos considerar, para fins de exemplificao, quatro nveis tecnolgicos para viveiros lorestais, adaptado por Zani,1996, conforme quadro abaixo:
Caractersticas de viveiros florestais diferenciados em quatro nveis tecnolgicos
Nvel Embalagens tecnolgico 1 2 3 4 Substrato Canteiro Suporte de Sistema apoio de operacional embalagens SOT Direto no piso Sem SOT Suspenso, mesa Tela fixa metlica galvanizada SOS Suspenso, mesa Tela fixa metlica galvanizada Suspenso, mesa Bandeja plstica SOS metlica mvel Deslocamento Ambiente das mudas de germinao Cu aberto Sem Cu aberto Sem Carrinho no piso Carrinho suspenso Cu aberto Casa de germinao
Saco plstico Terra de subsolo Tubetes Composto orgnico Tubetes Composto orgnico Tubetes Composto orgnico
1 Sistema Operacional Tradicional 2 Sistema Operacional Setorizado
Devemos lembrar que tais caractersticas so apenas exemplos de arranjos e manejo em viveiros florestais e no constituem um gradiente de qualidade na produo. Para fevereiro/2002
cada projeto, deve-se buscar as condies de viveiro que melhor se adeqem s necessidades de mudas e disponibilidade tcnicofinanceiras.
53
Mata Ciliar
54
Lecythidaceae. Lecythis pisonis. rvore e fruto. Sapucaia
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Elaborao de projeto bsico
Caracterizao do projeto de instalao do viveiro
.metas mensais e anuais
( critrios de projeto )
.introduo
A produo de mudas um processo de fundamental importncia na restaurao de reas degradadas. A elaborao de um projeto para a construo de um viveiro deve obedecer uma srie de critrios que possibilitem uma produo de boa qualidade e economicamente rentvel, alm de uma gil e eficiente distribuio de mudas.
.localizao e acessos
O viveiro deve estar, preferencialmente, instalado em uma regio com condies climticas semelhantes s da regio onde ser feita a revegetao, para facilitar a adaptao das mudas quando plantadas no local definitivo. O acesso ao viveiro deve ser fcil, para permitir o rpido escoamento de mudas e no dificultar o acesso a grandes centros para a compra de insumos e equipamentos. A proximidade de zonas residenciais auxilia na segurana contra eventuais problemas. fevereiro/2002
A definio das metas de produo para o viveiro est diretamente relacionada com o objetivo do trabalho, com o tamanho da rea a ser revegetada ( demanda por mudas ) e, principalmente, com a disponibilidade de recursos financeiros e humanos. Para exemplificar, a produo anual de 100.000 mudas permite a revegetao de aproximadamente 40ha; se o planejamento prev a instalao anual de plantios abrangendo essa rea total, dimensiona-se o viveiro para produzir esse montante de mudas. O dimensionamento da produo vai definir ainda qual o nvel de tecnologia a ser adotado. Para viveiros com capacidade de produo a partir de um milho de mudas, pode-se adotar um nvel mais alto de produo, com o uso de tubetes, irrigao automtica e a mecanizao das operaes de rotina, como o enchimento de embalagens. O ideal otimizar o uso da rea do viveiro, evitando a existncia de muita rea ociosa, equilibrando produo e demanda; para isso, um bom estoque de sementes fundamental, para manter a produo durante a entressafra de frutos na natureza.
55
Mata Ciliar
56
Magnoliaceae. Talauma ovata. Pinha-do-brejo
fevereiro/2002
Mata Ciliar
.seleo do local
O viveiro deve ser instalado em local bem aberto, sem sombreamento e bem ventilado, evitando-se a exposio face sul, devido entrada de ventos mais frios. O local deve ser plano ou com declividade muito baixa, cuidando-se para evitar a formao de poas dgua. Deve haver ainda abundncia de gua de boa qualidade e a existncia de uma rede eltrica prxima, que permita, por exemplo, a irrigao automtica das mudas e o armazenamento de sementes em cmaras frias ou secas. Durante o processo de limpeza da rea para instalao do viveiro, deve ser dada especial ateno limpeza da rea, para evitar a infestao de ervas daninhas. Outro detalhe que merece ateno a presena de outras culturas prximas ao viveiro, que poderiam ser fontes de doenas e pragas para as mudas. Como ltima observao, importante que haja moradores prximos ao viveiro, como o caso de funcionrios vivendo em instalaes construdas para esse fim. Essa medida pode inibir a ocorrncia de problemas ligados segurana, como furtos e depredaes.
o ideal otimizar o uso da rea do viveiro, evitando a existncia de muita rea ociosa. Um bom estoque de sementes fundamental para manter a produo durante a entressafras de frutos na natureza
Estrutura e equipamentos
.benfeitorias e
instalaes
A rea do viveiro deve agrupar a rea para a produo efetiva de mudas ( canteiros e sementeiras ) e uma rea de apoio, para o desenvolvimento das atividades de rotina, como preparo de substrato, beneficiamento de sementes, enchimento de embalagens, e o armazenamento
Foto: Flvio Gandara
Vista geral de viveiro de espcies nativas em tubetes
fevereiro/2002
57
Mata Ciliar
Foto: Paulo Kageyama
Plantio manual de espcie nativa ( em destaque o coroamento )
de ferramentas, equipamentos e insumos. Os canteiros e as sementeiras devem ficar em local aberto, sem sombreamento. O viveiro deve ser cercado, por tela ou alambrado de arame liso, para evitar a entrada de pequenos animais que possam danificar as mudas. Os canteiros podem ser construdos diretamente sobre o solo ( no caso de se usar sacos plsticos ) ou suspensos, em mesas metlicas ou plsticas, quando da utilizao de tubetes. Para viveiros que usam sacos plsticos, os canteiros geralmente medem 10m de comprimento por 1m de largura, separados entre si por uma distncia que pode variar de 0,5 a 0,7m; para os que usam tubetes plsticos, no h padronizao, pela variao nas dimenses das mesas e dos prprios tubetes. Em ambos os casos, deve haver vias, com largura mxima de 3,5m, que possibilitem o trfego de veculos, principalmente quando do transporte de mudas; em geral, existe uma nica via central que facilite o acesso a todos os canteiros. O setor de apoio deve contar, necessariamente, com um galpo e um almoxarifado. O galpo deve ser coberto com piso cimentado, para possibilitar o preparo do substrato e at mesmo atividades relativas ao beneficiamento de frutos e sementes, como a secagem 58
sombra. A presena de uma mesa ou bancada no galpo vai facilitar algumas operaes, como o beneficiamento de sementes e o enchimento de saquinhos, dando conforto ao operador. O almoxarifado tem a funo de armazenar o material utilizado nas atividades de rotina. Um anexo pode ser construdo para funcionar como cmara fria no armazenamento de sementes. As condies para o armazenamento ( temperatura por volta de 18oC e baixa umidade relativa do ar ) so atingidas com o uso de aparelho de arcondicionado. Como o ambiente deve ser permanentemente refrigerado, o ideal manter pelo menos dois aparelhos de arcondicionado funcionando em rodzio; a potncia dos aparelhos vai depender das dimenses da cmara. Os servios de escritrio ( controle de estoque de sementes e mudas, venda e expedio de mudas, arquivamento de documentos ) deve contar com pelo menos um computador com impressora e uma linha telefnica, o que pode inviabilizar sua instalao junto ao fevereiro/2002
Mata Ciliar
viveiro; nesse caso, deve-se localizar o escritrio o mais prximo possvel da rea do viveiro. Para os funcionrios de campo, porm, deve haver a instalao de um vestiriosanitrio, incluindo duchas apropriadas para primeirossocorros no caso de contaminao por produtos qumicos. A mesma instalao deve contar com material para primeiros socorros, incluindo medicamentos de uso comum para o tratamento de mal-estares corriqueiros ( dores-de-cabea, nuseas, pequenos cortes/ ferimentos etc. ). A gua um elemento que vai estar presente em vrias fases do processo de produo de mudas, como a irrigao de mudas, o beneficiamento de sementes e a lavagem de ferramentas, inclusive. Dessa forma, deve-se planejar uma fonte de gua, como um poo artesiano, que garanta suprimento em vrios pontos do viveiro.
a sade e a integridade fsica do trabalhador. A NR-6 dispe ainda que a empresa obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, os EPIs quando medidas de proteo coletiva no oferecerem proteo completa aos trabalhadores. Dentre os EPIs citados pela norma, para a rotina de um viveiro podemos classificar como importantes os que oferecem proteo especialmente cabea e membros superiores e inferiores. A produo de mudas no envolve atividades que oferecem altos riscos para os trabalhadores. De qualquer forma, segue uma pequena lista de EPIs que podem prevenir incidentes:
luvas de amianto/couro: utilizadas principalmente no manejo de plantas com espinhos ou acleos, como no beneficiamento de sementes de ararib ( Centrolobium tomentosum ); so indicadas tambm para evitar o ataque de animais peonhentos durante o manuseio de mudas dispostas no cho mscara: o preparo de substrato envolve, muitas vezes, a presena de p fino, principalmente durante a mistura; em ambientes pouco ventilados, a mscara evita a inalao desse material culos: operaes como o corte de madeiras para a produo de estacas e o uso de roadeira costal produzem lascas que podem ferir os olhos perneiras: em regies de ocorrncia de animais peonhentos, especialmente cobras, a proteo da parte inferior das pernas imprescindvel; esse cuidado deve ser tomado, principalmente, durante a coleta de sementes na mata
. . . .
.equipamentos e
implementos agrcolas
Segue em anexo uma lista de equipamentos necessrios na rotina de um viveiro.
.equipamentos de
proteo individual ( EPI )
De acordo com a Norma Regulamentadora ( NR ) 6, que dispe sobre seu uso, o Equipamento de Proteo Individual ( EPI ) todo dispositivo de uso individual, de fabricao nacional ou estrangeira, destinado a proteger fevereiro/2002
.substratos e insumos
Para permitir um bom desenvolvimento das mudas, o substrato deve ter boa consistncia, boa porosidade para facilitar a penetrao das
59
Mata Ciliar
60
Melastomataceae. Tibouchina granulosa. Quaresmeira
fevereiro/2002
Mata Ciliar
razes e a drenagem da gua; deve estar livre da presena de ervas daninhas, doenas e pragas. O substrato mais comumente utilizado na produo de mudas em sacos plsticos a mistura de terra de subsolo com esterco bovino curtido, com a adio de fertilizantes e corretivos de acidez, conforme recomendado pela anlise qumica do material utilizado. Quando a produo feita em tubetes, os substratos mais utilizados so: terra arenosa e compostos orgnicos feitos de palha de arroz carbonizada, casca de pinus ou eucalipto triturada, turfa e palha de caf. A escolha do substrato est condicionada principalmente disponibilidade do material e de recursos.
Operaes
.produo de sementes
Coleta: como j foi visto anteriormente, a coleta de sementes deve ser marcada por uma boa representatividade gentica da espcie coletada, o que, por sua vez, significa fazer uma escolha aleatria, casual das matrizes. A seleo prvia de matrizes deve ser descartada, uma vez que sugere que as sementes sero coletadas sempre dos mesmos indivduos, no proporcionando a oportunidade de aumentar a variabilidade gentica das espcies. A coleta deve ser feita, ento, atravs de caminhadas em trechos de mata bem conservada. Ainda para aumentar a variabilidade gentica do material, fevereiro/2002
os frutos devem ser coletados de, no mnimo, 12 ( doze ) indivduos, garantindo uma populao de tamanho efetivo ( Ne ) igual a 50. Para espcies raras, quando h dificuldades de se localizar matrizes, vale a pena coletar frutos de poucos indivduos, mas o ideal que esse material seja enriquecido com sementes de outras instituies atravs de compra ou intercmbio. Nesse caso, especial cuidado deve ser dado identificao da espcie, lembrando da importncia de se conhecer o nome cientfico das plantas. Os indivduos portasementes devem ser adultos e sadios. Entre os aspectos a serem considerados durante a coleta esto a quantidade de sementes coletada por rvore e a manuteno da integridade fsica da planta. Para garantir a reproduo do indivduo e a disponibilidade de recursos para a fauna, a coleta no deve exceder 50% da copa da rvore. Qualquer que seja o mtodo de coleta utilizado, deve-se tomar cuidado para evitar danos s rvores, como a quebra de galhos e ferimentos profundos no tronco. Os mtodos de coleta mais comuns incluem o uso de tesoura de alta poda ( podo ), para coleta em indivduos de mdio e alto porte, e lona plstica, utilizada para espcies que tm disperso barocrica ( por gravidade ), que deixada estendida no cho sob a copa da rvore; este segundo mtodo exige uma viglia diria para evitar que as sementes coletadas pela lona sejam predadas. Para arbustos e rvores de menor porte pode ser utilizada a tesoura de poda comum, ou pode ser feita a derria nos ramos. Algumas rvores de porte muito alto podem requerer o uso de esporas ( bastante prejudicial ao tronco das rvores ) e at mesmo de material de alpinismo, como
61
Mata Ciliar
cordas e bouldriers e cintures de segurana. Beneficiamento: o beneficiamento das sementes vai depender do tipo de fruto coletado. Para frutos carnosos deve ser feito o despolpamento, diretamente ou por macerao, acompanhado de lavagem em gua corrente e secagem sombra, para no promover um dessecamento mais intenso da semente. Para frutos secos, o processo tem incio com a secagem meia sombra; frutos secos deiscentes abriro naturalmente, e os indeiscentes devem sofrer abertura forada, com o uso de faca, tesoura ou canivete. Alguns frutos, como o do jatob, necessitam ser abertos a fora e depois passar por macerao e secagem meia sombra.
podem ser organizadas atravs de uma ficha de coleta ( em anexo ), e vo possibilitar o controle da produo e aes como o intercmbio de sementes. O armazenamento deve ser feito em cmara fria, sob condies de baixa temperatura ( 15 a 20oC ) e baixa umidade relativa do ar ( 30 a 35% ).
.produo de mudas
Tipos de embalagem: os tipos mais comuns de embalagem, para viveiros com produo de mdia a larga escala, so os sacos plsticos e os tubetes. Os sacos plsticos so ainda os mais utilizados, principalmente por ter um custo mais acessvel e por no exigir tcnicas muito especializadas de manejo. Por outro lado, exigem uma maior quantidade de substrato e ocupam uma maior rea nos canteiros, alm de poderem causar o enovelamento das razes. O uso de sacos plsticos acarreta um menor rendimento no plantio e exige um bom planejamento para a expedio das mudas, para no haver queda na qualidade. Os tubetes de plstico rgido tambm tm tamanhos variados; tm custo mais elevado, mas apresentam a possibilidade de ser reutilizados. Necessitam,
Armazenamento: todo o material coletado deve ser pesado antes e depois do beneficiamento, quando ser acondicionado e armazenado. As informaes de pesagem devem ser acompanhadas de dados sobre o local onde foram coletados os frutos e quem coletou, a quantidade e altura das rvores e a identificao da espcie ( nomes cientfico e comum ), bem como o grupo ecolgico a que pertence. Essas informaes
para garantir a reproduo do indivduo e a disponobilidade de recursos para a fauna, a coleta no deve exceder 50% da copa da rvore
62 fevereiro/2002
Mata Ciliar
entretanto, de um manejo mais especializado, especialmente no preparo do substrato, que deve ter alta capacidade de reteno de nutrientes e boa drenagem, e na irrigao das mudas, seja em relao freqncia ou ao tamanho das gotas. Pelo volume de substrato que abriga, os tubetes tm menor capacidade de reteno de gua. Finalmente, o que determina a escolha do tipo de recipiente a escala de produo e o nvel de tecnologia a ser adotada no viveiro. Preparo de substrato: o substrato, como j foi dito, deve oferecer condies fsicas boa estrutura e boa drenagem e qumicas nutrientes para o bom desenvolvimento das mudas. Dessa forma, a mistura dos materiais que compem o substrato, incluindo adubos e corretivos qumicos, deve ser feita de maneira bem uniforme. Para uma boa mistura, preciso que os materiais, quaisquer que sejam eles, estejam secos ( esterco bem curtido, por exemplo ) e, quando for o caso ( terra de subsolo ), bem peneirados, para se evitar a formao de torres que possam prejudicar o desenvolvimento das razes. O preparo deve ser feito, preferencialmente, em superfcie lisa, cimentada, para proporcionar o mximo aproveitamento do substrato preparado.
Envasamento: o envasamento consiste no enchimento das embalagens com o substrato. As embalagens devem ser totalmente preenchidas, o que refora a importncia de uma mistura seca e bem uniforme, sem torres, para evitar a formao de pequenas bolsas de ar, que prejudicam o encanteiramento dos sacos fevereiro/2002
plsticos e a acomodao do substrato nos tubetes. Para uma melhor acomodao do substrato, so necessrias leves pancadas no fundo dos sacos plsticos durante seu preenchimento, at completar todo o volume; para os tubetes, deve-se agitar as bandejas, repetindo o procedimento de completar o volume das embalagens ( como no caso dos sacos plsticos ). Encanteiramento: encanteiramento a acomodao das mudas nos canteiros. No caso dos sacos plsticos, o encanteiramento pode ser auxiliado com a colocao de uma linha de pedreiro ao redor dos canteiros, definindo a rea que vai ser ocupada. Os tubetes so encanteirados diretamente nas mesas de sustentao. Vale a pena reforar que um bom trabalho de envasamento vai facilitar o encanteiramento, principalmente dos sacos plsticos.
Semeadura: a semeadura pode ser direta ou indireta. A direta consiste na colocao das sementes diretamente na embalagem onde as mudas vo se desenvolver. Deve ser adotada para sementes mdias e grandes ( de fcil manuseio ), ou para espcies com germinao uniforme. comum a semeadura de 3 a 5 sementes na mesma embalagem para evitar possveis problemas na germinao; aps aproximadamente duas semanas da germinao, a plntula mais vigorosa deve ser selecionada, sendo que as plntulas descartadas podem at mesmo ser replantadas em embalagens onde no houve nenhuma germinao. A semeadura indireta
63
Mata Ciliar
64
Moraceae. Ficus hirsuta. Figueira
fevereiro/2002
Mata Ciliar
o uso de sacos plsticos acarreta um menor rendimento no plantio e exige um bom planejamento para a expedio das mudas, para no haver queda na qualidade
utilizada para sementes muito pequenas ou para espcies com germinao irregular. Consiste em semear em sementeiras, que podem ter as mesmas dimenses que os canteiros e ter o mesmo tipo de substrato utilizado nas embalagens, ou at mesmo areia lavada, uma vez que o objetivo principal da sementeira garantir uma boa germinao. As sementeiras devem ser cobertas por sombrite, especialmente em regies de clima muito quente. Em ambos os casos, as sementes devem ser completamente recobertas por uma fina camada de substrato. Essa operao deve ser feita, preferencialmente, com o auxlio de uma peneira. Repicagem: a repicagem o transplante das plntulas germinadas pela semeadura indireta para as embalagens definitivas. Para serem repicadas, as plntulas devem possuir pelo menos o segundo par de folhas definitivo. Devem ser selecionadas plntulas uniformes, com mesmo tamanho e mesmo vigor. Para evitar danos ao sistema radicular, a sementeira pode ser irrigada com antecedncia mnima de 30 minutos, a fim de facilitar a retirada da plntula; quando o substrato arenoso, a retirada tambm mais fcil. Antes de receber a plantulazinha o substrato das embalagens deve ser perfurado em uns 5cm, para fevereiro/2002 facilitar a operao. Dias nublados e horas mais frescas so mais recomendados para a repicagem, para auxiliar no pegamento das plntulas transplantadas.
.tratos culturais
Cobertura dos canteiros: a cobertura feita com uma tela plstica conhecida como sombrite, e tem por objetivo principal diminuir a perda de gua das mudas por evapotranspirao. Os tipos de sombrite variam conforme o grau de sombreamento que proporcionam e o mais comumente utilizado o que diminui a insolao em 50%. Para espcies pioneiras, a cobertura pode ser mantida apenas durante as primeiras semanas de desenvolvimento das mudas; as mudas de espcies no pioneiras tardias vo precisar da cobertura praticamente durante todo o perodo que permanecerem no viveiro, at o perodo de rustificao ( ver adiante ). Irrigao: as mudas devem ser regadas duas vezes ao dia, durante as horas mais frescas, ou seja, no incio da manh e no final da tarde. A quantia diria de gua deve ser, aproximadamente de 20 litros/m2 de canteiro. Em dias
65
Mata Ciliar
muito quentes pode haver necessidade de aumentar a quantidade de gua e o nmero de turnos de regas. Adubao: conforme explicado anteriormente, a adio de fertilizantes qumicos deve ser calculada aps a anlise qumica do substrato. De qualquer forma, uma adubao considerada bsica, principalmente para mudas desenvolvidas em sacos plsticos, consiste na adio de fsforo e potssio mistura, nas seguintes propores: 5,0 kg de superfosfato simples e 0,5kg de cloreto de potssio por m3 de substrato. A adubao em cobertura tambm pode ser adotada, para um controle mais efetivo do desenvolvimento das mudas. Nesse caso, feita apenas a adubao nitrogenada, que deve ser feita durante as regas. A soluo aplicada deve conter de 50 a 150g N por cada 100 litros de gua. Poda: a poda adotada para mudas que cresceram demasiadamente, principalmente em viveiros que adotam sacos plsticos; pode ser feita em 2/3 das partes areas da muda, ou no sistema radicular, quando este ultrapassa o fundo das embalagens. Esse problema, entretanto, s acontece em mudas que permanecem mais tempo no viveiro do que o indicado. Controle de plantas invasoras: essa operao realizada tanto atravs de capina na rea de viveiro, em especial quando so usados sacos plsticos diretamente sobre o solo, quanto pela eliminao das invasoras diretamente nas embalagens. A 66
capina qumica ( uso de herbicidas ) deve ser evitada, pois alm de ser invivel economicamente, pode prejudicar as mudas, por problemas de deriva durante a aplicao do produto. Controle de pragas e doenas: a alta diversidade de espcies evita a ocorrncia de uma alta infestao, facilitando o controle de eventuais pragas, que pode ser feito simplesmente pela eliminao das mudas infestadas. Formigas cortadeiras, entretanto, devem ser combatidas assim que observadas, atravs do uso de iscas qumicas.
para uma melhor acomodao do substrato so necessrias leves pancadas no fundo dos sacos plsticos durante seu preenchimento, at completar o volume; para os tubetes deve-se agitar a bandeja
A diversidade de tipos de plantas tambm impede a ocorrncia de doenas. As plntulas, em especial em sementeiras, so suscetveis, porm, a uma doena conhecida como tombamento ( damping-off ), causada pelo murchamento do colo da plntula, causada por uma bactria. Espcies mais suculentas, como o mamojacati, so mais suscetveis doena, favorecida por muita umidade, que pode ser causada pelo excesso de irrigao e sombreamento. Rodzio de mudas: As fases de desenvolvimento das mudas, germinao, crescimento e rustificao, vo determinar a fevereiro/2002
Mata Ciliar
setorizao do viveiro. Assim, de acordo com a fase em que a muda se encontra, ser adotado um tipo de manejo, principalmente no que diz respeito cobertura dos canteiros, freqncia de regas e adubao. A mudana de setores caracterizada pelo rodzio de mudas, acompanhado, geralmente, pela poda de razes ou de folhas. Rustificao: essa operao tem o objetivo de preparar as mudas para o plantio no campo. Quando atingirem de 25 a 30cm, as mudas devem ser expostas a pleno sol e sofrer uma diminuio no nmero de regas. Expedio: a expedio a retirada das mudas do viveiro para o plantio definitivo no campo, quando as mesmas atingirem de 25 a 30cm de altura. Para que o lote expedido seja o mais uniforme possvel, devem ser selecionadas mudas de mesma altura. Deve haver um rigoroso controle de estoque e as mudas devem estar identificadas quanto espcie e ao grupo sucessional a que pertencem. Razes expostas devem ser podadas.
diminuiro naturalmente, mas devem ser feitas mesmo que mais espaadas. Se no houver disponibilidade de sementes na mata, as sementes estocadas devem ser utilizadas. Na verdade, a freqncia das operaes vai ser determinada basicamente pela demanda de mudas.
Estrutura organizacional e recursos humanos
A estrutura organizacional est diretamente ligada aos objetivos ( comercial ou no ) e durao ( temporrio ou permanente ) do viveiro. Ser apresentada a seguir estrutura mnima para um viveiro comercial. Os recursos humanos ligados conduo do viveiro se dividem entre as reas gerencial, administrativa e tcnica. O setor administrativo responsvel pelo controle nos estoques de sementes e mudas, pela comercializao e expedio de mudas e por todo o trabalho de escritrio, como a documentao de todas as fases de produo. Um funcionrio pode perfeitamente dar conta do trabalho. A contabilidade financeira e as questes trabalhistas,
.rotinas de trabalho
A descrio das operaes acima j d uma idia de qual vai ser a rotina de trabalho no viveiro. As operaes realizadas no viveiro devem ser realizadas de acordo com a necessidade, como a semeadura, a repicagem e a irrigao. Rondas para localizar frutos e sementes na mata igualmente devem ser dirias, sempre que possvel. Na poca da entressafra, as rondas fevereiro/2002
a capina qumica ( uso de herbicida ) deve ser evitada, pois alm de ser invivel economicamente, pode prejudicar as mudas, por problemas de deriva durante a aplicao do produto
67
Mata Ciliar
68
Moraceae. Ficus insipida. Mata-pau
fevereiro/2002
Mata Ciliar
como a contratao e pagamento de funcionrios deve ser terceirizada. O setor tcnico deve ser composto por um encarregado ( tcnico agrcola ou afim ), e por uma equipe executora, que deve realizar os trabalhos de campo. Os executores vo se dividir entre os que trabalham exclusivamente no viveiro e os que fazem coleta de sementes. O gerente deve ter formao tcnica superior ( engenheiro florestal ou agrnomo ), com conhecimentos administrativos, pois ele deve supervisionar todas as fases tcnicas, alm de fazer os contatos para intercmbio de sementes e at mesmo intermediar a venda de mudas. Estima-se que dois funcionrios permanentemente no viveiro cumpram a maioria das demandas de trabalho em um viveiro com meta anual de produo de 100 mil mudas, realizando as principais funes, como preparo de substrato, envasamento, semeadura, repicagem, regas e outros tratos culturais, mas no a coleta de sementes. Se houver uma demanda muito alta na produo de mudas, o enchimento de embalagens vai merecer maior dedicao; nesse caso, justificase a contratao de temporrios, lembrando que pessoas do sexo feminino so bastante recomendadas para esse servio, que requer pacincia e cuidado. A coleta de sementes, convm reafirmar, deve ser feita por uma equipe fixa, em constantes rondas para localizar matrizes de sementes; dois funcionrios igualmente conseguem cumprir um cronograma anual de coleta de sementes. Na eventualidade de uma entressafra na produo de sementes, os coletores podem ser deslocados para o viveiro. Essa uma poca importante para fevereiro/2002
rondas para localizar frutos e sementes devem ser dirias, e na poca da entressafra diminuiro naturalmente,mas devem ser feitas, mesmo que mais espaadas; no havendo disponibilidade de sementes na mata, as estocadas devem ser utilizadas
servios de manuteno de infraestrutura ( reformas de canteiros, cercas, etc. ). Todas as atividades envolvendo a produo de mudas deve ser bem documentada. Entre os aspectos que devem ser controlados esto os estoques de sementes e de mudas e seus mecanismos reguladores, como doaes, vendas e intercmbios. A elaborao de fichas e seu arquivamento facilitam esse trabalho. Algumas fichas so apresentadas em anexo neste manual. Outro ponto importante a existncia de bibliografia tcnica prxima ao processo de produo, acessvel, em especial, ao encarregado e gerente, para agilizar a soluo de eventuais problemas. Uma ltima observao em relao estrutura organizacional de um viveiro a possibilidade da criao de um viveiro comunitrio, gerenciado em forma de cooperativa. Essa estrutura seria adotada quando a produo atende basicamente a demanda local, dos prprios produtores. Nesse caso, o cumprimento das rotinas de trabalho poderia ser feito atravs de mutires, ou por funcionrios das propriedades envolvidas. Vale lembrar que esses viveiros podem ser temporrios, construdos para atender uma situao especfica.
69
Mata Ciliar
Estimativa de custos
assinada e salrio correspondente a dois salrios-mnimos ( R$ 400,00 ); inclui 13 salrio, frias e adicional de frias
Estimativa de custos para a produo de 100.000 mudas Operao Valor ( R$ ) Preparo do terreno e construo do viveiro 3.000,00 Ferramentas e equipamentos 500,00 Embalagens 4.000,00 Insumos 500,00 Sistema de irrigao ( bomba dgua, canos e aspersores ) 1.200,00 Mo-de-obra * 21.280,00 * quatro viveiristas e dois coletores de sementes, trabalhando em tempo integral, com carteira
Foto: Ignez M. Selles
A falta de mata ciliar provoca eroso das margens, assoreamento dos rios e altos custos de manuteno ( rio das Flores )
70
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Legislao
As reas ciliares so um dos tipos de rea de preservao permanente prevista no Cdigo Florestal, atualmente em fase de reviso. De acordo com este Cdigo, temos a seguinte definio para as reas de preservao permanente ( APP ): rea protegida nos termos dos arts. 2 e 3 desta Lei, coberta ou no por vegetao nativa, com a funo ambiental de preservar os recursos hdricos, a paisagem, a estabilidade geolgica, a biodiversidade, o fluxo gnico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populaes humanas. As reas ciliares podem ser encontradas em trs situaes: ao longo dos cursos
dgua; ao redor das nascentes e ao redor de lagos e reservatrios, cujos limites esto na tabela abaixo. importante salientar que estas reas, COBERTAS OU NO com vegetao nativa, so protegidas por lei e caso se deseje fazer QUALQUER INTERVENO nesta rea, inclusive, o plantio de rvores, dever ser consultado o rgo ambiental competente que, no Rio de Janeiro, a Fundao Instituto Estadual de Florestas IEF. Dever haver ainda o consentimento de rgo federal ou municipal de meio ambiente para supresso de vegetao nesta rea de mata ciliar protegida por lei.
Situao Cursos dgua com at 10 metros de largura Cursos dgua de 10 a 50 metros de largura Cursos dgua de 50 a 200 metros de largura Cursos dgua com mais de 600 metros de largura Nascentes ( intermitentes ou perenes ) Lagos ou reservatrios com at 20ha de espelho dgua Lagos ou reservatrios com mais de 20ha de espelho dgua
Lei 4.771/65 alterada pela Lei 7.803/89
Dimenso da rea ciliar 30 metros em cada margem
50 metros em cada margem 100 metros em cada margem 500 metros em cada margem 50 metros de raio 50 metros ao redor do espelho dgua 100 metros ao redor do espelho dgua
Observao A largura do curso dgua medida a partir do seu ponto mais alto, ou seja, naquela cota que o curso dgua atinge todos os anos. No devem ser consideradas as cheias excepcionais Idem Idem Idem Qualquer que seja a situao topogrfica Estes valores esto sendo revistos pelo Conama Estes valores esto sendo revistos pelo Conama
fevereiro/2002
71
Mata Ciliar
Myrtaceae. Eugenia uniflora. Pitangueira
72
fevereiro/2002
Mata Ciliar
No Estado do Rio de Janeiro, considera-se a demarcao de Faixa Marginal de Proteo ( FMP ) como instrumento de controle do sistema de proteo dos lagos e cursos dgua e sua demarcao atribuio da Fundao Superintendncia Estadual de Rios e Lagoas Serla. A lei que estabelece as punies, no que diz respeito s reas ciliares, a LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS, ( Lei 9605/ 98 ). Esta legislao prev trs tipos de processos e penalidades: o administrativo (ou seja, multa), o civil ( reparao do dano ) e o penal ( perda de direitos, inclusive de liberdade, ou seja, priso ). importante saber que
estes trs diferentes processos tm incio com o auto de infrao feito pelo rgo competente e que estes processos so independentes, ou seja, se um proprietrio rural for multado por intervir na rea ciliar sem ter pedido licena, ele certamente pagar uma multa. Mas o fato de ter pago esta multa no significa que os outros processos sero interrompidos. Um resumo das normas federais e estaduais ( RJ ) que disciplinam a proteo de reas marginais de corpos de gua, encontra-se no anexo 13; os artigos relacionados s reas ciliares, na Lei dos Crimes Ambientais, encontra-se no anexo 14.
Pastagens substituindo as florestas naturais causam eroso
Mata ciliar, proteo da margem e bitopo especial que enriquece o complexo ecolgico fluvial
fevereiro/2002
73
Mata Ciliar
O desmatamento das bacias e da mata ciliar reduz a reteno natural das guas, causando eroso e o assoreamento dos rios, aumentando as enchentes e seus prejuzos.
Fonte: Projeto Plangua Semads / GTZ
74
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Glossrio
Adubao em cobertura adubao realizada algum tempo aps o plantio; recomendada para situaes em que o desenvolvimento das mudas no satisfatrio. rea antropizada rea cujas caractersticas originais (solo, vegetao, relevo e regime hdrico) foram alteradas por conseqncia de atividade humana. Biodiversidade variedade de formas de vida que ocorrem em uma determinada rea; inclui a variabilidade gentica em uma mesma espcie, a diversidade entre espcies e as diferentes comunidades de organismos e seus complexos ecolgicos. Bioma reunio de vrias comunidades ou ecossistemas em uma unidade geogrfica mais extensa; caracterizado pela vegetao predominante (ex.: BIOMA: Mata Atlntica; ECOSSISTEMAS: Floresta Ombrfila Densa, Floresta de Restinga, Manguezais etc.). Biomassa peso vivo de todos os seres vivos de um ecossistema. Bitico relativo ao conjunto de seres vivos de uma determinada rea. Chucho ferramenta ou instrumento, geralmente improvisado, usado para perfurar superfcies macias; em viveiros, caracterizado por gravetos ou finos pedaos de madeira arredondados, utilizados para perfurar o substrato nas embalagens durante o transplante de mudas. Clareiras reas abertas nas florestas pela queda natural ou acidental de uma ou vrias rvores, provocando mudanas nas condies ambientais, como o aumento na quantidade de luz, da temperatura do solo e do ar, e decrscimo na umidade relativa; o processo natural de fechamento dessa clareira denominado cicatrizao. Coroamento atividade de combate s plantas daninhas caracterizada pela capina do solo em forma circular, com aproximadamente 1 m de dimetro, em torno da muda plantada. Deiscentes fruto que amadurece, se abre e libera fevereiro/2002
suas sementes quando ainda ligado planta. Deriva conseqncia do uso de herbicida em dias inadequados, com vento, que faz com que o produto atinja alvos indesejados. Diversidade variedade de espcies caracterizada pela riqueza (nmero de espcies) e equitabilidade (nmero semelhante de indivduos para um grande nmero de espcies); uma rea com alta diversidade possui alta riqueza e alta equitabilidade, sem dominncia de uma ou poucas espcies. Dormncia estratgia reprodutiva de algumas plantas, cujas sementes retardam sua germinao at que haja condies ambientais ideais; bastante comum em espcies pioneiras, cuja dormncia quebrada pela abertura de uma clareira. Ecossistema associao entre a comunidade de seres vivos e o ambiente de uma determinada rea. Edfico pertencente ou relativo ao solo e suas caractersticas fsicas e qumicas. Embaciamento tcnica para aprofundar levemente, com o auxlio de uma ferramenta, a rea em torno do p da planta para facilitar o acmulo de gua. Espcie no-recalcitrante espcie cujas sementes podem ser armazenadas por longo tempo, em condies ideais, sem prejuzo para a sua viabilidade de germinao. Espcie recalcitrante espcie cujas sementes, devido ao alto grau de umidade, perdem rapidamente a viabilidade de germinao quando armazenadas, mesmo sob condies ideais; devem ser semeadas logo aps a coleta. Espcies climticas espcies que aparecem nos estgios finais da sucesso; so tolerantes ao sombreamento intenso e se desenvolvem bem nessa condio. Espcies invasoras espcies vegetais consideradas indesejadas para uma especfica situao, causando problemas para as espcies plantadas por competitividade. Espcies pioneiras espcies que iniciam o processo natural de cicatrizao de uma clareira; tm crescimento muito rpido e se desenvolvem bem sob pleno sol. 75
Mata Ciliar
Espcies secundrias so espcies que participam dos estgios intermedirios da sucesso; as secundrias iniciais tm crescimento rpido e vivem mais tempo que as pioneiras; as secundrias tardias crescem mais lentamente sob sombreamento no incio da vida, mas depois aceleram o crescimento em busca dos pequenos clares no dossel da floresta, superando as copas de outras rvores, sendo por isso denominadas de emergentes. Esporas ferramenta de metal pontiagudo colocado junto aos calados e utilizado para escalar rvores de alto porte com o auxlio dos calcanhares. Fenolgico relacionado aos estudos dos fenmenos biolgicos que ocorrem com certa periodicidade, como a brotao, a desfolha, a florao e a maturao de frutos; est certamente ligado aos eventos climticos da regio onde ocorrem. Fitossanitrio relativo a qualquer ao de controle ou preveno de pragas, doenas e ervas daninhas em plantas. Fluxo gnico a transferncia de genes entre plantas da mesma espcie; caracterizado basicamente pelo processo de reproduo por cruzamento; a probabilidade de fluxo gnico depende dos processos de reproduo da planta, dos mecanismos de disperso de plen e de sementes. Grupos sucessionais / funcionais forma de separao em grupos das espcies tropicais de acordo com o estgio da sucesso ao qual esto relacionados; os grupos citados neste manual so o das pioneiras, o das secundrias iniciais, das secundrias tardias e das clmaxes. Indeiscentes frutos que amadurecem e permanecem fechados junto planta-me. Indivduo exemplar de uma espcie qualquer, que constitui uma unidade distinta. Maturao fisiolgica termo utilizado para designar o processo de amadurecimento de frutos e sementes que os tornam prontos para determinada funo; caracterizada por transformaes fsicas ( cor, tamanho, forma ) e bioqumicas ( teor de acares, teor de protenas ). Meia sombra condio intermediria de sombreamento entre pleno sol e sombreamento intenso; em viveiro, essa condio proporcionada por uma tela plstica denominada sombrite, que colocada sobre os canteiros com mudas e ajuda a filtrar os raios solares; essa filtragem varia de acordo com a malha do sombrite utilizado, sendo que a mais comum a de 50%. Modelo sucessional forma de orientar a distribuio das mudas para o plantio, baseada na sucesso secundria e nos grupos ecolgicos a que pertencem as espcies. Plntula estgio inicial de desenvolvimento da planta, logo aps sua germinao; caracterizado 76
por poucos pares de folhas e sua durao vai depender do ciclo de vida da espcie. Porta-sementes denominao dada s rvores que so utilizadas na coleta de sementes para a produo de mudas; por esse motivo, outra denominao utilizada matriz porta-semente. Propgulo pequeno rgo de uma planta utilizado para sua propagao; no caso da reproduo sexuada, o propgulo a semente; na assexuada ou vegetativa, podem ser rizomas, estoles, bulbilhos, etc. Reboleira mancha, moita; termo muito utilizado para descrever a forma como uma determinada doena ou praga infesta uma plantao, restringindo-se a manchas ou moitas. Rustificao processo realizado no viveiro que visa preparar as mudas para o plantio no campo; consiste em expor as plantas a pleno sol e a diminuir o nmero de regas, procurando simular uma situao parecida com a condio que elas vo encontrar no campo. Serapilheira material orgnico produzido pela floresta e depositado sobre a superfcie do solo; constitudo de folhas, frutos, pedaos de galhos finos e grossos, razes e restos de animais; sua contnua decomposio vai liberando, lentamente, nutrientes para as plantas. Silvicultura cincia que objetiva o estudo e a explorao das florestas. Subsoladores implemento agrcola que penetra profundamente no solo e utilizado para descompactar sua camada supeficial, atravs de um processo chamado de subsolagem. Substrato no caso de produo de mudas em viveiros florestais, substrato o material produzido para oferecer condies fsicas e nutricionais para o desenvolvimento das mudas; o substrato mais comumente utilizado a mistura de terra e composto orgnico, complementada por fertilizantes qumicos. Sucesso ecolgica processo natural de regenerao natural caracterizado por alteraes na composio florstica gradativa. Tamanho efetivo ( Ne ) a representatividade gentica que um indivduo tem, em funo de seu sistema reprodutivo e de seus ancestrais; por exemplo, uma espcie que se reproduza por cruzamento pode ter um Ne igual a 4, pois estaria recebendo a carga gentica de outros quatro indivduos ( pais e avs ) que participaram de sua gerao. Tubetes material plstico rgido em formato de cone utilizado como embalagem para a produo de mudas em viveiros florestais. Viveiros florestais reas destinadas propagao, sexuada ou assexuada, de espcies vegetais florestais; a rea para o desenvolvimento das mudas constituda necessariamente de sementeira, canteiros e sistema de irrigao. fevereiro/2002
Mata Ciliar
Bibliografia
ASSUMPO, J. & NASCIMENTO, M.T. Estrutura e composio de quatro formaes vegetais de restinga no complexo lagunar Grussa/Iquipari, So Joo da Barra, RJ, Brasil. Acta bot. bras. 14( 3 ): 301-315. 2000. AZEVEDO, C. M.A. A deciso de preservar: a mata ripria do Jaguari-Mirim, SP. So Paulo: Annablume: FAPESP, 2000.106p. BARBOSA, J.M.; BARBOSA, L.M.; SILVA, T.S. da; GATUZZO, E.H. ; FREIRE, R.M. Capacidade de estabelecimento de indivduos de espcies da sucesso secundria a partir de sementes em subbosque de uma mata ciliar degradada do rio MogiGuau, SP In: Simpsio Nacional sobre Recuperao de reas Degradadas, Curitiba PR. Anais, p. 401-06. 1992. BARBOSA, L.M. Consideraes gerais e modelos de recuperao de formaes ciliares In: RODRIGUES, R.R. & LEITO FILHO, H.F. ( Editores ). Matas Ciliares: Conservao e Recuperao. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo. FAPESP, 2000, p. 289-312. BEESON, C.E. & DOYLE, P.F. 1995. Comparison of bank erosion and vegetated and non-vegetated channel bends. Water Research Bullitim. 31: 983-90. BUDOWSKI, G. Distribuition of tropical american rainforest in the light of successional processes Turrialba, v. 15 ( 1 ), p. 40-42, 1965. DENSLOW, J.S. Gap partioning among tropical Rain Forest trees Biotropica, 12:47-55, 1980. DURIGAN, G.; MELO, A.C.G.; MAX, J.C.M.; VILLAS BOAS, O.; CONTIRI, W.A. Manual para a recuperao das matas ciliares do Oeste Paulista Instituto Florestal / CINP / Secretaria do Meio Ambiente, 2001, 16 p. fevereiro/2002
GANDOLFI, S. & RODRIGUES, R.R. Recomposio de florestas nativas: algumas perspectivas metodolgicas para o Estado de So Paulo In: ( Annimo ) III Curso de Atualizao em Recuperao de reas degradadas, UFPR, 12 a 16 de fevereiro de 1996, Curitiba PR. p. 83 a 100. GOMEZ-POMPA, A. Possible papel de la vegetacin secundaria en la evolucin de la flora Flora Tropical Biotropica, 3:125-35, 1971. GUEDES-BRUNI, R.R. Composio, estrutura e similaridade florstica de dossel em seis unidades fisionmicas de Mata Atlntica no Rio de Janeiro. USP, So Paulo, 175p. 1998. ( Tese de Doutorado ). GUERREIRO, C.A. & WADOUSKI, L.H. Conservao de solos In: Ripasa S.A. Manual de formao de florestas de eucalipto, p. 157 a 167, 1988 ( no publicado ). http://www.chesapeakebay.netforestbuff.htm/. 2001. Riparian Forest Buffers. JANZEN, D.H. Herbivores and the number of tree species in tropical forests. American Naturalist, 104, 501-528. 1970. KAGEYAMA, P. Y. Recomposio da vegetao com espcies arbreas nativas em reservatrios de Usinas Hidreltricas da CESP Srie Tcnica IPEF, n. 8 ( 25 ), 1992, 43 p. KAGEYAMA, P.Y. & CASTRO, C.F. de A. Sucesso secundria, estrutura gentica e plantaes de espcies arbreas nativas IPEF, n. 41/42, p. 83-93, 1989. KAGEYAMA, P.Y. ; GANDARA, F.B. Recuperao de reas ciliares RODRIGUES, R.R. & LEITO FILHO, H.F. ( Editores ). Matas Ciliares: Conservao e Recuperao. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo.Fapesp, 2000, p. 249-270. 77
Mata Ciliar
KAGEYAMA, P.Y. Revegetao de reas degradadas: modelos de consorciao com alta diversidade. In: SIMPSIO NACIONAL SOBRE RECUPERAO DE REAS DEGRADADAS, II, Foz do Iguau, 1994. Anais. p.569-76. KAGEYAMA, P.Y.; BIELLA, L.C.; PALERMO JR, A. Plantaes Mistas com Espcies Nativas com Fim de Proteo a Reservatrio In: Congresso Florestal Brasileiro, 6, Campos do Jordo. Anais. So Paulo, SBS, v.1, p. 109-12, 1990. KAGEYAMA, P.Y.;SANTERELLI, E.G.; GANDARA, F. B.M.; GONALVES, J.C.; SIMIONATO, J.L.; ANTIQUEIRA, L.R. & GERES, W.L. Restaurao de reas degradadas modelos de consorciao com alta diversidade In: Simpsio Nacional sobre Recuperao de reas Degradadas, II, Foz do Iguau. Anais, p. 569-76. 1994. KRICHER, J.A.C. Neotropical Companion: an introduction to the animals, plants and Ecosystems of the New World Tropics. Princeton University Press, New Jersey, p. 435. LIMA, H.C. & GUEDES-BRUNI, R.R. ( Org. ). Serra de Maca de Cima: diversidade florstica e conservao em Mata Atlntica. Jardim Botnico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 1997. LIMA, W. DE P. ( 2000 ) Importncia das florestas para produo de gua In: III Simpsio sobre recuperao da cobertura florestal da Bacia do Corumbata ( no publicado ). LORENZI, H. rvores Brasileiras, vol. 1. 3 Edio. Plantarum, Nova Odessa, SP. 2000. 368p. LORENZI, H. rvores Brasileiras, vol. 2. Plantarum, Nova Odessa, SP. 1998. 368p. MARTINEZ-RAMOS, M. Claros, ciclos vitales de los rboles tropicales y regeneracin natural de las Selvs Altas Perennifolias In: Gomez-Pompa, A.; Del Amo, S. Investigaciones sobre la regeracin de las Selvas Altas en Veracruz, Mexico, v.02, p. 191-239, 1985. NAIMAN, R. J & DCAMPS, H. 1997. The ecology of interfaces: riparian zones. Annual Rev. Ecology Syst. 28: 621-58. NOGUEIRA, J.C.B. Reflorestamento heterogneo com essncias indgenas Boletim Tcnico do Instituto 78
NOSS, R.F. 1992. The Wildlands Project Land Conservation Strategy. Wild Earth, Special Issue. s/ d. Plotting a North America Wilderness Recovery Strategy. p. 10-25. OSBORNE, L.L. & KOVACIC, D.A. 1993. Riparian vegetates buffer strips in water-quality restoration and atream management. Freshwater Biology, 2: 243-58. RODRIGUES, R. R.; GANDOLFI, S. Conceitos, tendncias e aes para a recuperao de florestas ciliares In: RODRIGUES, R.R. & LEITO FILHO, H.F. ( Editores ). Matas Ciliares: Conservao e Recuperao. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo.Fapesp, 2000, p.235 a 248. RODRIGUES, R. R. Levantamento florstico e fitossociolgico das matas da serra do Japi, Jundia, S.P. Campinas, 1986. 218p. ( Mestrado UNICAMP ). RODRIGUES, R.R. & LEITO FILHO, H.F. (Editores). Matas Ciliares: Conservao e Recuperao. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo.Fapesp, 2000, 320 p. RODRIGUES, R.R.; LEITO-FILHO, H.F.; CRESTANA, M.S. Restaurao do entorno da represa de abastecimento de gua do municpio de Iracempolis SP In: Simpsio Nacional sobre Recuperao de reas Degradadas, Curitiba PR. Anais, p. 407-16. 1992. SANTARELLI, E. G. Recuperao de mata ciliar seleo de espcies e tcnicas de implantao In: ( Annimo ) III Curso de Atualizao em Recuperao de reas degradadas, UFPR, 12 a 16 de fevereiro de 1996, Curitiba PR. p. 101 a 106. SANTARELLI, E. Produo de mudas de espcies nativas para florestas ciliares. In: RODRIGUES, R.R. & LEITO FILHO, H.F. ( Editores ). Matas Ciliares: Conservao e Recuperao. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo.Fapesp, 2000. STAPE, J.L. & BALLONI, E.A. Implantao e manejo In: In: Ripasa S.A. Manual de formao de florestas de eucalipto, p. 168 a 193, 1988 ( no publicado ). SWANK, W.T. et al. 1981. 1981. Insect defoliation enhances nitrate export from forest ecosystems. Oecologia, 51: 297-99. fevereiro/2002
Mata Ciliar
TOLEDO, A.E.P; CERVENKA, C.J.; GONALVES, J.C. Recuperao de reas degradadas So Paulo: CESP, 1990, 12 p. TOLEDO, A.E.P; CERVENKA, C.J.; GONALVES, J.C. Recuperao de reas degradadas So Paulo: CESP, 1992, 15 p. VIEIRA, I.G.; DIAS, A.P.S.; PEREIRA, V.A.A.C.; FERNANDES, C.; KAGEYAMA, P.Y. Manual de produo de mudas e plantio da mata ciliar Piracicaba: IPEF/ESALQ/USP, 1998, 23 p.
WHITMORE, T.C. Gaps in the forest canopy. In: TOMLINSON, P.B. & ZIMMERMANN, M.H. Tropical trees as living systems. Cambridge: Cambridge Un. Prees,1976. p.639-649. ZANI, J. 1996. Evoluo tecnolgica de viveiros florestais. VI Simpsio IPEF. So Pedro-SP, Anais. ZANI-FILHO, J. Evoluo Tecnolgica de Viveiros Florestais. I Seminrio de Produo de Espcies Florestais Enfoque: Nativas. IPEF/ESALQ. Piracicaba, 1998.
fevereiro/2002
79
Mata Ciliar
80
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Anexos
1 Croqui de viveiro: exemplo de um viveiro de mudas de espcies nativas, com capacidade para 40.000 mudas
CASA DE AGROQUMICOS GALPO ESCRITRIO ALMOXARIFADO
SEMENTEIRAS
SACOS PLSTICOS SACOS PLSTICOS
MESAS MVEIS MESAS FIXAS
CASA DE BOMBA
CAIXA DGUA
fevereiro/2002
81
Mata Ciliar
2 Croqui de viveiro: sistema operacional radial ou tradicional ( SOR ) e sistema operacional setorizado ( SOS ), segundo Zani, 1998
AS - rea de servio G - germinao C - crescimento R - rustificao
82
fevereiro/2002
Mata Ciliar
3 Lista de equipamentos permanentes e materiais no viveiro
Equipamentos Materiais
. Moegas p/envasamento saquinhos . Misturador ( betoneira ) de substratos . Silo p/armazenamento de substrato . Esteira para transporte de substrato . Mquina vibratria p/o envasamento dos tubetes . Lavadora de tubetes . Caixa dgua p/fertirrigao . Conjunto motobomba p/irrigao . Filtro de gua de irrigao . Aspersores . Mesa p/tubetes ( fixa ou mvel ) . Bomba pulverizadora (costal) p/controle de ervas daninhas . Carrinho p/transporte de bandejas . Equipamentos de Proteo Individual ( EPIs )
. Regadores ( 05 e 10 litros ) p/irrigao e fertirrigao . Enxadas, ps, enxado e rastelo p/manuteno do viveiro . Cavadeira . Peneiras p/substrato e terra . Carriolas de pneu . Sombrites para a reduo da insolao . Mangueiras dgua p/complementao das irrigaes . Caixas plsticas para realizao da semeadura . Caixas e/ou bandejas para tubetes . Tesouras para auxiliar na mondas e desbaste . Bancos de acento, p/as atividades de monda, desbaste e repicagem . Mesa para realizao da repicagem e/ou semeadura . Tubetes plsticos c/50 cm de capacidade . Luvas de couro . de borracha . Luvas Mscara contra p
3
4 Lista de equipamentos permanentes e materiais para a restaurao florestal
Equipamentos Materiais
. Tratores . Roadeira mecnica . Moto roadeira . Sulcador ( escarificador ) + adubador . Plantadora manual . Termonebulizador . Tanque pipa com mangueira . Conjunto motobomba mvel . costais . Pulverizadores Pulverizadores acoplados . para trator . Carreta Calcariadora
fevereiro/2002
. Foices . Enxadas . Enxades . Chibancas . Picareta . Cavadeiras . Faces . Mangueiras dgua . Regadores . Dosadores de adubo
83
Mata Ciliar
5 Lista de insumos para o viveiro . Fertilizantes ( Bases: N , P , O , K O, micronutrientes e calcrio ) . Substrato para tubetes ( compostos ) . Substrato para sacos plsticos . Sacos plsticos . Sementes . Fungicidas . Inseticidas . Formicidas . Herbicidas . gua
1 2 5 2
6 Lista de insumos para restaurao florestal . Fertilizantes ( Bases: N , P O , K O e micronutrientes ); calcrio . Fungicidas . Inseticida . Formicidas . Herbicidas . Mudas . Bomba de p qumico
1 2 5 2
84
fevereiro/2002
Mata Ciliar
7 Lista de espcies arbreas nativas do Estado do Rio de Janeiro com potencial para a restaurao de matas ciliares, com recomendao de grupo ecolgico
Famlia Anacardiaceae Annonaceae Espcie Astronium graveolens Schinus terebinthifolius Tapirira guianensis Annoma cacans Annona glabra Duguetia lanceolata Guatteria australis Guatteria dusenii Rollinia mucosa Rollinia sylvatica Xylopia brasiliensis Xylopia sericea Aspidosperma parvifolium Aspidosperma ramiflorum Peschieria affinis Didymopanax acuminatus Euterpe edulis Syagrus romanzoffiana Jacaranda macrantha Jacaranda micrantha Jacaranda puberula Sparattosperma leucanthum Tabebuia cassinoides Tabebuia chrysotricha Tabebuia heptaphilla Tabebuia impetiginosa Tabebuia serratifolia Tabebuia umbellata Bixa orellana Bombacopsis glabra Chorisia speciosa Pseudobombax grandiflorum Cordia ecalyculata Cordia trichotoma Jacaratia spinosa Cecropia glaziovii Cecropia hololeuca Pourouma guianensis Clethra scabra Calophyllum brasiliense Rheedia gardneriana Symphonia globulifera Gochnatia polymorpha Vernonia diffusa Nome vulgar aroeira aroeirinha fruta-de-pombo araticum-cago araticum corticeira imbi envira berib araticum-do-mato pindaba imbi-pimenta guatambu matambu leiteira mandioquinha palmito-doce jeriv caroba caroba carobinha ip-cinco-folhas pau-de-tamanco; caxeta ip-amarelo-do-morro ip-roxo pau-darco-roxo ip-amarelo ip-amarelo-do-brejo urucum castanha-do-maranho paineira paina-do-brejo louro-mole louro-pardo mamo-jaracati embaba embaba embaubarana peroba-caf guanandi-carvalho bacupari guanandi camar vassouro Grupo ecolgico T P I I I T T T T T C C T T P I C T I I T I T T T T T T P T T I T T I P P I P C C C P P
Apocynaceae Araliaceae Arecaceae Bignoniaceae
Bixaceae Bombacaceae Boraginaceae Caricaceae Cecropiaceae Clethaceae Clusiaceae Compositae fevereiro/2002
continua
85
Mata Ciliar
continuao
Famlia Euphorbiaceae
Fabaceae Caesalpinoideae
Fabaceae Mimosoideae
Fabaceae Papilionoideae
Espcie Alchornea iricurana Alchornea triplinervia Croton floribundus Hyeronima alchorneoides Johannesia princeps Pera glabrata Sesbastiania commersoniana Apuleia leiocarpa Bauhinia forficata Caesalpinia ferrea Caesalpinia echinata Copaifera langsdorffi Copaifera trapezifolia Hymenaea courbaril Melanoxylon brauna Pterogyne nitens Schizolobium parahyba Sclerolobium denudatum Senna multijuga Acacia polyphylla Albizia polycephalla Anadenanthera peregrina Enterolobium contortisiliquum Inga capitata Inga edulis Inga laurina Inga marginata Inga sessilis Inga vera Mimosa bimucronata Mimosa scabrella Piptadenia gonacantha Piptadenia paniculata Platymenia foliolosa Andira anthelmia Andira fraxinifolia Andira legalis Centrolobim robustum Dalbergia nigra Erythrina speciosa Erythrina verna Lonchocarpus cultratus Machaerium nictitans Machaerium stipitatum Myrocarpus frondosus Platymiscium floribundum Pterocarpus rohrii Sophora tomentosa
Nome vulgar iricurana tapi capixingui uricurana cutieira sapateiro branquinho garapa pata-de-vaca pau-ferro pau-brasil leo-de-copaba copaba jatob brana-preta pau-amendoim guapuruvu ang aleluia monjoleiro canjiquinha angico-branco orelha-de-negro ing ing ing-feijo ing-dedo ing-macaco ing-banana maric bracatinga pau-jacar angico; monjolo vinhtico angelim-pedra angelim-rosa angelim-coco ararib jacarand-cavina mulungu-do-litoral mulungu mal-casado bico-de-pato jacarand-roxo leo-pardo jacarand-do-litoral pau-sangue cambu
Grupo ecolgico I I P I I T T T I C C T T T C I I T I I P I T I I I I I I P P P I T T T T T T I I T T T T T/C T T
continua
86
fevereiro/2002
Mata Ciliar
continuao
Espcie Stryphinodendron polyphyllum Swartzia simplex Casearia sylvestris Cinnamomum glaziovii Nectandra lanceolata Nectandra leucantha Nectandra oppositifolia Nectandra puberula Ocotea odorifera Cariniana estrellensis Lecythidaceae Cariniana legalis Lecythis pisonis Talauma ovata Magnoliaceae Hibiscus pernambucensis Malvaceae Melastomataceae Miconia cinammomifolia Tibouchina granulosa Tibouchina mutabilis Cabralea canjerana Meliaceae Cedrela fissilis Cedrela odorata Guarea guidonea Trichilia casaretti Ficus clusiaefolia Moraceae Ficus hirsuta Ficus insipida Virola oleifera Myristicaceae Rapanea ferruginea Myrsinaceae Eugenia brasiliensis Myrtaceae Eugenia supraaxilaris Eugenia uniflora Myrcia rostrata Psidium guayava Psidium guineensis Guapira oppositifolia Nyctaginaceae Phytolaccaceae Gallesia integrifolia Colubrina glandulosa Rhamnaceae Genipa americana Rubiaceae Allophylus edulis Sapindaceae Cupania oblongifolia Matayba guianensis Sapotaceae Pouteria caimito Acnistus arborescens Solanaceae Luehea grandiflora Tiliaceae Trema micrantha Ulmaceae Aegiphila sellowiana Verbenaceae Citharexylum myriathum Vitex polygama
Famlia FabaceaePapilionoideae Flacourtiaceae Lauraceae
Nome vulgar barbatimo pacov-de-macaco guaatonga canela-mirim canela-amarela canela-parda canela canela-guaic canela-sassafrs jequitiba-branco jequitiba-rosa sapucaia pinha-do-brejo algodoeiro-da-praia jacatiro quaresmeira manac-da-serra canjerana cedro-rosa cedro vermelho carrapeta catuaba figueira vermelha figueira mata-pau bicuba capororoca grumixama pitanga-selvagem pitangueira guamirim-de-folha-mida goiabeira ara maria-mole pau dalho saguaraju jenipapo murta camboat camboat abiu marianeira aoita-cavalo crindiva; candiba tamanqueira; molulo tarum maria-preta
Grupo ecolgico I C I T T T T T T T T T C P I I I T T T C I I I I T P T T T I I I C T T T I T T T P I P P I I 87
C = Clmax / I = secundria inicial / P = pioneira / T = secundria tardia - Obs.: no geral, as espcies pioneiras e secundrias iniciais apresentam crescimento mais rpido; as secundrias tardias, crescimento intermedirio; as espcies clmax, crescimento lento.
fevereiro/2002
Mata Ciliar
8 Modelo de ficha para coleta de sementes para as diferentes espcies utilizadas para plantios de restaurao florestal
Localizao da rea de coleta Local: Latitude: Cidade mais prxima: Longitude: Altitude: Informaes sobre a coleta Espcie: Grupo ecolgico: Nmero de rvores coletadas Peso total dos frutos / por rvore ( g ) Peso total das sementes ( g )
9 Modelo de ficha para controle de operaes em viveiro
Viveiro de mudas - produo de essncias florestais nativas Ficha para controle de canteiros Ano________ N da ficha________ Qtd. Nome Procedncia Fornecedor Datas de Cant. n Vulgar Cientfico Cidade Sementes S/R 15cm 30cm Exp. mudas
Viveiro de mudas - produo de essncias florestais nativas Ficha para controle de semeadura Ano________ N da ficha________ Nome Procedncia Fornecedor Datas Quantidade Sem. n Vulgar Cientfico Cidade Sementes Sem Ger. Rep. g. mudas
88
fevereiro/2002
Mata Ciliar
Viveiro de mudas - produo de essncias florestais nativas Ficha para controle fitossanitrio Ano________ N da ficha________ Nome Vulgar Cientfico Procedncia Cidade Fornecedor Sementes Tratamento Especificao Produto Dose Aplic. Data
Viveiro de mudas - produo de essncias florestais nativas Ano________ N da ficha________ Ficha para controle de semeadura e seleo Seleo Semeadura Repicagem Qtd. Qtd.sem. Qtd. Qtd. recip. Data mudas Data mudas Lote Espcie Data ( g ) Observao
Viveiro de mudas - produo de essncias florestais nativas Ano________ N da ficha________ Ficha de acompanhamento mensal do estgio das mudas
Ms: Espcie Mortal. Doena Raiz Tamanho Mortal. Doena Raiz Tamanho Observao final
Ms: Espcie Mortal. Doena Raiz Tamanho Mortal. Doena Raiz Tamanho
Observao final
Ms: Espcie Mortal. Doena Raiz Tamanho Mortal. Doena Raiz Tamanho
Observao final
Ms: Espcie Mortal. Doena Raiz Tamanho Mortal. Doena Raiz Tamanho
Observao final
fevereiro/2002
89
Mata Ciliar
Viveiro de mudas - produo de essncias florestais nativas Nome__________________________________ Ficha de autorizao para expedio das mudas Nmero de mudas Observaes Espcie Tubetes Sacos plsticos
Expedio: Data:________________________________ Responsvel:_____________________________________ Observaes:_____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Viveiro de mudas - produo de essncias florestais nativas Ficha de controle de expedio e descarte Ms________ N da ficha________ Espcie Nmero Destino Observao Recipiente Data de mudas
Viveiro de mudas - produo de essncias florestais nativas Ficha de controle mensal de mudas Ms________ N da ficha________ Data Saldo Estoque Espcie Saldo Produo Produo Destino atual anterior Plantio Descarte Doaes
85
90 fevereiro/2002
Mata Ciliar
10 Modelo de calendrio fenolgico para as diferentes espcies utilizadas para plantios de restaurao florestal
rvore n Espcie / famlia Local de coleta Meses ( janeiro a dezembro ) 1 Queda de folhas Brotao Florao Frutos verdes Frutos maduros Frutos em disperso Disperso de sementes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Modelo de ficha de acompanhamento da restaurao florestal
Atividade Preparo do solo Limpeza da rea ( roada ) Aplicao de herbicida Combate a formigas cortadeiras Alinhamento e marcao de covas Coveamento Sulcamento Adubao Plantio Plantio Manuteno Capina em faixa e coroamento Combate a formigas cortadeiras Aplicao de herbicidas Replantio Outras fevereiro/2002 Realizada No realizada
91
Mata Ciliar
12 Lista de viveiros
1. Listagem de hortos florestais mantidos por rgos pblicos no Estado do Rio de Janeiro
Horto Florestal de Santa Maria Madalena Avenisa Itaporanga, 35 Santa Maria Madalena / RJ 28 760 - 000 Tel.: ( 0xx24 ) 2561-1774 / 2561-1461 Horto Florestal de Trajano de Morais Estrada da Represa, s/n Trajano de Morais / RJ Tel.: ( 0xx24 ) 9911-4780 Horto Florestal de So Sebastio do Alto Rua Coronel Francisco Salustiano, s/n So Sebastio do Alto / RJ 28 550 - 000 Tel.: ( 0xx24 ) 9946-1947 Horto Florestal de Cantagalo Rua Dona Zulmira Torres, s/n Cantagalo / RJ 28 500 - 000 Tel.: ( 0xx24 ) 2555-5347 Horto Florestal de Guaratiba Estrada da Matriz, 4.461 Guaratiba / RJ Tel.: ( 0xx21 ) 2410-7145 Horto Florestal da Pedra Branca Colnia Juliano Moreira / Taquara Jacarepagu / RJ Tel.: ( 0xx21 ) 2446-5177 ramal 237 Horto Municipal de Resende Estrada do Aeroporto, s/n / Santa Izabel Resende / RJ Tel.: ( 0xx24 ) 3355-3222 ramal 2191 Horto da Taquara Rua Mapendi, 435 / Taquara Jacarepagu / RJ Tel.: ( 0xx21 ) 2445-5282 Horto Carlos Toledo Rizzini / Projeto Flora Tropical Avnida das Amricas, 6.000 / Parque Arruda Cmara ( Bosque da Barra ) Barra da Tijuca / RJ Tel.: ( 0xx21 ) 3325-6519 Horto de Funil / Furnas Centrais Eltricas Avenida dos Expedicionrios, s/n / Usina Hidreltrica de Funil Itatiaia / RJ Horto Botnico do Jaridm Botnico de Niteri Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento do Interior Alameda So Boaventura, 770 / Fonseca Niteri / RJ Tel.: ( 0xx24 ) 2414-0191 Horto Botnico do Jardim Botnico do Rio de Janeiro Rua Pacheco Leo, 2.040 Jardim Botnico / RJ Horto Florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Antiga Rodovia Rio-So Paulo, Km 51 Seropdica / RJ Instituto de Florestas da UFRRJ Biovert Engenheiro Florestal Marcelo de Carvaho Silva Tel.: ( 0xx21 ) 2502-6165 Fax: ( 0xx21 ) 2293-5643
2. Listagem de outros viveiros
Flora Paulista Associao Paulista de Recuperao e Preservao da Ecologia Marlia / SP Tel.: ( 0xx14 ) 423-3463 Florespi - Florestadores de Piracicaba Rua Alferes Jos Caetano,1420 Piracicaba / SP 13 400 - 123 Tel.: ( 0xx19 ) 3434-9658 fevereiro/2002
92
Mata Ciliar
Flora Cantareira Rua Sena, 349 So Paulo / SP Tel.: ( 0xx11 ) 201-3469 Associao Mata Ciliar Rua XV de Novembro, 195 Pedreira / SP 13 920 - 000 Tel.: (0xx19) 293-1644 Camar Mudas Florestais Rod Whashington Luiz, Km 248 Ibat / SP 14 815 - 000 Caixa Postal 35 Tel.: ( 0xx16 ) 243-2668 Fax: ( 0xx16 ) 243-2939 CATI ( Sede ) Avenida Brasil, 2340 Campinas / SP 13 073 - 001 Caixa Postal 960 Tel.: ( 0xx19 ) 241-3900, ramais 332, 334 e 406 Fax: ( 0xx19 ) 241-7191 e-mail: carmen@cati.sp.gov.br CATI ( Sede ) Diviso de Implantao de Projetos Ambientais A/C L. R. Antiqueira Rua Bela Cintra, 881 / 9o andar So Paulo / SP Tel.: ( 0xx11 ) 259-2204 CESP Paraibuna / SP Tel.: ( 0xx12 ) 362-0075 CATI Rua Carlos Gomes, 129 Guaratinguet / SP 12 500-000 Tel.: ( 0xx12 ) 532-4412 Consrcio Intermunicipal das Bacias do Rios Piracicaba e Capivari A/C Leandro Pinheiro Rua Alfredo Guedes, 1.949 / Sala 210 Piracicaba / SP 13 419 - 080
CATI Rua Boa Vista, 280 / 3 Andar So Paulo / SP / Caixa Postal 5.691 Tel.: ( 0xx11 ) 229-0611 Daterra A/C Leopoldo A. R. Santanna Rua Maria Bibiana do Carmo, 305 Campinas / SP 13 031 - 720 e-mail: leo@daterracoffee.com.br CATI Parque Ecolgico do Tiet So Paulo / SP Tel.: ( 0xx11 ) 422-2585 CATI - Viveiro de Mudas do Campo de Pesquisas de Pindamonhangaba Estrada Velha Rio-So Paulo, Km 154 / gua Preta Pindamonhangaba / SP Tel.: ( 0xx12 ) 242-1890 CESP Avenida Hermenegildo de Aquino, s/no / Coatinga Lorena / SP Tel.: ( 0xx12 ) 252-1188 / 252-5590 Prefeitura Municipal de Bocaina Rua Sete de Setembro, 177 Bocaina / SP 17 240 - 000 Tel.: ( 0xx14 ) 666-1616 Prefeitura Municipal de Guaratinguet Praa Homero Ottoni, 75 Guaratinguet / SP 12 500 - 000 Tel.: ( 0xx12 ) 532-4412 Prefeitura Municipal de So Jos dos Campos Rua Jos de Alencar, 123 So Jos dos Campos / SP 12 209 - 530 Tel.: ( 0xx12 ) 340-8000 Prefeitura Municipal de Trememb Rua Sete de Setembro, 701 - Centro Trememb / SP 12 120 - 000 Tel.: ( 0xx12 ) 272-1411
fevereiro/2002
93
13 Normas federais e estaduais ( RJ ) que disciplinam a proteo de reas marginais de corpos dgua
Normas federais Constituio Federal de 05/10/88, art 20 Lei 3.071 Cdigo Civil Arts 679 a 691; 692 e 693 Decreto-lei n 3.438/410 Decreto-lei n9.760/46 Lei n 4771/65, 7803/89
Contedo Define como bens da Unio os terrenos de marinha e acrescidos e os terrenos marginais Define o conceito de bens pblicos
Esclareceu e amplia o Decreto-lei n 2.490, de 16/08/40 Dispe sobre os bens imveis da Unio e d outras providncias Cdigo Florestal As reas ciliares so um dos tipos de reas de preservao permanente Decreto-lei n 1.561/77 Dispe sobre a ocupao de terrenos da Unio Decreto-lei n 1.876/81 Dispe sobre a dispensa de pagamento de foros e laudnios para os estados e municpios, dentre outros titulares, nos casos que especifica Decreto-lei n 2.398/87 Dispe sobre foros, laudmios e taxas de ocupao relativos a imveis de propriedade da Unio. Decreto 99.672, de 06/11/90 Dispe sobre o Cadastro Nacional de Bens Imveis da Unio Lei Federal n 9.636/98 Dispe sobre a regularizao, administrao, aforamento e alienao de bens imveis de domnio da Unio, altera dispositivos dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o 2o do art. 49 do Ato das Disposies Constitucionais Transitrias, e d outras providncias Lei Federal 9.605, de Dispe sobre sanes penais e administrativas derivadas de condutas e 12/02/98 atividades lesivas ao meio ambiente, e d outras providncias Portaria n 52, de 30/10/95, Aprova as normas para emisso de pareceres relativos concesso de do Ministrio da Marinha terrenos da Unio, obras e atividades em reas sob sua fiscalizao Portaria 305/66, do _ Ministrio da Fazenda Portomarinst n 318.001, de Estabelece procedimentos para uso e ocupao de Terrenos de marinha, seus 20/10/80 acrescidos e terrenos marginais, e d outras providncias Resoluo Conama 004/85 Normas estaduais Contedo Constituio Estadual Estabelece que so reas de preservao permanente as faixas marginais de (art.268, III) proteo de guas superficiais Decreto Estadual n 2.330, Regulamenta em parte, os Decretos -Leis n 39, de 24/03/75, e 134, de 16/06 de 1975, institui o Sistema de Proteo de Lagos e Cursos de gua ( Siprol ) de 08/01/79 do Estado do Rio de Janeiro, regula a aplicao de multas, e d outras providncias 94
continua
fevereiro/2002
Mata Ciliar
continuao
Normas estaduais Lei Estadual n 650, de 11/01/83 Lei 690, de 1983 Lei 784, de 05/10/84 Decreto 7.600, de 09/10/84 Lei 921/85 Lei 1.130, de 12/02/87 Decreto 9.760, de 11/04/87 Lei Estadual 3.239/99 art. 33 Portaria Serla 15, de 18/03/76 Portaria Serla 67, de 26/07/77 Portaria Serla 261-A/97, de 31/06/97
Fonte: Serla
Contedo Dispe sobre a Poltica Estadual de defesa e proteo das bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro. Incluindo sobre faixas marginais de proteo Dispe sobre a proteo s florestas e demais formas de vegetao natural e d outras providncias Estabelece normas para concesso de anuncia prvia do Estado aos projetos de parcelamento do solo para fins urbanos nas reas declaradas de interesse especial proteo ambiental Dispe sobre normas de parcelamento a que se refere a Lei fed. 6.766/79 Dispe sobre a instituio dos atrativos e das reas estaduais de interesse turstico e d outras providncias Define reas de Interesse Especial - Arias do Estado e dispe sobre imveis para efeito de anuncia prvia a projetos de parcelamento do solo a que se refere o artigo 13 da Lei federal 6.766/79 Regulamenta a Lei 1.130, de 12/02/87, localiza as reas de interesse especial do Estado, e define normas para loteamentos e desmembramentos a que se refere o artigo 13 da Lei 6.766/79 Declara a FMP ( Faixa Marginal de Proteo ) como um dos instrumentos de gerenciamento dos recursos hdricos Estabelece roteiro sumrio para fiscalizao de rios e lagoas de domnio estadual Complementa a Portaria Serla 15/76 e estabelece o Roteiro Sumrio para fiscalizao de rios e lagoas do domnio estadual Determina normas para demarcao de Faixas Marginais de Proteo em lagos, lagoas e lagunas e d outras providncias
14 Leis de crimes ambientais: artigos relacionados s reas ciliares
Art. 2 - Quem, de qualquer forma, concorre para a prtica dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de rgo tcnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatrio de pessoa jurdica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prtica, quando podia agir para evit-la. Seo II Dos Crimes contra a Flora Art. 38 - Destruir ou danificar floresta considerada de preservao permanente, mesmo que em formao, ou utiliz-la com infringncia das normas de proteo: 95 fevereiro/2002
Mata Ciliar
Art. 38 - Destruir ou danificar floresta considerada de preservao permanente, mesmo que em formao, ou utiliz-la com infringncia das normas de proteo: Pena - deteno, de um a trs anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Pargrafo nico - Se o crime for culposo, a pena ser reduzida metade. Art. 39 - Cortar rvores em floresta considerada de preservao permanente, sem permisso da autoridade competente: Pena - deteno, de um a trs anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Art. 44 - Extrair de florestas de domnio pblico ou consideradas de preservao permanente, sem prvia autorizao, pedra, areia, cal ou qualquer espcie de minerais: Pena - deteno, de seis meses a um ano, e multa. Art. 48 - Impedir ou dificultar a regenerao natural de florestas e demais formas de vegetao: Pena - deteno, de seis meses a um ano, e multa. Seo V Dos Crimes contra a Administrao Ambiental Art. 66 - Fazer o funcionrio pblico afirmao falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informaes ou dados tcnico-cientficos em procedimentos de autorizao ou de licenciamento ambiental: Pena - recluso, de um a trs anos, e multa. Art. 67 - Conceder o funcionrio pblico licena, autorizao ou permisso em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou servios cuja realizao depende de ato autorizativo do Poder Pblico. Pena - deteno, de um a trs anos, e multa. Pargrafo nico - Se o crime culposo, a pena de trs meses a um ano de deteno, sem prejuzo da multa. CAPTULO VI Da Infrao Administrativa Art. 70 - Considera-se infrao administrativa ambiental toda ao ou omisso que viole as regras jurdicas de uso, gozo, promoo, proteo e recuperao do meio ambiente. 1 - So autoridades competentes para lavrar auto de infrao ambiental e instaurar processo administrativo os funcionrios de rgos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA, designados para as atividades de fiscalizao, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministrio da Marinha. 2 - Qualquer pessoa, constatando infrao ambiental, poder dirigir representao s autoridades relacionadas no pargrafo anterior, para efeito do exerccio do seu poder de polcia. 3 - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infrao ambiental obrigada a promover a sua apurao imediata, mediante processo administrativo prprio, sob pena de co-responsabilidade. 96 fevereiro/2002
Mata Ciliar
4 - As infraes ambientais so apuradas em processo administrativo prprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditrio, observadas as disposies desta Lei. Art. 71 - O processo administrativo para apurao de infrao ambiental deve observar os seguintes prazos mximos: I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnao contra o auto de infrao, contados da data da cincia da autuao; II - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infrao, contados da data da sua lavratura, apresentada ou no a defesa ou impugnao; III - vinte dias para o infrator recorrer da deciso condenatria instncia superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou Diretoria de Portos e Costas, do Ministrio da Marinha, de acordo com o tipo de autuao; IV - cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificao. Art. 72 - As infraes administrativas so punidas com as seguintes sanes, observado o disposto no art. 6: I - advertncia; II - multa simples; III - multa diria; IV - apreenso dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veculos de qualquer natureza utilizados na infrao; V - destruio ou inutilizao dos produtos; VI - suspenso de venda e fabricao do produto; VII - embargo de obra ou atividade; VIII - demolio de obra; IX - suspenso parcial ou total de atividades; X - (VETADO) XI - restritiva de direitos. 1 - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infraes, ser-lhe-o aplicadas, cumulativamente, as sanes a elas cominadas. 2 - A advertncia ser aplicada pela inobservncia das disposies desta Lei e da legislao em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuzo das demais sanes previstas neste artigo. 3 - A multa simples ser aplicada sempre que o agente, por negligncia ou dolo: I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de san-las, no prazo assinalado por rgo competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministrio da Marinha; II - opuser embarao fiscalizao dos rgos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Ministrio da Marinha. 97 fevereiro/2002
Mata Ciliar
4 - A multa simples pode ser convertida em servios de preservao, melhoria e recuperao da qualidade do meio ambiente. 5 - A multa diria ser aplicada sempre que o cometimento da infrao se prolongar no tempo. 6 - A apreenso e destruio referidas nos incisos IV e V do caput obedecero ao disposto no art. 25 desta Lei. 7 - As sanes indicadas nos incisos VI a IX do caput sero aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento no estiverem obedecendo s prescries legais ou regulamentares. 8 - As sanes restritivas de direito so: I - suspenso de registro, licena ou autorizao; II - cancelamento de registro, licena ou autorizao; III - perda ou restrio de incentivos e benefcios fiscais; IV - perda ou suspenso da participao em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crdito; V - proibio de contratar com a Administrao Pblica, pelo perodo de at trs anos. Art. 75 - O valor da multa de que trata este Captulo ser fixado no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos ndices estabelecidos na legislao pertinente, sendo o mnimo de R$ 50,00 (cinqenta reais) e o mximo de R$ 50.000.000,00 (cinqenta milhes de reais). Art. 76 - O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municpios, Distrito Federal ou Territrios substitui a multa federal na mesma hiptese de incidncia.
CAPTULO VIII Disposies Finais Art. 79-A.Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os rgos ambientais integrantes do SISNAMA, responsveis pela execuo de programas e projetos e pelo controle e fiscalizao dos estabelecimentos e das atividades suscetveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com fora de ttulo executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas fsicas ou jurdicas responsveis pela construo, instalao, ampliao e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores. 1 O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-, exclusivamente, a permitir que as pessoas fsicas e jurdicas mencionadas no caput possam promover as necessrias correes de suas atividades, para o atendimento das exigncias impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatrio que o respectivo instrumento disponha sobre: I - o nome, a qualificao e o endereo das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais; II - o prazo de vigncia do compromisso, que, em funo da complexidade das obrigaes nele fixadas, poder variar entre o mnimo de noventa dias e o mximo de trs anos, com possibilidade de prorrogao por igual perodo; 98 97 fevereiro/2002
Mata Ciliar
III - a descrio detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma fsico de execuo e de implantao das obras e servios exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas; IV - as multas que podem ser aplicadas pessoa fsica ou jurdica compromissada e os casos de resciso, em decorrncia do no-cumprimento das obrigaes nele pactuadas; V - o valor da multa de que trata o inciso IV no poder ser superior ao valor do investimento previsto; VI - o foro competente para dirimir litgios entre as partes. 2 No tocante aos empreendimentos em curso at o dia 30 de maro de 1998, envolvendo construo, instalao, ampliao e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso dever ser requerida pelas pessoas fsicas e jurdicas interessadas, at o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos rgos competentes do SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente mximo do estabelecimento. 3 Da data da protocolizao do requerimento previsto no 2 e enquanto perdurar a vigncia do correspondente termo de compromisso, ficaro suspensas, em relao aos fatos que deram causa celebrao do instrumento, a aplicao de sanes administrativas contra a pessoa fsica ou jurdica que o houver firmado. 4 A celebrao do termo de compromisso de que trata este artigo no impede a execuo de eventuais multas aplicadas antes da protocolizao do requerimento. 5 Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso, quando descumprida qualquer de suas clusulas, ressalvado o caso fortuito ou de fora maior. 6 O termo de compromisso dever ser firmado em at noventa dias, contados da protocolizao do requerimento. 7 O requerimento de celebrao do termo de compromisso dever conter as informaes necessrias verificao da sua viabilidade tcnica e jurdica, sob pena de indeferimento do plano. 8 Sob pena de ineficcia, os termos de compromisso devero ser publicados no rgo oficial competente, mediante extrato.
98 fevereiro/2002
99
Mata Ciliar
Projeto Plangua Semads / GTZ
O Projeto Plangua Semads / GTZ, de coordenao brasileira compete Secretaria Cooperao Tcnica Brasil Alemanha, vem de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento apoiando o Estado do Rio de Janeiro Sustentvel Semads, enquanto a a no gerenciamento de recursos contrapartida alem est a cargo da 1 fase 9/1996 1999 a hdricos com enfoque na proteo de Deutsche Gesellschaft fr Technische 2 fase 2000 3/2002 ecossistemas aquticos. A Zusammenarbeit ( GTZ ).
Principais atividades
Seminrios e worshops
Seminrio Internacional ( 13 14/10/1997 ) Gesto de Recursos Hdricos e de Saneamento A Experincia Alem Workshop ( 05/12/1997 ) Estratgias para o Controle de Enchentes Mesa Redonda ( 27/05/1998 ) Critrios de Abertura de Barra de Lagoas Costeiras em Regime de Cheia no Estado do Rio de Janeiro Mesa Redonda ( 06/07/1998 ) Utilizao de Critrios Econmicos para a Valorizao da gua no Brasil Srie de palestras em Municpios do Estado do Rio de Janeiro ( agosto/set 1998 ) Recuperao de Rios Possibilidades e Limites da Engenharia Ambiental fevereiro/2002
. Elaborao de linhas bsicas e de diretrizes estaduais para a gesto de recursos hdricos . Capacitao, treinamento ( workshops, seminrios, estgios ) . Consultoria na reestruturao do sistema estadual de recursos hdricos e na
regulamentao da lei estadual de recursos hdricos no. 3239 de 2/8/99
. Consultoria na implantao de entidades regionais de gesto ambiental ( comits de
bacias, consrcios de usurios )
. Conscientizao sobre as interligaes ambientais da gesto de recursos hdricos . Estudos especficos sobre problemas atuais de recursos hdricos
100
Mata Ciliar
Visita Tcnica sobre Meio Ambiente e Recursos Hdricos Alemanha 12 26/09/1998 ( Grupo de Coordenao do Projeto Plangua ) Estgio Gesto de Recursos Hdricos Renaturalizao de Rios 14/6 17/7/1999, na Baviera/Alemanha ( 6 tcnicos da Serla ) Visita Tcnica Gesto Ambiental / Recursos Hdricos Alemanha 24 31/10/1999 ( Semads, Secplan ) Seminrio ( 25 26/11/1999 ) Planos Diretores de Bacias Hidrogrficas Oficina de Trabalho ( 3 5/5/2000 ) Regulamentao da Lei Estadual de Recursos Hdricos Curso ( 4 6/9/2000 ) em cooperao com Cide Uso de Geoprocessamento na Gesto de Recursos Hdricos Curso ( 21/8 11/9/2000 ) em cooperao com a Seaapi Uso de Geoprocessamento na Gesto Sustentvel de Microbacias Encontro de Perfuradores de Poos e Usurios de gua Subterrnea no Estado do Rio de Janeiro ( 27/10/2000 ) em cooperao com o DRM
Oficina de Trabalho ( 8 9/11/2000 ) Resduos Slidos Proteo dos Recursos Hdricos Oficina de Trabalho ( 5 6/4/2001 ) em cooperao com o Consrcio Ambiental Lagos-So Joo Planejamento Estratgico dos Recursos Hdricos nas Bacias dos Rios So Joo, Una e das Ostras Oficina de Planejamento ( 10 11/5/2001 ) em cooperao com o Consrcio Ambiental Lagos-So Joo Programa de Ao para o Plano de Bacia Hidrogrfica da Lagoa de Araruama Oficina de Planejamento ( 21 22/6/2001 ) em cooperao com o Consrcio Ambiental Lagos-So Joo Plano de Bacia Hidrogrfica da Bacia das Lagoas de Saquarema e Jacon Seminrio em cooperao com Semads, Serla, IEF ( 30/07/2001 ) Reflorestamento da Mata Ciliar Workshop em cooperao com Semads, IEF, Serla, Seaapi/SMH, Emater-Rio, Pesagro-Rio ( 30/ 08/2001 ) Reflorestamento em Bacias e Microbacias Hidrogrficas e Recomposio da Mata Ciliar Workshop em cooperao com Semads, Serla, IEF ( 26/10/2001 ) Revitalizao de Rios Workshop Semads / Serla ( 11/12/2001 ) Enchentes no Estado do Rio de Janeiro Workshop Organismos de Bacias Hidrogrficas ( 26/02/2002 ) em cooperao com Semads e SESARH 101
Srie de Palestras em Municpios e Universidades do Estado do Rio de Janeiro ( outubro/novembro 2000 ) Conservao e Revitalizao de Rios e Crregos fevereiro/2002
Mata Ciliar
publicaes da 1 fase ( 9/1996 1999 )
Impactos da Extrao de Areia em Rios do Estado do Rio de Janeiro ( 07/1997, 11/1997, 12/1998 ) Gesto de Recursos Hdricos na Alemanha ( 08/1997 )
. .
Gesto de Recursos Hdricos e Saneamento ( 02/1998 )
. Relatrio do Seminrio Internacional
Valorizao da gua no Brasil ( 05/1998, 12/1998 )
. Utilizao de Critrios Econmicos para a . Rios e Crregos Preservar, Conservar, . O Litoral do Estado do Rio de Janeiro . Uma Avaliao da Qualidade das guas . Uma Avaliao da Gesto de Recursos . Subsdios para Gesto dos Recursos
Renaturalizar A Recuperao de Rios Possibilidades e Limites da Engenharia Ambiental ( 08/1998, 05/1999, 04/2001 )
Uma Caracterizao Fsico Ambiental ( 11/1998 )
Costeiras do Estado do Rio de Janeiro ( 12/1998 )
Hdricos do Estado do Rio de Janeiro ( 02/1999 )
Hdricos das Bacias Hidrogrficas dos Rios Macacu, So Joo, Maca e Macabu ( 03/1999 )
102
fevereiro/2002
Mata Ciliar
publicaes da 2 fase ( 2000 3/2002 )
. Bases para Discusso da Regulamentao
dos Instrumentos da Poltica de Recursos Hdricos do Estado do Rio de Janeiro ( 03/2001 )
. Rios e Crregos ( 3 edio, 04/2001 ) .Bacias Hidrogrficas e Rios Fluminenses
Sntese Informativa por Macrorregio Ambiental ( 05/2001 ) da Macrorregio 2 Bacia da Baa de Sepetiba ( 05/2001 ) Estado do Rio de Janeiro ( 05/2001 ) de Gesto Ambiental ( 05/2001 ) Rio de Janeiro ( 05/2001 )
. Bacias Hidrogrficas e Recursos Hdricos . Reformulao da Gesto Ambiental do . Diretrizes para Implementao de Agncias . Peixes de guas Interiores do Estado do . Poos Tubulares e outras Captaes de
guas Subterrneas Orientao aos Usurios ( 06/2001 ) Janeiro ( 07/2001 )
. Peixes Marinhos do Estado do Rio de . Enchentes no Estado do Rio de Janeiro
Uma Abordagem Geral ( 08/2001 ) Educar para Proteger ( 09/2001 ) Janeiro ( 10/2001 )
. Manguezais do Estado do Rio de Janeiro . Ambiente das guas no Estado do Rio de . Revitalizao de Rios Uma Orientao
Tcnica ( 10/2001 )
. Lagoa de Araruama ( 01/2002 ) . Restaurao da Mata Ciliar ( 02/2002 )
fevereiro/2002 103
Mata Ciliar
( 01/2002 )
. Mapa Ambiental da Lagoa de Araruama . Mapa Ambiental da Lagoa Feia e Entorno
( 01/2002 )
em preparao
. Lagoas do Norte Fluminense
( 03/2002 )
. Gerenciamento Ambiental de Dragagem e
Disposio do Material Dragado
. Organismos de Bacias Hidrogrficas
104 fevereiro/2002
Você também pode gostar
- O jardim e a paisagem: Espaço, arte, lugarNo EverandO jardim e a paisagem: Espaço, arte, lugarAinda não há avaliações
- Estudos Ambientais e Agroecológicos em Propriedades RuraisNo EverandEstudos Ambientais e Agroecológicos em Propriedades RuraisAinda não há avaliações
- Aula CaféDocumento78 páginasAula CaféDenysson AmorimAinda não há avaliações
- Arvores UrbanasDocumento22 páginasArvores Urbanasflegleye100% (5)
- Poesia Sobre Meio AmbienteDocumento19 páginasPoesia Sobre Meio AmbientegréciaAinda não há avaliações
- Educação Ambiental, Ecopedagogia e SustentabilidadeNo EverandEducação Ambiental, Ecopedagogia e SustentabilidadeNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Remediação De Solos E Águas ContaminadasNo EverandRemediação De Solos E Águas ContaminadasAinda não há avaliações
- Fitorremediação em Solos Contaminados com HerbicidasNo EverandFitorremediação em Solos Contaminados com HerbicidasAinda não há avaliações
- Da Semente à Paisagem: sensibilidade e técnica na Arquitetura PaisagísticaNo EverandDa Semente à Paisagem: sensibilidade e técnica na Arquitetura PaisagísticaAinda não há avaliações
- Recuperacao Ambiental Da Mata Atlantica NovaDocumento184 páginasRecuperacao Ambiental Da Mata Atlantica NovaJoão Moura100% (1)
- Compêndio de Adubação e Nutrição de Hortaliças pelo Método Japonês Baseado na Extração pela Cultura e Análise do SoloNo EverandCompêndio de Adubação e Nutrição de Hortaliças pelo Método Japonês Baseado na Extração pela Cultura e Análise do SoloAinda não há avaliações
- A Floresta e o Solo!!!Documento33 páginasA Floresta e o Solo!!!cjfranz86% (7)
- ÁrvoresDocumento134 páginasÁrvoresValentina Leonova100% (3)
- Cerrado - Ecologia, Biodiversidade e ConservaçãoDocumento428 páginasCerrado - Ecologia, Biodiversidade e Conservaçãosaimorebllethsouza100% (1)
- Mapeamento Ambiental Integrado: Práticas em Ecologia da PaisagemNo EverandMapeamento Ambiental Integrado: Práticas em Ecologia da PaisagemAinda não há avaliações
- Guia de Campo de Árvores Da CaatingaDocumento16 páginasGuia de Campo de Árvores Da Caatingaivanknow50% (6)
- Livro ENCHENTEDocumento160 páginasLivro ENCHENTEgeolagos100% (1)
- Cartilha SementesDocumento44 páginasCartilha SementesClaudiomiro Visca PinheiroAinda não há avaliações
- Manual de Identificação e Plantio de Mudas de Espécies FlorestaisDocumento91 páginasManual de Identificação e Plantio de Mudas de Espécies FlorestaisJose Manuel Meira100% (5)
- Serviços Ecossistêmicos e Planejamento Urbano: A Natureza a Favor do Desenvolvimento Sustentável das CidadesNo EverandServiços Ecossistêmicos e Planejamento Urbano: A Natureza a Favor do Desenvolvimento Sustentável das CidadesAinda não há avaliações
- Infraestrutura verde aplicada ao planejamento da ocupação urbanaNo EverandInfraestrutura verde aplicada ao planejamento da ocupação urbanaAinda não há avaliações
- RISCOS, VULNERABILIDADES E CONDICIONANTES URBANOSNo EverandRISCOS, VULNERABILIDADES E CONDICIONANTES URBANOSAinda não há avaliações
- Recuperação de Areas DegradadasDocumento238 páginasRecuperação de Areas Degradadasdudabainha100% (3)
- Reflorestamento ciliar em diferentes modelos de plantioNo EverandReflorestamento ciliar em diferentes modelos de plantioAinda não há avaliações
- Viveiro de Mudas-EMBRAPADocumento33 páginasViveiro de Mudas-EMBRAPAielpassos100% (1)
- Manual de Recuperação de Áreas DegradadasDocumento129 páginasManual de Recuperação de Áreas DegradadasdiogobrodtAinda não há avaliações
- Manual de Arborizacao SvmaDocumento48 páginasManual de Arborizacao SvmaRodrigo De MouraAinda não há avaliações
- Manual de Arborizacao SvmaDocumento48 páginasManual de Arborizacao SvmaRodrigo De MouraAinda não há avaliações
- A Extração de Areia no Rio Piancó e seus Impactos AmbientaisNo EverandA Extração de Areia no Rio Piancó e seus Impactos AmbientaisAinda não há avaliações
- A Bruxinha Que Era BoaDocumento18 páginasA Bruxinha Que Era BoaMauro MarquesAinda não há avaliações
- Ecologia da Paisagem no Contexto Luso-BrasileiroNo EverandEcologia da Paisagem no Contexto Luso-BrasileiroAinda não há avaliações
- Itan Otolu 3Documento4 páginasItan Otolu 3Babá Hilário T'OdéAinda não há avaliações
- Poços TubularesDocumento67 páginasPoços TubularesCleider ClaudianoAinda não há avaliações
- Apostila Fisica Do SoloDocumento49 páginasApostila Fisica Do SoloDaniel Brentano100% (1)
- Espécies Invasoras Do Nordeste Do BrasilDocumento101 páginasEspécies Invasoras Do Nordeste Do BrasilRafael Ribeiro100% (1)
- Burle Marx e o Recife: Um passeio pelos jardins da cidadeNo EverandBurle Marx e o Recife: Um passeio pelos jardins da cidadeAinda não há avaliações
- ViveiroDocumento54 páginasViveiroreynaldodtna0% (1)
- Guia Restauração Com SAFs Final ICRAF 2016Documento266 páginasGuia Restauração Com SAFs Final ICRAF 2016Breno M. FonsecaAinda não há avaliações
- Apostila de Celulose-PapelDocumento84 páginasApostila de Celulose-Papelcatarinasdaponte50% (2)
- Atlas Climatico Da Regiao Sul Do BrasilDocumento334 páginasAtlas Climatico Da Regiao Sul Do BrasilManoel Camargo SampaioAinda não há avaliações
- O Corredor Central Da Mata Atlântica: Uma Nova Escala Deconservação Da BiodiversidadeDocumento52 páginasO Corredor Central Da Mata Atlântica: Uma Nova Escala Deconservação Da BiodiversidadeA. SilvaAinda não há avaliações
- Guia de Peixes Da UHE BatalhaDocumento146 páginasGuia de Peixes Da UHE BatalhaLuiz DuarteAinda não há avaliações
- Manual de Recuperacao de Matas Ciliares e Areas DegradadasDocumento149 páginasManual de Recuperacao de Matas Ciliares e Areas DegradadasFernanda100% (1)
- Seria melhor mandar ladrilhar?: Biodiversidade - como, para que e por quêNo EverandSeria melhor mandar ladrilhar?: Biodiversidade - como, para que e por quêAinda não há avaliações
- Lagoas Do Norte FluminenseDocumento148 páginasLagoas Do Norte FluminenseArthur Soffiati100% (1)
- 2019-08-07-PRADS - em - Licenciamentos - de - MineracaoDocumento42 páginas2019-08-07-PRADS - em - Licenciamentos - de - Mineracaosuelen.marques937126Ainda não há avaliações
- Guia para A Compostagem PDFDocumento56 páginasGuia para A Compostagem PDFDébora Cristina Souza0% (1)
- Ampliação Pilha D EstérilDocumento362 páginasAmpliação Pilha D EstérilBruno VilaçaAinda não há avaliações
- Revista Ineana v.9 n1Documento86 páginasRevista Ineana v.9 n1Gabriela Rodrigues Moreira De SouzaAinda não há avaliações
- Guia de TrilhasDocumento150 páginasGuia de TrilhasEduardo henriqueAinda não há avaliações
- Análise Climática de Mato GrossoDocumento65 páginasAnálise Climática de Mato GrossoMatheus MoraisAinda não há avaliações
- Manual de Boas Praticas para Criacao de Abelhas Sem Ferrao PDFDocumento48 páginasManual de Boas Praticas para Criacao de Abelhas Sem Ferrao PDFrcinfosoftware100% (1)
- Guia de Trilhas de Niteroi Versao 1Documento69 páginasGuia de Trilhas de Niteroi Versao 1Bernardo MaussAinda não há avaliações
- PAE Salvação - Plano de UtilizaçãoDocumento20 páginasPAE Salvação - Plano de UtilizaçãoincraoesteparaAinda não há avaliações
- Investindo em PessoasDocumento64 páginasInvestindo em PessoasRodrigoAinda não há avaliações
- PAE Aritapera - Plano de UtilizaçãoDocumento20 páginasPAE Aritapera - Plano de Utilizaçãoincraoestepara100% (1)
- Ste CVD257 Ria Int PDF001 FF PRDocumento131 páginasSte CVD257 Ria Int PDF001 FF PRRafael BiazottoAinda não há avaliações
- Plano de Controle Ambiental e Minimizaão de Impactos PDFDocumento53 páginasPlano de Controle Ambiental e Minimizaão de Impactos PDFMara SchererAinda não há avaliações
- Relatorio Da Bacia Do Rio Una GL 4 e GL 5Documento85 páginasRelatorio Da Bacia Do Rio Una GL 4 e GL 5Alex Souza MoraesAinda não há avaliações
- Guia Do Setor Eolico RN FINAL - XDocumento206 páginasGuia Do Setor Eolico RN FINAL - XJoão Maria BezerraAinda não há avaliações
- 3 Reprogramação Do PTS Da Obra Da Construção Da Barragem Do Rio CatoléDocumento174 páginas3 Reprogramação Do PTS Da Obra Da Construção Da Barragem Do Rio CatoléPTS CATOLÉ BARRA VPLAinda não há avaliações
- 4 Com Nac Brasil WebDocumento622 páginas4 Com Nac Brasil WebAna Beatriz F. SilvaAinda não há avaliações
- História e Geografia de Duque de Caxias ReeditadoDocumento27 páginasHistória e Geografia de Duque de Caxias ReeditadoAnderson GoulartAinda não há avaliações
- Exercícios Qualidade Madeira para SerrariaDocumento8 páginasExercícios Qualidade Madeira para SerrariaCamila AlvesAinda não há avaliações
- Trabalho PainésDocumento13 páginasTrabalho PainésEwerton Alves NazarenoAinda não há avaliações
- Trabalho de Botanica em GrupoDocumento14 páginasTrabalho de Botanica em GrupoLuanni FrancoAinda não há avaliações
- CABRAL & BUSTAMANTE (Ed) 2016 Metamorfoses FlorestaisDocumento457 páginasCABRAL & BUSTAMANTE (Ed) 2016 Metamorfoses FlorestaisTardan TardanAinda não há avaliações
- Flora Da Bahia Leguminosae - HymenaeaDocumento18 páginasFlora Da Bahia Leguminosae - HymenaeaSimone MeijonAinda não há avaliações
- Guia de Arborização de MandaguariDocumento4 páginasGuia de Arborização de MandaguarikarlacmedeirosAinda não há avaliações
- Arborização Urbana Claudio Renato Wojcikiewicz Engenheiro FlorestalDocumento52 páginasArborização Urbana Claudio Renato Wojcikiewicz Engenheiro FlorestalCeleste Lealoli100% (1)
- Texto Narrativo: A Última CaçadaDocumento1 páginaTexto Narrativo: A Última CaçadaLuis ChinaiAinda não há avaliações
- Folder MajorGomesDocumento2 páginasFolder MajorGomesgrão-de-bicoAinda não há avaliações
- Trabalho de Rec Ciencias 6º AnoDocumento2 páginasTrabalho de Rec Ciencias 6º Anochapolinpaulojr2912Ainda não há avaliações
- ParicáDocumento4 páginasParicáMariana AraujoAinda não há avaliações
- Policy Briefing - FinalDocumento8 páginasPolicy Briefing - FinalNelson ChozanaAinda não há avaliações
- Manual de Arborizacao Urbana Inhambupe AtualizadoDocumento26 páginasManual de Arborizacao Urbana Inhambupe Atualizadopauluz07Ainda não há avaliações
- Algumas Árvores Da BíbliaDocumento2 páginasAlgumas Árvores Da BíbliaRamon GoulartAinda não há avaliações
- PLANTIO DE Myracrodruon Urundeuva Fr. All. (AROEIRA) EM ÁREA ALTERADA DE FLORESTDocumento8 páginasPLANTIO DE Myracrodruon Urundeuva Fr. All. (AROEIRA) EM ÁREA ALTERADA DE FLORESTIgor Soluções AmbientalAinda não há avaliações
- Araucária - Pinheiro-do-ParanaDocumento16 páginasAraucária - Pinheiro-do-ParanaRafael Battella de SiqueiraAinda não há avaliações
- Solucoes Madeira Cuprinol PDFDocumento28 páginasSolucoes Madeira Cuprinol PDFJocaAinda não há avaliações
- AçaiDocumento10 páginasAçaiSteban Macroth MacrothAinda não há avaliações
- Pata de Vaca Bauhinia Forficata Nativa Taxonomia EmbrapaDocumento12 páginasPata de Vaca Bauhinia Forficata Nativa Taxonomia EmbrapaLecy PicorelliAinda não há avaliações
- Economia Da Região SulDocumento10 páginasEconomia Da Região SulFernandof5705Ainda não há avaliações
- Madeira Floresta Plantadas-Construção CivilDocumento50 páginasMadeira Floresta Plantadas-Construção CivilJoão Luis Ribeiro JuniorAinda não há avaliações
- Volume 7 IFFSC PDFDocumento260 páginasVolume 7 IFFSC PDFSagatiba10Ainda não há avaliações