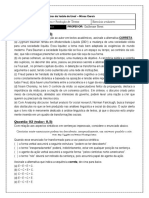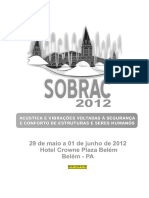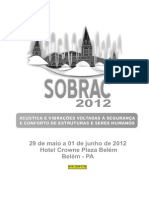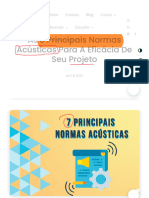Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
LIVRO Ciencia Pesquisa Metodos e Normas
LIVRO Ciencia Pesquisa Metodos e Normas
Enviado por
marcellotfTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LIVRO Ciencia Pesquisa Metodos e Normas
LIVRO Ciencia Pesquisa Metodos e Normas
Enviado por
marcellotfDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cincia:
pesquisa, mtodos e
normas
Sandro Dau
Cincia:
pesquisa, mtodos e
normas
2
a
edio revista e ampliada
Editora Alexandria
Copyright by Sandro Dau
Editorao, arte e impresso
Editora Alexandria
Reviso
Rodrigo Tostes Geoffroy
Ficha catalogrfica
D235c Dau, Sandro.
Cincia/ Sandro Dau. Juiz de Fora:
Alexandria, 2006, 184 p. 155: il. Rev., Amp.
1.Metodologia de pesquisa. 2.
Metodologia cientfica. I. Ttulo.
Capa
Litografia Drawing hands (1948) de Maurits
Cornelius Escher.
Depois de observado por muitas experincias, parece-
me ser esta a condio humana em relao s coisas
intelectuais: quanto menos entende-se e sabe-se, com
tanta mais fora quer-se discutir; e, pelo contrrio, mais
coisas so conhecidas menor tendncia de discutir
resolutamente sobre qualquer novidade.
Galileu Galilei
Dedicado a Andr Gomes Dau e a Arthur Gomes Dau.
Sumrio
Apresentao ............................................................ 15
Captulo I
Leitura de textos tcnico-cientficos ........................ 17
1.1. Diferenas entre explicao e comentrio ........ 19
Captulo II
Metodologia ............................................................... 21
Captulo III
Cincia e teoria .......................................................... 26
3.1. Cincia ............................................................. 26
3.1.1. Mtodos da Cincia ................................... 31
3.1.2. Caractersticas da Cincia ......................... 33
3.1.3. Generalizaes cientficas ......................... 34
3.1.4. Interesse da cincia ................................... 34
3.1.5. Elementos da cincia ................................. 34
3.1.6. Objeto da cincia ....................................... 38
3.1.7. Objetivo da cincia..................................... 38
3.1.8. Objetividade da cincia .............................. 38
3.1.9. Devemos evitar os preconceitos ................ 39
3.1.10. Anlise cientfica ...................................... 43
3.2. Teoria ............................................................... 44
3.2.1. Valor da teoria ........................................... 45
3.2.2. Crtica teoria ........................................... 46
Captulo IV
Conceitos ................................................................... 47
4.1. Natureza dos conceitos .................................... 49
4.2. O que so os conceitos .................................... 49
4.3. Origem dos conceitos ....................................... 50
4.4. Uso dos conceitos ............................................ 50
4.5. Importncia dos conceitos ................................ 51
Captulo V
Verdade ...................................................................... 53
5.1. Trs tipos de verdades cientficas ..................... 54
5.2. Tipos de cincias sociais .................................. 56
5.3. Quatro tipos de referncias da verdade em
relao aos fatos ..................................................... 57
5.4. Quatro espcies de relaes do esprito com a
verdade ................................................................... 57
5.5. Seis critrios reveladores da verdade do esprito
................................................................................ 59
Captulo VI
Pesquisa cientfica .................................................... 62
6.1. Diviso da pesquisa.......................................... 62
6.1.2. Pesquisa metodolgica .............................. 64
6.1.3. Pesquisa emprica ..................................... 64
6.1.4. Pesquisa prtica ........................................ 65
6.2. Como pesquisar ............................................... 65
6.3. Objetivo da pesquisa ........................................ 66
Captulo VII
Esquema .................................................................... 68
7.1. Utilidade do esquema ....................................... 68
7.2. Objetivo do esquema ........................................ 68
7.3. Caractersticas do esquema ............................. 69
7.4. Recursos para se fazer um esquema ............... 69
Captulo VIII:
Resumos - NBR 6028 ................................................ 71
8.1. Aspectos principais de um resumo ................... 71
8.2. Tipos de resumos ............................................. 71
8.3. Contedo do resumo ........................................ 72
8.4. Tamanho dos resumos ..................................... 72
8.5. Como resumir ................................................... 72
8.6. Como no resumir ............................................ 73
Captulo IX
Resenha crtica - NBR 6023 ...................................... 74
9.1. Estrutura formal da resenha ............................. 74
Captulo X
Fichamentos .............................................................. 77
10.1. Composio da ficha ...................................... 77
10.2. Tipos de fichas ............................................... 77
10.2.1. Fichamento de uma obra inteira .............. 77
10.2.2. Fichamento de parte de uma obra ........... 79
10.2.3. Ficha tipo citao: .................................... 80
10.2.4. Ficha tipo esboo ..................................... 81
Captulo XI
Como apresentar citaes - NBR 10520 .................. 83
11.1. Termos latinos ................................................ 83
11.1.1. Idem ........................................................ 83
11.1.2. Ibidem ...................................................... 84
11.1.3.Opus citatum ............................................. 84
11.1.4. Apud ........................................................ 85
11.2. Tipos de citaes ............................................ 85
11.2.1. Citaes curtas ........................................ 85
11.2.2. Citaes longas ....................................... 86
Captulo XII
Referncias bibliogrficas - NBR 6023 .................... 88
12.1. Objetivos das referncias ............................... 88
12.2. Localizao das referncias ........................... 88
12.3.Tipos de referncias ........................................ 90
12.3.1 Um autor escreveu a obra ......................... 90
12.3.2. Dois autores escreveram a obra .............. 91
12.3.3. Trs autores escreveram a obra .............. 92
12.3.4. Mais de trs autores escreveram a obra .. 93
12.3.5. Vrios os autores escreveram a obra....... 94
12.3.6. Notas de sala de aula .............................. 94
12.3.6. Notas de sala de aula .............................. 95
12.3.7. Monografias ............................................. 96
12.3.8. Monografia em meio eletrnico ................ 97
12.3.9. Peridicos ................................................ 98
12.3.10. Artigos de peridicos ............................. 99
12.3.11. Artigos de jornais ................................. 100
12.3.12. Artigos em meio eletrnico ................... 101
12.3.13. Documentos de eventos ...................... 102
12.3.14. Evento como um todo em meio eletrnico
.......................................................................... 103
12.3.15. Trabalho apresentado em evento ........ 104
12.3.16. Trabalho apresentado em evento em meio
eletrnico ........................................................... 105
12.3.17. Legislao............................................ 106
12.3.18 Jurisprudncias ..................................... 107
12.3.19. Doutrinas ............................................. 108
12.3.20. Documentos jurdicos em meio eletrnico
.......................................................................... 109
12.3.21. Filmes, vdeos e DVDs......................... 110
12.3.22. Documento cartogrfico ....................... 111
12.3.23. Documento cartogrfico em meio
eletrnico ........................................................... 112
12.3.24. Documento sonoro ............................... 113
Captulo XIII
Projeto de pesquisa - NBR 15287 ........................... 114
13.1. Objetivos do projeto de pesquisa .................. 114
13.2. Contedo do projeto de pesquisa ................. 115
13.3. Elementos do projeto de pesquisa ............ 117
13.3.1. Capa do projeto ..................................... 118
13.3.2. Folha de rosto do projeto ....................... 119
13.3.3. Sumrio ................................................. 120
13.3.4. Apresentao do projeto ........................ 121
13.3.5. Justificativa do projeto ........................... 122
13.3.6. rea de concentrao ............................ 123
13.3.7. Natureza do projeto ............................... 123
13.3.8. Delimitao do assunto (tema)............... 123
13.3.9. Reviso da literatura .............................. 125
13.3.10. Problema (pergunta) ............................ 127
13.3.11. Hiptese(s) .......................................... 132
13.3.12. Procedimento ....................................... 136
13.3.13. Anlise dos dados ................................ 136
13.3.14. Objetivos .............................................. 136
13.3.15. Contedo Programtico da pesquisa ... 138
13.3.16. Metodologia ......................................... 139
13.3.17. Cronograma de execuo .................... 140
13.3.18. Bibliografia bsica ................................ 141
13.3.19. Anuncia do orientador ........................ 142
Captulo XIV
Elaborao de monografias .................................... 144
14.1. Definies de monografia ............................. 144
14.2. Importncia da monografia ........................... 144
14.3. Caractersticas da monografia ...................... 145
Captulo XV
Estrutura da Monografia ......................................... 147
15.1. Partes da monografia ................................... 147
15.1.1. Introduo .............................................. 147
15.1.2. Corpo do trabalho ou desenvolvimento .. 149
15.1.3. Concluso .............................................. 152
15.1.4. Notas de rodap .................................... 152
15.1.5. Bibliografia ............................................. 152
15.1.6. Outras orientaes bsicas .................... 153
Captulo XVI
Trabalho acadmico - NBR 14724 .......................... 154
16.1. Formato ........................................................ 154
16.2. Margens ....................................................... 154
16.3. Espao entre as linhas ................................. 155
16.4. Numerao das pginas ............................... 155
Captulo XVII
Estrutura formal da monografia ............................. 156
17.1. Elementos pr textuais ................................. 157
17.1.1. Capa ...................................................... 157
17.1.2. Anverso da folha de rosto ...................... 158
17.1.3. Verso da folha de rosto .......................... 159
17.1.4. Folha de aprovao ............................... 160
17.1.5. Dedicatria ............................................ 162
17.1.6. Agradecimento ....................................... 163
17.1.7. Epgrafe ................................................. 164
17.1.8. Resumo em portugus ........................... 165
17.1.9. Resumo em lngua estrangeira .............. 166
17.1.10. Lista de ilustraes .............................. 167
17.1.11. Lista de tabelas .................................... 168
17.1.12. Sumrio ............................................... 169
17.2. Elementos textuais ....................................... 170
17.2.1. Introduo .............................................. 170
17.2.2. Desenvolvimento ................................... 170
17.2.3. Concluso .............................................. 170
17.3. Elementos ps textuais ................................. 171
17.3.1. Bibliografia ............................................. 171
17.3.2. Glossrio ............................................... 172
17.3.3. Apndice ................................................ 173
17.3.4. Anexo .................................................... 175
17.3.5. ndice ..................................................... 176
17.3.6. Contracapa ............................................ 177
Captulo XVIII
Relatrios tcnico-cientficos - NBR 10719 ........... 178
Captulo XIX
Artigo cientfico impresso em peridico - NBR 6022
.................................................................................. 182
19.1. Elementos pr textuais ................................. 183
19.2. Elementos textuais ....................................... 184
19.3. Elementos ps textuais ................................. 185
Bibliografia .............................................................. 186
15
Apresentao
O livro Cincia: pesquisa, mtodos e normas no
pretende ser definitivo. Na verdade, esta obra a
experincia advinda de um trabalho que se acredita
vlido pela praticidade e objetividade oferecida queles
que desta se servirem.
No conjunto dos assuntos tratados neste manual,
houve a preocupao em abordar, de modo claro e
acessvel para o leitor, as normas e os mtodos que so
utilizados para se fazer Cincia. Procedeu-se, para tal, a
uma seleo de itens fundamentais, presentes no
quotidiano cientfico.
De incio, o planejamento que norteou Pesquisa:
Cincia, mtodos e normas teve como ponto de partida
uma diviso equilibrada em dezesseis captulos, nos
quais se pode reconhecer cinco grandes temas.
O primeiro abrange a Cincia e seu interesse,
seus elementos, sua tarefa, fornecendo ao leitor uma
delimitao precisa sobre a matria.
O segundo se ocupa da pesquisa e sua
metodologia. Aqui esto arrolados os tipos de
pesquisas, seus mtodos especficos e o roteiro que
deve ser seguido, para se fazer uma pesquisa cientfica.
O terceiro tema abarca os tipos de textos
cientficos, diferenciando-os quanto s suas estruturas e
quanto s suas aplicaes.
O quarto tema trata das normas da ABNT, para
citaes de autores e referncias bibliogrficas. A
abordagem objetiva e prtica, utilizando quadros
16
esquemticos, nos quais o leitor visualiza todos os
elementos das citaes e das referncias.
Por ltimo, o quinto grande tema compreende as
sugestes para se realizar um trabalho cientfico,
apresentando, ao leitor, a estrutura e a organizao de
uma monografia.
Assim sendo, ao ensejo desta obra, os autores
acreditam estar prestando um auxlio aos alunos que
precisem elaborar trabalhos cientficos, segundo os
parmetros estabelecidos pela ABNT. E tambm a todos
aqueles que necessitarem de esclarecimentos, em
relao aos temas constantes neste livro.
Prof. Rodrigo Tostes Geoffroy
17
Captulo I
Leitura de textos
terico-cientficos
Uma dificuldade apresenta-se constantemente
queles que esto entrando para o mundo da Cincia: a
no compreenso da linguagem utilizada na academia.
Por ser uma linguagem lgico-dedutiva, a mesma foge
ao entendimento da maioria dos estudantes.
No mundo acadmico, saber ler fundamental,
para se formar uma slida base terica. Essa afirmao
parece bvia, visto que uma grande parcela dos
estudantes admite que sabe ler muito bem. Entretanto, a
experincia mostra que, s vezes, o desinteresse dos
alunos est ligado diretamente a no compreenso dos
textos tcnicos, uma vez que, no entendimento desses
no se admite a imaginao e, menos ainda, a
experincia de vida dos leitores.
A grande dificuldade de se compreender um texto
cientfico encontra-se no fato dele ser apresentado, na
maioria das vezes, atravs do mtodo dedutivo
1
. Por
esse motivo, torna-se relevante este captulo, uma vez
que nele se encontram algumas tcnicas de estudo
teis.
No se deve esquecer que a compreenso de um
texto base da aprendizagem. No obstante, a
aprendizagem torna-se um esforo desmotivante, para
alguns indivduos, devido falta de compreenso do
que se l.
1
A deduo o raciocnio puramente abstrato, no qual sua
inteligibilidade ocorre diretamente das proposies inerente ao texto.
18
A se encontra o empecilho para alguns
estudantes, visto que a leitura tcnica uma atividade,
como foi visto mais acima, na qual no pode entrar nem
a imaginao, nem as experincias, e, menos ainda, as
opinies do leitor: Nestes casos, conta-se to-somente
com as possibilidades da Razo reflexiva, o que exige
muita disciplina intelectual para que a mensagem possa
ser compreendida com o devido proveito e para que a
leitura se torne menos inspida.
2
Quando se l um texto
cientfico, preciso que se conte somente com o poder
da Razo, para se conseguir o entendimento do
contedo.
Na cincia o conhecimento deve ser pautado pela
Razo, a qual utiliza argumentaes universais.
Consequentemente suas concluses podem ser
aplicadas a outros casos proporcionando uma
previsibilidade dos acontecimentos futuros, caso as
condies sejam mantidas.
A seguir, apresentam-se algumas diretrizes para
leitura de obras cientficas: delimitar uma parte do texto
de sentido completo. preciso compreend-la e,
somente aps isso, deve-se passar a outro item;
analisar o texto por inteiro, a fim de compreender seu
contedo, porm uma leitura sem mais
aprofundamentos. Nesta fase, aconselhvel fazer um
esquema do texto, para que se possa ter uma viso
completa; tematizar o texto o prximo passo. Aqui o
leitor apresentar suas dvidas ao texto, visando a
2
SEVERINO, Antnio Joaquim. Metodologia do Trabalho Cientfico.
13
a
ed.. So Paulo: Cortez, 1986, p. 48.
19
entend-lo. Entender
3
o texto descobrir seu tema, ou
seja, o assunto que est sendo exposto: fazer uma
anlise interpretativa, ou melhor, ultrapassar o que foi
escrito, perguntando ao autor sobre as ideias
apresentadas; problematizar o tema lido. Nesta etapa, o
leitor faz perguntas, a fim de realizar uma reflexo
particular; redigir uma sntese prpria, em outras
palavras, o momento da leitura em que o estudante
deve escrever o que entendeu do texto.
1.1. Diferenas entre explicao e
comentrio
Uma explicao uma resposta a uma pergunta.
Ela deve ser testada empiricamente, a fim que
possamos verificar como poderia ocorrer o fato
4
a ser
explicado: Explicar a ocorrncia de um acontecimento
, portanto, fazer o enunciado que o descreve derivar de
outros enunciados verdadeiros e empricos, dos quais
pelo menos um h de ser lei geral. Mais resumidamente:
explicao subsuno dedutiva a leis gerais.
5
3
a explicao que nos faculta tomar conscincia da situao.
4
O que ou acontece na medida em que tomado como um dado
real da experincia, sobre o qual o pensamento se pode afundar. In
LALANDE, Andr. Vocabulrio Tcnico e Crtico da Filosofia.
Traduo de Ftima S Correia et al. So Paulo: Martins Fontes,
1993, p. 388.
5
LAMBERT, K. e BRITTAN, G. G.. Introduo Filosofia da Cincia.
So Paulo: Cultrix, 1972, pp. 46-7.
20
Explicao Comentrio
Prevalece sobre o comentrio Supe uma explicao
anterior ao comentrio posterior explicao
Est a servio do texto Interroga o texto
Parte do texto Parte do texto
Restringe-se ao texto No se restringe ao texto
A seguir reproduzimos o Esquema sobre as
diretrizes para a leitura, anlise e interpretao de
textos
6
, pois sua clareza possibilita-nos a compreenso
da atitude intelectual que o estudante deve ter frente a
uma obra cientfica:
6
SEVERINO, Antnio Joaquim. op. cit., p. 61.
21
Captulo II
Metodologia
A metodologia estuda os mtodos de se fazer
Cincia. Mtodo um conceito formado por dois radicais
gregos (meta = alm; odos = caminho) significando,
literalmente, caminho alm. Em outros termos, o mtodo
o caminho estabelecido por determinada cincia, a fim
de conseguir conhecimentos vlidos por intermdio de
instrumentos confiveis. Em linguagem mais acadmica,
o mtodo o conjunto dos processos de conhecimento
que constituem a forma de uma determinada cincia
[...].
7
Com menos formalidade, pode-se dizer que o
mtodo o caminho usado pelo pesquisador, para
tentar resolver um problema (pergunta, dvida, questo,
dificuldade).
Uma caracterstica marcante do mtodo cientfico
sua simplicidade: Todo pensamento ser formulado
to clara e simplesmente quanto possvel, o que s
pode ser efetuado mediante trabalho rduo.
8
E,
continua o autor: o mtodo da cincia consiste em
tentativas experimentais para resolver nossos
problemas por conjecturas que so controladas por
severa crtica.
9
Um mtodo para ser denominado de cientfico
deve levar em considerao a: escolha de fenmenos
7
LIARD, L.. Lgica. So Paulo: Cia. Ed. Nac., 1979, p. 10.
8
POPPER, Karl. Lgica das Cincias Sociais. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1978, p. 39.
9
Ib., p. 16.
22
importantes; diversidade dos meios para se descobrir
uma lei.
O mtodo tem os seguintes momentos:
investigao; transmisso; organizao. O primeiro se
prope a fazer novas descobertas; o outro tem como
objetivo transmiti-las: , tambm, chamado de mtodo
didtico; por fim o mtodo de organizao visa
sistematizar as pesquisas com a finalidade de se
conseguir uma maior eficincia.
Todo e qualquer mtodo se apoia em dois pontos
bsicos: reprodutibilidade; falsificabilidade. Com relao
quela necessrio, para se ser cientfico, que os
resultados conseguidos sejam repetidos por outros
pesquisadores, os quais devem chegar ao mesmo
resultado, independente da poca ou lugar.
A falsificabilidade a caracterstica, segundo a
qual necessrio criar diversas hipteses que neguem
a afirmao, quanto mais essa se sustente mais ela
considerada correta.
Com relao ao objeto o mtodo pode ser:
racional; experimental. O mtodo racional parte do fato
ou de proposio evidente. No primeiro caso tem-se a
Filosofia e no segundo a Matemtica: h autores que o
denomina de mtodo reflexivo.
O mtodo experimental parte das experincias,
por isso conhecido como mtodo indutivo. Como
critrio de validade tem-se a verificao dos dados
objetivos. No preciso dizer que esse mtodo
racional, visto que tem por base a reflexo. Ele tem
23
quatro fases: observao
10
; elaborao da hiptese;
experincia; generalizao.
Existem vrios mtodos de se abordar um
problema, portanto compete ao estudante decidir qual o
melhor caminho (emprico; terico; histrico; trabalho de
campo; trabalho de laboratrio).
A metodologia considerada um conjunto de
mtodos, pelo qual se adquire o conhecimento
sistemtico e exato do mundo "real", em oposio
intuio, especulao e s observaes mais ou
menos casuais, embora no raro penetrantes, da
literatura, da filosofia, da teologia, etc.: Em qualquer
campo de estudos, a substncia a ser aprendida que
dever ditar o mtodo de seu aprendizado. Jamais
poder essa ordem ser trocada, ou seja, permitir-se que
uma prtica ou um mtodo predetermine a viso do
assunto.
11
Como podemos ver ela importante, quando se
trata de fazer Cincia, porm a mesma apenas um
instrumento, um meio para se pensar cientificamente,
mas no se pode ser extremista, e dizer que essa
intil. Ela tem relevncia, dentro do mundo acadmico,
visto que possibilita ao cientista perguntar sobre a
verdade, os limites, a extenso e o valor dos
conhecimentos apreendidos.
10
Observao a considerao atenta dos fatos com o objetivo de
descobrir-lhes as formas de comportamento e as causas. um
primeiro passo para determinar o como e o porqu dos mesmos.
In NERICI, Imideo G.. Introduo Lgica. So Paulo: Nobel, 1971,
p. 122.
11
LIPSON, Leslie. Os Grandes Problemas da Cincia Poltica. Rio de
Janeiro: Zahar, 1976, p. 24.
24
Com uma boa metodologia, o cientista tem
condies de bem delimitar o objeto a ser estudado,
bem como lhe facilita a criatividade, no desenvolvimento
da pesquisa. Alm disso, otimiza a capacidade do
cientista de entender o assunto que pesquisa: O
objetivo da metodologia, que uma praxiolgica da
produo dos objetos cientficos, o de esclarecer a
unidade subjacente a uma multiplicidade de
procedimentos cientficos particulares, ela ajuda a
desimpedir os caminhos da prtica concreta da pesquisa
dos obstculos que esta encontra.
12
A metodologia o instrumento usado para fazer
ou definir a Cincia, logo a possibilidade de agir
cientificamente saber utilizar esse instrumento.
Somente ser um bom cientista aquele que souber
utilizar bem o instrumento da Cincia: a Lgica
13
,
14
.
Portanto, o seu conhecimento sumamente importante,
para todo aquele que deseja ingressar no mundo da
cincia.
Os crticos ao mtodo cientfico apontam trs
limitaes que ele apresenta: a induo pode no ser
vlida para todos os casos; no se conseguir a
12
BRUYNE, Paul de. Dinmica da Pesquisa em Cincias Sociais.
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977, p. 27.
13
Lgica a cincia que estuda as leis gerais do pensamento e a
arte de aplic-las corretamente na ivestigao e demonstrao da
verdade dos fatos. In NERICI, Imideo G.. Introduo Lgica. So
Paulo: Nobel, 1971, p. 16.
14
Nem todos os pensadores aceitam esse papel da lgica e alguns a
colocam em segundo plano: A lgica no passa de uma tcnica de
aplicao da psicologia como sublinha Husserl, ela no pode
pretender regulamentar a cincia, pois ela vem depois e no antes
da cincia; [...]. In MOLES, Abraham. A Criao Cientfica. So
Paulo: Perspectiva, 1971, p. 38.
25
inferncia atravs dos fatos experimentados; a
inferncia ser muito abstrata.
Apesar dessas crticas no devemos deixar de
afirmar que, rigorosamente falando, no existe uma
cincia, caso no seja precedida por um mtodo: isso
no uma novidade, visto que ele foi o guia do
pensamento cientfico desde o sculo XVI. No se pode
esquecer que: o que realmente interessa a pesquisa.
Essa a maior finalidade da Cincia. A metodologia o
melhor caminho para se conseguir esse objetivo."
15
Dentro do ambiente acadmico, a pesquisa o objetivo,
mas, para se fazer Cincia, imprescindvel a utilizao
de um mtodo, pois a Cincia sem o mtodo
impossvel.
15
DAU e DAU. Metodologia Cientfica. Juiz de Fora: Editar, 2001, p.
14.
26
Captulo III
Cincia e teoria
3.1. Cincia
A cincia o conhecimento que quantifica a
natureza, por outras palavras, o conhecimento que
utiliza a matemtica, para estudar a natureza. Nesse
mesmo sentido, podemos ainda, dizer que a cincia a
matematizao da natureza, transforma os dados da
natureza em nmeros. O conceito cincia deve ser
considerado o conjunto das aquisies intelectuais, de
um lado, das matemticas, do outro, das disciplinas do
dado natural e emprico, fazendo ou no uso das
matemticas, mas tendendo mais ou menos
matematizao.
16
A fim de definir mais esmiuadamente esse
conceito podemos ainda dizer que: um sistema
terico de desenvolvimento autnomo, quer dizer, que
se estrutura conforme critrios de coerncia interna.
Mas se uma suposta verdade dessa estrutura for
contraditada (falseada) pela realidade, a prpria
estrutura tem de ser reajustada.
17
A palavra cincia tem vrios significados, contudo,
atualmente, a mesma usada, basicamente, em dois
sentidos: um corpo de conhecimento que tira sua
validade das experincias rigorosas, organizadas em
leis gerais. Por outras palavras, qualquer corpo de
conhecimentos fundado em observaes dignas de f e
16
JAPIASS, H. F.. Op. cit., pp. 15-6.
17
BORRN, Juan C. G.. A Filosofia e as Cincias. Lisboa: Teorema,
1988, p. 113.
27
organizado no sistema de proposies ou leis gerais; a
cincia formada por um conjunto de mtodos que
buscam sistematizar (organizar) o conhecimento sobre a
natureza.
Galileu Galilei (1564-1642) um marco para a
histria da cincia, porque foi um dos primeiros a usar o
mtodo cientificamente, ou seja, das observaes
particulares chegou a leis gerais, as quais lhe
facultavam a previso dos acontecimentos futuros.
Estabeleceu seu papel ao afirmar que ela deve ter por
finalidade o questionamento das verdades inabalveis
lanando dvidas sobre seus fundamentos: promover
aquelas dvidas, que parecem abalar as opinies
manifestadas at agora e propor alguma nova teoria
para examinar se existe alguma coisa, que possa
esclarecer e abrir o caminho rumo verdade [...].
18
A finalidade da cincia a tentativa de
compreenso da natureza e do homem. Nesta tentativa,
os caminhos so mltiplos: uns mais rduos e outros
mais fceis. Cabe metodologia mostrar ao
pesquisador, qual o caminho mais fcil para se fazer
cincia.
O conhecimento cientfico tem sua origem na
preocupao do indivduo em conseguir um
conhecimento, que ultrapasse suas necessidades
primrias e atinja um grau de organizao que possa
fazer com que outros indivduos tenham condies, por
meio de experincias, provar o que foi afirmado. Esse
conhecimento quer atingir um conhecimento seguro num
mundo mutvel.
18
GALILEU. O Ensaiador. So Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 63.
28
O primeiro passo para se produzir o
conhecimento cientfico questionar a validade e
extenso dos conhecimentos existentes em sociedade.
Na cincia a pergunta o ponto de partida, para se
substituir os conhecimentos existentes:
A investigao cientfica se inicia, portanto, (a) com a
identificao de uma dvida, de uma pergunta que
ainda no tem resposta; (b) com o reconhecimento de
que o conhecimento existente insuficiente ou
inadequado para esclarecer essa dvida; (c) que
necessrio construir uma resposta para essa dvida e
(d) que ela oferea provas de segurana e de
confiabilidade que justifiquem a crena de ser uma boa
resposta (de preferncia, que seja correta).
19
comum aceitar que a cincia parte das
observaes empricas, mas que no se atm a elas
especificamente, pois seu objetivo o geral. Isso
evidente, porque um fato isolado apenas um exemplo,
atravs do qual no se pode atingir a generalizao
necessria s afirmaes cientficas. Diversos fatos
isolados no formam uma teoria cientfica, visto que
para se chegar a ela preciso que haja uma elaborao
de diversas proposies, organizadas hierarquicamente,
desde o fato mais particular afirmao mais geral.
A cincia surgiu pela primeira vez na Grcia, a
2700 anos, mais precisamente, na cidade de Mileto, na
regio da Jnia (atualmente essa regio faz parte da
Turquia). O primeiro cientista, de que se tem notcia, foi
Tales de Mileto (625-558 a.C.), e, desde o incio, ele
estipulou que a cincia deveria procurar a ordem na
19
KCHE, J. C.. Fundamentos de Metodologia Cientfica. 19
a
ed.
Petrpolis: 2001, p. 30.
29
natureza, e que essa mesma ordem no se encontrava
na superfcie das coisas.
A busca pelo conhecimento cientfico somente
ser possvel caso o indivduo questione os
conhecimentos existentes tanto em sua validade, como
em sua extenso. Essa problematizao o ponto de
partida, para que se possa esquadrinhar as verdades
existentes no meio em que se est inserido.
A preocupao cientfica nasce no momento em
que o indivduo busque um conhecimento, o qual
ultrapasse a simples satisfao de suas necessidades
quotidianas. Tal conhecimento deve ser sistematizado, a
fim de que os demais indivduos possam comprovar o
que foi afirmado utilizando as experincias especficas.
Seu objetivo a assuno de uma verdade a respeito
do mundo, no qual percebemos, por meio da
sensibilidade, uma complexa relao de coisas
mutveis.
No mundo da cincia, sabe-se, hoje, que suas
verdades no so eternas, perfeitas e imutveis.
Atualmente, os cientistas sabem que h uma
aproximao da verdade, mas que essa verdade no
jamais alcanada por completo.
Aquele que entrou para um ambiente no qual se
trabalha com o pensamento cientfico (por exemplo uma
universidade) tem que estar consciente de que sua vida
ser uma eterna busca pela verdade. Deve tambm
estar ciente de que, ao alcanar uma verdade, essa no
um ponto de chegada, porm uma nova largada, no
aprofundamento sobre a verdade da natureza ou do
homem. por isso que se diz que a cincia um perene
caminhar.
30
A mesma uma maneira de se investigar a
natureza e o homem, mas existem diversas maneiras de
se investig-los: filosofia; religio; arte; cincia; etc:
Filosofia Religio Arte Cincia
Razo pura f intuio Razo aplicada
verdade verdade verdade verdade
este mundo outro mundo este mundo este mundo
homem homem homem homem
inspirao inspirao inspirao inspirao
crtica
20
no-crtica crtica crtica
objetiva subjetiva subjetiva objetiva
Todo conhecimento cientfico, para ser cientfico,
deve generalizar as experincias particulares. No h
nada de novo nessa proposio, pois Aristteles de
Estagira (384-322 a.C.) afirma que no existe cincia do
particular, mas s do geral. Essas generalizaes
devem se submeter ao crivo das comprovaes
experimentais: Por meio de experincias repetidas,
mantendo-se constantes todos menos um dos possveis
fatores que influenciam um fenmeno, podem-se isolar
causas e chegar a descobertas verificveis em qualquer
laboratrio do mundo.
21
Isso ocorre dessa maneira, visto que uma nica
experincia no nos permite atingir a condio
20
Esse conceito em do grego krisis e significa julgamento. Ter uma
viso crtica de mundo apenas fazer uma valorao a respeito do
que se estuda, entretanto para alguns sectrios do marxismo, o
conceito adquiriu um sentido mgico, o qual se refere capacidade
de compreenso dos truques da burguesia, a fim de enganar o
proletariado. No sentido kantiano, o ato de fazer uma pergunta
sobre a possibilidade de se discutir uma questo, de modo livre e
pblico. Neste livro, crtica dever ser entendida, no sentido kantiano.
21
BUTLER, D. E.. Comportamento Poltico. Rio de Janeiro: Laudes,
1958, p. 28.
31
fundamental da cincia que a generalizao.
Tambm, devemos insistir, que diversos fatos sem
relao entre si no constituem uma teoria cientfica,
porquanto essa somente possvel, quando podemos
elaborar proposies sistematizadas numa hierarquia:
partindo do simples devemos alcanar o geral (mtodo
indutivo).
Portanto, compete dizer que o que se deseja com
a cincia a concluso generalizante sobre o tema
pesquisado, para tanto criam-se hipteses
racionalmente elaboradas, com o intuito de orientar o
estudo. O conhecimento cientfico resultado da relao
da inteligncia (quando se serve de conceitos) com a
reflexo racional, a qual produz uma concluso lgica.
3.1.1. Mtodos da Cincia
Basicamente a Cincia tem dois mtodos:
dedutivo; indutivo.
3.1.1.1. Mtodo dedutivo
No mtodo dedutivo, a preocupao maior do
pesquisador demonstrar e justificar uma teoria, uma
anlise, etc. Seus objetos so ideais, visto que so
abstraes. Quanto a seu propsito quer alcanar a
coerncia, a no-contradio, ou seja, suas afirmaes
no podem se contradizer. O ponto de partida de quem
utiliza esse mtodo o universal, e o ponto de chegada
o particular. Com ele, quer-se provar racionalmente
uma proposio.
32
3.1.1.2. Mtodo indutivo
Quanto ao mtodo indutivo, pode-se dizer que o
mesmo procura provar empiricamente (atravs de
experincias) uma afirmao. O ponto de partida de
quem utiliza esse mtodo o particular (experincia) e o
ponto de chegada o universal (geral).
Esse mtodo, que a base da cincia, recebe o
seu nome da forma de raciocnio denominada induo:
forma de conhecer segundo a qual, partindo de
elementos particulares chegamos, a um conhecimento
universal. Em outras palavras, podemos ainda afirmar
que a induo tem sua origem nas observaes
rigorosas de fenmenos particulares, cujo objetivo
atingir o maior grau de generalizao possvel.
A induo composta de trs etapas: observao
e anlise dos fatos com intuito de descobrir as causas
de sua manifestao; comparao procurando encontrar
uma relao constante; generalizao por intermdio da
qual estabelecemos uma relao entre os fatos
anlogos.
Existem dois tipos de induo: formal; cientfica.
Esta, de acordo com Aristteles, induz de alguns casos
ou mesmo de um nico caso. Ela tem como base as
relaes, as causas e as provveis leis que regem o
dado.
No que diz respeito induo formal podemos
dizer que ela simplesmente procura a generalizao
pela enumerao de casos especficos.
A induo regida por trs relaes gerais: do
essencial dos dados; dos fatos idnticos; da
quantificao dos elementos.
33
Os problemas tratados pelo mtodo indutivo so
empricos, ou seja, dizem respeito experincia
sensvel (viso, olfato, paladar, tato e audio),
entretanto o cientista deve ultrapassar o mundo do
sensvel e atingir o plano lgico, o plano da teoria.
utilizado sempre que o cientista deseja provar
empiricamente uma proposio.
3.1.2. Caractersticas da Cincia
A Cincia tem algumas caractersticas peculiares:
seus mtodos so lgicos; seus resultados no so um
fim, mas um novo ponto de partida; suas verdades no
so eternas; seus conhecimentos devem unir a teoria
com a prtica; suas experincias devem ser
cuidadosamente controladas pelo cientista (rigor
cientfico); seus resultados se voltam para o mundo
prtico.
Um conhecimento, para ser cientfico, ainda deve
comportar os seguintes traos: classificar os
conhecimentos; descrever os fatos; explicar os
fenmenos; interpretar os diferentes casos; ser
autocorretivo; experimental; descritivo; particular;
cumulativo; operativo.
Outra caracterstica da cincia no admitir o
princpio de autoridade, o qual tem mais a ver com a
crena do que com a cincia e aquele que quer tornar-
se pesquisador deve dar azo s provas sobre o que se
disse e no deve se preocupar com quem disse.
Em resumo: O cientista deve ter sempre claro, em
seu pensamento, que no existe uma teoria definitiva na
cincia. Todo e qualquer conhecimento no mbito da
cincia no um ponto de chegada, mas um ponto de
34
partida. Quem quiser encontrar um conhecimento
absoluto sobre as coisas, no deve buscar a cincia,
todavia procurar outra forma de conhecer a natureza.
3.1.3. Generalizaes cientficas
As proposies, que constituem qualquer corpo de
conhecimento cientfico, so generalizaes. Tais
generalizaes no se referem a acontecimentos ou a
entidades individuais, seno a classes ou tipos de
fenmenos. As generalizaes cientficas devem estar
sujeitas, direta ou indiretamente, a comprovaes
experimentais.
3.1.4. Interesse da cincia
As cincias se interessam pelo padro, pelo
atributo ou caracterstica partilhados, pelo que os
acontecimentos, os elementos, as rvores ou as coisas
tenham em comum. Toda cincia se funda na
suposio, to claramente examinada e descrita pelos
gregos, de que existe uma "ordem na natureza" que o
homem pode descobrir.
3.1.5. Elementos da cincia
Toda cincia compe-se de dois elementos
imprescindveis: Razo
22
(teoria); experincias
23;24
22
Conjunto de conhecimentos e de investigaes com um suficiente
grau de unidade, de generalidade, e suscetveis de trazer aos homens
que se lhe consagram concluses concordantes, que no resultam nem
de convenes arbitrrias, nem de gostos ou interesses individuais que
lhes so comuns, mas de relaes objetivas que se descobrem
gradualmente e que se confirmam atravs de mtodos de verificao
definidos. In LALANDE, Andr. Vocabulrio Tcnico e Crtico da
Filosofia. So Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 155.
35
(prticas). Assim, a cincia, no s como
conhecimento, mas tambm como mtodo, tem dois
elementos essenciais: o racional e o emprico. Se o
conhecimento for baseado s na Razo, o mesmo
chamado de Filosofia, mas, caso seja fundamentado
somente na experincia, ele chamado de senso
comum. O conhecimento cientfico resultado da
relao da inteligncia (quando se serve de conceitos)
com a reflexo racional, a qual produz uma concluso
lgica.
Assim, temos que o conhecimento pode ser
dividido em duas espcies: cientfico; emprico. Esse,
tambm chamado de vulgar ou espontneo, tem como
base os sentidos. um conhecimento desorganizado
que depende de cada sujeito cognoscente, bem como
aplicado a cada coisa em particular. Por intermdio
desse conhecimento no vemos as relaes existentes
entre as coisas no mundo. O importante nesse
conhecimento so as qualidades e no as quantidades.
Nele a aparncia torna-se relevante, a subjetividade a
regra e no possvel prever aspectos futuros, portanto
um conhecimento que limita a ao do homem.
Esse o conhecimento do homem ordinrio e a
forma mais simples de interpretao do mundo. um
conhecimento que no se preocupa com elaboraes
lgicas complexas, mas sim com a soluo de
problemas prticos do quotidiano. No um
23
o conhecimento do mundo externo, que ocorre atravs dos
sentidos (olfato, viso, tato, paladar, audio).
24
Sentidos: So as impresses recebidas das coisas que fornecem
o conhecimento, mas de modo superficial, sem ligao uma com as
outras.NERICI, Imideo G.. Op. cit., p. 105.
36
conhecimento que procure as causas do fenmeno,
mas somente seu porqu: Atravs de milhares de anos
de aperfeioamento e modificaes, o conjunto de
generalizaes da experincia comea a constituir um
ncleo compacto de crenas que parecem quase
evidentes por si. Assim, nesse modo prtico de
conhecer, a generalizao indutiva formula-se
conceptualmente como uma lei. A sua forma mais geral
uma formulao universal e abstracta do tipo sempre
que ocorre x, ocorre y.
25
No conhecimento via senso comum existe uma
regra geral indicadora do caminho a seguir, entretanto
ele no se serve de um mtodo rigoroso em sua
aplicao, o que pode levar a resultados diferentes: Na
origem, o senso comum leva-nos a considerar as coisas
e o mundo sensvel como existentes fora de ns, de tal
forma que as nossas ideias no so mais que suas
imagens fieis.
26
O conhecimento cientfico quer explicar os fatos
por intermdio das possveis causas e pelas leis. Este
conhecimento tem duas funes: especulativa; prtica.
A primeira visa descoberta de novas relaes de
causalidade; ao passo que a segunda tem como objetivo
a utilizao do conhecimento terico na resoluo de
problemas da vida do dia a dia.
Esse conhecimento parte do pressuposto de que o
mtodo racional contribui para se conhecer a natureza,
25
BORRN, Juan C. G.. A Filosofia e as Cincias. Lisboa: Teorema,
1988, p. 112.
26
BROCHARD, V. Do Erro. Coimbra: Atlntida, 1971, p. 09.
37
o homem e as relaes dos homens entre si e com a
natureza.
A cincia parte das experincias, no obstante
procura ultrapass-las, uma vez que seu objetivo a
generalizao de seus resultados. O que se deseja com
ela a concluso generalizante sobre o tema
pesquisado, para tanto criam-se hipteses
racionalmente elaboradas, com o intuito de orientar o
estudo.
O conhecimento cientfico diferencia-se do senso
comum por causa do rigor com o qual ele adquirido. A
caracterstica, ento, desse conhecimento dada por
seu mtodo. Alm disso, espera-se que um
conhecimento dessa espcie possibilite explicaes
sistematizadas e fundamentadas em experincias.
Como conhecimento substantivo, a cincia
constituda de proposies logicamente relacionadas,
que devem ser tambm sustentadas pela evidncia
emprica. Como mtodo, pe em destaque a observao
objetiva, que possa ser verificada e analisada
logicamente.
Uma verdade para ser cientfica deve se submeter
a experincias. Aps essa verificao necessrio
submet-la aos questionamentos do pblico: esse o
momento da crtica intersubjetiva. O conhecimento
cientfico parte das causas, para se conseguir explicar
um fenmeno. uma relao de causa e efeito, porm
necessrio tomar cuidado com as relaes, visto que
somente possvel relacionar coisas do mesmo gnero,
por isso o pesquisador procura ser cauteloso, rigoroso
ao comparar os elementos, pois pode relacionar coisas
de gneros diferentes e concluir absurdos.
38
3.1.6. Objeto da cincia
O objeto da cincia o material com que essa
trabalha. Esse material pode ser: ideias; minerais;
vegetais; palavras; povos; estrelas; rios; etc.
3.1.7. Objetivo da cincia
Toda cincia tem como objetivo criar um conjunto
de teorias, as quais possam incluir diversas
experincias. Assim, sua meta a criao de uma teoria
que indique, quais experincias devam ser estudadas
por esta determinada cincia. Seu objetivo no dizer o
que vai ocorrer, mas o que, dependendo das condies,
poder ocorrer.
Outro objetivo a construo de teorias que
possam explicar o maior nmero possvel de
experincias. Considera-se uma teoria melhor do que
outra, devido ao nmero de experincias que a mesma
pode explicar e comprovar. Por exemplo, a Teoria da
Queda dos Corpos de Isaac Newton (1642-1727)
melhor do que a de Aristteles, porque aquela pode ser
experimentada e comprovada, alm de explicar um
nmero maior de casos.
3.1.8. Objetividade da cincia
A principal caracterstica da anlise, como da
observao cientfica, a objetividade, ou melhor, todo
conhecimento da cincia se pauta por no depender das
opinies, gostos, culturas, religies, vontades, desejos,
etc.
A cincia busca conhecer a natureza, contudo o
conhecimento do homem sobre essa afetado pela
39
maneira como ele v o mundo, uma vez que seus
paradigmas so dados pelos conceitos, com os quais foi
educado. Por isso premente tomar cuidado com
aquelas verdades que parecem evidentes, pois essas
podem ser preconceitos.
O ideal da cincia a objetividade, por esse ideal
se procura criar modelos tericos que representem a
natureza de maneira fiel, ou seja, a cincia quer ser
verdadeira e nessa busca pela verdade tenta-se atingir
um grau de imparcialidade (mbito da verdade
semntica).
Uma cincia torna-se objetiva quando seu
mtodo usado com rigor lgico. Nesse caso a
objetividade no se relaciona com os valores do
pesquisador, mas com o grau de racionalidade adotado
na utilizao de um determinado mtodo.
Karl Popper afirma, em sua Dcima-segunda
tese, a respeito da objetividade da cincia: O que pode
ser descrito como objetividade cientfica baseado
unicamente sobre uma tradio crtica que, a despeito
da resistncia, frequentemente torna possvel criticar um
dogma dominante.
27
3.1.9. Devemos evitar os preconceitos
A grande dificuldade, em se fazer pesquisa, est
em superar os preconceitos. Os mesmos so as
maneiras de pensar, que aparecem aos homens como
verdades, por esse motivo dificultam toda e qualquer
tentativa de se descobrir algo novo. Cabe ao cientista
compreender que o conjunto de ideias com o qual ele foi
27
POPPER, Karl. Op. cit., p. 23.
40
educado , em muitas das vezes, o maior escolho para
a descoberta do novo. Deve-se, portanto, tomar cuidado
com as verdades a que se est acostumado, visto que
elas podem induzir ao erro.
Com toda clareza dos pensadores ingleses
Francis Bacon (1561-1626) exps os empecilhos
epistemolgicos na tentativa de se conseguir atingir
verdade. causa dos erros, nas anlises sobre a
natureza, ele denominou de preconceitos ou dolos (que
impedem o homem de conhecer a verdade). Em seu
entender cumpre evitar os preconceitos, os quais ele
denomina de dolos:
Os dolos e noes falsas que ora ocupam o
intelecto humano e nele se acham implantados no
somente o obstruem a ponto de ser difcil o acesso
da verdade, como, mesmo depois de seu prtico
logrado e descerrado, podero ressurgir como
obstculo prpria instaurao das cincias, a no
ser que os homens, j precavidos contra eles, se
cuidem o mais que possam.
28
So os preconceitos as formas de conhecimento
de uma realidade mais perigosa que possa existir, uma
vez que eles servem de barreiras a todo e qualquer
conhecimento novo. Existem quatro espcies de
preconceitos que impedem o homem de conhecer a
verdade.
3.1.9.1. dolos da tribo (idola tribus)
So as limitaes derivadas das deficincias
naturais de compreenso que afetam os homens. So
28
BACON, F.. Novum Organum. So Paulo: Nova Cultural, 1999, p.
39.
41
inclinaes comuns humanidade, que impedem a
aceitao de fatos que vo contra as teorias
particulares: Os dolos da tribo esto fundados na
prpria natureza, na prpria tribo ou espcie humana.
falsa a assero de que os sentidos do homem so a
medida das coisas. Muito ao contrrio, todas as
percepes, tanto dos sentidos como da mente,
guardam analogia com a natureza humana e no com o
universo. O intelecto humano semelhante a um
espelho que reflete desigualmente os raios das coisas e,
dessa forma, as distorce e corrompe.
29
3.1.9.2. dolos da caverna (idola specus)
Referem-se aos enganos proporcionados pela
natureza individual do homem, devido a sua educao,
s autoridades intelectuais e ao nimo do indivduo: Os
dolos da caverna so os dos homens enquanto
indivduos. Pois cada um - alm das aberraes prprias
da natureza humana em geral - tem uma caverna ou
uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza:
seja devido natureza prpria e singular de cada um;
seja devido educao ou conversao com os outros;
seja pela leitura dos livros ou pela autoridade daqueles
que se respeitam e admiram; seja pela diferena de
impresses segundo ocorram em nimo preocupado e
predisposto ou em nimo equnime e tranquilo; de tal
forma que o esprito humano tal como se acha
disposto em cada um - coisa vria, sujeita a mltiplas
perturbaes, e at certo ponto sujeita ao acaso.
30
29
Ib., p. 40.
30
Ib., p. 40.
42
3.1.9.3. dolos da praa pblica, do mercado
(idola fori)
Erros provenientes do uso da linguagem, pois ns
somos condicionados na interpretao das coisas por
meio da lngua: H tambm os dolos provenientes, de
certa forma, do intercurso e da associao recproca dos
indivduos do gnero humano entre si, a que chamamos
de dolos do foro devido ao comrcio e consrcio entre
os homens. Com efeito, os homens se associam graas
ao discurso, e as palavras so cunhadas pelo vulgo. E
as palavras, impostas de maneira imprpria e inepta,
bloqueiam espantosamente o intelecto. [...] E os homens
so, assim, arrastados a inmeras e inteis
controvrsias.
31
3.1.9.4. dolos do teatro (idola theatri)
Ideias derivadas de sistemas e de raciocnios
filosficos. So erros provenientes dos grandes mestres
da filosofia, os quais se tornaram argumentos de
autoridade e ningum tem coragem de questionar: H,
por fim, dolos que imigraram para o esprito dos homes
por meio das diversas doutrinas filosficas e tambm
pelas regras viciosas da demonstrao. So os dolos
do teatro: por parecer que as filosofias adotadas ou
inventadas so outras tantas fbulas, produzidas e
representadas, que figuram mundos fictcios e teatrais.
[...] Ademais, no pensamos apenas nos sistemas
filosficos, na sua universalidade, mas tambm nos
numerosos princpios e axiomas das cincias que
31
Ib., p. 41.
43
entraram em vigor, merc da tradio, da credulidade
e da negligncia.
32
O significado filosfico desta diviso baconiana
est em exigir do cientista o perfil crtico e
independncia intelectual. Para se pensar
cientificamente premente, que se abandonem os
preconceitos, porquanto eles no permitem a verdade
surgir na mente humana.
importante reconhecer que os homens veem,
com frequncia, o que esto preparados para ver ou o
que desejam ver. Sendo assim, o cientista deve
abandonar essa condio do senso comum, e se
esforar em compreender o mundo, de acordo com os
pressupostos da anlise cientfica.
3.1.10. Anlise cientfica
Uma anlise, para ser cientfica, deve ter as
seguintes caractersticas: logicidade (as ideias devem
ser encadeadas de acordo com a Razo); objetividade
(as afirmaes no devem depender dos contextos);
clareza conceitual (os conceitos no devem ambguos);
preciso dos conceitos (no devem ser sugestivos).
32
Ib., p. 41.
44
3.2. Teoria
A linguagem utilizada pela cincia, para enunciar a
descoberta de um novo conhecimento, construda
atravs de teorias definidas de tal forma, que as
opinies de quem as enunciam no sejam levadas em
considerao.
Teoria, ou sistema dedutivo, vem de theorein cujo
significado viso, donde se conclui que uma teoria
uma viso sobre um tema. Pode ser aplicada a tudo que
se deseja conhecer e seu significado remete a um
conjunto de ideias mais elaborado. Quando criamos
uma teoria queremos simplesmente tentar explicar um
problema: A teoria consiste, em parte, numa forma de
estenografia mental, que reduz imensa variedade de
fatos, vinculados entre si, a uns poucos e breves
smbolos.
33
A teoria formada por diversas proposies
encadeadas logicamente, e deve ter as seguintes
caractersticas: definio rigorosa; coerncia interna;
generalizao, por meio de dedues; ampliao do
conhecimento.
Na cincia, ela deve ser submetida
comprovao. Caso no haja nenhum fenmeno,
experincia, prova, fato, etc. que a desaprove, a mesma
poder ser considerada como vlida. Quando a
experincia no verifica a teoria, a mesma deve ser
abandonada ou melhorada. muito importante que o
cientista adapte sua teoria ao mundo e no o mundo a
sua teoria.
33
LIPSON, Leslie. Op. cit., p. 41.
45
A teoria busca identificar quais so as condies
em que podem ocorrer determinados fatos, desta
maneira, possibilita predizer o que ocorrer e, com isso,
oferece ao cientista um determinado controle sobre a
natureza. A predio que afirma se ocorrer ou no
determinada ao no uma profecia, porquanto a
cincia no diz o que ocorrer, mas o que poder
ocorrer, se determinadas caractersticas se
apresentarem futuramente.
3.2.1. Valor da teoria
O valor de uma teoria est em sua capacidade de
incluir e de generalizar o maior nmero possvel de
experincias.
A ordenao das experincias tem como meta a
generalizao das ideias atravs de leis
34
, ficando
estabelecido que, na presena de determinados fatores,
poder ocorrer determinado fenmeno. A generalizao,
como o prprio nome indica, aponta para o aspecto
geral dos fenmenos e no para suas caractersticas
particulares. Essa por si s, no basta para tornar as
observaes uma cincia. preciso criar uma teoria.
Ao se colocar uma experincia, em determinada
categoria, e relacion-la com outras experincias
conhecidas, possvel tirar delas concluses que sero
teis, para a vida do homem em seu quotidiano. Como
exemplo, pode-se citar a utilizao da Teoria da
Evoluo, de Charles Darwin, em contraposio
Teoria Criacionista. A teoria de Darwin, usada hoje em
dia, por ser mais til aos homens modernos e no,
34
a relao invarivel entre dois ou mais elementos.
46
necessariamente, porque esteja correta. Sobre essa
utilidade a passagem abaixo aponta para esta condio:
O mundo deixou de acreditar que Josu fez parar o Sol,
pois a astronomia era til navegao; abandonou a
fsica de Aristteles, pois a teoria de Galileu sobre a
queda dos corpos tornou possvel calcular a trajetria de
uma bala de canho; rejeitou a histria do dilvio, pois a
geologia til minerao e assim por diante.
35
3.2.2. Crtica teoria
Critica-se a teoria, ao afirmar que a mesma limita a
viso de mundo do homem, visto que o cientista deve
diminuir ao mximo possvel as variveis existentes na
natureza, para coloc-las dentro de uma determinada
teoria. Com essa atitude, a viso de mundo do cientista
se limita somente a alguns aspectos da natureza e,
assim, seu estudo sobre ela se torna mais restrito.
Essa crtica est correta, pois, ao se observar
determinados aspectos do mundo, por meio de um
conjunto de conceitos, natural que se fechem os olhos
para outros caracteres que tambm so importantes.
No entanto no se pode esquecer que uma das
caractersticas principais da cincia a sua
autocorreo, isto , a mesma est sempre se
aperfeioando. Com isso, a teoria deixa de ser uma
verdade eterna e se torna aberta s novas provas e a
novos fatos que surjam.
35
RUSSELL, Bertrand. O Poder. So Paulo: Cia. Ed. Nac., 1957, p.
111.
47
Captulo IV
Conceitos
Os conceitos so a base da cincia, mas um
conjunto de conceitos no forma uma cincia. Se assim
o fosse, um dicionrio seria uma cincia, mas o mesmo
no o . Os conceitos so os menores elementos com
os quais se constroem as teorias cientficas. Esses
elementos no so organizados aleatoriamente,
contudo, h, em sua unio, uma organizao que
organizada pela Razo.
O indivduo que no est familiarizado com os
conceitos de um tema, quando participa de uma
discusso acaba por se tornar vtima daquele que
conhece o significado dos diversos conceitos.
Na cincia os conceitos so encadeados de modo
sistemtico, a fim de que se possa chegar a concluses
coerentes. O fio condutor que orienta este
encadeamento a Lgica.
36
atravs do conhecimento dos conceitos
fundamentais de uma cincia, que se pode afirmar que
se compreende a mesma. Sem conhec-los
impossvel entender com o que se est trabalhando:
Defina sempre um termo ao introduzi-lo pela primeira
vez. No sabendo defini-lo, evite-o. Se for um dos
termos principais de sua tese e no conseguir defini-lo,
abandone tudo. Enganou-se de tese (ou de
profisso)."
37
Em outras palavras, a definio dos
36
Cf. Notas 13 e 14.
37
ECO, Umberto. Como se Faz uma Tese. 2
a
ed.. So Paulo:
Perspectiva, 1985, p. 89.
48
conceitos imprescindvel ao trabalho acadmico. A
ironia com que Umberto Eco trata essa questo mostra
a sua importncia para o mundo da cincia.
de mxima importncia que o principiante em
qualquer cincia conhea os conceitos formadores da
mesma, visto que eles orientaro o modo como e o que
se observa na natureza.
As expectativas do homem so definidas pelos
conceitos, ideias que ele traz consigo. As ideias so os
meios (so os instrumentos), utilizados por ele na
organizao e na interpretao do mundo.
Os conceitos so os instrumentos utilizados por
todos os cientistas e por todos os indivduos no
quotidiano. So eles que definem os fenmenos a
serem estudados, bem como diferem uma cincia de
outra, por isso cada cincia tem seu prprio conjunto de
conceitos, que determina os campos de ao, os
mtodos, os temas, os objetivos e os objetos de
pesquisa.
So eles que orientam o cientista no mundo,
apresentam quais as caractersticas que so
importantes e quais devem ser estudadas e como so
estudados os problemas levantados.
A definio dos conceitos fundamental na
discusso cientfica, visto que aquele que afirma e
aquele pergunta devem ter bem claro qual o significado
do conceito empregado. A necessidade desse cuidado
est em no enganar aos outros e/ou enganar a si
prprio. Quando escrevemos um texto cientfico, de
bom tom utilizar palavras conhecidas no mundo da
Cincia.
49
Para conceitualizar rigorosamente de bom
alvitre: especificar o elemento principal da coisa a ser
definida; buscar a conciso; apresentar de maneira
clara e distinta; evitar o excesso; evitar a negao;
evitar a tautologia.
4.1. Natureza dos conceitos
Um conceito uma palavra, porm no como as
utilizadas no quotidiano, cujo significado passageiro,
mvel. Ele, no mbito da Cincia, caracteriza-se por ter
um nico significado claro, preciso e abstrato, que no
resulta de preferncias, de gostos e de anseios
individuais.
No mundo da cincia, o conceito pode ser
compreendido, a partir do prprio contexto em que se
encontra no necessitando, que o leitor invoque o
auxlio de qualquer elemento extrnseco ao texto.
4.2. O que so os conceitos
A caracterstica principal do conceito a
identificao dos elementos centrais do que estudado.
Alm disso, preciso dizer que um conceito se refere
no a um indivduo, a um caso nico, a um fenmeno,
mas a classes, a grupos, a relaes, etc.
Podemos afirmar que uma palavra que tem
como caractersticas: universalidade (seu significado
vlido, de igual maneira, para todos os componentes da
comunidade cientfica); necessidade (sua definio no
pode mudar de significado de acordo com os interesses
dos cientistas); objetividade (seu sentido no depende
das preferncias individuais de quem fala).
50
A relevncia de sua utilizao pelos cientistas
est na tentativa de diminuir, ao mnimo possvel, a
variao dos sentidos da palavra empregada, a fim de
que se possa comunicar um pensamento, o qual possa
ser inteligvel ao maior nmero possvel de membros da
academia.
4.3. Origem dos conceitos
Sua origem est na abstrao das caractersticas
particulares dos fenmenos
38
. A partir de uma
determinada quantidade de elementos, extrai-se uma
caracterstica comum, repetitiva, padronizada, igual em
todos os membros estudados.
4.4. Uso dos conceitos
Com sua utilizao o cientista procurar os
padres, as regularidades, as uniformidades, as
repeties contnuas e permanentes das experincias,
porquanto somente assim possvel poder falar do
geral. a condio que permite o pensar cientfico, por
isso no podemos esquecer o primordial na atitude
cientfica: A Razo o passo, o aumento da cincia, o
caminho e o benefcio da humanidade o fim. Pelo,
contrrio, as metforas e as palavras ambguas e
destitudas de sentido so como ignes fatui, e raciocinar
com elas o mesmo que perambular entre inmeros
absurdos, e o seu fim a disputa, a sedio ou a
desobedincia.
39
No ato de pensar a cincia no
38
Fenmeno (phaenomenon) uma palavra de origem grega, e
significa aquilo que se manifesta.
39
HOBBES, Thomas. Leviat. So Paulo: Abril Cultural, 1974, p. 35.
51
devemos usar metforas ou quaisquer outras figuras
de linguagem, mas a palavra em seu sentido prprio.
4.5. Importncia dos conceitos
graas a eles que se torna possvel delimitar e
caracterizar uma determinada cincia, pois orientam o
olhar do cientista para determinados aspectos da
realidade informando ao cientista o que ele deve
procurar na natureza. Tome-se, como exemplo, uma
partida de futebol, dependendo dos indivduos que esto
olhando o jogo, aspectos distintos, uns dos outros, sero
notados:
Esse exemplo poderia se estender mais ainda,
contudo se quer chamar ateno para o aspecto de que
cada indivduo olha, para aquilo que foi educado a ver,
ou seja, cada um percebe o mundo com os conceitos
com os quais foi educado.
Uma investigao cientfica deve partir dos
conceitos, os quais devem estar ordenados em um
Classes O que poder interessar
Torcedores O resultado da partida
Bilogos O tipo de grama
Engenheiros eltricos A estrutura eltrica do estdio
Fisioterapeutas O esforo muscular dos jogadores
Mdicos A sade dos torcedores
Policiais A segurana dos participantes
Jornalistas As notcias sobre o jogo
Nutricionistas A alimentao dos jogadores
Farmacuticos As drogas que podem ser usadas
52
vocabulrio, cuja clareza dos significados tenha sua
origem na racionalidade de seu encadeamento.
Conclui-se, ento, que uma cincia est madura,
quando seus conceitos esto elaborados de modo
racional de tal maneira, que a comunidade cientfica no
tenha dvidas, quanto a seus significados. Caso
contrrio no se pode dizer, que ela tenha atingido a sua
maioridade.
Antes de iniciar sua pesquisa deve o cientista
comear por definir os conceitos com os quais tentar
resolver a questo proposta. Essa uma precauo
afirmada por Ccero, quando ele coloca na boca de
Cipio as seguintes palavras: comearei a discusso
observando uma regra necessria em toda disputa, se
se quer afastar o erro, que ficar de acordo quanto
denominao do assunto discutido e explicar claramente
o que significa. O sentido particular deve estabelecer-se
bem antes de abordar a questo geral, porque nunca se
podero compreender as qualidades do assunto que se
discute se no se tem o mesmo na inteligncia.
40
40
CCERO, M. T.. Da Repblica. Rio de Janeiro: Edies de Ouro,
1965, pp. 34-5.
53
Captulo V
Verdade
Na histria da filosofia existem trs modos de
conceituar a verdade: correspondncia entre o co-
nhecimento e o objeto (realismo); coerncia lgica
(idealismo); utilidade prtica (pragmatismo).
A correspondncia entre o conhecimento e o
objeto foi defendida desde os tempos de Aristteles
(384-322 a.C.) como sendo o fundamento da verdade.
Estuda qual o valor do pensamento em relao
realidade. Aristteles, bem como Scrates e Plato, no
admite o ceticismo
41
.
A verdade, afirma o Estagirita, se encontra no
entendimento (juzo) e no nos sentidos, portanto a
coisa no verdadeira ou falsa. A verdade ou a
falsidade se encontra na relao de uma ideia com
outra, isto , no juzo. Sendo assim, uma ideia por si s
no falsa ou verdadeira. A verdade afirma que o que
existe, existe e o que no-existe, no-existe, a verdade
ou falsidade no est nas coisas, todavia na psiqu, no
entendimento humano em funo do juzo.
Para Emanuel Kant (1724-1804) o posicionamento
do filsofo deveria ser a investigao das fontes das
afirmaes, a fim de que se pudesse encontrar a
certeza. A verdade no se relaciona com o objeto, visto
que no se pode conhecer sua essncia, por isso a
41
Ceticismo vem do grego o_ctcouoi (examinar, enganar). Como
doutrina filosfica pode ser entendido como dvida sobre a
capacidade do homem de chegar verdade.
54
verdade kantiana tornou-se a identidade dos
pensamentos entre si e as leis os que regem.
O pragmatismo foi fundado por William James
(1842-1910). Este conceito vem do grego pragma e
significa ao. Ele o ceticismo moderno e como tal no
aceita a verdade (identidade do pensamento com a
existncia).
A verdade para o pragmatismo aquilo que til.
Seu enfoque abandona a teoria e se fixa na ao, pois
admite ser o homem no um ser terico, mas prtico.
Com o pragmatismo a verdade tornou-se aquilo que
til: a verdade deixa o plano terico e se repousa sobre
o grau de eficincia que possa ser advinda dela, para o
meio.
Uma ideia considerada verdadeira, quando ela
est em conformidade consigo mesma. A evidncia no
pode ser considerada um critrio da verdade, como
queria Ren Descartes (1596-1650), visto que a ideia
deveria aparecer como verdadeira para todos, assim a
evidncia apenas uma crena ou uma certeza
subjetiva. Uma ideia por si s no verdadeira ou falsa:
a verdade ou a falsidade dela dada pelas relaes em
que ela aparece, portanto no h ideia errada, mas erro
de sntese mental.
5.1. Trs tipos de verdades cientficas
O primeiro tipo de verdade cientfica a cincia do
certo, a qual tem na certeza seu dado imediato
desejando construir um conhecimento exato do mundo:
Logo, a certeza j no se distingue da verdade. No
seria uma boa definio consider-la como adeso da
55
alma verdade: ela no outra coisa mais que o
prprio conhecimento do verdadeiro. No um estado
subjetivo da alma; no uma coisa que se junta ideia
verdadeira. Se a alma est certa, no por ser a alma
de este ou aquele, individual ou determinada, mas
porque representa um objeto e faz parte do absoluto.
42
Essa cincia era tida no sculo XIX como capaz
de descrever o mundo em sua totalidade. So
exemplos: a geometria e a mecnica.
O segundo tipo verdade cientfica dado pela
cincia do provvel, a qual interpreta o mundo por
intermdio da estatstica. Com ela tem-se a introduo
do aleatrio nas interpretaes das experincias:
substitui a noo de causa da cincia do certo (que
apenas um caso particular da cincia do provvel) pela
de correlao. Para esse tipo de verdade o homem
colocado em segundo plano em relao aos
instrumentos de pesquisa. O papel do homem
abstrato em um mundo que se reduz essencialmente a
uma dialtica matria/energia; [...].
43
Ele substitudo
pela noo fsico-qumica e pela observao dos fatos.
O exemplo deste conhecimento a termodinmica
estatstica e a microfsica.
Por fim, encontra-se a cincia do percebido, a qual
parte do pressuposto que o mundo a representao do
prprio indivduo: este reduzido ao aspecto qumico-
fsico. Essa cincia aceita a dialtica matria/energia,
contudo acrescenta a dialtica do previsvel/imprevisvel,
42
BROCHARD, V.. Op. cit, p. 10.
43
MOLES, Abraham. A Criao Cientfica. So Paulo: Perspectiva,
1971, p. 06.
56
tendo o homem como medida de todas as coisas.
Como exemplo pode-se citar a psicologia.
5.2. Tipos de cincias sociais
As cincias sociais podem, por questes didticas,
ser enquadradas em quatro grupos, os quais na prtica
ultrapassam esse artificialismo acadmico e se
entrecruzam em constante fluidez: cincias nomotticas
(tenta criar leis); histricas (preocupa-se com os
aspectos concretos de objetos particulares; jurdicas
(destaca o carter normativo); filosfica (busca a
universalizao.
57
5.3. Quatro tipos de referncias da
verdade em relao aos fatos
Em relao aos fatos quatro, podem ser os tipos
de verdade que possvel se encontrar: lgico-formal;
objetivo; ontolgico; moral.
A verdade lgico-formal tem como preocupao a
a no-contradio do raciocnio, para tanto segue
princpios formais e enunciados estabelecidos
procurando expressar uma nova proposio verdadeira.
Uma verdade lgico-formal, quando o sujeito e o
predicado se adequam um ao outro.
A verdade objetiva relaciona o pensar com o
existir. Em outros termos tem-se uma verdade objetiva,
quando ela se adequa ao mundo exterior ou ao objeto.
A verdade ontolgica, tambm chamada de
verdade metafsica ou verdade do Ser, se preocupa com
a essncia da coisa exprimindo seu Ser.
A verdade moral pode ser denominada de
veracidade. aquela que se preocupa com o agir
correto e corresponde relao entre o pensar e sua
expresso.
5.4. Quatro espcies de relaes do
esprito com a verdade
O esprito ao se relacionar com a verdade pode
expressar quatro estados distintos: ignorncia; dvida;
opinio; certeza.
Diz-se que o esprito est no estado de ignorncia,
quando a respeito de um objeto ele nada conhece.
58
O estado de dvida aquele momento em que o
esprito no se atreve a dizer nada sobre o objeto.
possvel se enumerar quatro tipos de dvidas:
espontnea; refletida; metdica; universal. A dvida
espontnea ocorre quando o esprito se abstm de fazer
juzo a respeito de algo, mesmo tendo elementos
suficientes para poder faz-lo. Na dvida refletida o
esprito examina os dados, mas no tem elementos
suficientes para elaborar um juzo. Quanto dvida
metdica to somente uma ao mental que se
relaciona a um objeto especfico de estudo. A dvida
utilizada como mtodo de evitar o preconceito no estudo
do objeto. Com esse mtodo o cientista duvida de todas
as coisas, mesmo das verdadeiras com o intuito de
conseguir uma verdade indubitvel. Ela imprescindvel
naqueles que pretendem fazer cincia. Por fim, existe a
dvida universal, a qual no admite que o indivduo
possa alcanar a verdade. a posio intelectual dos
cticos.
A opinio uma afirmao inconsistente, na qual
o sujeito sabe que pode estar errado. uma afirmao
cujos conhecimentos a respeito do que se afirma so
insuficientes. Ela pode ser de duas espcies: crena;
cientfica. A opinio chamada de crena, quando sua
verdade se sustenta sobre aspectos subjetivos.
cientfica, quando se baseia na Razo e em mtodos
rigorosos e objetivos.
Na certeza o esprito tem a posse da verdade no
existindo dvida sobre sua validade. Ela se divide em
dois tipos: subjetiva; objetiva. A certeza subjetiva
59
aquela que pertence ao indivduo, entretanto no
aceita pelos demais, visto que sua base depende do
ponto de vista daquele que expressa uma ideia. A
certeza objetiva tem como fundamento no o indivduo e
sim ocorrncias, as quais independem do observador,
pois sua validade tem origem na observao externa.
5.5. Seis critrios reveladores da verdade
do esprito
O esprito deve ter como base critrios que
possam mostrar sua verdade. Esses critrios so de
seis espcies: autoridade; evidncia; consenso
universal; senso comum; necessidade lgica;
experincia.
O princpio da autoridade continua a ter valor na
religio, entretanto perdeu sua validade na cincia, a
partir das pesquisas de Galileu Galilei (1564-1642). Na
cincia mais vale a comprovao por intermdio das
experincias, do que atravs das palavras de uma
autoridade.
A evidncia percebe sem dificuldades que um
predicado se refere a um sujeito. o critrio adotado por
Ren Descartes (1596-1650), o qual dizia ser esse o
nico caminho para se chegar verdade.
O critrio do consenso universal, afirma que um
juzo aceito por todos verdadeiro. um critrio que se
mostra falho no mbito da cincia.
O critrio do senso comum indicado por Toms
Reid que diz ser a verdade fornecida por uma faculdade
ntima, especial e comum a todos os homens, que seria
60
o sentido comum. Seria como um instinto que nos
revela certas verdades que seriam a prpria base da
cincia.
44
O critrio da necessidade lgica defende que a
verdade no deve ter contradies, parte do
pressuposto que a verdade est em acordo com o
pensamento. A sua validade possvel no campo da
Matemtica, entretanto nem sempre vlido para as
outras cincias.
Por ltimo tem-se o critrio da experincia, o qual
considera como verdade aquilo que passou pelo crivo
da experincia. A verdade deve ser considerada em
relao com a experincia.
44
NERICI, Imideo G.. Introduo Lgica. So Paulo: Nobel, 1971,
p. 20.
61
62
Captulo VI
Pesquisa cientfica
A pesquisa a procura de respostas a uma
determinada questo (problema, pergunta, dvida,
dificuldade) apresentada. A mesma uma ao
ordenada, sistemtica (organizada de modo que seus
elementos tenham relaes entre si), visando a
descobrir relaes constantes entre os fenmenos. Sua
caracterstica principal a utilizao de mtodos
racionais, cientficos, na comprovao, ou no, das
respostas encontradas. Como princpio geral, a
pesquisa cientfica deve ser objetiva (as afirmaes
feitas no devem depender dos gostos, opinies e
desejos de quem fala, mas depender somente da
Razo).
Para se desenvolver bem uma pesquisa,
necessrio que se cumpram duas condies: definir
quais tipos de coisas se argumenta e a partir de que
material se raciocina; deve-se estar bem servido dos
materiais sobre os quais se discute.
6.1. Diviso da pesquisa
Costuma-se dividir a pesquisa em quatro tipos:
terica; metodolgica; emprica; prtica.
Deve-se ter em mente que essa diviso apenas
didtica, uma vez que no existe uma pesquisa
totalmente pura: esses diversos tipos esto
constantemente interligados.
63
6.1.1. Pesquisa terica
Estuda as teorias sobre um determinado tema. A
mesma fundamental, porque ser essa a condio
necessria, para se formar o primeiro conhecimento
sobre um determinado assunto. Para tanto,
imprescindvel que o pesquisador leia as obras clssicas
sobre o tema estudado, pois so essas que lhe daro
condies de ser um pensador autnomo e no um
mero burocrata do saber.
A pesquisa terica possibilita uma maior viso
crtica sobre o assunto estudado. O conceito crtica, nos
ltimos anos, tornou-se uma palavra mgica que se
relaciona com a capacidade de entendimento do
indivduo. Entretanto crtica, em sentido positivo, o
exame livre e pblico, a respeito de uma determinada
questo. Em seu aspecto negativo, uma viso crtica a
no aceitao de verdades, sem antes perguntar sobre
seu contedo (crtica interna) e sua origem (crtica
externa):
A crtica um ponto fundamental para o desenrolar
do pensamento cientfico. A criticidade muito
mais importante do que a erudio, pois enquanto
aquela leva o pensamento adiante, esta apenas
um conhecimento de autores e obras, que pouco,
ou quase nada, acrescenta a quem no tem uma
viso autnoma do problema a ser estudado.
45
Todo pensamento, para ser considerado cientfico,
tem que apresentar consideraes crticas a respeito do
assunto estudado, a fim de que possa haver um
aumento do conhecimento pesquisado. A erudio tem
45
DAU e DAU. op. cit., p. 16. Ver tambm nota 21.
64
pouca valia, visto que no passa de uma mera
exposio de ideias de outros autores e, em nada,
contribui, para o desenvolvimento da cincia.
6.1.2. Pesquisa metodolgica
Essa pesquisa auxilia o cientista a abandonar a
viso ingnua do mundo. Ela composta por
instrumentos que auxiliam a compreenso da natureza.
por intermdio dela, que se podem identificar os
mtodos utilizados por outros cientistas na construo
de suas teorias. Nesse processo de identificao dos
mtodos necessrio comparar o mtodo utilizado por
um cientista com outros mtodos.
Aps ter feito esse trajeto, o pesquisador est em
condies de criar sua teoria e, a partir dela, comunicar
aos demais cientistas suas descobertas.
6.1.3. Pesquisa emprica
O conceito emprico vem do grego, empiria, e
significa experincia, da ser essa uma pesquisa que
tem como preocupao as experincias. A pesquisa
emprica trabalha com o mundo dos objetos concretos,
por isso apresenta seus resultados quantitativamente. A
mesma uma tentativa de unio do mundo terico com
o mundo prtico.
65
6.1.4. Pesquisa prtica
Esse ltimo tipo de pesquisa procura comprovar
as teorias atravs de experincias prticas. Sua
importncia encontra-se em ser uma atitude poltica das
cincias sociais. Nessa perspectiva, uma atividade
cientfica que visa a conhecer os interesses que movem
as sociedades.
6.2. Como pesquisar
No se deve esquecer o conselho dado por mile
Durkheim (1858-1917): "Em toda a ordem de pesquisas,
com efeito, apenas quando a explicao dos fatos est
suficientemente avanada que se pode definir o fim para
o qual tendem.
46
Como se pode ver ele est chamando
a ateno, para algo que acontece com aqueles que
pretendem fazer uma pesquisa cientfica e que deve ser
evitado: afirmar peremptoriamente a soluo do
problema a ser estudado, antes mesmo de iniciar a
pesquisa.
A fim de evitar esse risco, aconselha-se a todos os
que se iniciam nos estudos cientficos que sigam o
percurso abaixo, pois ser um guia que orientar o
iniciante, facultando-lhe condies mnimas em suas
primeiras pesquisas: reconhecer o objeto estudado;
classificar as espcies; procurar por induo metdica
(experimentao) as causas das variaes; comparar os
diversos resultados; tirar uma frmula geral.
46
DURKHEIM, mile. op. cit., p. 99.
66
6.3. Objetivo da pesquisa
O objetivo da pesquisa encontrar respostas
coerentes para os problemas (questes) propostos pelo
pesquisador. Essas respostas devem ser feitas,
baseadas em mtodos cientficos. O objetivo da
pesquisa o conhecimento e a explicao racional do
mundo.
Somente se pesquisa, quando se tem um objetivo
especfico para ser explicado: Uma obra sem um
desgnio se assemelha mais a extravagncias de um
louco do que aos sbrios esforos do gnio ou do
sbio.
47
Ao traar seus objetivos, o pesquisador demonstra
ter bem claro, em seu pensamento, o problema a ser
estudado, visto que eles, ao serem definidos,
coerentemente, aumentam o conhecimento no s de
quem pesquisa, mas da prpria sociedade.
47
HUME, D.. Investigao Acerca do Entendimento Humano. So
Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 42.
67
68
Captulo VII
Esquema
O esquema, o resumo e o fichamento so
ferramentas importantes no aprendizado, pois foram o
estudante a repetir, com suas palavras, o contedo
analisado. A repetio continuada, , como disse
Aristteles, um meio de se criar a memria e, por
consequncia, o saber.
7.1. Utilidade do esquema
O esquema, assim como o resumo e o fichamento,
til, ao se estudar um texto, uma vez que oferece
condies ao leitor de: delimitar a ideia central; ressaltar
os aspectos importantes; apreender as definies;
especificar os conceitos bsicos.
7.2. Objetivo do esquema
Possibilitar ao estudante um meio de compreender
uma obra em seu todo, relacionando as suas diversas
partes.
A tcnica de esquematizar um texto traz o
benefcio de facilitar ao estudioso a compreenso lgica
desse, ou seja, possibilita-o isolar a ideia principal, e
lig-la s ideias secundrias, de maneira racional.
69
7.3. Caractersticas do esquema
Um esquema tem diversas caractersticas, dentre
as quais compete citar: fidelidade ao autor (no se
pode afirmar algo que no tenha sido dito pelo autor);
logicidade (ao identificar a ideia fundamental do texto o
estudante dever relacion-la a outras ideias
subordinadas); utilidade (o esquema existe para facilitar
a vida do pesquisador, e no para torn-la difcil);
subjetividade (um esquema sempre feito para o uso
particular. Sendo assim, impossvel existir um modelo
vlido para todos.
7.4. Recursos para se fazer um esquema
Vrios so os recursos utilizados para se fazer um
esquema, mas no se deve esquecer sua quarta
caracterstica (subjetividade). Por esse motivo, as
indicaes abaixo no podem ser tomadas como nicas:
usar grficos; fazer desenhos; construir smbolos. A
seguir encontra-se um esquema da utilizao do mtodo
indutivo:
O esquema pode ser til em algumas situaes
particulares, contudo, por ser um meio limitado,
recomenda-se fazer um resumo ou um fichamento, por
Mtodo Indutivo:
Teoria
Hiptese
Padro
Observao
70
este motivo nos dois prximos captulos estudaremos
estas ferramentas.
71
Captulo VIII
Resumos - NBR 6028
O resumo
48
a apresentao concisa dos
elementos de um texto qualquer. O mesmo deve ser
utilizado principalmente, quando se quer uma
interpretao e uma viso geral do texto. No mundo
cientfico o resumo tem vrios nomes: abstract, rsum,
resumen, resenha e outros.
Ele elaborado com a inteno de facilitar a
deciso do leitor sobre a necessidade ou no da leitura
integral do texto, por isso o resumo deve ser elaborado
com a maior honestidade cientfica possvel.
8.1. Aspectos principais de um resumo
Um resumo, que pretenda apresentar as ideias
contidas num texto, deve partir dos seguintes aspectos:
apresentao da ideia principal, logo na primeira linha;
definio das ideias secundrias, em relao principal;
estruturao, a partir dos pontos que se marcou no
texto; utilizao de frases curtas, a fim de se ser claro.
8.2. Tipos de resumos
Conforme a NBR 6028: 2003, os resumos podem
ser de quatro tipos: indicativo: indica os pontos
importantes do texto; informativo: Informa ao leitor
finalidades, metodologia, resultados e concluses do
documento, de tal forma que este possa, inclusive,
48
ABNT NBR 6028. Resumo. Rio de Janeiro: 2003.
72
dispensar a consulta ao original.
49
informativo-
indicativo: uma combinao dos dois anteriores;
crtico (recenso ou resenha): Resumo redigido por
especialistas com anlise crtica de um documento.
50
8.3. Contedo do resumo
Um resumo deve conter: o objetivo do texto; o
mtodo utilizado pelo autor; os resultados da pesquisa;
a concluso do autor.
8.4. Tamanho dos resumos
O tamanho do resumo varia de acordo com sua
funo, por isso o nmero de palavras que esse contm
deve ser de: cem para comunicaes breves; duzentas
para artigos e monografias; quinhentas para relatrios e
teses.
8.5. Como resumir
O resumo deve ser composto de frases concisas.
A primeira linha deve trazer o tema principal. O tipo de
texto resumido (cientfico ou no, estudos de caso ou
no, terico ou no, etc.) deve ser especificado. A
redao deve ser feita na terceira pessoa.
49
ABNT NBR 6028. Resumo. Rio de Janeiro: 2003.
50
Ib., p. 01. A NBR de 1990 trazia a locuo anlise interpretativa.
Preferimos esta, pois ao definir resumo crtico como anlise crtica
temos uma petitio principii.
73
8.6. Como no resumir
Utilizando pargrafos. Usando frases negativas.
Criando frmulas. Elaborando diagramas.
Exemplo de como se deve resumir:
A ontologia presente nas metforas
1
A existencialidade dos seres pode ser manifestada,
na linguagem, atravs de vrios recursos, a comear pelo
processo de referenciao desencadeado pelas
expresses nominais definidas. Nesse contexto, o objetivo
do presente trabalho descrever um dos processos que
vem enriquecer o universo ontolgico dos seres a saber,
a metfora demonstrando que a utilizao de uma
expresso no lugar de outra encerra inmeras implicaes
no mbito da filosofia da linguagem e da lingustica
cognitiva. Tal estudo se deu atravs da aplicao de
aspectos lingustico-cognitivos da metfora a sentenas da
linguagem entremeando essa aplicao. A partir desse
estudo, pode-se concluir que, subjacentes aos aspectos
tcnicos de utilizao da metfora, existem vrios aspectos
no campo da ontologia que enriquecem esse tipo de
abordagem nos estudos da lngua.
74
Captulo IX
Resenha crtica - NBR 6023
tambm chamada de recenso. A resenha
crtica, como foi visto no captulo VIII 2, no item 4, tem
como objetivo apresentar o contedo de uma obra. De
acordo com a NBR 6028: 2003
51
, a mesma deve ser
elaborada por especialistas no assunto, uma vez que
eles tm de dizer o valor da obra (juzo de valor).
9.1. Estrutura formal da resenha
Uma resenha se compe de quatro partes. A
primeira traz a referncia bibliogrfica, a qual deve ser
apresentada de acordo com a NBR 6023
52
.
Enquanto que a segunda apresenta a vida e obra
do autor estudado. Nesse ponto, expe-se a experincia
acadmica do autor, a sua formao profissional, o seu
mtodo utilizado no texto, etc.
Na terceira parte premente conter resumo da
obra. importante detalhar as ideias principais, dizendo
o assunto e sua caracterstica, bem como apresentando
o tema abordado. Ainda, nessa parte, expem-se as
concluses do autor.
Por fim, a quarta parte devemos fazer a crtica da
obra (julgamento de valor a respeito do texto analisado).
o momento no qual o resenhista julgar a obra, em
conformidade com o posicionamento do autor, em
relao a outros pensadores. Cabe a ele dizer qual a
contribuio daquele texto para o universo cientfico.
51
ABNT NBR 6028. Resumo. Rio de Janeiro: 2003.
52
Ver captulo XII, p. 91.
75
Compete tambm ao resenhista analisar o estilo da
escrita e de sua forma. Por fim, ele indicar a quem o
texto destinado (estudantes, profissionais, leigos, etc.).
Exemplo:
Primeira parte:
Referncia
bibliogrfica
MILL, John Stuart. Da Liberdade. Traduo
E. Jacy Monteiro. So Paulo: Ibrasa, 1963,
130 p.
Segunda parte:
Apresentao do
autor
John Stuart Mill nasceu em 1806. Sua
educao foi voltada para a viso utilitarista
do mundo. Mas questes futuras fizeram
com que ele abandonasse esse caminho
inicial. Ele o autor, por excelncia, do
liberalismo ingls. No seu mais importante
livro, Da Liberdade, se encontra o
fundamento do seu pensamento poltico, que
procura uma intermediao entre a liberdade
individual e a participao na sociedade.
Terceira parte:
Resumo da obra
O ponto de partida desse seu livro a ideia
de felicidade, contudo uma felicidade que
seja protegida. Essa proteo no se
encontra na conformidade com o mundo,
mas no antagonismo, de opinies. E por
meio desse antagonismo, que ele ir
repensar a poltica tendo como base a
liberdade. O seu objetivo conseguir a
felicidade ao maior nmero possvel de
indivduos. J o problema que o move
buscar um meio termo entre o interesse
particular e o pblico. O tema do livro a
liberdade social ou civil. O autor ir discutir a
natureza e limites do poder, que a sociedade
poder exercer, de forma legtima sobre o
indivduo. Para Mill, esta ser a questo no
futuro das discusses polticas.
A autoridade no pode impedir a opinio de
sequer um s homem, pois caso se tente
calar o indivduo, porque, provavelmente,
este indivduo est com a verdade. Recusar
76
ouvir a um s indivduo considerar que se
possui uma verdade absoluta.
Ele examina a condio em que o homem,
sendo livre para expor suas opinies, no
sofra presso nem fsica e muito menos
moral, visto que essa uma condio
indispensvel. Qualquer ato que possa
prejudicar terceiros, sem causa justificada,
deve ser punido. nesse ponto, a liberdade
individual deve ser limitada, porquanto no
se deve causar aborrecimento a terceiros.
Para ele, pertence individualidade tudo
aquilo que interessa ao indivduo e
sociedade tudo aquilo que a pertence.
Como concluso, possvel afirmar que todo
o argumento da obra Da Liberdade impor
limites a toda e qualquer autoridade coletiva
que, em hiptese alguma, deve impedir a
liberdade individual. Ele procura dar
liberdade individual uma caracterstica
universal, ou seja, ele busca a liberdade do
indivduo, porm no esquece que esse
indivduo vive em sociedade, portanto
necessrio sempre pensar a liberdade em
relao a terceiros.
Quarta parte:
Crtica da obra
Essa obra de John Stuart Mill uma ampla
defesa da liberdade individual. Tal, no fora
visto antes dele. uma obra fundamental
que deve servir de guia a todo pensador que
preze a liberdade. Ela escrita de tal forma
que acessvel a qualquer um, pois no h
nela nenhuma artimanha lingustica, e,
menos ainda, artifcios que forcem a
aceitao de seus argumentos. Da
Liberdade uma obra voltada tanto para os
filsofos, como tambm para os no
filsofos. a obra de todo aquele que
defende a liberdade do indivduo em
sociedade.
77
Captulo X
Fichamentos
O fichamento um instrumento metodolgico que
possibilita guardar um grande nmero de informaes
sobre um livro, em um pequeno espao. O mesmo til,
pois facilita ao pesquisador o acesso rpido e seguro ao
contedo estudado anteriormente.
10.1. Composio da ficha
composta por alguns elementos bsicos: termo
genrico: refere-se ao assunto em geral; termo
especfico: refere-se ao assunto particular;
numerao: toda ficha deve ter um nmero, no canto
superior direito.
10.2. Tipos de fichas
Existem vrios tipos de fichamentos: obra
completa; parte de uma da obra; citaes; esboo.
10.2.1. Fichamento de uma obra inteira
Esse tipo de ficha muito til, uma vez que, em
poucas linhas, possvel conhecer, de maneira geral, o
contedo de uma obra, que poder ser usada, no
desenvolver da pesquisa.
Exemplo:
78
(termo genrico) (termo especfico) n
o
Filosofia antiga Histria 01
SANTOS, Mrio Jos dos. Os pr-socrticos. Juiz de Fora: UFJF,
2001.
A obra um estudo sobre a filosofia anterior a Scrates. O autor
procura estudar os principais filsofos pr-socrticos, situando-os
lgica e cronologicamente. Mas no s, ele pretende mostrar como
as ideias desses primeiros filsofos aparecero futuramente, em
outros autores, principalmente na elaborao dada por Scrates.
O autor tem em mente, devido sua longa experincia na
graduao, que os alunos tm uma deficincia sobre as origens da
Filosofia e de sua importncia para o filosofar.
A preocupao filosfica, nesses primrdios, a natureza e suas
complexidades. Os filsofos pr-socrticos tentam explic-las sem
recorrer aos deuses e mitos. Alm disso, eles procuram reduzir a
multiplicidade da natureza em um nico aspecto, o qual deveria ser
admitido pela Razo.
(Biblioteca particular, 2004)
79
10.2.2. Fichamento de parte de uma obra
um tipo de fichamento que enfocar apenas
uma parte da obra, que seja relevante para o
desenvolvimento da pesquisa. No se preocupar com a
obra inteira, mas apenas com uma parte ou captulo.
Exemplo:
(termo genrico) (termo especfico) n
o
Razo vital Vida e preocupao 2
CARVALHO, Jos Maurcio de. Vida e preocupao. In: Introduo
filosofia de Ortega y Gasset. Londrina: Cefil, 2002, p. 68.
Os elementos da vida so recebidos pelo indivduo. Esses
elementos fazem parte de sua vida. A vida oferece a ele inmeras
possibilidades, por esse motivo, o indivduo pode ser interpretado
como um projeto.
A vida d ao indivduo infinitas opes de agir. Interpretar a vida
dessa maneira apresent-la como uma coisa que ocorre aqui e
agora.
Entretanto, o indivduo tem a capacidade de pensar o futuro. Essa
capacidade de pensar o futuro, em meio s circunstncias do aqui e
do agora, pode ser chamada de liberdade: uma liberdade que ,
antes de mais nada, histrica.
(Biblioteca particular, 2004)
80
10.2.3. Ficha tipo citao:
Nesse fichamento, o pesquisador faz uma citao
sobre uma determinada passagem que ele admita ser
relevante, para o desenvolver de sua pesquisa no futuro.
Exemplo:
(termo genrico) (termo especfico) n
o
Economia de Senhora dos
Remdios
O Motim das Taquaras
Acesas
3
ASSIS, Joo Paulo Ferreira de. O Motim das Taquaras Acesas. In:
Histria do municpio de Senhora de Remdios. Barbacena:
[s.n.], 2003, p. 88.
Vieira no economizou adjetivos injuriosos aos remedienses:
facinoroso, mal inclinados, infratores, ingratos, sugerindo ainda
que fossem depravados, criminosos, assassinos e ofensores. Toda a
adjetivao sugere que Vieira redigiu sua catilinria no calor da
raiva, o que j torna suspeita a sua verso dos acontecimentos.
Sendo assim, Vieira poderia ter omitido informaes que dariam
razo aos amotinados.
(Biblioteca particular, 2003)
81
10.2.4. Ficha tipo esboo
Nesse fichamento, faz-se um apontamento das
principais partes de uma obra, que serviro de subsdios
a uma futura argumentao sobre o tema tratado.
Exemplo:
(termo genrico) (termo especfico) n
o
A democracia segundo
Tocqueville
Tocqueville e os liberais
doutrinrios
3
Nmero
das
pginas
78
79
81
81
VLEZ RODRGUEZ, Ricardo. A democracia liberal
segundo Alexis de Tocqueville. So Paulo:
Mandarim, 1998.
Alexis de Tocqueville no concordava com
Franois Guizot, quanto utilizao do voto censitrio,
como meio de se superar o perodo revolucionrio.
Franois Guizot influenciou Alexis de Tocqueville
em relao ao respeito que os jovens devem ter pelo
passado, a fim de que se possa tornar a nao una.
Para Alexis de Tocqueville, a liberdade no
deveria ser garantida apenas para a burguesia, como
queriam os doutrinrios, mas para todos os franceses.
A democracia, para o autor, um regime poltico
que se consolida no antagonismo dos interesses de
classes.
82
Verso da ficha
82
A crtica de Alexis de Tocqueville aos
doutrinrios fez com que esse grupo reagisse contra
ele. Franois Guizot destruiu a moralidade ao
proclamar a autonomia das vontades em detrimento
dos direitos de Verdade, tal como ela se apresenta aos
espritos esclarecidos.
(Biblioteca particular, 2004)
83
Captulo XI
Como apresentar
citaes - NBR 10520
A citao
53
uma passagem de outro texto, ou de
outro autor, que ajuda a compreender o assunto
estudado.
Neste livro, somente se far a apresentao das
citaes de notas de rodap, pois essas ficam fora do
texto e no interferem na leitura do trabalho. Sendo
assim, para se saber como se faz a citao, dentro do
texto, no fim de captulo ou no fim livro, ser necessrio,
aos interessados, recorrerem NBR 10520: 2002.
Nas notas de rodap, importante: usar os
nmeros arbicos; numerar, de modo contnuo, cada
captulo; apresentar a referncia completa, quando ela
aparecer pela primeira vez.
11.1. Termos latinos
Para auxiliar a apresentao das citaes,
utilizam-se alguns termos latinos: idem; ibidem; opus
citatum; apud.
11.1.1. Idem
Significa mesmo autor e se grafa assim: Id..
utilizado, quando a citao seguinte for uma referncia
ao autor citado imediatamente antes, cuja obra
diferente da anterior citada.
53
ABNTNBR 10520: Citaes de Documentos. Rio de Janeiro:
2002.
84
Exemplo:
1. VLEZ RODRGUES, Ricardo. Liberalismo y
conservantismo em Amrica Latina. Bogot: Tecer
Mundo, 1978, p. 55.
2. Id. Tpicos especiais de filosofia contempornea.
Londrina: UEL, 2001, p. 79.
11.1.2. Ibidem
Significa mesma obra e se grafa assim: Ibid..
utilizado, quando a citao seguinte for uma referncia
mesma obra citada imediatamente antes, mas a pgina
for diferente da que foi citada anteriormente. Por outras
palavras, refere-se a uma mesma obra de um mesmo
autor, quando se muda apenas a pgina citada.
Exemplo:
1. CARVALHO, Jos Maurcio. Histria da Filosofia e
tradies culturais: um dilogo com Joaquim de
Carvalho. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001, p. 139.
2. Ibid., p. 165.
11.1.3. Opus citatum
Significa obra citada e se grafa assim: op. cit..
utilizado quando a obra do autor j tiver sido citada, mas
a nota antecedente se referir a outro autor.
Exemplo:
85
1. VLEZ RODRGUES, Ricardo. Liberalismo y
conservantismo em Amrica Latina. Bogot: Tecer
Mundo, 1978, p. 55.
2. SANTOS, Mrio Jos dos. Pr-socrticos. Juiz de
Fora: ed. UFJF, 2001, p. 41.
3. VLEZ RODRGUES, Ricardo. op. cit., p. 82.
11.1.4. Apud
Significa citado por e se grafa assim: apud.
utilizado, quando a citao feita foi colhida de outro
autor, e no do autor original.
Exemplo:
1. CONSTANT DE REBECQUE, Benjamin apud VLEZ
RODRIGUES, Ricardo. tica empresarial: conceitos
fundamentais. Londrina: Ed. Humanidades, 2003, p. 56.
11.2. Tipos de citaes
As citaes podem se apresentar de duas formas:
curtas; longas.
11.2.1. Citaes curtas
So chamadas de citaes curtas aquelas que
tem at trs linhas. As mesmas devem se apresentar
com as seguintes caractersticas: colocadas dentro do
texto; usadas com aspas; utilizadas com mesmo
espaamento do texto; inseridas com a mesma fonte do
texto; explicadas, aps inseridas.
Exemplo:
86
Encontrar-se- a lgica da censura, onde a
proibio ao sexo toma uma forma tripla: afirmar que
no permitido, impedir que se diga, negar que
exista.
54
A lgica da censura , pois, a diversidade
levada ao seu grau maior, uma vez que nega a
existncia ao sexo; em conseqncia, ele no pode se
manifestar (como algo inexistente pode manifestar-se?),
assim a seu respeito deve-se calar.
11.2.2. Citaes longas
So citaes com mais de trs linhas que devem
ser: colocadas fora do texto; grafadas sem aspas;
usadas com espao simples entre as linhas; utilizadas
com uma fonte menor do que a do texto, em dois
pontos; explicadas, aps a insero.
Exemplo:
Para ele, no incio dos tempos, havia homens com
razes no lugar dos ps e ramos no lugar das mos.
Com essa afirmao, tenta mostrar a origem natural dos
homens, por meio da evoluo e no como uma criao
divina. No se os v, hoje em dia, porque os mais aptos
perderam as razes e os ramos e assim sobreviveram,
enquanto os outros pereceram:
Ademais, diz ele que os seres humanos originalmente
nasceram de animais de uma espcie diferente, tendo
em vista que os outros animais desde cedo
conseguem cuidar de si mesmos, ao passo que os
seres humanos so os nicos que requerem um longo
54
Foucault, M.. Histria da Sexualidade. Rio de Janeiro: Graal, 1976,
p.82.
87
perodo de cuidados; por essa razo, tivesse sido esta
sua forma original, no teriam sobrevivido. ([Plutarco],
Miscelneas, fragmento 179.2, em Eusbio,
Preparao para o Evangelho I, vii 16).
55
Esta a primeira ideia sobre a evoluo do
homem. No pensamento de Anaximandro, o homem no
fora criado pelos deuses, mas sua origem foi fruto de
uma competio em que os melhores, adaptados ao
meio ambiente, sobreviveriam. Essa ideia voltar ao
pensamento ocidental, no sculo XIX, com Charles
Darwin.
Observao:
muito importante saber que as citaes devem
ser utilizadas com parcimnia e de forma lgica.
preciso que se evitem citaes descontextualizadas. O
momento de se fazer uma citao crucial. Deve-se
citar o pensamento completo do autor e no apenas um
resumo de suas ideias.
Alm disso no podemos esquecer que o plgio
no s moralmente condenvel, todavia crime
identificado no Cdigo Penal em seu artigo 184 com
penas que variam de multa deteno.
55
BARNES, Jonathan. Filsofos pr-socrticos. So Paulo: Martins
Fontes, 1977. p. 85.
88
Captulo XII
Referncias bibliogrficas
NBR 6023
Conforme a NBR 6023, a referncia um
conjunto padronizado de elementos descritivos,
retirados de um documento, que permite sua
identificao individual.
56
So elas que especificam os
elementos mais importantes, a serem indicados aos
leitores, sobre uma determinada obra.
12.1. Objetivos das referncias
De acordo com a NBR 6023, seus objetivos so:
fixar como os elementos devem aparecer, ao citar uma
obra; orientar a preparao das referncias; apresentar
a ordem como os elementos devem aparecer nas
referncias; preparar o material para incluso de
bibliografias.
12.2. Localizao das referncias
A NBR 6023 normatiza que as referncias devem
se localizar: no p de pgina; no fim do texto; no fim do
captulo; na lista de referncias.
56
ABNT NBR 6023: Elaborao de referncias bibliogrficas. Rio
de Janeiro: 2002., p. 02.
89
Observao:
A notao das referncias muito diversificada e
cheia de mincias, por esse motivo, os exemplos sero
apresentados em forma de grficos, pois, assim, o
estudante poder visualizar melhor os inmeros
detalhes que cercam sua apresentao. Alm disso,
caso ele siga cada um dos passos, em sua notao, a
possibilidade de erro ser quase nula.
Essas regras no existem para serem decoradas,
portanto quando o estudante tiver dvidas, dever
consultar o livro, por isso deve t-lo sempre mo.
90
12.3.Tipos de referncias
12.3.1 Um autor escreveu a obra
Elementos Exemplo
SOBRENOME, KANT,
Prenome. Emanuel.
Ttulo: (negrito ou,
itlico)
Crtica da Razo Pura: (quando no
houver subttulo, deve-se utilizar um
ponto e no dois pontos).
Subttulo. (quando no houver subttulo, este
item no aparecer).
Traduo de. Valrio Rohden e Udo Baldur
Moosburger.
Edio. 2
a
ed..
Local: So Paulo:
Editora, Abril Cultural,
Data. 1983.
N
o
de pginas. 415 p.
Volume, , (quando for volume nico, no
preciso indicar).
Srie, , (quando no pertencer a uma srie,
no se referencia).
Coleo. . (se no pertencer a nenhuma
coleo, este item no aparecer na
referncia).
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
91
12.3.2. Dois autores escreveram a obra
Elementos Exemplo
SOBRENOME, LAKATOS,
Prenome; Eva Maria;
SOBRENOME, MARCONI,
Prenome. Marina de Andrade.
Ttulo: Fundamentos de metodologia
cientfica. (quando no existir
subttulo, coloca-se ponto e no
dois pontos).
Subttulo. . (quando no houver subttulo,
este item ser ignorado).
Traduo de. . (quando no for traduo, este
item ser ignorado).
Edio. 3
a
ed..
Local: So Paulo:
Editora, Atlas,
Data. 1991.
N
o
de pginas. 230p.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
92
12.3.3. Trs autores escreveram a obra
Elementos Exemplo
SOBRENOME, DAU,
Prenome; Sandro;
SOBRENOME, CAMACHO,
Prenome; Carlos Mrio Paes;
SOBRENOME, GEOFFROY,
Prenome. Rodrigo Tostes.
Ttulo: Os Pensadores Sociais
Contemporneos:
Subttulo. mile Durkheim, Karl Marx e Max
Weber.
Traduo de. (quando no for traduo, este
item ser ignorado).
Edio. . (quando for a primeira edio,
no ser necessrio indicar).
Local: Barbacena:
Editora, UNIPAC,
Data. 2004.
N
o
de pginas. 197.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
93
12.3.4. Mais de trs autores escreveram a
obra
Neste caso, aps o primeiro nome que aparece na capa
do livro, deve-se acrescentar o termo latino et al. (et alli)
que significa e outros.
Elementos Exemplo
SOBRENOME, DUBOIS,
Prenome et al. Jean et al.
Ttulo: Dicionrio de Lingustica.
(quando no existir subttulo,
coloca-se ponto e no dois
pontos).
Subttulo. . (quando no houver subttulo,
este item ser ignorado).
Traduo de. Traduo de Izidoro Blikstein et
al.
Edio. 11
a
ed..
Local: So Paulo:
Editora, Cultrix,
Data. 2001.
N
o
de pginas. 650p.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
94
12.3.5. Vrios os autores escreveram a
obra
Quando se for referenciar uma obra escrita por
vrios autores, mas somente aparece em destaque o
nome de um s, preciso que, aps o nome do autor
em destaque, acrescente-se o termo Org. (organizador)
ou Coord. (coordenador).
Elementos Exemplo
SOBRENOME, MORGENSBESSER,
Prenome (org.). S. (org.).
Ttulo: Filosofia da Cincia:
Subttulo. . (quando no houver subttulo,
este item ser ignorado).
Edio. . (quando for a primeira edio,
no necessrio indicar).
Local: So Paulo:
Editora, Cultrix,
Data. 1975.
N
o
de pginas. . (quando no constar o nmero
de pginas, este item dever ser
desconsiderado).
Exercite
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
95
12.3.6. Notas de sala de aula
Elementos Exemplo
SOBRENOME, CAMACHO,
Prenome. Carlos Mrio.
Ttulo: Histria das ideias polticas:
Subttulo. Michel de Montaigne .
Data. 12 27 de out. de 2003.
Espcie. Notas de aulas.
Apresentao do
texto.
Fotocopiado.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
96
12.3.7. Monografias
Elementos Exemplo
SOBRENOME, PEREIRA,
Prenome. Arthur.
Ttulo em negrito. Grcia Clssica.
Edio. . (Quando for a primeira edio,
no necessrio indicar).
Local de publicao
do trabalho:
Barbacena:
Editora que publicou
o trabalho,
UNIPAC,
Data de publicao. 2003.
Nmero de pginas. 211 p.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
97
12.3.8. Monografia em meio eletrnico
Repete-se a mesma regra anterior e se acrescenta
o seguinte:
Disponvel em <http://www.nome do site> acesso
em: colocar a data de quando se consultou o site.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Quando o material, disponvel na Internet, for de
curta durao, no se aconselha fazer a referncia.
98
12.3.9. Peridicos
Elementos Exemplo
NOME DO PERIDI-
CO.
IPUB.
Local de publicao
do peridico:
Rio de Janeiro:
Nome da editora; Edies IPUB-CUCA;
Data de incio do
peridico -
1997- (Quando o peridico
ainda for publicado, utiliza-se o
ponto e no o trao).
Data de encerramento
do peridico (quando
for o caso).
. (Quando o peridico ainda for
publicado, este item ser
ignorado).
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
99
12.3.10. Artigos de peridicos
Elementos Exemplo
SOBRENOME, MOLLICA,
Prenome. Maria Ceclia.
Ttulo. Enfoques de pesquisa sobre a
relao lngua e sociedade.
Nome do peridico
em negrito.
Veredas revista de estudos
lingusticos.
Local de publicao
do peridico,
Juiz de Fora,
Nmero do volume, v. 5,
Nmero do
peridico,
n. 1,
Pgina inicial - final
do artigo,
7-19,
Data de publicao
do artigo.
2002.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
100
12.3.11. Artigos de jornais
Elementos Exemplo
SOBRENOME, GEOFFROY,
Prenome. Rodrigo Tostes.
Ttulo do artigo. A literatura: uma viagem a
Portugal.
Nome do jornal em
negrito.
O Democrata.
Local de publicao
do artigo,
Barbacena,
Nmero do volume, v. 22,
Seo do jornal (dia,
ms e ano);
19 dez. 2002;
Parte do jornal em
que se encontra o
artigo,
Variedades,
Nmero da pgina. p. 02.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
101
12.3.12. Artigos em meio eletrnico
Repete-se a mesma regra anterior e se
acrescenta o seguinte:
Disponvel em <http://www.nome do site>
acesso em: colocar a data de quando se consultou o
site.
Exercite:
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
Quando o material, disponvel na Internet, for de curta
durao, no se aconselha fazer a referncia.
102
12.3.13. Documentos de eventos
Elementos Exemplo
NOME DO EVEN-
TO,
SEMANA DE HISTRIA,
Nmero do evento, I,
Ano de realizao
do evento,
2003,
Local de realizao
do evento.
Juiz de Fora.
Ttulo em negrito. Os movimentos sociais na
Histria: livro de resumos.
Local de
publicao:
Juiz de Fora:
Editora, CES-JF,
Data de publicao. 2003.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
103
12.3.14. Evento como um todo em meio
eletrnico
Repete-se a mesma regra anterior e se acrescenta
o seguinte:
Disponvel em <http://www.nome do site> acesso
em: colocar a data de quando se consultou o site.
Exercite:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Quando o material, disponvel na Internet, for de curta
durao, no se aconselha fazer a referncia.
104
12.3.15. Trabalho apresentado em evento
Elementos Exemplo
SOBRENOME, CAMACHO,
Prenome. Carlos Mrio Paes.
Ttulo do artigo. Tocqueville: a Revoluo
Francesa e a tica Jacobina.
In: (palavra latina
que significa em)
In:
NOME DO EVENTO
EM LETRAS
MAISCULAS,
SEMANA DE HISTRIA,
Nmero do evento; I;
Data de realizao
do evento,
2003,
Local de realizao
do evento.
Juiz de Fora.
Ttulo do
documento.
Livro de resumos.
Local de publicao: Juiz de Fora:
Editora, CES-JF,
Data de publicao. 2003.
Pgina inicial - final
do trabalho.
125131.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
105
12.3.16. Trabalho apresentado em evento
em meio eletrnico
Repete-se a mesma regra anterior e se acrescenta
o seguinte:
Disponvel em < http://www.nome do site > acesso
em: colocar a data de quando se consultou o site.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Quando o material, disponvel na Internet, for de curta
durao, no se aconselha fazer a referncia.
106
12.3.17. Legislao
Elementos Exemplo
JURISDIO. BRASIL.
Ttulo e numerao, Consolidao das Leis do
Trabalho. Decreto-lei n 5.452,
Dia, ms e ano. de 01 de maio de 1943.
Nome da
publicao em
negrito,
Lex: coletnea de legislao:
edio federal,
Local de publicao, So Paulo,
Volume, v.7,
Pgina inicial
pgina final,
, (no referenciar, quando no
constar as pginas).
Ms e ano. 1943.
Parte da publicao
em que se encontra
a jurisdio.
Suplemento.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
107
12.3.18 Jurisprudncias
57
Elementos Exemplo
JURISDIO. BRASIL.
rgo Judicirio. Tribunal Regional Federal (5.
Regio) .
Ttulo e numerao. Apelao cvel n
0
42.441-PE
(94.05.01629-6).
Partes envolvidas (ape-
lantes e apelados).
Apelante: Edilemos Mamede dos
Santos e outros. Apelada: Escola
Tcnica Federal de Pernambuco.
Relator: Relator: Juiz Nereu Ramos. (aps
colocar o nome do relator coloca-se
.)
Local, Recife,
Dia, ms e ano. 04 de maro de 1997.
Nome do rgo que
publicou a jurispru-
dncia em negrito,
Lex: jurisprudncia do STJ e
Tribunais Regionais Federais,
Local de publicao, So Paulo,
Volume, v.10,
Nmero, n. 103,
Pgina inicial - pgina
final,
558-562,
Ms e ano. mar. 1998.
Exercite
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
57
Ib., p. 09.
108
12.3.19. Doutrinas
Elementos Exemplo
SOBRENOME, BARROS,
Nome do autor. Raimundo Gomes de.
Nome da doutrina. Ministrio Pblico: sua legitimao
frente ao Cdigo do Consumidor.
Nome do rgo
que publicou,
Revista Trimestral de
Jurisprudncia dos Estados,
Local de
publicao,
So Paulo,
Volume, v. 19,
Nmero, n 139,
Pgina inicial
pgina final,
p. 5372,
Ms e ano. ago. 1995.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
109
12.3.20. Documentos jurdicos em meio
eletrnico
Repete-se a mesma regra anterior e se acrescenta
o seguinte:
Disponvel em < http://www.nome do site > acesso
em: colocar a data de quando se consultou o site.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Quando o material, disponvel na Internet, for de curta
durao no se aconselha fazer a referncia.
110
12.3.21. Filmes, vdeos e DVDs
Elementos Exemplo
TTULO DA OBRA. AMADEUS.
Nome do diretor. Milos Forman.
Nome do produtor. Saul Zaentz.
Nomes dos intrpre-
tes.
F. Murray Abraham. Tom Hulce.
Peter Shaffer.
Roteiro. . (quando no vier especificado o
roteiro, este item no precisa ser
referenciado).
Local de
publicao:
Nova Iorque:
Editora, HBO vdeo,
Ano. 1984.
Nmero de unida-
des fsicas.
2997.
Tempo de durao. 158 minutos.
Sonoro ou no, Sonoro digital udio (Hi-fi stereo),
Colorido ou no. colorido.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
111
12.3.22. Documento cartogrfico
58
Elementos Exemplo
AUTOR, INSTITUTO GEOGRFICO E
CARTOGRFICO (So Paulo,
SP),
Ttulo em negrito. Regies de governo do Estado
de So Paulo.
Local de publicao, So Paulo,
Data de publicao. 1994.
Quantidade. 01 atlas.
Escala. 1:600.000.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
58
Ib., p. 11.
112
12.3.23. Documento cartogrfico em meio
eletrnico
Repete-se a mesma regra anterior e se acrescenta
o seguinte:
Disponvel em < http://www.nome do site > acesso
em: colocar a data de quando se consultou o site.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Quando o material, disponvel na Internet, for de curta
durao no se aconselha fazer a referncia.
113
12.3.24. Documento sonoro
Elementos Exemplo
Compositor ou intrprete. Wolfgang Amadeus Mozart.
Ttulo em negrito. Requiem.
Local de publicao: Berlim:
Gravadora, VEB Deutsche Schallplatten,
Data. 1985.
Especificao do supor-
te.
1 CD.
Exercite
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
114
Captulo XIII
Projeto de pesquisa - NBR 15287
Um projeto de pesquisa
59
o primeiro passo para
se iniciar a pesquisa cientfica, por isso sua elaborao
deve ser rigorosa e obedecer aos processos
metodolgicos bsicos. Ele tem apenas funes de
auxlio na elaborao da pesquisa.
somente a apresentao de um plano, para se
investigar um objeto orientando na consecuo dos
meios, que possam auxiliar na resoluo do problema
proposto.
Essas informaes se referem s aes concretas
a serem executadas com o intuito de solucionar o
problema pesquisado. Sua ateno volta-se, para a
maneira como se pretende resolver o problema.
13.1. Objetivos do projeto de pesquisa
So objetivos do projeto de pesquisa: definir o
caminho que ser percorrido, no estudo do problema
proposto; planejar a estrutura da pesquisa a ser
seguida; orientar o professor sobre o que o aluno
pretende estudar; subsidiar o candidato a uma bolsa de
estudos.
Toda pesquisa, para ser desenvolvida, necessita
de um projeto, que definir os caminhos a serem
seguidos pelo pesquisador. O projeto direcionado a
uma determinada instituio que, aps a anlise,
definir se esse ser aceito ou no.
59
ABNT NBR 15287. Projeto de Pesquisa. Rio de Janeiro: 2005.
115
O mesmo a apresentao do planejamento da
pesquisa. Seu objetivo comunicar, ao meio
acadmico, como ser estudado o problema em pauta,
a fim de que se possa encontrar a orientao
necessria, para seu desenvolvimento bem como um
financiamento, ou mesmo um acompanhamento pelos
pesquisadores interessados no tema.
13.2. Contedo do projeto de pesquisa
O projeto de pesquisa traz informaes sobre: o
tema que se deseja estudar; as hipteses que orientaro
a pesquisa; a metodologia utilizada; a origem das
informaes recolhidas; as fontes de consulta; as
pesquisas de campo que devero ser usadas; o
cronograma; o oramento; a bibliografia.
No deve ser amplo, uma vez que o
aprofundamento ser feito no desenvolvimento da
prpria pesquisa. preciso evitar entrar em detalhes
sobre a pesquisa, visto que o projeto apenas o
primeiro passo, para se iniciar o estudo.
necessrio se mostrar seguro, quanto escolha
do que pesquisar, pois um posicionamento convicto
demonstra condies de desenvolver o que se prope
estudar.
Aristteles
60
afirma que, primeiro, preciso o
pesquisador conhecer vrios argumentos sobre o tema
estudado. Depois, necessrio saber o significado dos
conceitos utilizados bem como ser capaz de identificar
os aspectos distintos, em cada elemento, e, por fim, o
estudioso tem que ter capacidade de encontrar as
60
ARISTTELES. Tpicos. So Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 20.
116
diversas semelhanas existentes entre os fenmenos
pesquisados.
Essas consideraes so importantes ao se
apresentar um projeto a uma instituio, mas no
podemos esquecer que apenas um rascunho, ou
melhor, um mero documento, indicando o caminho a
seguir, e no, necessariamente, tem que ser conduzido
da maneira como foi apresentado. Assim sendo, as
alteraes de percurso acontecerm e podem ser
substitudos alguns itens: o problema pode ser mudado;
uma ideia secundria tem condies de se tornar
principal; um questionamento, que antes no fora
percebido, pode se tornar importante; um determinado
problema, antes no visualizado, pode ser aprofundado.
O projeto proporciona o controle das mudanas
ocorridas durante o processo de execuo da pesquisa.
Isso demonstra que o pesquisador conhece a situao
em que se encontra o seu estudo. Essa percepo o
ajuda a no se fazer diversas verses sobre o tema, o
que torna as ideias confusas, levando desiluso com o
trabalho.
No altere, constantemente, o projeto de
pesquisa, pois, caso isso acontea, no se conseguir
desenvolver o trabalho.
117
13.3. Elementos do projeto de pesquisa
No existe um modelo definido de projeto de
pesquisa, contudo h elementos imprescindveis:
a) capa;
b) folha de rosto;
c) sumrio;
d) apresentao do projeto;
e) justificativa do projeto;
f) rea de concentrao;
g) natureza do projeto;
h) delimitao do assunto;
i) reviso da literatura;
j) problema (pergunta);
k) hiptese(s);
l) procedimento;
m) anlise dos dados;
n) objetivos;
o) contedo programtico;
q) metodologia;
r) cronograma de execuo;
s) bibliografia;
t) anuncia do orientador.
118
13.3.1. Capa do projeto
A capa do projeto de pesquisa apresenta os
seguintes elementos:
a) nome da instituio;
b) nome do proponente;
c) ttulo da pesquisa;
d) subttulo;
e) departamento a que se destina;
f) nome da instituio;
g) local e data.
Exemplo:
AEV Associao Educacional de Vitria
FISP Faculdades Integradas So Pedro
UCCS Unidade de Conhecimento de Comunicao Social
Curso de Publicidade e Propaganda
Pedro Alcntara
Filosofia Grega
Vitria, janeiro de 2011
119
13.3.2. Folha de rosto do projeto
A folha de rosto do projeto de pesquisa apresenta
os seguintes elementos:
a) nome do proponente;
b) ttulo da pesquisa;
c) subttulo;
d) departamento a que se destina;
e) nome da instituio;
f) local e data.
Exemplo:
AEV Associao Educacional de Vitria
FISP Faculdades Integradas So Pedro
UCCS Unidade de Conhecimento de Comunicao Social
Curso de Publicidade e Propaganda
Pedro Alcntara
Filosofia Grega
Trabalho apresentado AEV Associao
Educacional de Vitria, com o intuito de
obteno de crditos parciais na disciplina
Filosofia. Orientador Prof. Dr. Pedro Paulo
Couto.
Vitria, janeiro de 2011
120
13.3.3. Sumrio do projeto de pesquisa
a enumerao das partes do projeto de
pesquisa
61
.
61
No confundir com o sumrio da pesquisa. Ver p. 142.
Sumrio...............................................................................04
Apresentao do projeto.........................................05
Justificativa do
projeto.........................................122....06
rea de
concentrao.........................................123....08
Natureza do
projeto............................................123....08
Delimitao do assunto
(tema)................................123..09
Reviso da
literatura............................................125....10
Problema..........................................................................112
73
Hiptese(s).......................................................132.....
13
Procedimento.....................................................136....
14
Anlise dos
dados................................................136...15
Objetivos...........................................................136....
16
Metodologia.......................................................................171
39
Cronograma de
execuo.......................................140..18
Bibliografia
bsica................................................141...19
Anuncia do
orientador...........................................142.20
121
13.3.4. Apresentao do projeto
Neste tpico o tema a ser estudado apresentado
de modo simples e sinttico. preciso que o projeto
seja claro de tal maneira, que com uma breve leitura o
orientador possa compreender o que se pretende. A fim
de se conseguir esta simplicidade exigida faz-se
premente seguir as sugestes a seguir.
O primeiro pargrafo deve conter o tema da
pesquisa, bem como sua atual situao no meio
acadmico.
No segundo pargrafo apresenta-se o problema
que se props a estudar.
No terceiro pargrafo identifica-se os objetivos,
geral e especfico, que movem a pesquisa.
No quarto pargrafo aponta-se importncia da
pesquisa, para o meio acadmico e a sociedade em
geral.
No quinto pargrafo preciso descrever, qual a
metodologia empregada na tentativa de soluo do
problema apresentado.
No sexto pargrafo expe o posicionamento de
outros autores a respeito do tema, a fim de informar seu
grau de relevncia na academia.
No stimo pargrafo necessrio mostrar, sempre
de modo sucinto, a reviso da literatura referente ao
tema. Esta etapa descreve os autores em que se
fundamentou, para desenvolver a pesquisa.
122
No oitavo pargrafo enumera-se os conceitos
que nortearo a pesquisa, pois preciso deixar claro o
posicionamento do pesquisador frente ao tema.
No nono pargrafo faz-se uma anlise do sumrio:
no captulo I estudaremos X; no captulo II; analisaremos
Y e no captulo III estabeleceremos a relao entre Z e
K.
13.3.5. Justificativa do projeto
A credibilidade cientfica, inerente ao projeto,
passa, antes de mais nada, pela convico do
pesquisador, portanto a justificativa da escolha um
aspecto a ser bem trabalhado.
Na justificativa, o proponente ao estudo diz qual foi
o motivo que o levou quela escolha. Dessa maneira,
apresenta a importncia do trabalho, tanto na
perspectiva de como aquela pesquisa o ajudar a
explicar a sua especfica viso de mundo, bem como a
relevncia dos seus estudos para o mundo acadmico e
para a sociedade em que est inserido o trabalho.
o momento no qual apresenta-se o porqu da
pesquisa: aqui o pesquisador deve expor a relevncia
do trabalho que pretende desenvolver.
13.3.5.1. Importncia do tema
Um tema importante por dois aspectos:
atualidade; necessidade bsica de desenvolver aquele
determinado ramo da Cincia. Caso o tema no seja
importante devemos abandon-lo.
123
13.3.5.2. Momentos da justificativa
A justificativa do porqu de se pesquisar
imprescindvel no projeto. A mesma se divide em quatro
fases, nas quais o proponente precisa:
1. informar a importncia do trabalho para a
sociedade, mostrar o porqu da execuo da
pesquisa se faz necessrio;
2. defender seu trabalho, mostrando aos
outros por que ele significativo;
3. expor os motivos que o levaram a
pesquisar aquele tema;
4. relacionar o projeto com um dos seguintes
objetivos: iniciao cientfica; dissertao de
mestrado; tese de doutorado e outros.
13.3.6. rea de concentrao
Neste espao, indica-se em qual parte da Cincia
o trabalho est inserido (Poltica, tica, Cosmologia,
Pedagogia, Enfermagem, etc.).
13.3.7. Natureza do projeto
Neste tpico, indica-se qual motivo da realizao
do trabalho (Bolsa de Iniciao Cientfica, concluso de
curso, obteno de crditos parciais, etc.).
13.3.8. Delimitao do tema
O tema mais terico: o prprio assunto a ser
estudado. Para se pesquisar, e se chegar a um
resultado que possa aumentar o conhecimento, em
determinada rea, necessrio seguir alguns critrios
na escolha do assunto.
124
Determinar o assunto escolher com o que se
ir trabalhar: um passo imprescindvel, para iniciar
qualquer pesquisa. Nessa escolha, preciso levar em
conta se h bibliografia disponvel sobre o assunto.
Caso no haja, aconselhvel procurar outro tema para
ser estudado.
Para facilitar a pesquisa, necessrio limitar seu
campo de ao, uma vez que nenhum pesquisador pode
falar sobre um assunto muito amplo. A delimitao do
tema deve ser feita, a fim de facilitar o estudo do
mesmo, uma vez que mais fcil pesquisar um tema
restrito do que amplo.
Com a delimitao do tema, o pesquisador tem a
vantagem de ampliar sua compreenso sobre o mesmo:
Um homem est mais apto a saber o que afirma
quando tem uma noo ntida do nmero de significados
que a coisa pode comportar.
62
Nesta etapa do projeto indica-se que se pretende
pesquisar.
13.3.8.1. Escolha do tema
Assim, antes de se iniciar qualquer pesquisa,
preciso, em primeiro lugar, escolher um assunto. Essa
escolha no feita de maneira aleatria, mas deve
seguir alguns critrios: ser delimitada; ser especfica; ser
executvel; ter bibliografia acessvel; ter importncia
para a sociedade; adequar-se capacidade intelectual
do pesquisador; enquadrar-se na disponibilidade de
tempo do pesquisador.
62
ARISTTELES. Op. Cit., p. 26.
125
13.3.8.2. Caractersticas do tema
O tema diz respeito ao que ser explorado,
pesquisado. Um tema de pesquisa tem que ter as
seguintes caractersticas: clareza; objetividade.
13.3.9. Reviso da literatura
Com essa reviso da literatura, ou levantamento
bibliogrfico, indica-se, quais foram os autores com que
se dialogou, a fim de estruturar a pesquisa.
A reviso feita por intermdio da pesquisa
bibliogrfica, aps se ter definido qual tema ser
estudado.
A mesma feita a partir de trabalhos existentes,
cuja presena na formao intelectual do pesquisador
a conditio sine qua non para o desenvolvimento da
pesquisa. Essa reviso fornece as informaes bsicas
sobre o tema a ser estudado, alm de orientr a no
repetir pesquisas alheias, bem como oferecer
conhecimentos necessrios, para se evitar os erros de
outros pesquisadores.
A pesquisa bibliogrfica tem como universo as
publicaes sobre um determinado tema e essencial a
qualquer um que queira ser um pesquisador, com uma
slida base terica. O primeiro contato do estudioso, ao
se aprofundar no mundo cientfico, feito por meio
dessa pesquisa.
Uma pesquisa bibliogrfica, aprofundada e
diligente, possibilitar ao pesquisador as condies
mnimas necessrias para ultrapassar os limites da
mera repetio, levando-o a concluses inovadoras e
enriquecedoras.
126
13.3.9.1. Necessidade da reviso literria
A reviso literria necessria por trs motivos:
ler sobre o tema e o que foi exposto sobre esse evita
repetir ideias alheias como se fossem inditas; permitir
uma perspectiva ainda no abordada sobre o tema;
possibilitar a localizao do tema dentro de determinado
ramo especfico da cincia, pois, com tal reviso,
sabemos o que escreveram os diversos autores e qual
o quadro terico referencial que os une ou os separa.
Atravs da reviso de literatura, forma-se o quadro
terico (base terica ou quadro terico-referencial). Esse
o conhecimento que o proponente tem sobre um
determinado tema, que o situa em uma escola de
pensamento especfico. o resultado das leituras feitas
pelo proponente que refletem a sua viso de mundo,
frente a um tema em particular.
O quadro terico-referencial o conjunto de ideias
(conceitos) que formam o pensamento do proponente e,
portanto, dirigem seu olhar no mundo. O mesmo a
condio que facilita a viso do proponente, sobre um
determinado aspecto na realidade.
a base terica que orienta a conduta do
pesquisador, por isso de importncia mpar. Contudo,
no projeto de pesquisa, a mesma apresentada em
linhas gerais.
127
13.3.10. Problema (pergunta)
63
Definido o tema que se ir estudar, preciso que
esse seja problematizado: problematizar fazer uma
pergunta a respeito do assunto. Somente pode
perguntar alguma coisa aquele que tenha uma
dificuldade, uma dvida, uma contradio, etc., em
relao ao que foi analisado, estudado.
O problema se refere geralmente a: o que
pesquisar? como pesquisar? O mais importante na
pesquisa o problema. A cincia ou a filosofia no se
preocupam com a resposta e sim com as perguntas,
pois essas so um caminhar em busca da superao
dos mais obscuros dogmatismos.
A origem da cincia est na elaborao de
problemas e, por extenso, poderia se dizer que no
existe uma cincia caso no exista um problema: o
carter e a qualidade do problema e tambm, claro, a
audcia e a originalidade da soluo sugerida, que
determinam o valor ou a ausncia do valor de uma
empresa cientfica.
64
Todo aquele que queira fazer uma pesquisa
cientfica deve partir de um problema. O conhecimento
existe em relao direta com o problema, porquanto
63
Problema vem do grego to|ociv (lanar frente; abertura
para). Somente pode fazer uma pesquisa aquele que est aberto a
novos conhecimentos, por isso defendemos o uso do conceito
problema e no o de pergunta (do latim prae-cunutare, que significa
indeciso) ou o de dvida (do latim dubitare, que significa incerteza)
como o motivo de uma pesquisa. Ao se colocar o problema o
cientista est ciente de que as respostas existentes, para
determinadas situaes, no so as nicas e, portanto, lcito
procurar outras posies.
64
POPPER, Karl. Op. cit., p. 15.
128
sem problemas no possvel a existncia do
conhecimento.
A importncia da pergunta se encontra no fato de
que ao questionar o indivduo inicia o processo de
reflexo conceitual.
F. N. Kerlinger
65
afirma que o problema pode ser
geral ou especfico: no primeiro caso revela-se como
necessidade de investigao de determinado tema. O
problema uma questo que deve ser pesquisada; com
relao ao sentido especfico do problema o momento
em que se questiona o relacionamento da variveis.
Assim, percbe-se que no mbito particular da cincia, o
problema uma pergunta sobre a relao entre as
diversas variveis.
Sem problema impossvel pesquisar: para o
homem comum, o problema uma situao ruim, que
necessita ser evitada, mas, para o cientista, o motor
do estudo. O problema somente uma pergunta, uma
dvida, uma dificuldade que o cientista procura
solucionar. A busca da soluo do problema a
pesquisa, assim o problema aquilo que o pesquisador
procura resolver.
A diferena entre um problema e uma proposio
est no seu enunciado, pois, enquanto o problema
colocado de forma interrogativa, a proposio feita de
modo explicativo.
Ele, portanto, uma pergunta a que se deseja
responder: o mesmo feito sempre como uma
interrogao. O problema somente ser bem formulado
65
KERLINGER, F. N.. Metodologia de Pesquisa em Cincias Sociais.
So Paulo: Edusp, 1980, p. 35.
129
se a reviso literria, sobre o tema, for profunda, por
conseguinte somente problematiza quem tenha
conhecimento sobre o assunto.
O objeto a ser estudado depende diretamente do
problema proposto. Ele se preocupa com a parte da
realidade a ser estudada. Neste tpico premente que
ressaltemos a parte da realidade que pesquisaremos.
A escolha do problema a parte mais difcil de
toda a pesquisa, pois somente possvel pesquisar um
assunto se, e somente se, ele for apresentado.
13.3.10.1. Origem do problema
Sua origem se encontra na dificuldade, ou
insuficincia de conhecimentos, do proponente frente a
uma determinada situao. O problema est dentro dos
limites tericos do pesquisador, ou melhor, ele se refere
aos conhecimentos possudos sobre o tema.
13.3.10.2. Apresentao do problema
Como j foi dito, e no demais repetir, o
problema uma pergunta, uma dvida, uma dificuldade
sobre a qual o pesquisador passa a refletir, buscando
uma possibilidade de soluo, geralmente
apresentada de forma: interrogativa (pois ainda no se
sabe a resposta); precisa (no se confunde com outros
problemas); clara (no paira dvidas sobre o que se
quer pesquisar); objetiva (no h rodeios em sua
apresentao).
130
Alm desses aspectos necessrio ainda
afirmar, segundo Marconi e Lakatos
66
, que o problema
deve ser vivel, importante, novo, executvel e
oportuno. Sem essas condies, a pesquisa no
apresenta interesse ao mundo em que se situa.
13.3.10.3. Cuidados ao se escolher um problema
O problema uma interrogao (sobre a natureza,
o homem e suas relaes entre si e aquela) sendo a
resposta dada, ou no, pela pesquisa. Em outros
termos, o problema : uma pergunta que desejamos
responder; apresentado sempre como uma
interrogao; claro e distinto; bem formulado, se a
reviso literria sobre o tema for boa, como tambm se
a anlise crtica do autor refletir um posicionamento
particular; correspondente ao tema.
Pode-se fazer as mesmas perguntas que os
autores clssicos fizeram, pois no h nenhum demrito
em seguir os passos dos grandes mestres.
13.3.10.4. Alguns modelos de perguntas
A fim de orientar aqueles que esto comeando a
fazer uma pesquisa cientfica, seguem abaixo quinze
tipos de problematizaes que podem ser feitas, em
relao a um tema qualquer. As sugestes servem
somente como orientao para o pesquisador, e no
pretendem ser um esquema fixo:
66
MARCONI, M. de A. e LAKATOS, E. M.. Tcnicas de Pesquisa. 3
a
ed.. So Paulo: Atlas, 1996, p. 25.
131
a) definio ou conceitual: como se
define? qual a natureza da coisa? o que ?
b) distino: como se difere x de y? a
diferena entre x e y de natureza ou no?
c) lugar: a qual parte do conhecimento
pertence este problema?
d) razo: qual o motivo de ser?
e) possibilidade ou fundamento: quais
condies possibilitam esta coisa? qual a
razo? qual o fundamento?
f) origem: qual a origem? quem pensou esta
coisa?
g) gnese: como se produziu? como foi
pensado?
h) finalidade: qual o fim? qual o objetivo?
i) efeitos: qual a consequncia? de que pode
ser a causa?
j) gerais: que tipo?
k) especficas: qual a espcie?
l) causais: por que? qual a causa?
m) qualitativas: melhor? pior?
n) quantitativas: quantos so? maior?
menor?
o) comparativas: qual a relao entre X e Y?
132
13.3.11. Hiptese(s)
A elaborao da hiptese importante, uma vez
que ela define o caminho a ser percorrido no estudo.
Aps ter levantado o problema, o pesquisador deve
elaborar uma hiptese, a qual dever ser estudada:
Colocando o problema, em toda sua amplitude, o autor
deve enunciar suas hipteses: a tese propriamente dita,
ou hiptese geral, a ideia central que o trabalho se
prope a demonstrar.
67
interessante comerarmos por definir termo, pois
no mbito da cincia sempre que um termo for
apresentado pela primeira vez deve-se defini-lo:
Hiptese vem do grego, , e quer dizer,
suposio. De fato, toda hiptese no passa de
suposio explicativa a respeito de um fenmeno ou
grupo de fenmenos. Em outras palavras, hiptese a
suposio provisria de uma lei espera da
confirmao.
68
Ela uma suposio que se faz antes
de se iniciar o desenvolvimento da pesquisa. feita sem
que se conhea exatamente o que se est pesquisando,
parte de um conhecimento sem comprovaes terica
e/ou emprica.
A hiptese a ideia que ser defendida durante a
pesquisa. ela que vai orientar os caminhos a serem
seguidos na observao dos fatos. importante, porque
guia todas as pesquisas em busca de um conhecimento
a respeito de um fenmeno.
uma resposta prvia que se oferece ao
problema antes de se pesquis-lo. Aps a pesquisa, a
67
SEVERINO, Antnio Joaquim. Op. cit., p. 161.
68
NERICI, Imideo G.. Op. cit., p. 124.
133
hiptese pode ou no ser comprovada. um raciocnio
provvel e se divide em: dedutiva; indutiva; especial;
geral. A hiptese dedutiva parte de princpios, portanto
sem a participao de experincias. A indutiva parte de
experincias tendo como base um fato anterior, do qual
ainda no se tem uma explicao aceitvel. Enquanto
que a especial prima pela explicao de um fato ou um
grupo restrito de fatos. Por ltimo encontra-se a geral
(tambm denominada de sistema ou teoria), a qual tem
como objetivo explicar o maior nmero possvel de
experincias.
Mais acima, foi dito que a hiptese a primeira
resposta que apresentada a um determinado
problema. Contudo, uma resposta que no deve ser
aceita de imediato, e sim que precisa ser
experimentada, para isso foroso coletar os dados
com o intuitto de se comprov-la ou no.
Como o problema, a hiptese se coloca dentro do
quadro terico do pesquisador. A mesma tem uma
relao muito ntima com o problema. uma conjectura
sobre a relao entre variveis, enquanto o problema
uma proposio, feita de modo interrogativo, a hiptese
feita de forma afirmativa. mais especfica que o
problema, e ser testada na pesquisa, para se
comprovar ou no sua validade.
O seu valor est em evitar que o cientista, ao
pesquisar, exponha, em seus estudos, suas
preferncias, portanto as hipteses so responsveis
pela tentativa de se construir uma cincia objetiva.
Na maioria das vezes, as mesmas so deduzidas
da teoria. A hiptese ser to mais til, quanto mais
puder ser testada por outros cientistas.
134
A demarcao dos objetivos da pesquisa
auxiliar na formulao das hipteses de trabalho. Toda
a pesquisa feita para que se desenvolva o estudo das
hipteses. A sua estrutura lgica : se X for verdade,
logo dever ocorrer ou no Y.
A hiptese sempre feita afirmando, ou negando,
mas nunca na forma interrogativa. Essa forma est fora
do ambiente da experincia, pois no se pode se
esquecer de que apenas uma conjectura. exigncia
acadmica que a sua elaborao, de maneira lgica,
parta de um conhecimento no comprovado, e que seja
experimentada.
Para se elaborar uma hiptese preciso ser
rigoroso, por este motivo indica-se a seguir, por
didatismo, as seguintes sugestes: ser necessria
(explicar algo novo); ser possvel (no ir contra uma lei
estabelecida, pois cairia em contradio); ser verificvel
(visto que a cincia necessita de provas. Essa
verificao : direta; indireta).
Na verificao da hiptese de maneira direta
preciso que o fato seja repetido em diversas
experincias. A verificao da hiptese de maneira
indireta ocorre, quando estamos impossibilitado de
realizar a experincia, por isso utilizamos uma profunda
observao, alm da deduo.
A partir da hiptese devemos deduzir
consequncias que possam ser postas prova, por
meio da observao. Se essas consequncias forem
verificadas, a hiptese , provisoriamente, aceita como
verdadeira, ainda que usualmente, ela venha a requerer
135
modificaes posteriores, por causa da descoberta de
novos fatos.
69
Uma hiptese ser considerada verdadeira caso
um determinado nmero de fatos a confirmem.
consenso, que o pesquisador deva comear pelas
hipteses mais simples, s devendo abandon-las caso
no consiga comprov-la frente a novos fatos.
13.3.11.1. Tipos de hipteses
Existem dois tipos de hipteses: hiptese a
verificar (so respostas preliminares, que se preocupam
em relacionar duas variveis); hiptese de trabalho (so
os meios a serem seguidos no desenvolvimento da
pesquisa).
Observao:
No h nada de depreciativo em uma pesquisa
caso a hiptese no seja comprovada, afinal de contas,
a pesquisa o teste da hiptese. Se o estudioso, antes
de iniciar a pesquisa, tem certeza da resposta, no deve
pesquisar, pois somente deve pesquisar aquele que
ainda no sabe a resposta.
69
RUSSEL, B.. A Perspectiva Cientfica. So Paulo: Cia Ed. Nac.,
1969, p. 49.
136
13.3.12. Procedimento
exigido uma conduta bsica na elaborao de
uma pesquisa, segundo a qual se descreve
detalhadamente o processo de coleta e de registro de
dados. No procedimento o objeto estudado demarcado
e os recursos metodolgicos a serem utilizados so
detalhados.
13.3.13. Anlise dos dados
A anlise ocorre aps a classificao dos dados, a
confrontao dos resultados das tabelas e das provas
estatsticas, se utilizadas. Essa anlise tem por objetivo
a comprovao de verdades ou falsidades das
hipteses, propostas no estudo: A acumulao de fatos,
evidentemente, no um fim em si mesmo, e s tem
importncia como base para a interpretao. Mas
embora a busca de fatos seja um preldio necessrio
anlise correta de uma situao, algum tipo de anlise
deve mesmo preceder a coleta de dados.
70
13.3.14. Objetivos
A exposio dos objetivos
71
da pesquisa serve
para aclarar a ideia, a ser desenvolvida no desenrolar do
estudo. Com os objetivos bem definidos, o pesquisador
consegue expor, de maneira mais determinada o
problema que ser estudado.
O objetivo definido quando o pesquisador
pergunta por que se deve estudar aquele tema e no
70
BUTLER, D. E.. Op. cit. Rio de Janeiro: Laudes, 1958, pp. 32-3.
71
A palavra objetivo vem do latim objectum (por frente). Na
pesquisa o objetivo aquilo que se deseja conseguir, mais frente,
com o estudo desenvolvido.
137
outro. O objetivo a finalidade a que se destina o
trabalho. a tentativa de responder ao questionamento:
para que fazer a pesquisa?
Os objetivo se relacionam s aes concretas a
serem executadas com o intuito de solucionar o
problema proposto. Sua ateno volta-se para a
maneira como se pretende resolver o problema:
quando o pesquisador se ocupa com os resultados
auferidos da interveno na realidade questionada.
Veja alguns verbos que devemm ser usados ao
apresentar os objetivos no anexo 1, p. 178.
13.3.14.1. Tipos de objetivos
O objetivo dividido em duas espcies: geral
(relaciona-se com a viso mais ampla da pesquisa, e
mostra o fim a que se pretende chegar com o trabalho);
especficos (relacionam-se diretamanente a cada
captulo parte da pesquisa).
13.3.14.2. Importncia dos objetivos
A indicao dos objetivos visa a apresentar ao
orientador, qual o ponto que se pretende alcanar com a
pesquisa. So os objetivos que definem a natureza do
trabalho e respondem s perguntas: por que? para qu?
para quem?
A relao dos objetivos com a justificativa
grande, visto que aqueles apresentam, de maneira mais
detalhada, o que se deseja pesquisar.
138
13.3.15. Contedo Programtico da
pesquisa
72
So os captulos, itens ou subitens que compem
a pesquisa.
72
No se deve confundir o sumrio da pesquisa com o do projeto de
pesquisa. Ver p. 123.
Captulo I
Origens da filosofia grega .......................................01
Captulo II
Escola milsia
Tales...........................................................................10
Anaximandro...............................................................20
Anaxmenes................................................................30
Captulo III
Escola socrtica
Scrates......................................................................40
Plato..........................................................................70
Aristteles..................................................................150
139
13.3.16. Metodologia
No projeto de pesquisa, tambm no podem faltar
os instrumentos que sero utilizados para se estudar o
problema, ou seja, a metodologia. Sua apresentao o
momento em que o proponente define o tipo de
pesquisa a ser executado.
Ela informa como o trabalho ser realizado, em
outras palavras, o pesquisador deve esclarecer como e
com quais instrumentos trabalhar. Em resumo ela
uma referncia sobre quais os instrumentos, que sero
utilizados para se efetuar a pesquisa.
13.3.16.1. Trs momentos da metodologia
A metodologia deve ser apresentada em trs
estgios: explicar qual mtodo ser usado, para se
conseguir estudar o problema; esclarecer como ele ser
posto em prtica, quais sero as tcnicas (amostras,
coleta de dados, anlises de dados, etc.); especificar a
titulao do proponente, sua funo, suas atividades na
pesquisa e a durao da mesma.
Ao abordar a metodologia, espera-se que o
pesquisador trace a sequncia do trabalho, como ele se
subdivide (expor quais so suas partes) e quais as
tcnicas utilizadas, para efetiv-lo.
13.3.16.2. Tipos de tcnicas de pesquisa
As tcnicas so variadas: coleta de dados; anlise
de dados; entrevistas, etc.
Espera-se que o proponente deixe claro o
caminho terico a ser seguido, e por qual motivo foi
traada aquela linha terica.
140
13.3.17. Cronograma de execuo
O cronograma se divide em dois tipos: fsico;
financeiro.
13.3.17.1. Cronograma fsico
Serve para delimitar e administrar o tempo a ser
utilizado na pesquisa, pois ela no feita eternamente,
tem que ser encerrada. A administrao de seu tempo
sempre est submetida s condies colocadas pelo
pesquisador.
O cronograma relata o tempo necessrio para a
realizao da pesquisa. Esse relato geralmente
apresentado num grfico como no exemplo abaixo
73
:
73
SALOMON, D. V.. Op. cit., p. 224.
141
Sempre importante ressaltar, que o cronograma
serve como orientao e no como meta rgida. O
mesmo pode ser mais curto ou mais longo do que o
apresentado.
13.3.17.2. Cronograma financeiro
conhecido tambm como oramento. utilizado
quando o pesquisador no tiver condies materiais de
financiar seus estudos e necessitar de verbas de
terceiros. Nesta fase, o proponente apresenta o custo da
sua pesquisa ao rgo financiador.
Ao apresentar o cronograma financeiro, o
pesquisador dever relatar como o dinheiro ser usado
no desenvolver do trabalho. por intermdio do
oramento que os financiadores sabero sobre a
honestidade e as perspectivas da pesquisa.
13.3.18. Bibliografia bsica
Bibliografia o conjunto de livros, artigos, teses,
etc. que o pesquisador utilizou em seu estudo: liga-se
diretamente ao quadro terico de referncia.
Ela orientar o proponente na resoluo do
problema apresentado. A bibliografia a identidade do
autor, pois explicita como ele abordar a questo.
No projeto de pesquisa ela deve a menor possvel,
uma vez que a prpria pesquisa mostrar outras fontes
de importncias diversas.
142
13.3.19. Anuncia do orientador
a folha pautada que encerra o projeto de
pesquisa. nela que o orientador far suas
observaes, sobre o material que foi apresentado.
Exemplo:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Meno:________ Assin. prof.:__________
143
144
Captulo XIV
Elaborao de monografias
14.1. Definies de monografia
Em qualquer trabalho cientfico preciso definir os
conceitos empregados, partindo desse pressuposto,
deve-se, ento, enunciar o que monografia: uma
primeira definio a simples anlise de sua etimologia.
A palavra monografia constituda de dois radicais
gregos mono (um) e graphein (escrita). Da ser a
monografia um texto sobre um nico assunto, cujo
objetivo, como o de qualquer pesquisa, o
aprofundamento e o alargamento do horizonte da
cincia.
Alm dessa definio possvel tambm
encontrar dois outros significados: particular; geral. No
primeiro sentido uma tese, um trabalho que aborda
um nico tema, com determinados mtodos cientficos,
a fim de contribuir para o aumento do conhecimento, em
determinada rea do saber.
Entendida de maneira geral identifica-se com
qualquer trabalho cientfico, fruto de uma pesquisa, feita
de modo rigoroso. filha legtima da pesquisa contendo
uma reflexo particular a respeito do tema, para que no
seja uma simples repetio de ideias alheias.
14.2. Importncia da monografia
Uma monografia importante, pois possibilita ao
escritor sistematizar suas ideias. Elabor-la antes de
mais nada: identificar um determinado tema; escolher
145
uma bibliografia relevante; organizar, de maneira
lgica, a bibliografia; escrever de tal forma que o leitor
possa entender.
14.3. Caractersticas da monografia
Como todo e qualquer trabalho cientfico, ela deve
tratar o tema com grande rigor metodolgico. o
primeiro passo em direo a uma pesquisa mais ampla.
Suas caractersticas bsicas so: sistematicidade
(organizada segundo a Razo); especificidade (trata de
um tema nico); metodologicidade (utiliza mtodos
cientficos); relevncia (contribui para o aumento do
conhecimento).
Na apresentao de um trabalho monogrfico,
prefervel um trabalho delimitado a determinado aspecto
do que a um trabalho panormico, uma vez que uma
boa delimitao do tema possibilita trabalhar com mais
segurana.
Ao escrever a monografia, deve-se utilizar termos
mais familiares, pois isso tornar o texto mais fcil de
ser entendido por todos. Lembre-se sempre de que a
cincia deve ser acessvel a todos, tanto a especialistas,
como estudiosos ou leigos: para difundir e cultivar um
carter to aperfeioado, nada pode ser mais til do que
as composies de estilo e modalidades fceis, que no
se afastam em demasia da vida, que no requerem,
para ser compreendiadas, profunda aplicao ou
retraimento e que devolvem o estudante para o meio de
homens plenos de nobres sentimentos e de sbios
preceitos, aplicveis em qualquer situao da vida
humana. Por meio de tais composies, a virtude torna-
146
se amvel, a cincia agradvel, a companhia instrutiva
e a solido um divertimento.
74
A redao da monografia deve ser feita com
preciso e muito cuidado, para isso, necessrio
respeitar a ordem dos pargrafos (cada pargrafo deve
conter apenas uma ideia, e cada ideia deve estar num
pargrafo). Utilize pargrafos curtos e subttulos, pois
essa tcnica tornar mais fcil a compreenso do
contedo, tanto por parte de quem l, como de quem
escreve.
preciso dar ateno devida pontuao, para
tanto, o domnio da lngua formal fundamental. O
jargo tem que ser evitado, uma vez que seu uso
traduzido como sinnimo de pouco domnio sobre o que
se est escrevendo.
74
HUME, D.. Investigao Acerca do Entendimento Humano. So
Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 27.
147
Captulo XV
Estrutura da Monografia
15.1. Partes da monografia
A monografia se divide, basicamente, em cinco
partes: introduo; desenvolvimento (explicao;
discusso; demonstrao); concluso; bibliografia; notas
de p-de-pgina.
15.1.1. Introduo
A introduo a parte na qual se faz a
apresentao do tema estudado. Identifica o tema da
pesquisa, de maneira direta, simples e sinttica. Alm
disso, explica a metodologia que ser usada, para se
pesquisar. Nesta parte, exposta a situao do
problema pesquisado, citando os trabalhos que se
referem a ela diretamente.
15.1.1.1. Partes da introduo
Geralmente, divide-se em trs partes, que servem
para: apresentar a situao em que se encontra o
problema; mostrar que o problema importante para os
leitores; expor o mtodo utilizado na busca de
respostas.
Nas palavras de Umberto Eco:
Esta no mais que o comentrio analtico do ndice:
com o presente trabalho propomo-nos demonstrar uma
determinada tese. Os estudos precedentes deixaram
em aberto inmeros problemas e os dados recolhidos
no bastam. No primeiro captulo tentaremos
estabelecer o ponto x; no segundo, abordaremos o
problema y. Concluindo, tentaremos provar isto e
aquilo. Deve-se ter presente que nos fixamos limites
148
precisos, isto , tais e tais. Dentro destes limites o
mtodo que seguiremos o seguinte etc. e etc.
75
Por outras palavras, na introduo fazemos um
breve comentrio do sumrio, dizendo o que se prope
com o trabalho. preciso dizer que os trabalhos
existentes no resolveram a questo. Alm disso,
necessrio mostrar a delimitao da pesquisa e, como
foi dito mais acima, de seus mtodos.
15.1.1.2. Contedo da introduo
Na introduo, necessrio: expor o tema (o
assunto que ser tratado); apresentar a tese (aquilo que
o autor afirma); problematizar o tema (fazer uma
pergunta sobre ele); mostrar os objetivos (enunciar a
meta a ser atingida); justificar sua elaborao (sublinhar
a importncia de se estudar o assunto); fazer a reviso
da literatura (enfocar o autor, o tema e a relevncia de
ambos no contexto da pesquisa); estudar os conceitos
que sero utilizados, mas de maneira superficial;
analisar os mtodos utilizados ou os resultados obtidos;
relacionar o trabalho com outros j produzidos; evitar
fazer um resumo.
75
ECO, U.. Op. cit., p. 83.
149
15.1.2. Corpo do trabalho ou
desenvolvimento
O desenvolvimento a prpria pesquisa; nele os
argumentos so apresentados de acordo com a lgica.
Serve para dar as bases tericas ou prticas, utilizadas
no estudo do problema tendo como objetivo expor os
argumentos e depois prov-los.
15.1.2.1. Partes do desenvolvimento
Divide-se em trs partes: explicao; discusso;
demonstrao.
15.1.2.1.1. Explicao
A explicao o momento em que o pesquisador
torna clara uma ideia que antes estava obscurecida. Na
explicao o tema discutido de maneira analtica, a fim
de que o leitor tenha condies de compreender o
assunto estudado. Nesta etapa procura-se compreender
o objeto pesquisado, para tanto preciso torn-lo o mais
fcil de ser entendido.
15.1.2.1.2. Discusso
Na discusso, apresentam-se estudos que se
opem ao posicionamento defendido na monografia. O
objetivo de trazer autores contrrios, perspectiva
estudada, mostrar suas falhas, para que se possa
apresentar a solidez dos argumentos defendidos na
monografia. Aqui, a pesquisa comparada a outras
perspectivas e apresentada em proposies.
Uma discusso deve partir da mesma base
comum, do mesmo critrio de verdade, a fim de que se
150
decida quem apresenta ou no sustentao racional
em seus argumentos.
15.1.2.1.3. Demonstrao
A demonstrao pode ser definida, no seu sentido
geral, como sendo o raciocnio certo em que as
premissas so verdadeiras, dando, logo, uma concluso
legitimamente certa. Em sentido restrito, porm,
demonstrao silogismo do necessrio, isto , em que
as premissas so verdades necessrias, logo, a
concluso necessariamente necessria. preciso
notar que a demonstrao, em geral, parte de premissas
certas, o que no se verifica em outras formas de
raciocnio.
76
a etapa em que se faz uso da deduo, a fim de
demonstrar a validade dos argumentos empregados.
Nesta fase do desenvolvimento o pesquisador deve
utilizar o mtodo dedutivo, ou de outro modo, parte-se
de uma ideia geral e faz-se a aplicao a um caso
particular.
Desde Aristteles (384-322 a.C.), ficou
estabelecido que no se pode aceitar nenhuma
afirmao como verdadeira caso no seja, antes,
demonstrada como tal. Ento demonstrar algo torn-lo
claro, apresentar as conexes existentes, necessrias
entre as coisas ou ideias.
15.1.2.1.3.1. Caractersticas da demonstrao
O ato de demonstrar uma ideia, um argumento,
tem duas caractersticas: lgica; metodolgica.
76
NERICI, Imideo G.. Op. cit., p. 139.
151
Quanto ao aspecto lgico preciso dizer que a
cincia no se preocupa com o mundo abstrato, no
obstante com o mundo das experincias sensveis.
Sendo assim, ela no pode se ater totalmente lgica
formal.
Sobre a questo metodolgica, que se pressupe
na argumentao, bastaria dizer que um trabalho
cientfico deve ter as suas afirmaes comprovadas ou
justificadas, por intermdio de mtodos rigorosos.
Observao:
Uma observao necessria (ainda que, para
muitos, seja suprflua): durante o processo de escrita da
monografia, os trs momentos se misturam
constantemente.
152
15.1.3. Concluso
um resumo das ideias centrais, apresentadas
anteriormente. a apresentao concisa dos resultados
mais importantes da pesquisa. Para se apresentar uma
concluso coerente, com o tema estudado, preciso
que a mesma se refira diretamente s hipteses do
trabalho. A concluso diz se a hiptese verdadeira ou
falsa.
Nesta etapa da pesquisa, apresentam-se questes
que no foram resolvidas pelo estudo e que podero ser
estudadas, em outro momento.
15.1.4. Notas de rodap
So as indicaes dos livros, artigos, teses, etc.
que foram citados. Nas notas de rodap, tambm
podem aparecer definies de termos, informaes
sobre um assunto, um autor, etc. Nelas pode-se fazer
uma discusso dos temas. Servem para deixar o texto
principal sem interferncias externas tornando mais
agradvel a leitura
77
.
15.1.5. Bibliografia
conjunto d os livros, artigos, dissertaes, teses,
doutrinas, leis, etc. que foram utilizadas para se fazer o
trabalho
78
.
77
Para maiores informaes sobre a apresentao de tais notas ver
p. 92.
78
Para maiores informaes sobre a apresentao da bibliografia ver
p. 145.
153
15.1.6. Outras orientaes bsicas
No excessivo apresentar mais algumas
tcnicas, que podem ser utilizadas por aqueles, que
queiram se iniciar no campo da pesquisa cientfica.
Seguem abaixo algumas indicaes, mas no preciso
lembrar que essa relao poderia ser acrescida de um
maior nmero de itens: deve ser inteligvel o tema; ser
fiel ao assunto o princpio fundamental de uma boa
monografia; redigir com cuidado; estudar
exaustivamente o assunto; abordar, com tcnicas
prprias, cada tema; evitar os preconceitos; evitar as
definies prontas; comear a trabalhar, sabendo que as
definies so provisrias; colocar de lado as
generalizaes infundadas; dar exemplos, com validade
universal.
154
Captulo XVI
Trabalho
Acadmico - NBR 14724
Os trabalhos acadmicos
79
devem ser
apresentados com a mxima preciso possvel, tanto no
que se refere ao contedo, como com relao forma.
Por esse motivo, seguem abaixo algumas sugestes
para uma apresentao aceitvel.
16.1. Formato
O trabalho acadmico deve apresentar as
caractersticas grficas a seguir: papel branco; tamanho
A4 (21 cm X 29,7 cm); impresso na cor preta; fonte
(letra) arial tamanho 12 (doze) para o texto; fonte (letra)
arial tamanho 10 (dez) para as citaes longas, notas de
rodap, nmero de pginas; a citao longa deve estar
a 04 (quatro) cm da margem esquerda em espao
simples e fonte (letra) tamanho 10.
16.2. Margens
Esquerda: 3 cm;
Superior: 3 cm;
Direita: 2 cm;
Inferior: 2 cm.
79
ABNT - NBR 14724: Apresentao de Trabalhos Acadmicos. Rio
de Janeiro: 2005.
155
16.3. Espao entre as linhas
O texto deve ser apresentado com espao 1,5; as
demais informaes devem ser anotadas em espao
simples; as referncias bibliogrficas so impressas em
espao simples e separadas uma das outras com
espao 1,5; os ttulos sempre se iniciam a 8 cm da
margem superior; os ttulos so separados do texto por
dois espaos 1,5.
16.4. Numerao das pginas
O nmero da pgina deve ser colocado: na parte
superior direita a 2 cm da borda. Quanto numerao,
preciso: utilizar os nmeros arbicos; numerar a partir
da primeira folha do texto, apesar de se contar as
pginas a partir da folha de rosto.
156
Captulo XVII
Estrutura formal da monografia
Estrutura Elementos
Capa;
Folha de rosto;
Folha de aprovao;
Dedicatria*;
Agradecimento*;
Pr textuais Epgrafe*;
Resumo em portugus;
Resumo em lngua estrangeira;
Lista de ilustraes*;
Lista de tabelas*;
Sumrio.
Introduo;
Textuais Desenvolvimento;
Concluso.
Bibliografia;
Glossrio*;
Ps textuais Apndice*;
Anexo*;
ndice*.
* Elementos opcionais
157
17.1. Elementos pr textuais
17.1.1. Capa
A capa deve apresentar os seguintes elementos
de identificao: nome da instituio (opcional); nome do
autor; ttulo; subttulo; local; data.
Exemplo:
AEV Associao Educacional de Vitria
FISP Faculdades Integradas So Pedro
UCCS Unidade de Conhecimento de Comunicao
Social
Curso de Publicidade e Propaganda
Pedro Alcntara
Filosofia Grega
Vitria, janeiro de 2011
158
17.1.2. Anverso da folha de rosto
Deve apresentar os seguintes elementos de
identificao: nome do autor; ttulo; subttulo; natureza e
objetivo do trabalho, nome da instituio e rea de
concentrao; nome do orientador; local; data.
Exemplo:
AEV Associao Educacional de Vitria
FISP Faculdades Integradas So Pedro
UCCS Unidade de Conhecimento de Comunicao
Social
Curso de Publicidade e Propaganda
Pedro Alcntara
Filosofia Grega
Trabalho apresentado AEV Associao
Educacional de Vitria, com o intuito de
obteno de crditos parciais na disciplina
Filosofia. Orientador Prof. Dr. Pedro Paulo
Couto.
Vitria, janeiro de 2011
159
17.1.3. Verso da folha de rosto
No verso da folha de rosto, deve aparecer a ficha
catalogrfica, ou seja, a ficha que traz as informaes
tcnicas do trabalho.
Exemplo:
D235h
Dau, Sandro.
Histria da Filosofia / Sandro Dau, Carlos
Mrio Paes Camacho. - - Juiz de Fora:
Central, 2003. 105p. : il.
Filosofia antiga - Histria.
Camacho, Carlos Mario Paes, colab.
CDD 180
160
17.1.4. Folha de aprovao
De acordo com a NBR 14724: 2005, a folha de
aprovao o:
Elemento obrigatrio, colocado logo aps a folha de
rosto, constitudo pelo nome do autor do trabalho, ttulo
do trabalho e subttulo (se houver), natureza, objetivo,
nome da instituio a que submetido, rea de
concentrao, data de aprovao, nome, titulao e
assinatura dos componentes da banca examinadora e
instituies a que pertencem. A data de aprovao e
assinaturas dos membros componentes da banca
examinadora so colocadas aps a aprovao do
trabalho.
80
Exemplo: ver prxima pgina
80
Ib., p. 05.
161
AEV Associao Educacional de Vitria
FISP Faculdades Integradas So Pedro
UCCS Unidade de Conhecimento de Comunicao Social
Curso de Publicidade e Propaganda
Pedro Alcntara
Filosofia grega
Doutoramento em Filosofia
Membros da Banca Examinadora
________________________________
Dr. Pedro Paulo Couto (Orientador)
________________________________
Dr. Paulo Henrique de Castro
________________________________
Dra. Isabela Alves Silveira
________________________________
Dra. Adriana Pinto de Oliveira
________________________________
Dr. Antnio Carlos do Couto
Vitria, 2010
162
17.1.5. Dedicatria
Nesta pgina, o trabalho dedicado a um ou mais
indivduos. Presta-se uma homenagem queles, os
quais o autor tem uma determinada considerao
afetiva, profissional, acadmica, etc.
Exemplo:
Dedicamos este trabalho
a todos aqueles que me
auxiliaram durante esta
pesquisa.
163
17.1.6. Agradecimento
o momento em que o autor do trabalho
agradece queles que foram importantes na execuo
do mesmo. Caso o trabalho tenha sido financiado por
alguma instituio ou agncia de fomento,
imprescindvel agradec-las.
Exemplo:
Agradecemos Prof
a
Maria da
Penha pela sua colaborao
constante.
Maria do Carmo por suas
anotaes em aula e sugestes
constantes.
AEV Associao Educacional
de Vitria pelo apoio dado
publicao deste trabalho.
164
17.1.7. Epgrafe
uma citao de um determinado autor, cujo
contedo se relaciona diretamente com o trabalho
apresentado.
Exemplo:
Temos trs tipos distintos de sensaes de
infinito, todos eles matizados com distintas
tonalidades, a saber: o gozo esttico e sereno,
cheio de encantamento, como no caso do pastor
contemplando a quietude da noite estrelada; a
ansiedade aniquilante e a opresso angustiosa,
como no caso dos marinheiros perdidos nas
imensides ocenicas, merc dos ventos e
tempestades; e, por ltimo, uma espcie de
estupor e assombro, como no caso do vigia, que
v perdida na ilimitada solido do mar a pequena
ilha, a cujo redor a imensido das guas forma
como que uma coroa que se estende ao infinito
(apeiritos) em toda direo.
Rodolfo Mondolfo
165
17.1.8. Resumo em portugus
Nele, apresentam-se os principais pontos do
trabalho, de forma concisa. Seu objetivo mostrar, de
forma rpida, o contedo e as concluses a que se
chegou. Apresenta as seguintes caractersticas: ser
elaborado na terceira pessoa; ter um nico pargrafo;
ter, no mximo, quinze linhas; palavras-chave
81
.
Exemplo:
81
Para maiores informaes ver captulo VIII: Resumos - NBR 6028,
p. 74.
Resumo
A tese procurar entender o funcionamento do
poder-saber, segundo Michel Foucault, porquanto a
normalizao desta tcnica da sociedade moderna
possibilita o conhecimento de todo o seio social,
limitando a liberdade humana. Com a analtica sobre
o poder, Foucault desloca-o de um centro
privilegiado e coloca-o no caldeiro das
transformaes sociais. O poder deixa de ser algo
abstrato e torna-se mais difuso e mais difcil de se
combater, visto que ele metamorfoseia-se em
estratgias, que esto em constante movimento. A
tarefa de Foucault mostrar que o poder no o
que sempre foi dito e aceito: algo negativo. Foucault
chamar ateno para a pluralidade das foras e
para as suas relaes, que constituem o poder. O
funcionamento da normalizao social se d atravs
do poder-saber, por isso Foucault ir dizer que a
neutralidade do saber cientfico, nas Cincias
Humanas e Sociais, uma quimera, porquanto o
saber est diretamente ligado ao poder, porm de
forma nem sempre estvel.
Palavras-chave: poder; saber; sexualidade.
166
17.1.9. Resumo em lngua estrangeira
Todo trabalho cientfico deve conter um resumo
em uma lngua estrangeira. O objetivo desse resumo a
divulgao internacional dos resultados obtidos.
As mesmas regras para o resumo em Lngua
Portuguesa devem ser usadas para o resumo em lngua
estrangeira.
Exemplo:
Resum
La thse cherchera entendre le fonctionnement
du pouvoir-savoir selon Michel Foucault, vu que
la connaissance de cette technique de la societ
moderne c'est que la possibilite normaliser tout
le sein social, en limitant la libert humaine.
Avec l'analytique concernant au pouvoir,
Foucault le dplace d'un centre privilgi et le
met dans un chaudron des transformations
soxiaux. Le pouvoir laisse d'tre quelque chose
metaphysique et se de vient plus diffus et plus
difficile de se combattre, vu qu'il se
metamorphose en stratgies en constant
moviments. La tche de Foucault c'est de
montrer que le pouvoir n'est pas ce que toujours
a t dit et a t accept quelque chose
ngative. Le fonctionnement de la normalisation
sociale survient du moyen du pouvoir-savoir,
c'est pourquoi Foucault ira jsqu'a dire que la
neutralit du savoir scientifique est une chimre,
car le savoir est directement attach au pouvoir
mais de forme pas toujours stable.
Mots cl: pouvoir; savoir; Foucault.
167
17.1.10. Lista de ilustraes
a lista que contm as pginas nas quais se
encontram: desenhos; gravuras; imagens; mapas.
Exemplo:
Lista de ilustraes
Paternon
23
Busto de Protgoras de Abdera 35
Mapa de Queroneia 53
Gravura representando Grgicas
Leontino
79
168
17.1.11. Lista de tabelas
De acordo com a ABNT NBR 14724 tabela um
elemento demonstrativo de sntese que constitui
unidade autnoma.
82
Exemplo:
82
Ib., p. 02.
Lista de tabelas
Nmero de habitantes na Europa no sculo XIX
33
Taxa de mortalidade da Inglaterra no sculo XIX 56
Taxa de natalidade na Itlia no sculo XVIII 97
169
17.1.12. Sumrio
A ABNT NBR 14724 define sumrio como sendo a
enumerao das principais divises, sees e outras
partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que a
matria nele se sucede.
83
Exemplo:
83
Ib., p. 02.
Sumrio
Captulo I: Metodologia
1
Tipos de metodologia 3
Captulo II: Pesquisa 9
Pesquisa terica 11
Pesquisa metodolgica 16
Pesquisa emprica 19
170
17.2. Elementos textuais
17.2.1. Introduo
Para maiores informaes sobre como se fazer a
introduo veja p. 148.
17.2.2. Desenvolvimento
Para maiores informaes sobre como se fazer o
desenvolvimento veja p. 149.
17.2.3. Concluso
Para maiores informaes sobre como se fazer a
concluso veja p. 152.
171
17.3. Elementos ps textuais
17.3.1. Bibliografia
Conjunto de livros, artigos, dissertaes, etc. que
serviram de suporte terico, para o desenvolvimento da
pesquisa.
Exemplo:
BIBLIOGRAFIA
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS.
Normas ABNT sobre documentao. Rio de Janeiro:
ABNT, 2000.
_____________.NBR 6023: informao e documentao -
referncias - elaborao. Rio de Janeiro, 2000.
BARROS, A. J. P. e LEHFELD, N.A.S.. Fundamentos de
Metodologia. So Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1986.
172
17.3.2. Glossrio
a parte na qual se encontram as definies das
palavras de significado pouco conhecido.
Exemplo:
Glossrio
Certeza apodtica: Absoluta necessidade, no se
baseando em nenhuma espcie de fundamentos de
experincia: , portanto, um produto da razo, mas alm
disso sinttico.
Intuio: ... uma representao, como se ela
dependesse imediatamente da presena do objeto.
Intuio emprica: Torna possvel (...) que ampliemos
nosso conceito dado por um objeto da intuio, atravs de
novos predicados que a prpria intuio oferece ... .
Mtodo analtico: algo completamente diferente de um
complexo de proposies analticas: significa apenas que se
parte daquilo que se analisa, como se tivesse sido dado, e
se chega s condies sob as quais somente possvel.
Neste mtodo empregam-se frequentemente apenas
proposies sintticas, do que d um exemplo a anlise
matemtica e poderia ser melhor denominado de mtodo
regressivo em contraposio com o sinttico ou
progressivo.
173
17.3.3. Apndice
o material elaborado pelo autor, com o intuito de
completar sua argumentao. Esse material colocado
fora do texto principal, a fim de no prejudicar sua
leitura.
No se deve confundir anexo com apndice, de
acordo com a ABNT NBR 14724: 2002, apndice o
texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de
complementar sua argumentao, sem prejuzo da
unidade nuclear do trabalho.
84
Exemplo:
Ver prxima pgina.
84
Ib., p. 02.
174
Margem superior : 3 cm
M
a
r
g
e
m
e
s
q
u
e
r
d
a
:
3
c
m
1. Margem do Pargrafo: 2 cm;
2. Margem da citao longa: 4 cm, com espao
simples e fonte arial 10;
3. CAPTULO (SEMPRE A 8 cm, EM
VERSAIS);
4. Fonte arial 12, para o texto;
5. Fonte arial 10, para citao longa, nota de
rodap e nmero de pginas;
6. Espao entre linhas: 1,5 para o texto e
simples para as citaes longas e notas;
7. Folha A 4 (21 cm X 29,7 cm);
8. Papel branco;
9. Impresso, na cor preta.
M
a
r
g
e
m
d
i
r
e
i
t
a
:
2
c
m
Margem inferior : 2 cm
175
17.3.4. Anexo
De acordo com a ABNT NBR 14724
85
anexo o
material elaborado por outro autor, cujo intuito
fundamentar uma ideia, comprovar um argumento ou
ilustrar uma proposio.
Exemplo
86
:
85
Ib., p. 02.
86
Silva, E. L. da; Menezes E. M.. Metodologia da Pesquisa e
Elaborao de Dissertao. 3
a
ed. rev. e at. Florianpolis: UFSC,
2001.
Os enunciados dos objetivos devem comear com um
verbo no infinitivo e este verbo deve indicar uma ao
passvel de mensurao. Como exemplos de verbos usados
na formulao dos objetivos, podem-se citar para:
a) determinar estgio cognitivo de
conhecimento: os verbos apontar, arrolar,
definir, enunciar, inscrever, registrar, relatar,
repetir, sublinhar e nomear;
b) determinar estgio cognitivo de
compreenso: os verbos descrever, discutir,
esclarecer, examinar, explicar, expressar,
identificar, localizar, traduzir e transcrever;
c) determinar estgio cognitivo de aplicao:
os verbos aplicar, demonstrar, empregar,
ilustrar, interpretar, inventariar, manipular,
praticar, traar e usar;
d) determinar estgio cognitivo de anlise: os
verbos analisar, classificar, comparar,
constatar, criticar, debater, diferenciar,
distinguir, examinar, provar, investigar e
experimentar;
e) determinar estgio cognitivo de sntese: os
verbos articular, compor, constituir, coordenar,
reunir, organizar e esquematizar;
f) determinar estgio cognitivo de avaliao:
os verbos apreciar, avaliar, eliminar, escolher,
estimar, julgar, preferir, selecionar, validar e
valorizar.
176
17.3.5. ndice
De acordo com a ABNT NBR 14724: 2002, ndice
uma lista de palavras ou frases, ordenadas segundo
determinado critrio, que localiza e remete para as
informaes contidas no texto.
87
Exemplo:
http://projetos.inf.ufsc.br/arquivos/Metodologia%20da%20Pesquisa%
203a%20edicao.pdf <acessado em 21/12/2010>
87
Ib., p. 02.
ndice
Captulo I
Diretrizes para a leitura de textos terico-cientficos 06
Captulo II
Cincia 08
Captulo III
Conceitos 26
177
17.3.6. Contracapa
Folha em branco, que protege e encerra o
trabalho.
178
Captulo XVIII
Apresentao de relatrios
tcnico-cientficos - NBR 10719
uma norma que contribui, para a elaborao e
apresentao padronizada de relatrios tcnico-
cientficos. A NBR 10719 define este tipo relatrio como:
Documento que relata formalmente os
resultados ou progressos obtidos em
investigao de pesquisa e desenvolvimento ou
que descreve a situao de uma questo
tcnica ou cientfica.
88
Na confeco de qualquer relatrio preciso
trazer uma numerao especfica, a qual possa
identificar o documento e seu autor.
Os relatrios tcnico-cientficos devem apresentar
os seguintes elementos:
a) pr textuais;
b) textuais;
c) ps textuais.
Os elementos pr textuais so:
a) capa (frente e verso);
b) folha de rosto (ficha de
identificao);
c) apresentao;
88
ABNT-NBR 10719. Apresentao de Relatrios Tcnico-
cientficos. Rio de Janeiro: 1989, p. 01.
179
d) resumo;
e) listas;
f) sumrio.
Exemplo:
Capa
AEV Associao Educacional de Vitria
FISP Faculdades Integradas So Pedro
UCCS Unidade de Conhecimento de Comunicao
Social
Curso de Publicidade e Propaganda
N
o
041
Campanha Publicitria
Janeiro de 2011
180
Folha de rosto
Classificao de segurana
Documento n
o
Ms e ano Projeto n
o
Ttulo e subttulo
N
o
do volume
N
o
da parte
Ttulo do projeto
Entidade executora (autor coletivo)
Autor
Entidade patrocinada (cliente ou destinatrio principal)
Resumo
Palavras-chave
N
o
de edio
N
o
de
pginas
ISSN CDD
Distribuidor
N
o
de exemplares Preo
Observaes
181
Quanto aos elementos textuais temos:
a) introduo;
b) desenvolvimento;
c) concluses.
Por fim, os elementos que aparecem aps o texto
so:
a) anexos;
b) agradecimentos;
c) referncias bibliogrficas;
d) glossrio;
e) ndice;
f) ficha de identificao do relatrio;
g) contra capa.
Caso o relatrio tenha um grande nmero de
pginas aconselha-se dividi-lo em volumes. Estas partes
devero ser identificadas da seguinte maneira: v.1; v.2,
etc.
Os relatrios tcnico-cientficos so impressos em
folha A4, frente e verso. A numerao das pginas deve
ser no canto direito superior nas pginas mpares e
esquerdo nas pginas pares.
182
Captulo XIX
Artigo cientfico impresso em
peridico - NBR 6022
O artigo cientfico a apresentao resumida dos
resultados de uma pesquisa: artigo cientfico parte de
uma publicao com autoria declarada, que apresenta e
discute ideias, mtodos, tcnicas, processos e
resultados nas diversas reas de conhecimento.
89
Seu
objetivo a divulgao do tema estudado e para tanto
se faz mister: indicar o quadro terico referencial
utilizado; apresentar a metodologia empregada; noticiar
os resultados alcanados.
Com este instrumento espera-se tornar pblico os
estudos realizados com o intuito de contribuir, para a
discusso sobre determinado tema.
O artigo tem como caracterstica a sntese,
portanto urge que ele apresente: uma linguagem clara,
coerente, objetiva, impessoal. Deve conter os seguintes
elementos:
a) pr textuais: capa
90
; folha de rosto;
resumo; palavras-chave.
b) textuais: introduo; desenvolvimento;
concluso.
c) ps textuais: referncias; apndices;
anexos.
89
ABNT-NBR 6022: Artigo em publicao peridica cientfica
impressa. Rio de Janeiro: 2003, p. 02.
90
Opcional.
183
19.1. Elementos pr textuais
91
91
Apesar da vigncia da NBR 6022: 2003 cada revista tem suas
normas editoriais.
Ttulo do artigo
Autores: breve currculo do(s) autor(es).
Resumo: deve ser apresentado de acordo com a
NBR 6028, 1990. a sntese de um texto, a qual
possibilita ao leitor ter uma viso mais ampla
deste texto. Seu objetivo auxiliar na deciso
sobre a leitura ou no do texto, por este motivo
ele deve estar em conexo direta com o material
apresentado. Sua primeira frase deve conter a
ideia principal e as frases devem ser curtas, a fim
de conseguirmos uma maior clareza. Alm disso,
deve conter: o objetivo; o mtodo; os resultados;
a concluso. preciso elabor-lo na terceira
pessoa. Em mdia deve conter 250 (duzentas e
cinquenta palavras).
Palavras-chave: no mnimo trs palavras.
184
19.2. Elementos textuais
Introduo: devemos apresentar, de maneira
concisa, os (as): tema; metodologia; justificativa;
situao em que se encontra o problema,
principais conceitos.
Desenvolvimento: a prpria pesquisa. Neste
estgio premente aclarar os conceitos
estudados. Devemos apontar as posies
contrrias tese defendida. Por fim, esperamos
que o autor tenha condies de demonstrar a
validade lgica dos argumentos defendidos.
Concluso: um resumo das principais ideias
apresentadas no decorrer do artigo.
185
19.3. Elementos ps textuais
Referncias: o conjunto de livros, artigos,
teses, etc. apresentado no trabalho. Devem ser
apresentadas em conformidade com a ABNT
NBR 6023: 2002.
Apndice: a ABNT NBR 14724: 2002 define
este elemento como sendo o material elaborado
pelo autor com o intuito de tornar ainda mais
clara as ideias discutidas.
Anexo: de acordo com a ABNT NBR 14724:
2002 o anexo o documento elaborado por
outro autor com o intuito de fundamentar,
comprovar ou ilustrar os argumentos em pauta.
186
Bibliografia
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS.
Normas ABNT sobre documentao. Rio de Janeiro:
ABNT, 2000.
_____________.NBR 6023: informao e
documentao - referncias - elaborao. Rio de
Janeiro, 2002.
_____________.NBR 6027: sumrio. Rio de Janeiro:
1989.
_____________.NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro:
1987.
_____________.NBR 6029: apresentao de livros. Rio
de Janeiro: 1993.
_____________.NBR 6032: abreviao de ttulos de
peridicos e publicaes seriadas. Rio de Janeiro: 1989.
_____________.NBR 6033: ordem alfabtica. Rio de
Janeiro: 1989.
_____________.NBR 6034: preparao de ndices de
publicaes. Rio de Janeiro: 1989.
_____________.NBR 10522: apresentao de citaes
em documentos. Rio de Janeiro: 2002.
_____________.NBR 10522: abreviao na descrio
bibliogrfica. Rio de Janeiro: 1988.
187
_____________.NBR 10523: entrada para nomes de
lngua estrangeira em registros bibliogrficos. Rio de
Janeiro: 1988.
_____________.NBR 10524: preparao de folha de
rosto de livro. Rio de Janeiro: 1988.
_____________.NBR 10719: apresentao de relatrios
tcnico-cientficos. Rio de Janeiro: 1989.
_____________. NBR 14724: apresentao de
trabalhos acadmicos. Rio de Janeiro: 2006.
ARISTTELES. Tpicos. So Paulo: Abril Cultural,
1973. Os Pensadores.
BACON, F.. Novum Organum. So Paulo: Nova Cultural,
1999.
BARNES, Jonathan. Filsofos Pr-socrticos. So
Paulo: Martins Fontes, 1977.
BARROS, A. J. P. e LEHFELD, N.A.S.. Fundamentos
de Metodologia. So Paulo: McGraw-Hill do Brasil,
1986.
_______________. Projeto de Pesquisa. 12
a
ed..
Petrpolis: Vozes, 1988.
BASTOS, Llia da Rocha, PAIXO, Lyra, FERNANDES,
Lucia Monteiro. Manual para a Elaborao de projetos
e Relatrios de Pesquisa, Teses e Dissertaes. 3
a
ed.. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
BEAUD, Michel. Arte da Tese. Traduo Glria de
Carvalho Lins. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
188
BOMBASSARO, Luiz Carlos. As fronteiras da
Epistemologia. Petrpolis: Vozes, 1992.
BORNHEIM, Gerd A. (org.). Os Filsofos Pr-
socrticos. So Paulo: Cultrix, 1989.
BORRN, Juan Carlos Garca. A Filosofia e as
Cincias. Traduo Filipe Nogueira. Lisboa: Teorema,
1987.
BRANDO, Carlos Rodrigues. (org.) Pesquisa
Participante. 7
a
ed.. So Paulo: Brasiliense, 1988.
CASTRO, Cludio Moura. A Prtica da Pesquisa. So
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977.
CERVO, Amado Luiz e BERVIAN, Pedro Alcino.
Metodologia Cientfica. So Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 1977.
COLLINGWOOD, R. G.. Cincia e Filosofia. 2
a
ed..
So Paulo: Martins Fontes, 1989.
COSTA, Antnio Fernando Gomes da. Guia para
Elaborao de Relatrios de Pesquisa: monografia. 2
a
ed.. Rio de Janeiro: UNITEC, 1998.
COSTA, Srgio Francisco. Mtodo Cientfico. So
Paulo: Harbra, 2001.
DAU e DAU. Metodologia Cientfica. Juiz de Fora:
Editar, 2001.
DAU, Sandro e CAMACHO, Carlos Mrio. Histria da
Filosofia: dos mitos aos milsios. Juiz de Fora: Editar,
2003.
189
DEMO, Pedro. Metodologia Cientfica em Cincias
Sociais. 2
a
ed.. So Paulo: Atlas, 1989.
DURKHEIM, mile. As Regras do Mtodo
Sociolgico. So Paulo: Abril Cultural, 1978. Os
Pensadores.
DIXON, B. Para que serve a Cincia? So Paulo:
Nacional, 1976.
ECO, Umberto. Como se faz uma Tese. So Paulo:
Perspectiva, 1988.
FERRARI, Alfonso T.. Metodologia da Cincia. 3
a
ed..
Rio de Janeiro: Kennedy, 1974.
FOLSCHEID, Dominique e Wunnenburger, Jean-
Jacques. Metodologia Filosfica. Traduo de Paulo
Neves. So Paulo: Martins Fontes, 1997.
GALLIANO, A. Guilherme. O Mtodo Cientfico: teoria
e prtica. So Paulo: Harbra, 1986.
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como
fazer pesquisa qualitativa em Cincias Sociais. 2
a
ed..
Rio de Janeiro: Record, 1998.
GOOD, W. J. e HATT, Paul M.. Mtodos de Pesquisa
Social. So Paulo: Nacional, 1977.
HORGAN, John. O Fim da Cincia. Traduo de
Rosaura Eichemberg. So Paulo: Companhia das
Letras, 1998.
KERLINGER, F. N.. Metodologia das Cincias
Sociais. So Paulo: Edusp, 1980.
190
KNELLER, G. F.. A Cincia como Atividade
Humana. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.
KCHE, J. C.. Fundamentos da Metodologia
Cientfica. 19
a
ed.. Petrpolis: Vozes, 1997.
KOURGANOFF, V.. A Pesquisa Cientfica. So Paulo:
Difel, 1961.
LALANDE, Andr. Vocabulrio Tcnico e Crtico da
Filosofia. Traduo de Ftima S Correia et al. So
Paulo: Martins Fontes, 1993.
LAMBERT, K. e BRITTAN, G. G.. Introduo
Filosofia da Cincia. So Paulo: Cultrix, 1972.
LEITE, J. A. A.. Metodologia da Elaborao de Teses.
So Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978.
LIARD, Louis. Lgica. Traduo de G. Rangel. 9 ed..
So Paulo: Nacional, 1979.
MARINHO, Pedro. A Pesquisa em Cincias Humanas.
Petrpolis: Vozes, 1980.
MARCONI, M. de A. e LAKATOS, E. M.. Tcnicas de
Pesquisa. 3
a
ed.. So Paulo: Atlas, 1996.
MORGENBESSER, S. (org.) Filosofia da Cincia. So
Paulo: Cultrix, 1975.
PENNA, Antonio Gomes. Introduo Epistemologia.
Rio de Janeiro: Imago, 2000.
PORTOCARRERO, Vera (org.). Filosofia, Histria e
Sociologia das Cincias. Rio de Janeiro: Fiocruz,
1994.
191
REY, Luiz. Planejar e Redigir Trabalhos Cientficos.
So Paulo: Edgar Blucher/Fundao Oswaldo Cruz,
1987.
RICHARDSON, R. J. et al. Pesquisa Social: Mtodos e
Tcnicas. 2
a
ed.. So Paulo: Atlas, 1989.
RUDIO, Franz V.. Introduo ao Projeto de Pesquisa.
30
a
ed.. Petrpolis: Vozes, 2002.
RUIZ, Joo A.. Metodologia Cientfica: guia para
eficincia nos estudos. 2
a
ed.. So Paulo: Atlas, 1988.
SALOMON, Dlcio Vieira. Como Fazer uma
Monografia. 10 ed. So Paulo: Martins Fontes, 2001.
SEVERINO, Antnio Joaquim. Metodologia do
Trabalho Cientfico. 13
a
ed. So Paulo: Cortez, 1986.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN. Biblioteca
Central. Normas para Apresentao de Trabalhos.
Curitiba: Ed. UFPR, 1995.
Você também pode gostar
- (1 ETAPA) 3. ATIENZA, Manuel. As Razoes Do Direito. São Paulo Landy, 2003Documento118 páginas(1 ETAPA) 3. ATIENZA, Manuel. As Razoes Do Direito. São Paulo Landy, 2003Alef Augusto100% (2)
- ISO IEC 27032 2012.ptDocumento11 páginasISO IEC 27032 2012.ptAna Beatriz Fonseca100% (1)
- O Tribunal Do Júri e A Defensoria Pública (Bruno de Almeida Passadore Etc.) (Z-Library)Documento278 páginasO Tribunal Do Júri e A Defensoria Pública (Bruno de Almeida Passadore Etc.) (Z-Library)Vitor Nóbrega FeitosaAinda não há avaliações
- 5-Book Manuscript-22-1-10-20200416Documento382 páginas5-Book Manuscript-22-1-10-20200416Mário100% (4)
- Livro MPJ Welber BarralDocumento11 páginasLivro MPJ Welber BarralKátia SiqueiraAinda não há avaliações
- Projeto - Cabanga A3Documento146 páginasProjeto - Cabanga A3Fabio NascimentoAinda não há avaliações
- GUIA GERAL 2017 Versão Online PDFDocumento276 páginasGUIA GERAL 2017 Versão Online PDFSnow JackAinda não há avaliações
- Escrita Acadêmica - Exercício AvaliativoDocumento3 páginasEscrita Acadêmica - Exercício AvaliativoRonairGamaAinda não há avaliações
- Praticas Do Livro de TiagoDocumento46 páginasPraticas Do Livro de TiagoDri Morais100% (5)
- Avaliação Bimestral de História - 4º Bimestre - 7º AnosDocumento4 páginasAvaliação Bimestral de História - 4º Bimestre - 7º AnosDaniel25% (4)
- Banner SexualidadeDocumento1 páginaBanner SexualidadeanallugfAinda não há avaliações
- Lista de Física TérmicaDocumento3 páginasLista de Física Térmicacb_penatrujillo0% (2)
- Anais Sobrac 2012Documento618 páginasAnais Sobrac 2012Gabriel Lyra ChavesAinda não há avaliações
- Anais Sobrac 2012Documento618 páginasAnais Sobrac 2012Andrei GuimarãesAinda não há avaliações
- Trabalho 2 CTADE - FinalDocumento95 páginasTrabalho 2 CTADE - FinalArquitetogeek Pontocom100% (1)
- Curso Completo de Sonorizacao Ao VivoDocumento191 páginasCurso Completo de Sonorizacao Ao Vivonibl1019222Ainda não há avaliações
- Manual Turnigy 9XDocumento57 páginasManual Turnigy 9XtecsupportAinda não há avaliações
- Radioproteçao E Dosimetria FundamentosDocumento263 páginasRadioproteçao E Dosimetria FundamentosKelly GarciaAinda não há avaliações
- Renata Monteiro TeseDocumento294 páginasRenata Monteiro TeseKelly VarnierAinda não há avaliações
- Aplicação de Vetores Na QuímicaDocumento9 páginasAplicação de Vetores Na QuímicaVictor LadeiaAinda não há avaliações
- Manual UNISA - Trabalhos Academicos - 2018Documento107 páginasManual UNISA - Trabalhos Academicos - 2018felipeAinda não há avaliações
- Teoria de Áudio. Timbre e Envelope Sonoro - 2Documento2 páginasTeoria de Áudio. Timbre e Envelope Sonoro - 2Kutena NgongaAinda não há avaliações
- PROJETO DE SONORIZAÇÃO BackstageDocumento92 páginasPROJETO DE SONORIZAÇÃO Backstagecarlos_eqn100% (1)
- Manual de Orientação Programa de Implantação de Sala de Recursos MultifuncionaisDocumento33 páginasManual de Orientação Programa de Implantação de Sala de Recursos MultifuncionaisInstituto Helena AntipoffAinda não há avaliações
- Ruido Svi Beilum CalixtoDocumento28 páginasRuido Svi Beilum CalixtothermixAinda não há avaliações
- Qualis ADM 2013-2016Documento56 páginasQualis ADM 2013-2016Sandro RolakAinda não há avaliações
- As 8 Principais Normas Acústicas para A Eficácia de Seu Projeto - AEROJRDocumento20 páginasAs 8 Principais Normas Acústicas para A Eficácia de Seu Projeto - AEROJRMARCUS AZEVEDOAinda não há avaliações
- Acustica e ArquiteturaDocumento95 páginasAcustica e ArquiteturaTotogoAinda não há avaliações
- Qualidade Acústica e Tempo de ReverberaçãoDocumento63 páginasQualidade Acústica e Tempo de ReverberaçãoANDERSON DOS PASSOSAinda não há avaliações
- Qualidae de Som e Tempo de ReverberacaoDocumento63 páginasQualidae de Som e Tempo de ReverberacaoAndre Ossufo AssaneAinda não há avaliações
- Adverbios PORTuguesDocumento16 páginasAdverbios PORTuguesNelito JoséAinda não há avaliações
- ProAcustica ManualAcusticaBasica Responsivo Dez2019Documento53 páginasProAcustica ManualAcusticaBasica Responsivo Dez2019Adriano OliveiraAinda não há avaliações
- PsicoacusticaDocumento9 páginasPsicoacusticaCristina SeixasAinda não há avaliações
- PythonDocumento94 páginasPythonz0i0zAinda não há avaliações
- Awd 12 H 31 o 2 HG 49 AsdDocumento169 páginasAwd 12 H 31 o 2 HG 49 AsdJ0urn3y GamerAinda não há avaliações
- AcústicaDocumento51 páginasAcústicaEliana CarvalhoAinda não há avaliações
- TAU037 Conforto Térmico e Climatização de AmbientesDocumento4 páginasTAU037 Conforto Térmico e Climatização de AmbientesLeonardoAraújoAinda não há avaliações
- Estudo Da Paisagem Sonora No Projeto Arquitetônico e No UrbanismoDocumento333 páginasEstudo Da Paisagem Sonora No Projeto Arquitetônico e No UrbanismoRomina Faur CapparelliAinda não há avaliações
- Memória, Aprendizagem e Esquecimento - A Memória Através Das Neurociências - Capítulo 2Documento214 páginasMemória, Aprendizagem e Esquecimento - A Memória Através Das Neurociências - Capítulo 2Laísa Fernanda Vieira0% (1)
- Lei de Hooke para Tensão PlanaDocumento28 páginasLei de Hooke para Tensão PlanaBrendinho CruzAinda não há avaliações
- NBR 10152 - 2000 - Nivel de Ruido para Conforto Acústico PDFDocumento4 páginasNBR 10152 - 2000 - Nivel de Ruido para Conforto Acústico PDFdiegogalianiAinda não há avaliações
- Telecurso 2000 - Física 30Documento8 páginasTelecurso 2000 - Física 30Fisica TCAinda não há avaliações
- Acústica, Masterização e Engenharia Do SomDocumento104 páginasAcústica, Masterização e Engenharia Do SomDaibsom Tavares da SilvaAinda não há avaliações
- Engenharia de Som LuizDocumento7 páginasEngenharia de Som LuizRicardo IzzyAinda não há avaliações
- Materiais, Técnicas e Processos para Isolamento AcústicoDocumento12 páginasMateriais, Técnicas e Processos para Isolamento AcústicohgrmgAinda não há avaliações
- A Descrição Arquivística No Atom e A Norma Brasileira de Descrição Arquivística (Nobrade)Documento53 páginasA Descrição Arquivística No Atom e A Norma Brasileira de Descrição Arquivística (Nobrade)Vania Oliveira100% (1)
- Fundamentos Do SomDocumento80 páginasFundamentos Do Sommaiatakes1Ainda não há avaliações
- Livro RSL UPEDocumento108 páginasLivro RSL UPEAriane Cardoso100% (1)
- Acústica ArquiteturalDocumento33 páginasAcústica ArquiteturalGonçalo AntunesAinda não há avaliações
- Aritmetica Dos Numeros InteirosDocumento220 páginasAritmetica Dos Numeros InteirosEwerton SoaresAinda não há avaliações
- Introdução Aos Sistemas Vinculados e Aos Formalismos Simplético e de DiracDocumento171 páginasIntrodução Aos Sistemas Vinculados e Aos Formalismos Simplético e de DiracDunga PessoaAinda não há avaliações
- Aula 06 - Ventilação Natural - Parte 01Documento55 páginasAula 06 - Ventilação Natural - Parte 01Anderson BeckerAinda não há avaliações
- ACÚSTICADocumento22 páginasACÚSTICAJéssica LayneAinda não há avaliações
- Sistematização Do Processo de Desenvolvimento Integrado de Moldes de Injeção PDFDocumento305 páginasSistematização Do Processo de Desenvolvimento Integrado de Moldes de Injeção PDFErick100% (2)
- Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva: Uma Teoria Dialógica Do DireitoDocumento122 páginasHermenêutica Jurídica Heterorreflexiva: Uma Teoria Dialógica Do DireitoWálber Araujo CarneiroAinda não há avaliações
- O Método em Marx Com 1 e 4 CapaDocumento354 páginasO Método em Marx Com 1 e 4 CapaEsombraAinda não há avaliações
- Adeodato - Etica e Retorica - Cap. 13Documento38 páginasAdeodato - Etica e Retorica - Cap. 13JéssicaAinda não há avaliações
- Modulo MTC 2011 Ivana SchnitmanDocumento74 páginasModulo MTC 2011 Ivana SchnitmanIvana Schnitman100% (2)
- ABNT 2002 NBR - Normas para Apresentação de Trabalho AcadêmicosDocumento51 páginasABNT 2002 NBR - Normas para Apresentação de Trabalho AcadêmicosRoberta100% (16)
- 2017-Gramática Comentada Com Interpretação de Textos para Concursos (2017) - Adriana FigueiredoDocumento81 páginas2017-Gramática Comentada Com Interpretação de Textos para Concursos (2017) - Adriana FigueiredoErick Newman0% (1)
- MetodologiaPesquisa Moresi2003Documento108 páginasMetodologiaPesquisa Moresi2003sandreymar100% (3)
- E-Book Procedimentos Metodologicos 1 Atualizado 2022Documento120 páginasE-Book Procedimentos Metodologicos 1 Atualizado 2022MarianaAinda não há avaliações
- O Papel Das Bibliotecas Na Investigação CientíficaDocumento670 páginasO Papel Das Bibliotecas Na Investigação CientíficaDébora Costa AraujoAinda não há avaliações
- Metodologias Investigacao Vol3 DigitalDocumento88 páginasMetodologias Investigacao Vol3 DigitalFilipe Moura100% (1)
- 978 989 752 340 3 - Issuu Escrita CientíficaDocumento25 páginas978 989 752 340 3 - Issuu Escrita CientíficaLuciano Alves NascimentoAinda não há avaliações
- Roteiro de Prática 1 - Cinesioterapia SDE4667Documento2 páginasRoteiro de Prática 1 - Cinesioterapia SDE4667Adriana DornelesAinda não há avaliações
- MONTEIRO, John Manuel - Paulistas No Códice Costa Mattoso - CópiaDocumento14 páginasMONTEIRO, John Manuel - Paulistas No Códice Costa Mattoso - CópiaPablito PablitoAinda não há avaliações
- Trabalho Praticas PedagógicasDocumento14 páginasTrabalho Praticas Pedagógicasvitorsantossouza99Ainda não há avaliações
- Roteiro de Aula - Intensivo I - Aula 7Documento9 páginasRoteiro de Aula - Intensivo I - Aula 7El LoroAinda não há avaliações
- Projeto NÍVEL IVDocumento4 páginasProjeto NÍVEL IVAuricelia AgostinhoAinda não há avaliações
- Check List - Cinto de Segurança e AcessoriosDocumento2 páginasCheck List - Cinto de Segurança e AcessoriosJULIO CESAR CAMARGOAinda não há avaliações
- MUSSALIM BENTES 2012 Introdu A Linguistica Vol 2-1Documento306 páginasMUSSALIM BENTES 2012 Introdu A Linguistica Vol 2-1Islan LisboaAinda não há avaliações
- As Fronteiras Da Arquitectura Paisagista em Portugal WebDocumento138 páginasAs Fronteiras Da Arquitectura Paisagista em Portugal WebVFAinda não há avaliações
- Rito Antigo e Primitivo-Memphis-MisraimDocumento20 páginasRito Antigo e Primitivo-Memphis-MisraimAbdalla Mifleh100% (1)
- Resumos Estilos de Kung FuDocumento5 páginasResumos Estilos de Kung FuDaniel PereiraAinda não há avaliações
- Defensora P 218 Blica Susbtituta e Defensor P 218 BlicoDocumento28 páginasDefensora P 218 Blica Susbtituta e Defensor P 218 BlicoLucas Roberto Ribeiro de SouzaAinda não há avaliações
- Om Shreem Hreem Shreem Kamale Kamalaleyi Praseed Praseed Om Shreem Hreem Shreem Mahalaxmiyei NamahaDocumento10 páginasOm Shreem Hreem Shreem Kamale Kamalaleyi Praseed Praseed Om Shreem Hreem Shreem Mahalaxmiyei NamahaPaulo AlvarengaAinda não há avaliações
- Relatório 3 2º BimestreDocumento6 páginasRelatório 3 2º BimestreMonica MacedoAinda não há avaliações
- Montar Discos Storage NAS Via iSCSI PDFDocumento2 páginasMontar Discos Storage NAS Via iSCSI PDFWilliammarcelAinda não há avaliações
- Matriz Curricular de CN Do EM 2Documento8 páginasMatriz Curricular de CN Do EM 2Sara CristineAinda não há avaliações
- Máquinas de Fluxo - Curvas de Carga de Sistemas 3.2Documento8 páginasMáquinas de Fluxo - Curvas de Carga de Sistemas 3.2Joao CarlosAinda não há avaliações
- Edital 2024 Mestrado PPGCP 2Documento29 páginasEdital 2024 Mestrado PPGCP 2Bruna CecíliaAinda não há avaliações
- Relatorio 4Documento7 páginasRelatorio 4João Pedro AlvesAinda não há avaliações
- Missa de Envio Pastoral Da CriançaDocumento5 páginasMissa de Envio Pastoral Da CriançaPoliana Bueno0% (1)
- Controle Obesidade Infantil Escolas MunicipaisDocumento41 páginasControle Obesidade Infantil Escolas MunicipaisMariaCarlosdaviAinda não há avaliações
- APR - Istalações Elétrica Do Ar CondicionadoDocumento7 páginasAPR - Istalações Elétrica Do Ar CondicionadoWallace Lins100% (1)
- Apostila DesenvolvimentoDocumento33 páginasApostila DesenvolvimentoSávio Júnior100% (5)
- Questões FCC - ConcordânciaDocumento11 páginasQuestões FCC - ConcordânciaAnallu Guimarães Firme LorençãoAinda não há avaliações
- Independencia JogosDocumento38 páginasIndependencia JogosKeiti Gisele PereiraAinda não há avaliações
- Ensaio de Competição 1 Época - 17-03-1Documento4 páginasEnsaio de Competição 1 Época - 17-03-1Pedro Batista da Silva JúniorAinda não há avaliações