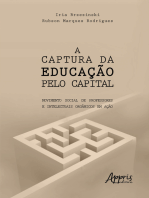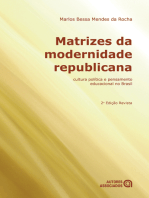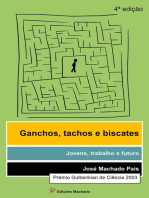Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
BOURDIEU Pierre Capital Cultural
BOURDIEU Pierre Capital Cultural
Enviado por
Jefferson MartinsDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
BOURDIEU Pierre Capital Cultural
BOURDIEU Pierre Capital Cultural
Enviado por
Jefferson MartinsDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Horizontes, Bragana Paulista, v. 20, p. 59-68, jan./dez.
2002
59
Capital cultural: ensaios de anlise inspirados nas idias de P. Bourdieu
Adriana Friszman Laplane* Enid Abreu Dobranszky**
Resumo: O presente artigo examina alguns resultados obtidos em pesquisa sobre hbitos de leitura entre estudantes universitrios de um curso de Letras. A anlise permite discernir pontos de concordncia entre esses resultados e os conceitos de capital cultural, habituse campo, elaborados por Pierre Bourdieu. Palavras-chave: Leitura e escrita; Capital cultural; Habitus.
Cultural capital: an analysis inspired on the ideas of P. Bourdieu Abstract: This paper considers some data obtained from a research on reading habits among university students of humanities. The analysis allows to identify points of agreement between these results and Pierre Bourdieus concepts of cultural capital,habitus and field. Keywords: Reading and writing; Cultural capital; Habitus.
1. Introduo Supe-se que o sistema acadmico se destine a igualar as oportunidades, preparando o indivduo para a escolha vocacional. Isto , identifica-se primeiramente igualdade de oportunidades com igualdade de formao; em seguida, reafirma-se a necessria homogeneizao na escolarizao do conhecimento. At pouco tempo meados do sculo XX? , no obstante dificuldades apontadas aqui e ali, relativamente poucas vezes essas premissas foram contestadas. At que se implementassem as polticas de educao extensiva a um contingente sempre crescente da populao e por um perodo cada vez maior, ampliado de quatro para oito anos (e tendente a alcanar onze ou doze anos). Verificou-se ento que o antigo sistema de seleo contnua, caso fosse aplicado a essa nova populao escolar, obrigaria a uma reteno maior do que o sistema poderia suportar; ela foi, ento sucessivamente substituda por novos critrios, supostamente mais inclusivos. Mas foi inevitvel, nesse caso, o reconhecimento de que, na base de tudo, est a desigualdade, vista sob a tica do dficit, isto : numa escala ascendente, os retidos esto atrasados, e assim atraso, dficit e expresses semelhantes colocaram o problema na grande maioria das vezes sob uma perspectiva de grau, no de diferena.1
E-mail para correspondncia: * adrianalaplane@saofrancisco.edu.br Horizontes, Bragana Paulista, v. 20, p. 59-68, jan./dez., 2002 ** enidabreu@saofrancisco.edu.br
So vrias as objees que se podem levantar contra as afirmaes acima, principalmente a de sua evidente simplificao. necessrio, contudo, comear por algum ponto e este talvez seja to bom quanto qualquer outro, em assuntos de educao. O que ele nos proporciona sobretudo uma entrada que nos poupe da busca das origens, cuja literatura j de conhecimento de todos. Porque a questo a ser discutida neste artigo bem especfica: a das atribulaes da homogeneizao pretendida pela escola e suas difceis relaes com as diversas culturas urbanas atuais das quais provm o alunado universitrio e, dentre eles, particularmente o dos cursos de Letras, os quais, supostamente, devero ensinar a ler e a escrever segundo os parmetros estabelecidos nacionalmente. A leitura e a escrita talvez sejam, na verdade, o calcanhar de Aquiles desses parmetros, a ponto de ter a leitura constitudo objeto de estudo de um nmero infindvel de discusses e pesquisas, coisa impensvel at algumas dcadas atrs. Apesar de comumente leitura e escrita serem consideradas um par, em termos de ensino, so muitas as objees que se podem levantar aqui. Em primeiro lugar, porque a competncia em leitura at mesmo em nveis razoveis no implica necessariamente a mesma competncia ou mesmo semelhante na escrita, como bem tm sublinhado muitos historiadores da leitura (Cavallo e Chartier). Porm, na maioria das vezes, na leitura que se
60
Adriana Friszman Laplane, Enid Abreu Dobranszky
concentram as preocupaes maiores, tanto para os docentes quanto para os estudiosos. Mais do que uma questo de aquisio de habilidades, como querem muitos, ela diz respeito a uma questo mais abrangente, a da(s) cultura(s): o significado que o leitor aporta ao texto produto tanto de sua familiaridade com relao aos protocolos de leitura inscritos no texto pelo autor quanto do pertencimento do leitor a comunidade(s) ou comunidades interpretativas, segundo os termos de Stanley Fish. Em suma: o significado de um texto resultado de expectativas largamente dependentes de referncias culturais e protocolos de leitura internalizados. Parafraseando e invertendo a clebre frase de Derrida, o texto tudo que est fora dele. nesse sentido que os trabalhos de Pierre Bourdieu constituem um arsenal terico e conceitual particularmente poderoso para o exame do campo da produo e da recepo de artefatos culturais. Seus conceitos de habitus e de campo assim como os de trajetria e estratgia permitem circunscrever um assunto to abrangente como o das relaes entre cultura e escola a questes passveis de verificao por pesquisas empricas e tambm centrar os argumentos e contra-argumentos em pontos-chave. As reaes s formulaes de Bourdieu no tardaram, principalmente quanto ao que se julgou acertadamente ou no um vis acentuadamente determinista dos conceitos de habitus e de trajetria. No Brasil, pelo menos, parece ter sido esse o foco das discusses em torno de seus escritos, e mais comumente as referncias giram em torno da questo do reprodutivismo,2 relegando a um segundo plano os escritos posteriores ao volume publicado com Passeron e nos quais ele se detm, mais ambiciosamente, na crtica da crtica literria e de arte. O que no precisaria forosamente ser assim: na questo mais afeta ao objeto deste artigo (formao de professores de Portugus e Literatura), por exemplo, o debate sobre a formao do cnone literrio e seu ensino em universidades tem se enriquecido com as formulaes tericas do socilogo francs.3 O princpio de Bourdieu de que as formas simblicas e sistemas de trocas no podem ser separadas de outros modos de prtica deveria nos alertar para a necessidade de uma leitura mais abrangente de seus escritos e, conseqentemente, a da apreciao de seu projeto como um todo um projeto ambicioso, sem dvida, mais sem dvida extremamente fecundo. No caso presente, sobretudo, porque nos convida a considerar a educao formal como parte de uma estrutura mais abrangente de criao e consumo de bens simblicos e a refletir sobre os pressupostos de nossos julgamentos em matria de arte e de literatura. Em outras palavras: quele que pretende
lidar com questes educacionais, no mbito do ensino de literatura, convm ler atentamente os escritos de Bourdieu em que ele empreende uma anlise do surgimento da categoria histrica da percepo artstica em As regras da arte e em outros artigos isolados sobre a gnese do olhar puro. essa viso abrangente porm concentrada nos pontos determinados pelos seus objetivos que constitui talvez o aspecto mais negligenciado das avaliaes sobre o projeto bourdieusiano: a recusa em cair no reducionismo quer das leituras puramente internas, quer dos modos de anlise externa de textos/ artefatos culturais e que ele compartilha, por exemplo, com estudiosos da arte como Panofsky e Baxandall,4 cujas anlises concentram-se na histria das categorias estticas que presidem recepo das obras pertencentes ao que Bourdieu chama de sub-campo da produo cultural restrita, isto , a produo que no visa ao mercado em larga escala em outros termos, a cultura erudita. Seus interlocutores, aqui, so todos aqueles que ou se concentram na leitura puramente interna dos artefatos culturais (no caso da literatura, por exemplo: o estruturalismo restrito, a fenomenologia ou a j no to nova a Nova Crtica norte-americana), ou no seu contexto social (principalmente a crtica marxista). O ponto em que incide a interveno bourdieusiana poderia ser resumido em uma passagem das Meditaes pascalianas, que, embora longa, merece transcrio: Pelo fato de ignorar o que a define enquanto tal, o erudito atribui aos agentes sua prpria viso, e em particular um interesse de puro conhecimento e de pura compreenso que lhes estranho, salvo em alguma exceo. () O mesmo se passa com o epistemocentrismo da teoria hermenutica da leitura (ou, a fortiori, da teoria da interpretao das obras de arte concebida como leitura): por conta de uma universalizao induzida dos pressupostos inscritos no estatuto do lector e da skhol escolar, condio de possibilidade dessa forma muito particular de leitura a qual, aplicada ao bel-prazer e quase sempre redundante, vai sendo metodicamente orientada para a extrao de uma significao intencional e coerente, tende-se a conceber toda compreenso, mesmo prtica, como uma interpretao, ou seja, como um ato de deciframento consciente de si (cujo paradigma a traduo). Sacrificando-se a uma forma no passvel de projeo de si em outrem, como gostavam de dizer os fenomenlogos, alis lastreada no mito profissional da leitura como recriao, costuma-se ler os auctores do presente ou do passado como lectores; a obra como tal se apresenta, vale dizer, como opus operatum totalizado e canonizado sob a forma de obra completa desgarrada do tempo de sua elaborao e suscetvel de ser percorrida em todos os sentidos, oculta a obra em processo de elaborao e sobretudo o modus operandi do qual o produto; tudo isso leva a proceder como se a lgica apreendida
Horizontes, Bragana Paulista, v. 20, p. 59-68, jan./dez., 2002
Capital cultural: ensaios de anlise inspirados nas idias de P. Bourdieu
61
pela leitura retrospectiva do lector, totalizante e atemporalizante, fosse o princpio da criao criativa do auctor, desde o comeo. Em suma, ignora-se a lgica especfica do processo de inveno o qual, mesmo nos casos das pesquisas mais formais, no seno a aplicao de uma disposio do sentido prtico, passvel de ser descoberto e compreendido contanto que se lhe desvende o teor na obra em que tal disposio se realiza. (Bourdieu, 2001, p. 66) Essa questo, longe do que poderia parecer primeira vista, est estreitamente ligada ao assunto que nos ocupa: o modo pelo qual alunos de cursos de Letras lidam com o corpus literrio com que supostamente deveriam lidar quando no exerccio do magistrio. Em outras palavras, os cursos de Letras necessariamente presssupem a formao de professores no s de portugus, mas tambm de literatura ou de leitura, no caso do grau fundamental. Nesta, mais do que em qualquer outra questo, o foco especialmente cultural: uma relao especfica com o cnone literrio e as obras dos chamados grandes escritores particularmente dependente da insero prvia dos universitrios na cultura escrita o capital cultural uma insero que no pode ser improvisada nem concretizada em trs ou quatro anos (que, alis, so ocupados por outras tarefas igualmente exigentes). O que nos remete, por sua vez, para a questo da linguagem, uma vez que a proficincia nos cdigos literrios pressupe uma igual proficincia nos registros da lngua escrita. O projeto de pesquisa cujos resultados parciais comentaremos neste artigo foi destinado a investigar justamente o grau de insero dos alunos do curso noturno de Letras: de uma universidade privada. 2. Habitus, campo e capital cultural: contribuies para a discusso sobre a produo e recepo de objetos culturais Para Bourdieu, os agentes no agem num vcuo, mas em situaes sociais concretas, reguladas por um conjunto de relaes sociais objetivas. Contra o determinismo das anlises estruturalistas, que reduzem o agente, segundo ele, a um mero portador da estrutura, mas, por outro lado, sem cair na filosofia da conscincia, embora dela preservando a possibilidade de considerar o agente como operador prtico de construes do objeto, ele desenvolveu o conceito de campo: espao definido por sua estruturao segundo suas prprias leis de funcionamento e suas prprias relaes de fora cada campo relativamente autnomo, muito embora entre os diversos campos (econmico, educacional, poltico, cultural etc.) exista uma homologia estrutural. Tambm mediante a recusa tanto do determinismo do estruturalismo quanto
Horizontes, Bragana Paulista, v. 20, p. 59-68, jan./dez., 2002
do voluntarismo da filosofia substancialista do mundo social introduzida a noo de habitus um conceito tomado filosofia escolstica, mas igualmente usado, embora num sentido diferente, por pensadores como Hegel, Husserl e Mauss no posfcio edio francesa do Arquitetura gtica e pensamento escolstico, de Panofsky (1967). O habitus definido como um sistema de disposies durveis e transmissveis, estruturas estruturadas e predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto , como princpios que geram e organizam prticas e representaes que podem ser objetivamente adaptadas a seus resultados, sem pressupor um objetivo consciente visando a um fim ou um domnio explcito das operaes necessrias a fim de obt-los (A lgica da prtica) ou, mais simplesmente, como um sentido do jogo, uma razo prtica, uma obedincia no consciente a regras tcitas, resultado de um longo processo de inculcao.5 Os conceitos de habitus e de campo constituem, assim, o alicerce do processo de anlise do campo da produo cultural, na qual se postula uma correspondncia entre as estruturas sociais e simblicas. A interligao entre ambas, possibilitada pela postulao terica da homologia estrutural, permite que se introduza no simblico a dinmica da luta pela hegemonia do poder: o poder simblico. Aqui talvez esteja a contribuio maior de Bourdieu, a saber, a construo de um modelo terico capaz de explicar as afinidades, as distncias, os conflitos que caracterizam o campo cultural, em suma, o complexo sistema no qual se movem autores, textos, leitores. Assim como os pressupostos tcitos e os valores em jogo nas lutas entre tradio e vanguarda as tomadas de posio sempre relativas dentro (e fora) do campo da produo cultural restrita , sem recorrer quer a um consenso quer a um Zeitgeist difusos e, portanto, desprovidos de fora operacional. Percorre todo o projeto terico de Bourdieu uma constante: a superao de antinomias a que nos obriga a prpria linguagem que forosamente se tem de empregar para falar sobre cultura: o dentro e o fora, o subjetivo e o objetivo, a liberdade e a necessidade. nesse sentido que ele se aproxima de Foucault, de Derrida. , pois, nessa teia simblica socialmente criada, na qual se formulam as estratgias da batalha pela hegemonia, que agem os mltiplos mediadores munidos da sua forma especfica de capital, o capital cultural, que diz respeito s formas de conhecimento cultural, competncias ou disposies, um cdigo internalizado, desigualmente distribudo e fiador dos ganhos de distino (Bourdieu, 1996, p. 562) , que contribuem para o significado das obras literrias e sustentam o universo da crena e seu poder, um poder que em tudo se assemelha palavra
62
Adriana Friszman Laplane, Enid Abreu Dobranszky
mgica eficaz, produtora do que anuncia: as obras, literrias ou artsticas, tm a importncia que lhes atribuem os grupos dotados de fora objetiva e relativa s posies que ocupam socialmente. Do mesmo modo que na produo, a recepo desses bens simblicos largamente tributria das respectivas competncias para sua anlise e apropriao: As disposies subjetivas que esto no princpio do valor tm, enquanto produtos de um processo histrico de instituio, a objetividade do que est fundado em uma ordem coletiva transcendente s conscincias e s vontades individuais: a particularidade da lgica social capaz de instituir sob a forma de campos e de habitus uma libido propriamente social que varia como os universos sociais em que se engendra e que ela mantm (libido dominandi no campo do poder, libido sciendi no campo cientfico etc. Bourdieu, 1996, p. 199 Da a ateno privilegiada questo do papel do sistema educacional para o acesso a esses bens simblicos. A discusso sobre competncias requeridas para a apropriao desses bens desloca-se para o terreno do social, subtraindo-se e dela fazendo uma crtica feroz ideologia do dom, do inato, da sensibilidade individual. Disposto a virar pelo avesso e dissecar os discursos vigentes sobre a democratizao da educao, Bourdieu pe em ao seu arsenal terico para segundo ele expor-lhes a m-f na aplicao de regras e oportunidades iguais para os desiguais. 3. Os conceitos de habitus e capital cultural na anlise dos sistemas de educao formal provvel por um efeito de inrcia cultural que continuamos tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia da escola libertadora, quando, ao contrrio, tudo tende a mostrar que ele um dos fatores mais eficazes de conservao social, pois fornece a aparncia de legitimidade s desigualdades sociais, e sanciona a herana cultural e o dom social tratado como dom natural. (Bourdieu, 1998, p. 41) Assim Bourdieu inicia o artigo publicado em 1966 na Revue franaise de sociologie, em que desvenda o funcionamento do sistema escolar francs e o papel dos vrios mecanismos na manuteno das desigualdades sociais. Algumas dessas idias que tm sofrido as mais diversas crticas, ao longo das ltimas dcadas contribuem ainda para a compreenso do lugar que a educao formal ocupa na sociedade moderna. Nesse artigo (assim como em uma srie de outros textos publicados na dcada de 60) Bourdieu aborda a
seletividade do processo de escolarizao que em termos mais modernos exclui os alunos das camadas sociais mais baixas por meio de um conjunto de procedimentos e aes que direcionam os alunos para seus respectivos destinos. A noo de capital cultural, intimamente relacionada ao conceito de habitus ajuda a explicar as diferenas no desempenho escolar. Bourdieu utiliza essas ferramentas conceituais nos mais diversos contextos do campo cultural para descrever os modos de funcionamento de um sistema educacional que se revela, nos seus mais nfimos detalhes, como (re)produtor de desigualdade, na medida em que, de forma sempre velada e resguardado pelos discursos do mrito favorece os portadores dos habitus considerados legtimos pelos grupos detentores do poder. Vrios aspectos implicados nos processos descritos por Bourdieu como, por exemplo, a sua discusso das relaes entre o nvel cultural global da famlia e o xito escolar dos filhos ou a influncia das diferenas entre os diplomas dos pais (segundo o prestgio e o nvel de excelncia das escolas em que tenham sido obtidos) remetem a fatos facilmente constatveis no sistema de ensino brasileiro de hoje: especificamente, no que se refere ao ensino superior, o nvel de escolaridade dos pais um indicador do sucesso acadmico dos alunos.6 Da mesma forma Bourdieu assinala a posse de informaes sobre o nvel superior do sistema educacional como a parte mais valiosa (rentvel), em termos escolares, do capital cultural, o que tambm encontra seu correspondente na realidade educacional brasileira.7 Bourdieu destaca, ainda, que as crianas de origem social privilegiada no devem ao seu meio social apenas os hbitos e um certo treinamento aplicvel s tarefas escolares mas, tambm, saberes, gosto e a familiaridade com os diferentes domnios da cultura (teatro, msica, cinema, museus, literatura). A diferena de desempenho entre os grupos sociais aumenta quanto mais os domnios da cultura escapam homogeneizao e ao controle exercido pela escola (pintura ou teatro de vanguarda no so ensinados nas escolas). As prticas lingusticas merecem, nesse contexto, especial ateno: Com efeito, o xito nos estudos literrios est muito estreitamente ligado aptido para o manejo da lngua escolar, que s uma lngua materna para as crianas oriundas das classes cultas. De todos os obstculos culturais, aqueles que se relacionam com a lngua falada no meio familiar so, sem dvida, os mais graves e os insidiosos, sobretudo nos primeiros anos da escolaridade, quando a compreenso e o manejo da lngua constituem o ponto de ateno principal na avaliao dos mestres. Mas a influncia
Horizontes, Bragana Paulista, v. 20, p. 59-68, jan./dez., 2002
Capital cultural: ensaios de anlise inspirados nas idias de P. Bourdieu
63
do meio lingstico de origem no cessa jamais de se exercer, de um lado porque a riqueza, a fineza e o estilo da expresso sempre sero considerados, implcita ou explicitamente, consciente ou inconscientemente, em todos os nveis do cursus, e, ainda que em graus diversos, em todas as carreiras universitrias, at mesmo nas cientficas. De outro lado, porque a lngua no um simples instrumento, mais ou menos eficaz, mais ou menos adequado, do pensamento mas fornece alm de um vocabulrio mais ou menos rico uma sintaxe, isto , um sistema de categorias mais ou menos complexas, de maneira que a aptido para o deciframento e a manipulao de estruturas complexas, quer lgicas quer estticas, parece funo direta da complexidade da estrutura da lngua inicialmente falada no meio familiar, que lega sempre uma parte de suas caractersticas lngua adquirida na escola. (Bourdieu, 1998) Configurando-se como fator de excluso j a partir dos anos iniciais da escolarizao, a lngua um dos domnios mais importantes de manifestao das relaes sociais e marca profundamente a trajetria dos indivduos no processo escolar. A competncia no uso dos recursos expressivos da lngua mostra-se particularmente poderosa, no nvel universitrio, para assegurar aos alunos o ingresso, a permanncia e o sucesso acadmico. Para Bourdieu, o problema do sucesso ou do fracasso escolar est posto na relao entre a posse de certo capital (social, lingustico e cultural) e seu valor no mercado escolar. O capital cultural constituido de saberes, competncias, cdigos e outras aquisies. Na sua forma incorporada,8 ele descrito como: ...um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante da pessoa, um habitus. (Bourdieu, 1998, p. 74-75). A transmisso do capital cultural requer investimento de tempo e se realiza de modo dissimulado, invisvel e inconsciente. O carter hereditrio dessa transmisso e a impossibilidade de ela ser controlada pelas famlias ou instituies torna o capital cultural, na viso de Bourdieu, um fator altamente determinante do sucesso ou do fracasso, e portanto, da trajetria dos alunos. Os crticos da noo apontam, dentre outras coisas, que ela esvaziada de sentido por no contemplar os aspectos essenciais do conceito de capital. Afinal, a idia de capital distingue-se da noo de valor e da de riqueza porque implica excedente e portanto explorao. Nesse sentido, o conceito de capital cultural, mesmo que se considerem os seus diferentes estados incorporado, objetivado e institucionalizado aproxima-se mais dessas noes do que da idia de capital econmico (Beasley-Murray, 2000). Os defensores do conceito, por sua vez, reconhecem essa crtica, mas destacam que a contribuio de Bourdieu reside em indicar a existncia
Horizontes, Bragana Paulista, v. 20, p. 59-68, jan./dez., 2002
de formas imateriais de capital (cultural, simblico e social) e em assinalar a possibilidade de converso entre elas (Calhoum, 1993). Do nosso ponto de vista, a noo com algumas reservas quanto fora da dimenso hereditria e seu potencial determinista til para a compreenso e discusso dos problemas e das contradies que perpassam os sistemas de educao formal. Um problema da prtica: As dificuldades de leitura dos alunos de um curso de Letras Quase todos os alunos de uma turma de concluintes de um curso de Letras em uma Universidade privada do interior do Estado de So Paulo afirmam que as leituras indicadas pelos professores apresentam nveis de dificuldade mdio ou alto. Essa afirmao faz parte dos dados levantados com base em um questionrio que investiga aspectos relacionados s concepes de leitura9 dos alunos. A metade do mesmo grupo de alunos revela, ainda, enfrentar dificuldades para acompanhar as disciplinas. Os problemas de leitura dos alunos podem ser situados no contexto de uma discusso mais ampla que se remonta s origens da implantao do sistema de educao formal no Brasil e envolve, de modo mais prximo, as peripcias da histria recente do sistema de ensino superior brasileiro. recorrente, dentre as vrias questes que atravessam o debate ensino superior pblico versus ensino superior particular, a discusso dos objetivos, mtodos e qualidade do ensino oferecido por essas instituies. A histria das origens de ambos os tipos de instituio tambm contribui para opor uma outra. As universidades pblicas nasceram sob a gide da excelncia, com o objetivo, muitas vezes explcito, de formar a elite cientfica e poltica do pas. A universidade pblica concentrou esforos e recursos na formao altamente qualificada, na pesquisa cientfica e no desenvolvimento de tecnologia. J a universidade particular, de uma maneira geral, tem atendido a demanda crescente por ensino superior e tem criado escolas cuja estrutura, em muitos casos, se assemelha a uma extenso do ensino mdio, distanciando-se da idia de Universidade como produtora e difusora de conhecimento. Dentre as caractersticas de um bom nmero de instituies de ensino superior privado esto: oferta de cursos preferencialmente noturnos; um grande nmero de alunos por turma; pequeno nmero de professores com titulao de mestre e doutor; currculos pautados pelas necessidades do mercado de trabalho; organizao e aes voltadas para atender a demandas pontuais como, por exemplo, melhoria do desempenho dos
64
Adriana Friszman Laplane, Enid Abreu Dobranszky
alunos no provo e atuao pouco significativa na rea de produo de conhecimento. Essas instituies tm sido moldadas, em muitos casos, pela priorizao do lucro em detrimento da qualidade da formao oferecida. O quadro assim desenhado produz um profissional pouco qualificado, identificado no mercado como de segunda categoria. As expectativas desse profissional, como de esperar, so as mais restritas possveis: tornar-se professor de portugus, ou seja, ensinar gramtica e redao. Da a surpresa, manifestada por muitos, ao se defrontarem com as aulas de literatura, nas quais, vale dizer, no vem nenhuma utilidade. A relao particular com a cultura, que o que constitui a cultura escolar, fica privada de uma de suas sustentaes, a saber, a crena no valor dessa cultura. A universidade em que a pesquisa foi desenvolvida no compartilha de todas as caractersticas aqui listadas. O corpo docente qualificado e o currculo acompanha as tendncias mais recentes na rea. Por outro lado, ao se considerar o corpo discente, encontra-se um alunado j engajado no mercado de trabalho (diferentemente das universidades pblicas, em que a maioria dos estudantes no trabalha), com maior proporo de alunos mais velhos e que assumem responsabilidades quanto ao seu prprio sustento e ao da famlia. Propomos, nesta parte do texto, um exerccio que tem como nica pretenso mobilizar os conceitos j discutidos na busca da compreenso do problema posto. Propomos, assim, olhar alguns enunciados dos alunos atravs da lente dos conceitos de capital cultural e habitus dentre outros que, necessariamente esto implicados na anlise. Para efeitos do presente artigo, optamos por apresentar as respostas a algumas das questes formuladas aos alunos. Os dizeres dos alunos sobre as formas encontradas para enfrentar as dificuldades de leitura na disciplina Literatura; as suas percepes sobre os fatores que geram as dificuldades e as possveis causas por eles atribudas aos problemas apresentam-se como exemplos interessantes para a discusso antes empreendida sobre os modos de funcionamento do sistema de ensino, mas tambm e, principalmente, para apreender o movimento pelo qual os sujeitos se inscrevem no espao institucional, jogam os jogos propostos no espao social, incorporam e/ou resistem s normas vigentes e se situam em relao a um conhecimento que segundo suas prprias palavras lhes alheio. Estratgia e dificuldades de leitura Quais as estratgias dos alunos para sanar as dificuldades na leitura de textos literrios? Uma parte deles afirma que procura ajuda com o professor, colegas
e outras pessoas. Alguns lem o texto, mesmo sem compreender, enquanto outros recorrem diretamente ao professor ou aos colegas. Outro grupo centra-se na leitura do texto indicado e outro, ainda, apela a outros textos ou combina todas as estratgias anteriores. Esto tambm aqueles que desistem de qualquer tentativa de realizar a leitura. Exemplos: Leio at o final apesar da dificuldade e procuro conversar sobre o livro com os meus colegas de sala. Eu procuro prestar maior ateno nas aulas, para obter a compreenso que sozinha no consegui realizar. Primeiro leio somente silenciosamente, depois torno a ler em voz alta, fazendo comentrios, inferncias, grifando e anotando o que achar importante. No leio por inteiro, dou uma lidinha ou procuro resumos sobre o tema e/ou livro. Procuro outras indicaes e inferncias para auxiliar-me na leitura. Paro de ler. J no gosto de ler, quando o livro indicado difcil me desanimo logo no comeo e da que no leio mesmo. Detenhamo-nos, por um momento, na noo de estratgia. Na formulao de Bourdieu, essa noo est intrinsecamente relacionada ao conceito de habitus: Princpio gerador de estratgias objetivas, como seqncias de prticas estruturadas que so orientadas por referncia a funes objetivas, o habitus encerra a soluo dos paradoxos do sentido objetivo sem inteno subjetiva, entre outras razes porque a prpria palavra o diz ele prope explicitamente a questo de sua prpria gnese coletiva e individual. Se cada um dos momentos da srie de aes ordenadas e orientadas que constituem as estratgias objetivas pode parecer determinado pela antecipao do futuro e, em particular, de suas prprias conseqncias (o que justifica o emprego do conceito de estratgia), porque as prticas que o habitus engendra e que so comandadas pelas condies passadas da produo de seu princpio gerador j esto previamente adaptadas s condies nas quais ele se constituiu. O ajustamento s condies objetivas , com efeito, perfeito e imediatamente bem-sucedido e a iluso da finalidade ou, o que vem a dar no mesmo, do mecanicismo auto-regulado, total no caso e somente no caso em que as condies de produo e as condies de efetuao coincidam perfeitamente. (Bourdieu, 1996, p. 84) De acordo com essa noo, o agente social se ajusta s situaes como resultado de um processo de
Horizontes, Bragana Paulista, v. 20, p. 59-68, jan./dez., 2002
Capital cultural: ensaios de anlise inspirados nas idias de P. Bourdieu
65
aprendizagem que o poupa de um processo constante de clculo e reflexo. Bourdieu oferece muitas descries exemplares de experincia vivida. Mas desde o comeo insiste em que a sociologia deve consisitir na reapropriao do sentido da experiencia original (e socialmente) posta sob o signo da alienao. Algumas das estratgias relatadas pelos alunos, velhas conhecidas dos professores, soam, a princpio, banais. Diante de problemas que sugerem uma diferena de habitus e, portanto, um confronto a todas luzes assimtrico, a insistncia na leitura do prprio texto, se apresenta como uma estratgia ingnua. Se a leitura requisito indispensvel para a compreenso, a construo do significado do texto literrio depende em larga medida da possibilidade de estabelecer relaes com outros textos. A concepo de leitura evidenciada pela insistncia em ler e reler quando utilizada como estratgia nica circunscreve o sentido ao prprio texto, como se o sentido o habitasse, de fato, e como se a significao fosse o produto de uma investida contumaz na compreenso do (suposto) significado das palavras. Assim, a circunscrio leitura do prprio texto, por exemplo, ou a estratgia de recorrer aos colegas parecem insuficientes para reduzir a distncia entre os conhecimentos e saberes necessrios leitura do texto e as competncias dos alunos. Por outro lado, elas podem ser entendidas como estratgias de resistncia, na medida em que se revelam eficazes para garantir a sobrevivncia da maioria dos alunos no sistema. Todavia, uma outra tica permitiria qualificar essas estratgias como imediatistas porque se destinam a um objetivo pontual e imediato: o de resolver da forma mais rpida possvel (no necessariamente da melhor forma possvel) o problema que o texto suscita. Sob essa perspectiva, elas remetem reflexo sobre o imediatismo (traduzido em atos tpicos como a restrio do estudo aos textos bsicos, o investimento de tempo de estudo apenas s vsperas de provas e exames e outros) que permeia as prticas escolares. Um imediatismo que no pode ser atribudo apenas a uma certa cultura dos alunos, mas sim dinmica do prprio sistema escolar que organizado de modo a privilegiar a economia (de tempo, principalmente) em detrimento dos aspectos relacionados qualidade acaba valorizando essas prticas. Sobre essa questo, mesmo as (mais criticadas) descries bourdieusianas do modo como o sistema escolar reproduz o sistema social mostram-se, ainda, profcuas. Elas permitem reconhecer as prticas escolares mesmo aquelas que se apresentam como individuais ou tpicas de certos grupos de indivduos como prticas sociais.
Fatores que contribuem para o surgimento de dificuldades Quais so os fatores que, segundo os prprios alunos, colaboram para criar dificuldades nas aulas de literatura? Esses fatores so descritos como: problemas de compreenso da linguagem dos textos, das crticas literrias e do professor em sala de aula; a dificuldade na escrita e a dificuldade em compreender os objetivos do professor e em substituir o ponto de vista do senso comum pela anlise fundamentada. Exemplos: Problemas de compreenso Acompanhar as explicaes sobre as obras. Tenho dificuldades em entender as explicaes e acho que minha defasagem j vem de anos anteriores. muito difcil entender o que um autor fala dos poetas, as crticas so difceis de serem lidas e compreendidas. Acredito que as leituras so complexas, no trazem explicitamente o significado das expresses. Em assimilar com clareza o contedo. Cursei o magistrio e no tive literatura. A maioria dos temas so desconhecidos por no terem sido tratados durante o magistrio. Muitas vezes eu no consigo fazer relao social e histrica, ento fico desmotivada, no consigo entender e acompanhar o raciocnio da professora e desanimo. Dificuldades na escrita Exemplos: A escrita essencialmente uma dificuldade para mim, as vezes posso ter estudado mas ao deparar-me com o enunciado fica difcil ser objetiva e atingir o objetivo do professor. Na hora da prova, colocar o entendimento da matria com clareza. A minha dificuldade maior colocar no papel aquilo que estou pensando, se fosse cobrado oralmente talvez me sasse melhor. A minha maior dificuldade est na hora de escrever aquilo que entendi, principalmente literatura. Consigo entender a explicao da professora mas nas avaliaes eu no consigo elaborar as respostas das questes solicitadas.
Horizontes, Bragana Paulista, v. 20, p. 59-68, jan./dez., 2002
66
Adriana Friszman Laplane, Enid Abreu Dobranszky
Dificuldade em compreender os objetivos do professor e em substituir o ponto de vista subjetivo pela anlise fundamentada Exemplos: Sempre estive acostumada a fazer interpretaes minhas a respeito de um texto, no entanto sinto que tenho que criticar, ou melhor analisar o que um outro crtico diz a respeito de uma obra de um certo autor. O que o professor quer que eu saiba, qual o objetivo dele na avaliao e na leitura dos textos. As falas dos alunos sobre as suas dificuldades em compreender os textos e as explicaes remetem questo da transmisso do conhecimento, a uma concepo de linguagem permeada, dentre outros, pelo paradigma da comunicao (emissor-mensagem-receptor), em que no se suspeita (nem poderia se suspeitar) de qualidades da linguagem tais como a opacidade, a pluralidade e a disputa de sentidos em jogo e, portanto da impossibilidade de a comunicao se efetivar de maneira clara, transparente e unvoca. A compreenso de obras literrias e de textos de crtica literria aparece, assim, como uma operao impossvel, que se ressente da ausncia do significado das expresses, por exemplo. Essa concepo est presente, tambm, quando os alunos se referem s dificuldades na escrita e separam a compreenso da produo do texto. As dificuldades no uso da escrita, por outro lado, contribuem para mascarar ou gerar uma certa confuso em torno de um problema que abrange, na verdade o uso dos recursos expressivos da lngua, em geral, e no apenas a competncia restrita a um ou outro registro. Entretanto, alguns revelam a suspeita de que falta algo a eles que impede a apreenso de certos textos ou explicaes. O que falta conceituado como conhecimento prvio, dificuldade em estabelecer relaes ou referido como defasagem. luz dos conceitos de Bourdieu, a sala de aula pode ser vista como um cenrio de confronto entre o habitus de professores e alunos e entre o capital cultural de ambos os grupos. Na aula de literatura, de maneira mais evidente do que em outras, o problema no se reduz a conhecimento (contedo, segundo os alunos), mas diz respeito a um conjunto mais ou menos articulado de competncias lingusticas e culturais com base nas quais se constitui o sistema de referncias que permite a recepo e a apropriao dos bens simblicos. Esses conceitos contribuem, tambm, para a compreenso das diferenas apreciveis no interior do prprio grupo dos alunos sempre diverso e heterogneo e para a anlise das conseqentes
diferenas de desempenho entre eles, passveis de serem atribudas, de um modo geral, distribuio desigual dos referidos bens simblicos, da herana cultural e das disposies para se apropriar do conhecimento. Essas questes tornam-se mais evidentes, ainda, quando os alunos discorrem sobre as causas das suas dificuldades. Causas das dificuldades Exemplos: Falta de pr-requisitos da minha parte. Muitas vezes a falta de leitura da obra. No ter todo o conhecimento necessrio para que possa entender o assunto. Falta de treino para escrever. Talvez pela bagagem que trago das sries anteriores ou por ser uma disciplina que exige um maior tempo para as leituras auxiliares. Um no preparo anterior. Ou seja, a no leitura dos textos, s vezes, e o no preparo no colegial. porque eu odeio literatura mesmo assim eu tento me esforar no ltimo. Talvez por ler muito s o que eu realmente gosto, isso me causa desinteresse na aula e nas leituras. Acho que preciso aprender a ler mesmo o que no gosto. A suspeita da falta explicitada, na fala dos alunos, na meno a uma longa lista que inclui conhecimentos e competncias sempre distantes da sua realidade e da sua cultura. Segundo eles falta leitura, conhecimento e prrequisitos para a compreenso dos assuntos tratados. Falta, tambm, tempo para investir na leitura e no estudo e tempo de aula para dar conta de uma bem identificada complexidade. Alm disso, falta competncia no registro escrito da lngua, falta interesse e falta gosto pela coisa literria. Mas, se as ditas carncias impressionam, no primeiro momento, por constituir um bloco coerente (e evidente), um outro exerccio de anlise, cujo foco esteja centrado no detalhe de alguns depoimentos pode indicar outras direes. Referimo-nos presena poderosa e vital de uma resistncia que se faz sentir na recusa daquilo que o sistema de ensino oferece. Assim, falta de leitura dos textos obrigatrios, ope-se a leitura prazerosa, uma leitura que em tudo se distancia da proposta escolar que tudo ritualiza e rotiniza. Essa outra forma de leitura, embora distante das exigncias do desempenho escolar, inscreve-se em um certo habitus.
Horizontes, Bragana Paulista, v. 20, p. 59-68, jan./dez., 2002
Capital cultural: ensaios de anlise inspirados nas idias de P. Bourdieu
67
Da mesma maneira, o que chamamos de falta de gosto pela coisa literria enredando-nos, evidentemente, nas armadilhas da linguagem , nas palavras de um aluno, dio da literatura ou, em uma interpretao alternativa, afirmao por meio da rejeio. A difcil jornada em direo ao cnone literrio, a cuja formao presidem tantos mediadores crticos literrios, historiadores da literatura, professores universitrios, principalmente , requer, assim, mais do que simples leituras sucessivas que despertem o gosto e o hbito da leitura: requer um longo processo de imerso num universo que, como vimos, totalmente estranho aos alunos de Letras cujos depoimentos destacamos. Que esse processo possa ser efetivado com xito por muitos no se pode negar; contudo, preciso atentar para o fato de que no pequeno o nmero daqueles que no o conseguem. E que, conseqentemente, no podero cumprir o que polticas educacionais dele demandam: precisamente educar leitores. Consideraes finais A revisitao dos textos e conceitos de P. Bourdieu e o exerccio de anlise ora apresentado nos confrontam, no terreno da prtica, com a permanncia de certos aspectos essenciais aos sistemas de educao no mundo capitalista. Se seus construtos tericos malgrado as crticas conseguem produzir um retrato vvido e atual, em muitos sentidos, do que acontece nas escolas porque, a bem de verdade, pouco tem mudado nelas, alm do discurso pedaggico. A atualidade e vigncia das anlises propostas por Bourdieu nos levam, de alguma maneira, a retomar as crticas nfase da sua viso nos aspectos estruturados das prticas sociais. Do ponto de vista da Sociologia da Educao, essas idias tm sido amplamente discutidas, dando origem a solues tericas que, supostamente, restituem aos sujeitos a liberdade, a criatividade e a possibilidade de resistir dominao. necessrio ponderar, entretanto, que o estatuto terico-prtico da noo de resistncia est, ainda, longe de ser definido. preciso, tambm, reconhecer a importncia das formulaes crticas que permitem incorporar anlise aspectos no contemplados quando se toma por exemplo a noo de classe social como categoria central.10 No entanto, as quatro dcadas transcorridas desde os primeiros apontamentos sobre o funcionamento do sistema de educao formal e a permanncia dos traos fundamentais desse sistema, assim como a relativamente fcil transposio dessas descries para uma realidade to diferente da francesa como a brasileira parecem atestar que esses aspectos merecem, ainda, a maior ateno por parte de cientistas sociais,
Horizontes, Bragana Paulista, v. 20, p. 59-68, jan./dez., 2002
educadores e formuladores de polticas pblicas e, muito especialmente, por parte daqueles que se declaram a favor da mudana. Quanto s crticas que muitas vezes se levantaram contra a sociologizao da linguagem operada por Bourdieu, embora no se possa absolutamente negar que ela deixa de lado importantes aspectos da linguagem, cabem duas observaes: (a) sociologizar algo que se constitui socialmente no pode ser considerado uma proposio invlida, pois nos chama a ateno para o que lhe essencial; (b) cabe a estudiosos retomar essa linha e verificar seus acertos e desvios e, assim, levar avante reflexes que ela suscita. isso que define a fecundidade de uma teoria: sua fecundidade. Notas
1
As diferentes formas de conceitualizar esse problema incluem estudos realizados sob vrias perspectivas, principalmente, a partir da dcada de 60. Dentre esses, so amplamente conhecidos os trabalhos de Bernstein (1964, 1974) sobre os cdigos lingusticos e sobre a noo de dficit lingustico e privao cultural. Essas idias ecoaram na rea de educao, e foram responsveis pela compreenso de fenmenos como o insucesso, a repetncia e a evaso escolar como problemas decorrentes de privaes na esfera da lngua e da cultura. A extenso do perodo de permanncia nas escolas (de 3 para 4, 5 ou 6 horas), o incremento das atividades de reforo escolaridade e a oferta de atividades complementares foram alguns dos reflexos desse modo de conceber o fracasso escolar. O aumento do nmero de anos de estudo, j citado, constitui outra das polticas que se inserem nesse contexto e se traduz na preocupao com o incremento do acesso da populao aos nveis iniciais da educao (educao infantil: creche e pr-escola) e com a extenso da permanncia no sistema at os nveis mdio e superior. Para a recepo dos escritos de Bourdieu no Brasil, ver: NOGUEIRA, Maria Alice e NOGUEIRA, Cludio Marques Martins, 2002. Ver GUILLORY, John. Cultural capital. The problem of literary canon formation. Chicago: University of Chicago Press, 1993. Ver principalmente, PANOFSKY, Erwin. O significado nas artes visuais (So Paulo: Perspectiva, 19), no qual ele estabelece os nveis de interpretao (iconografia e iconologia); e BAXANDALL, Michael. O olhar renascente. Pintura e experincia social na Itlia da Renascena (So Paulo: Paz e Terra, 1991), em cujo Prefcio l-se: Minha tese era
68
Adriana Friszman Laplane, Enid Abreu Dobranszky
9 10
de que fatos sociais favoreciam o desenvolvimento de faculdades e hbitos visuais caractersticos, que se transformavam por sua vez em elementos claramente identificveis no estilo do pintor (p. 9). O termo inculcao, utilizado nas formulaes iniciais de Bourdieu, remete a uma via de mo nica e foi posteriormente substitudo pelo termo incorporao. As estatsticas produzidas pelas universidades pblicas paulistas sobre o perfil dos seus alunos permitem constatar que uma proporo superior metade dos pais de alunos matriculados em seus cursos freqentou o ensino superior. No nosso meio, pesquisas recentes sobre as expectativas de alunos concluntes do ensino mdio pblico mostram que pequeno, ainda, o percentual de alunos que manifesta a expectativa de continuar os estudos superiores. Ver Os trs estados do capital cultural. In: Maria A. NOGUEIRA e Afrnio CATANI, Pierre Bourdieu Escritos de educao. Petrpolis: Vozes, 1998. Projeto: Necessidades e atributos da leitura na concepo de professores e alunos universitrios. Ver CICCOUREL, Aaron. V. Structural and Processual Epistemologies. In: Craig CALHOUM, Edward LIPUMA; Moishe POSTONE. (Ed.). Bourdieu. Critical perspectives. Chicago: The University of Chicago Press, 1993. Referncias bibliogrficas
codes. In: GUMPERZ, J.; HYMES, D. (Ed.). The ethnography of communication. American Anthropologist, Special Publication, 66, n. 6, part 2, 1964. _____. Postscript to Class, Codes and Control. New York: Schoken, 1974. BOURDIEU, Pierre. Lies da aula. So Paulo: tica, 1988. _____. Meditaes pascalianas. Trad. Sergio Miceli. So Paulo: Cia. das Letras, 2001. _____. The field of cultural production. Essays on art and literature. Org. Randal Johnson. Nova York: Columbia University Press, 1993. _____. As regras da arte. Gnese e estrutura do campo literrio. Trad. Maria Lcia Machado. So Paulo: Cia. das Letras, 1996a _____. Distinction. A social critique of the judgement of taste. Trans. Richard Nice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1996b. _____. O poder simblico. Lisboa: Difel, 1996c. _____. Langage et pouvoir symbolique. Paris: Fayard, 2001. CALHOUM, Craig. Habitus, field and capital: the question of historical specificity. In: CALHOUM, Craig; Edward LIPUMA; Moishe POSTONE. (Eds.). Bourdieu Critical Perspectives. Chicago: The University of Chicago Press, 1993. CICCOUREL, Aaron. V. Structural and Processual Epistemologies. In: CALHOUM, Craig; LIPUMA, Edward; Moishe POSTONE. (Ed.). Bourdieu Critical perspectives. Chicago: The University of Chicago Press, 1993. NOGUEIRA, Maria Alice; NOGUEIRA, Cludio Marques Martins. A sociologia da Educao de Pierre Bourdieu. Educao e Sociedade, ano 23, p. 15-36, abril/ 2002. _____; CATANI, Afrnio (Org.). Pierre Bourdieu. Escritos de educao. Petrpolis, RJ: Vozes, 1998. THOMPSON, John, B. Prface. In: BOURDIEU, P. Langage et pouvoir symbolique. Paris: Fayard, 2001.
BAXANDALL, Michael. O olhar renascente. Pintura e experincia social na Itlia da Renascena. Trad. Maria Ceclia Preto R. Almeida. So Paulo: Paz e Terra, 1991. BEASLEY-MURRAY, Jon. Value and capital in Bourdieu and Marx. In: BROWN, N.; SZEMAN, I. Pierre Bourdieu: Fieldwork in Culture. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2000.BOURDIEU, Pierre. As regras da arte. Gnese e estrutura do campo literrio. Trad. Maria Lcia Machado. So Paulo: Cia. das Letras, 1996. BERENSTEIN, Basil. Elaborated and restricted Sobre as autoras:
Adriana Friszman Laplane doutora pela Universidade Estadual de Campinas e professora do Programa de Estudos Ps-Graduados em Educao na Universidade So Francisco e da Faculdade de Cincias Mdicas da Universidade Estadual de Campinas. Enid Abreu Dobrnszky doutora pela Universidade Estadual de Campinas e professora do Programa de Estudos Ps-Graduados em Educao na Universidade So Francisco. Entre suas tradues encontram-se a do Preface to Shakespeare, de Samuel Johnson, Racine et Shakespeare, de Stendhal (Iluminuras, 1996), e os Essays sur la peinture, de Diderot (Papirus, 1995).
Horizontes, Bragana Paulista, v. 20, p. 59-68, jan./dez., 2002
Você também pode gostar
- Cova Do Urso. Saturno em PeixesDocumento8 páginasCova Do Urso. Saturno em PeixesAmandaAinda não há avaliações
- 1691063629997ebook o Raio X Da Lideranca Brasileira PDFDocumento35 páginas1691063629997ebook o Raio X Da Lideranca Brasileira PDFAna FláviaAinda não há avaliações
- Politecnia e Formação IntegradaDocumento24 páginasPolitecnia e Formação IntegradaArlei Evaristo100% (1)
- Hall, S. A Identidade Cultural Na Pós-Modernidade.Documento54 páginasHall, S. A Identidade Cultural Na Pós-Modernidade.Amanda Romera100% (1)
- Michel Foucault, Discurso e Invenção Da VerdadeDocumento13 páginasMichel Foucault, Discurso e Invenção Da VerdadeDeborah Barbosa GonzalezAinda não há avaliações
- Educação menor: conceitos e experimentaçõesNo EverandEducação menor: conceitos e experimentaçõesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Globalização, Cultura e SubjetividadeDocumento7 páginasGlobalização, Cultura e SubjetividadetutmoshAinda não há avaliações
- BECKER, H. História de VidaDocumento16 páginasBECKER, H. História de VidaGabrielAinda não há avaliações
- Princípios DidáticosDocumento2 páginasPrincípios DidáticosSaavedra Tchokombonge José100% (15)
- Filosofia Da Rede - MUSSODocumento15 páginasFilosofia Da Rede - MUSSOsccalix100% (2)
- Da Verdade dos Espaços aos Espaços da Verdade: Uma Genealogia em Michel FoucaultNo EverandDa Verdade dos Espaços aos Espaços da Verdade: Uma Genealogia em Michel FoucaultAinda não há avaliações
- Denver ArtigoDocumento6 páginasDenver ArtigoIsabela EmerickAinda não há avaliações
- Dicionário crítico de educação e tecnologias e de educação a distânciaNo EverandDicionário crítico de educação e tecnologias e de educação a distânciaAinda não há avaliações
- A Captura da Educação pelo Capital: Movimento Social de Professores e Intelectuais Orgânicos em AçãoNo EverandA Captura da Educação pelo Capital: Movimento Social de Professores e Intelectuais Orgânicos em AçãoAinda não há avaliações
- DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO LÓGICO MATEMÁTICO E AS Contribuições Dos Jogos para o Trablho Do Psicopedagogo PDFDocumento11 páginasDESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO LÓGICO MATEMÁTICO E AS Contribuições Dos Jogos para o Trablho Do Psicopedagogo PDFRaquel Correa Lemos100% (1)
- Resenha Cap 14 - Desafios Da Aprendizagem Ubíqua para A Educação. Lucia SantaellaDocumento3 páginasResenha Cap 14 - Desafios Da Aprendizagem Ubíqua para A Educação. Lucia SantaellaCarleane SilveiraAinda não há avaliações
- Pedagogia e governamentalidade: ou Da Modernidade como uma sociedade educativaNo EverandPedagogia e governamentalidade: ou Da Modernidade como uma sociedade educativaAinda não há avaliações
- Sílvio Gallo - Eu, o Outro e Tantos Outros PDFDocumento16 páginasSílvio Gallo - Eu, o Outro e Tantos Outros PDFdesassossego44Ainda não há avaliações
- A Republica Dos Bons Sentimentos - MafessoliDocumento128 páginasA Republica Dos Bons Sentimentos - MafessoliLeonardo Izoton Braga100% (1)
- Panoramas Da Violência Contra Mulheres Nas Universidades Brasileiras e Latino-AmericanasDocumento554 páginasPanoramas Da Violência Contra Mulheres Nas Universidades Brasileiras e Latino-AmericanasFabieneGamaAinda não há avaliações
- A nova aventura (auto)biográfica tomo IIINo EverandA nova aventura (auto)biográfica tomo IIIAinda não há avaliações
- CulturaVisual e Escola PDFDocumento30 páginasCulturaVisual e Escola PDFHacsa OliveiraAinda não há avaliações
- Relação Com o SaberDocumento18 páginasRelação Com o SaberCarla SassetAinda não há avaliações
- 6-7) 1001 Questões de Concurso - Português - FCC PDFDocumento154 páginas6-7) 1001 Questões de Concurso - Português - FCC PDFSarah Andrade100% (1)
- Jorge Larrosa - A Construção Pedagógica Do Domínio Moral e Do Sujeito MoralDocumento49 páginasJorge Larrosa - A Construção Pedagógica Do Domínio Moral e Do Sujeito MoralTomaz Tadeu da SilvaAinda não há avaliações
- Anotações para Uma Teoria de EstadoDocumento30 páginasAnotações para Uma Teoria de EstadoadrianadeosouzaAinda não há avaliações
- Matrizes da modernidade republicana: cultura política e pensamento educacional no BrasilNo EverandMatrizes da modernidade republicana: cultura política e pensamento educacional no BrasilAinda não há avaliações
- Entrevista Narrativa Muyliaert PDFDocumento7 páginasEntrevista Narrativa Muyliaert PDFWilson Dos Santos SouzaAinda não há avaliações
- O Legado Sociológico de Pierre Bourdieu (Loïq Wacquant)Documento19 páginasO Legado Sociológico de Pierre Bourdieu (Loïq Wacquant)Victor Simões100% (1)
- 26 - Olhar, Escutar Sentir ElizeuDocumento22 páginas26 - Olhar, Escutar Sentir ElizeuLívia VasconcelosAinda não há avaliações
- O Singular Plural LahireDocumento11 páginasO Singular Plural LahireVitor CostaAinda não há avaliações
- Entre A Vida e A Formação - SOUZA PASSAGGI VICENTINI PDFDocumento18 páginasEntre A Vida e A Formação - SOUZA PASSAGGI VICENTINI PDFMarcelo MunizAinda não há avaliações
- CULTURA CIENTÍFICA Carlos VogtDocumento5 páginasCULTURA CIENTÍFICA Carlos VogtLudmila Nogueira0% (1)
- Profissões e Identidades ProfissionaisDocumento15 páginasProfissões e Identidades ProfissionaisJouce ValdameriAinda não há avaliações
- Dissertação Joyce MuziDocumento230 páginasDissertação Joyce MuziJoy LuaAinda não há avaliações
- A Universidade Brasileira e o PNEDocumento75 páginasA Universidade Brasileira e o PNEEmerson Duarte MonteAinda não há avaliações
- Bernard Lahire - Crenças Coletivas e Desigualdades CulturaisDocumento13 páginasBernard Lahire - Crenças Coletivas e Desigualdades CulturaismoniqueserraAinda não há avaliações
- Aprendendo A Ser Trabalhador Paul Willis Prefácio Introdução EtnografiaDocumento29 páginasAprendendo A Ser Trabalhador Paul Willis Prefácio Introdução EtnografiaLakata_amAinda não há avaliações
- Antropologia, Estudos Culturais e EducaçãoDocumento36 páginasAntropologia, Estudos Culturais e EducaçãoMattvelasquesAinda não há avaliações
- A Construao e A Desconstruao de Estereotipos Pela Publicidade Brasileira Lysardo Dias Aula 14Documento11 páginasA Construao e A Desconstruao de Estereotipos Pela Publicidade Brasileira Lysardo Dias Aula 14Desirée SuzukiAinda não há avaliações
- Bourdieu GeneseDocumento7 páginasBourdieu GeneseGilson José Rodrigues Junior de AndradeAinda não há avaliações
- Música & Questões de Gênero e SexualidadeDocumento24 páginasMúsica & Questões de Gênero e SexualidadeLuiz Felipe Machado100% (1)
- Gregolin HeterotopiaDocumento14 páginasGregolin HeterotopiaDCavalcante FernandesAinda não há avaliações
- O Que É Um DispositivoDocumento8 páginasO Que É Um Dispositivoapi-3825195Ainda não há avaliações
- Redes Ou Paredes - Resenha RobertaDocumento4 páginasRedes Ou Paredes - Resenha RobertaRoberta Botelho100% (1)
- Anotações Sobre A Escrita - Alfredo Veiga-NetoDocumento12 páginasAnotações Sobre A Escrita - Alfredo Veiga-NetoJoão Henrique AguiarAinda não há avaliações
- Capital Social - James ColemanDocumento12 páginasCapital Social - James ColemanAlexandra Badaró Magi100% (1)
- Micropolítica e Educação Menor - Desdobramentos para Repensar A Educação PDFDocumento14 páginasMicropolítica e Educação Menor - Desdobramentos para Repensar A Educação PDFdaniela schneiderAinda não há avaliações
- Cópia de Che - Contra o BurocratismoDocumento8 páginasCópia de Che - Contra o BurocratismoRafael FalcãoAinda não há avaliações
- Novas Tecnologias e o Reencantamento Do MundoDocumento5 páginasNovas Tecnologias e o Reencantamento Do MundoGustavo HankeAinda não há avaliações
- A Última Lição de FoucaultDocumento11 páginasA Última Lição de FoucaultValéria Cazetta100% (1)
- Ganchos, Tachos e Biscates: jovens, trabalho e futuroNo EverandGanchos, Tachos e Biscates: jovens, trabalho e futuroAinda não há avaliações
- Politecnia, Escola Unitária e TrabalhoDocumento18 páginasPolitecnia, Escola Unitária e Trabalhojulio garcia100% (1)
- Percepções Direitos Humanos PDFDocumento260 páginasPercepções Direitos Humanos PDFLuci PraunAinda não há avaliações
- Curriculo Como Maquina DesejanteDocumento10 páginasCurriculo Como Maquina DesejanteivlivsclbAinda não há avaliações
- O Aluno Como InvençãoDocumento16 páginasO Aluno Como InvençãoGenivaldo FerreiraAinda não há avaliações
- TomaniK - O Que É Ciência0001Documento10 páginasTomaniK - O Que É Ciência0001Miguel FariaAinda não há avaliações
- RESENHADocumento2 páginasRESENHAorigong100% (2)
- Descolonizando MetodologiasDocumento5 páginasDescolonizando MetodologiasVan Jesus100% (1)
- Rádio Educativo No Brasil - Visão HistóricaDocumento49 páginasRádio Educativo No Brasil - Visão HistóricaDiogo FrançaAinda não há avaliações
- 2014 - Passeggi - Bourdieu - Da Ilusão À Conversão BiograficaDocumento13 páginas2014 - Passeggi - Bourdieu - Da Ilusão À Conversão BiograficaCarolina FerroAinda não há avaliações
- O Que É Básico Na Escola BásicaDocumento9 páginasO Que É Básico Na Escola BásicaMonique Linciano Azevedo CostaAinda não há avaliações
- Talita - Trizoli - O Revisionismo Epistemológico de Linda Nochlin e Griselda PollockDocumento1 páginaTalita - Trizoli - O Revisionismo Epistemológico de Linda Nochlin e Griselda PollockDesobedientesVidasAinda não há avaliações
- Manual Aluno Faculdade DescomplicaDocumento55 páginasManual Aluno Faculdade DescomplicaCleber LinsAinda não há avaliações
- Escola Municipal Moacyr Romeu Costa Anápolis, 23 A 27 de Janeiro de 2023 Professor: Jorge Graciano 5 º Ano MatutinoDocumento14 páginasEscola Municipal Moacyr Romeu Costa Anápolis, 23 A 27 de Janeiro de 2023 Professor: Jorge Graciano 5 º Ano MatutinoJorge GracianoAinda não há avaliações
- A Ciência Da Mudança Resumo - John CDocumento5 páginasA Ciência Da Mudança Resumo - John CJoão Estevam100% (1)
- 3 Conteúdo - Terceira ParteDocumento27 páginas3 Conteúdo - Terceira ParteJacqueline RodriguesAinda não há avaliações
- Rotinas AdministrativasDocumento28 páginasRotinas AdministrativasJuliana Pavani Bueno GuimarãesAinda não há avaliações
- Fatores de Satisfação No TrabalhoDocumento26 páginasFatores de Satisfação No TrabalhoSilva HenriquesAinda não há avaliações
- O Passado e o Presente Dos ProfessoresDocumento171 páginasO Passado e o Presente Dos ProfessoresPatrícia Menezes Dos SantosAinda não há avaliações
- KUHN T.S. 2003 - As Ciencias Naturais e As Ciencias HumanasDocumento6 páginasKUHN T.S. 2003 - As Ciencias Naturais e As Ciencias HumanasRaísaSoutoAinda não há avaliações
- Vettorazzi Et Al (2005) Avaliação de Um Programa para Ensinar Compto EmpáticoDocumento15 páginasVettorazzi Et Al (2005) Avaliação de Um Programa para Ensinar Compto EmpáticoLetícia AlencarAinda não há avaliações
- Educação. Revista Do Centro de Educação 0101-9031: IssnDocumento15 páginasEducação. Revista Do Centro de Educação 0101-9031: IssnSergio AmbrosioAinda não há avaliações
- Fladem BrasilDocumento574 páginasFladem BrasilIeadms Serra Dourada IAinda não há avaliações
- Professor IDocumento7 páginasProfessor Itatiane Santos limaAinda não há avaliações
- VI-Semana Rede Pedagógica Víviane-Louro Música-E-Psicomotricidade AlunoDocumento18 páginasVI-Semana Rede Pedagógica Víviane-Louro Música-E-Psicomotricidade AlunoLia Rodrigues BarbosaAinda não há avaliações
- Knowledge Is PowerDocumento6 páginasKnowledge Is PowerLUIS HENRIQUEAinda não há avaliações
- Pensamento ContrafactualDocumento90 páginasPensamento ContrafactualFábio FreitasAinda não há avaliações
- ProcessoGrupal ArrudaDocumento31 páginasProcessoGrupal ArrudabkbrunaAinda não há avaliações
- Fisiologia Da MemóriaDocumento21 páginasFisiologia Da MemóriaKanú Mário JoséAinda não há avaliações
- Pedagogia Integrada - Unip - Unid I - ApostilaDocumento63 páginasPedagogia Integrada - Unip - Unid I - ApostilaAurélia Silva100% (6)
- BERTAGNA. R.H. (Et Al.) Política e Avaliação Educacional AproximaçõesDocumento18 páginasBERTAGNA. R.H. (Et Al.) Política e Avaliação Educacional AproximaçõesRegiane LauraAinda não há avaliações
- Onde Esta Minha FelicidadeDocumento8 páginasOnde Esta Minha FelicidadeEsli Santos100% (1)
- O Trabalho Pioneiro de Eurípedes Barsanulfo Na Visão de Cristiane Pedrosa - ISERJDocumento6 páginasO Trabalho Pioneiro de Eurípedes Barsanulfo Na Visão de Cristiane Pedrosa - ISERJadrianajAinda não há avaliações
- PPP EduTec Atualizado em 25.03Documento57 páginasPPP EduTec Atualizado em 25.03Renata PiresAinda não há avaliações
- Pesquisa de ClimaDocumento33 páginasPesquisa de ClimaEdelson SalesAinda não há avaliações
- Relatório G1 Comentarios Isa F. e LucasDocumento13 páginasRelatório G1 Comentarios Isa F. e LucasGisele OliveiraAinda não há avaliações