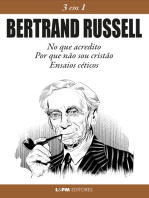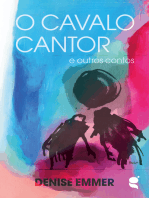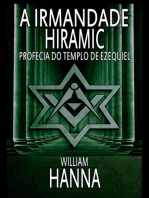Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Freud Sigmund Da Guerra e Da Morte
Enviado por
Pinto345Descrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Freud Sigmund Da Guerra e Da Morte
Enviado por
Pinto345Direitos autorais:
Formatos disponíveis
i i
i i
ESCRITOS SOBRE A GUERRA E A MORTE
Sigmund Freud
Tradutor: Artur Moro
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
i i i
i i
i i
Covilh, 2009
F ICHA T CNICA Ttulo: Escritos sobre a Guerra e a Morte Autor: Sigmund Freud Tradutor: Artur Moro Coleco: Textos Clssicos de Filosoa Direco da Coleco: Jos Rosa & Artur Moro Design da Capa: Antnio Rodrigues Tom Paginao: Jos Rosa Universidade da Beira Interior Covilh, 2009
i i i
i i
i i
i i i
i i
i i
ESCRITOS SOBRE A GUERRA E A MORTE
Sigmund Freud
Contedo
Consideraes Actuais sobre a Guerra e a Morte (1915) I. O Desapontamento perante a Morte . . . . . . . . . . II. A nossa atitude diante da morte . . . . . . . . . . . . Caducidade(1915) Porqu a Guerra? (1932). Carta a A. Einstein 4 4 19 32 36
i i i
i i
i i
Sigmund Freud
CONSIDERAES ACTUAIS SOBRE A GUERRA E A MORTE (1915)
I
O Desapontamento perante a Morte
Arrastados pelo turbilho desta poca de guerra, informados de modo unilateral, sem distncia quanto s grandes transformaes que j se realizaram ou se comeam a realizar e sem vislumbre do futuro que j se est a congurar, desencaminhados andamos no signicado por ns atribudo s impresses que nos oprimem e no valor dos juzos que formamos. Quer parecer-nos que jamais acontecimento algum ter destrudo tantos e to preciosos bens comuns humanidade, transtornado tantas inteligncias lcidas e rebaixado to fundamente as coisas mais elevadas. At a prpria cincia perdeu a sua desapaixonada imparcialidade; os seus servidores, profundamente amargados, procuram dela extrair armas para prestar um contributo luta contra o inimigo. O antroplogo declara inferior e degenerado o adversrio, e o psiquiatra profere o diagnstico da sua perturbao mental ou anmica. Mas, provavelmente, sentimos com desmedida intensidade amaldade desta poca e no temos direito algum a compar-la com o mal de outras pocas que no vivemos. O indivduo que no se tornou combatente, transformando-se assim numa partcula da gigantesca mquina blica, sente-se embaraado na sua orientao, obstrudo na sua capacidade de realizao. Ser-lhe- pois grata, a meu ver, toda a sugesto, embora
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
pequena, que lhe facilite a orientao, pelo menos no seu ntimo prprio. Entre os factores responsveis da misria anmica dos que caram em casa, e cuja superao lhes levanta problemas to rduos, gostaria de realar dois, que neste lugar vou abordar: o desapontamento que esta guerra suscitou e a mudana de atitude perante a morte a que ela como todas as outras guerras nos obriga. Quando falo do desapontamento, j todos sabem a que me rero. No necessrio ser um fantico da compaixo; pode muito bem reconhecer-se a necessidade biolgica e psicolgica do sofrimento para a economia da vida humana e, no entanto, condenar a guerra nos seus meios e objectivos, suspirar pela sua cessao. Armou-se, sem dvida, que as guerras no podero terminar enquanto os povos viverem em to diversas condies de existncia, enquanto as valoraes da vida individual diferirem tanto entre uns e outros e os dios, que os separam, representarem foras instintivas anmicas to poderosas. Estava-se, pois, preparado para que a humanidade se visse ainda, por muito tempo, enredada em guerras entre os povos primitivos e os civilizados, entre as raas humanas diferenciadas pela cor da pele e, inclusive, entre os povos menos evoludos ou incultos da Europa. Mas das grandes naes da raa branca, dominadoras do mundo, s quais coube a direco da humanidade, que se sabia estarem ocupadas com os interesses mundiais, e cujas criaes so os progressos tcnicos no domnio da natureza e os valores culturais, artsticos e cientcos; destes povos esperava-se que saberiam resolver de outro modo as suas discrdias e os seus conitos de interesses. Dentro de cada uma dessas naes tinham-se prescrito ao indivduo elevadas normas morais, s quais devia ajustar a sua conduta, se pretendesse participar na comunidade cultural. Estes preceitos, muitas vezes rigorosssimos, exigiam muito dele: uma ampla autolimitao e uma acentuada renncia satisfao das pulses. Estava-lhe sobretudo proibido servir-se das extraordinrias vantagens que o uso da mentira e do engano proporcionam na luta com os outros homens. O Estado civilizado considerava estas normas morais como o fundamento da
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Sigmund Freud
sua existncia, saa abertamente em sua defesa se algum ousava infringi-las e, inclusive, declarava como impraticvel a sua sujeio ao exame do entendimento crtico. Era, pois, de supor que ele prprio quisesse respeit-las e que no pensasse empreender contra elas algo que constitusse uma negao dos fundamentos da sua prpria existncia. Por ltimo, pde observar-se como dentro das naes civilizadas se encontravam inseridos certos restos de povos que eram em geral incmodos e que, por isso, s com relutncia e com limitaes eram admitidos a participar na obra comum da cultura, para a qual se tinham revelado sucientemente aptos. Mas era de crer que os grandes povos tivessem alcanado uma to grande compreenso dos seus elementos comuns e tanta tolerncia em face das suas diferenas que no confundissem num s, como na antiguidade clssica, os conceitos de estrangeiro e de inimigo. Conando neste acordo dos povos civilizados, inumerveis homens trocaram a sua residncia na ptria pelo domiclio no estrangeiro e associaram a sua existncia s relaes comerciais entre os povos amigos. Mas aquele a quem a necessidade de vida no encadeava constantemente ao mesmo lugar podia formar para si, com todas as vantagens e todos os atractivos dos pases civilizados, uma nova ptria maior em que ele se comprazia sem obstculos e suspeitas. Saboreava assim o mar azul e cinzento, a beleza das montanhas nevadas e dos verdes prados, o encanto dos bosques do Norte e a magnicncia da vegetao meridional, a atmosfera das paisagens sobre as quais pairam grandes recordaes histricas, e a serenidade da natureza intacta. Esta nova ptria era tambm para ele um museu repleto de todos os tesouros que os artistas da humanidade civilizada tinham, h muitos sculos, criado e legado. Ao deambular neste museu de sala em sala, pde comprovar imparcialmente quo diversos eram os tipos de perfeio que, entre os outros compatriotas seus, tinham sido criados pela mistura de sangues, pela histria e pela peculiaridade da me Terra. Aqui, desenvolvera-se em grau mximo uma serena energia indomvel; alm, a arte graciosa de embelezar a vida; mais alm, o sentido da ordem e da lei ou
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
qualquer outra das propriedades que zeram do homem o senhor da Terra. No esqueamos tambm que todo o cidado do mundo civilizado criou para si um Parnaso especial e uma Escola de Atenas. Entre os grandes pensadores, poetas e artistas de todas as naes, escolheu aqueles a quem julgava dever mais, e o que se lhe tornou acessvel em fruio e compreenso da vida, associou na sua venerao os imortais da antiguidade e os mestres familiares do seu prprio idioma. Nenhum destes grandes homens se lhe agurou estranho por ter falado outra lngua, nem o incomparvel investigador das paixes humanas, nem o apaixonado adorador da beleza ou o profeta ameaador, nem o engenhoso satrico, e jamais se censurou por ter renegado a sua prpria nao e a sua amada lngua materna. O desfrute da comunidade civilizada era, por vezes, perturbado por vozes que cautelosamente lembravam que, em virtude de antigas diferenas tradicionais, tambm entre os membros da mesma eram inevitveis as guerras. No se quis nelas acreditar; mas, ainda supondo que tal guerra chegasse, como se haveria de representar? Como uma ocasio de mostrar os progressos no sentimento comum dos homens desde a poca em que as anctionias gregas tinham proibido destruir as cidades pertencentes Liga, decepar as suas oliveiras e cortar-lhes a gua. Como um recontro cavaleiresco que se limitasse a estabelecer a superioridade de uma das partes, evitando tanto quanto possvel graves danos que em nada contribussem para tal deciso, com total solicitude pelo ferido que tem de abandonar a luta, e pelo mdico e enfermeiro que se dedica sua cura. E, naturalmente, com toda a considerao pela parte no beligerante da populao, pelas mulheres, afastadas do ofcio da guerra, e pelas crianas que, uma vez crescidas, se deveriam tornar, de ambas as partes, amigos e colaboradores. E igualmente com a manuteno de todos os empreendimentos e instituies internacionais em que tomou corpo a comunidade cultural dos tempos paccos.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Sigmund Freud
Semelhante guerra j inclura horrores sucientes e difceis de suportar, mas no teria interrompido o desenvolvimento das relaes ticas entre os grandes indivduos da humanidade, os Povos e os Estados. A guerra, em que no queramos acreditar, estalou e trouxe consigo a decepo. No s mais sangrenta e mais mortfera do que todas as guerras passadas, por causa do aperfeioamento das armas de ataque e de defesa, mas, pelo menos, to cruel, exasperada e brutal como qualquer uma delas. Infringe todas as restries a que os povos se obrigaram em tempos de paz o chamado Direito Internacional , no reconhece nem os privilgios do ferido e do mdico, nem a diferena entre o ncleo combatente e o pacco da populao, e viola o direito da propriedade. Derruba, com cega clera, tudo o que lhe aparece pela frente, como se depois dela j no houvesse de existir nenhum futuro e nenhuma paz entre os homens. Desfaz todos os laos da solidariedade entre os povos combatentes e ameaa deixar atrs de si uma exasperao que, durante longo tempo, impossibilitar o reatamento de tais laos. Tornou tambm patente o fenmeno, dicilmente concebvel, de que os povos civilizados se conhecem e compreendem; entre si to pouco que podem virar-se, cheios de dio e de repulsa, uns contra os outros. Mais, que uma das grandes naes civilizadas objecto de um repdio to universal que se pode arriscar a tentativa de a excluir, como brbara, da comunidade civilizada, embora tenha h muito demonstrado, graas aos mais esplndidos contributos, a sua aptido para tal comunidade. Alimentamos a esperana de que uma historiograa imparcial fornecer a prova de que precisamente essa nao, em cuja lngua escrevemos e por cuja vitria combatem os nossos entes queridos, foi a que menos transgrediu as leis da civilizao humana. Mas, em tempos como estes, quem poder apresentar-se como juiz em causa prpria? Os povos so, at certo ponto, representados pelos Estados que constituem, e estes Estados, por seu turno, pelos Governos que os regem. O cidado individual pode comprovar com espanto nesta
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
guerra o que j lhe ocorrera em tempos de paz, a saber que o Estado proibiu ao indivduo o uso da injustia, no porque pretenda abolila, mas porque quer monopoliz-la, como o tabaco e o sal. O Estado combatente permite a si toda a injustia e toda a violncia que desonraria o indivduo. No s utiliza contra o inimigo a astcia permissvel (ruses de guerre), mas tambm a mentira consciente e o engano intencional, e isto, claro est, numa medida que parece superar o usual em guerras anteriores. O Estado exige dos seus cidados o mximo de obedincia e de abnegao, mas incapacita-os mediante um excesso de dissimulao e uma censura da comunicao e da expresso das opinies, que deixa sem defesa o nimo dos assim intelectualmente oprimidos frente a toda a situao desfavorvel e a todo o boato desastroso. Desliga-se das garantias e dos convnios que o vinculavam aos outros Estados, confessa abertamente a sua avareza e a sua nsia de poder que, em seguida, o indivduo deve sancionar por patriotismo. No se objecte que o Estado no pode renunciar ao uso da injustia, porque se colocaria assim em situao desvantajosa. Tambm para o indivduo a adeso s normas morais, a renncia ao emprego brutal do poder , em geral, muito desvantajoso, e o Estado s raramente se mostra capaz de compensar o indivduo pelo sacrifcio que dele exigiu. No h tambm que espantar-se de que o relaxamento de todas as relaes morais entre os povos da humanidade tenha suscitado uma ressonncia na moralidade dos indivduos, pois a nossa conscincia moral no o juiz incorruptvel que os moralistas supem1 na sua origem, apenas angstia social e nada mais. Onde a comunidade se abstm de toda a reprovao, cessa tambm a opresso dos maus impulsos, e os homens cometem actos de crueldade, de malcia, de traio e brutalidade, cuja possibilidade se teria considerado incompatvel com o seu nvel cultural. Por isso, o cidadodo mundo civilizado, a que antes aludi, encontrase perplexo num mundo que se lhe tornou estranho, ao ver arrui-
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
10
Sigmund Freud
nada a sua ptria mundial, assoladas as possesses comuns, divididos e rebaixados os seus concidados! Haveria que submeter a uma considerao crtica tal decepo. Em rigor, ela no justicada, pois consiste na destruio de uma iluso. As iluses so-nos gratas porque nos poupam sentimentos displicentes e, em seu lugar, nos deixam gozar de satisfaes. Mas, ento, devemos aceitar sem queixa que alguma vez embatam num troo de realidade e se reduzam a frangalhos. Duas coisas suscitaram nesta guerra a nossa decepo: a escassa moralidade externa dos Estados que, internamente, se comportam como guardies das normas morais, e a brutalidade do comportamento dos indivduos, dos quais, como participantes na mais elevada civilizao humana, no se esperara coisa semelhante. Comecemos pelo segundo ponto e tentemos apreender numa nica frase concisa a ideia que pretendemos criticar. Comoconceber ento o processo pelo qual um homem singular se eleva a um grau superior de moralidade? A primeira resposta ser, talvez, a de que ele bom e nobre por nascimento e desde o incio. Tal resposta no ser aqui abordada. Uma segunda soluo sugerir a ocorrncia necessria de um processo evolutivo, e supor que tal evoluo consiste na erradicao das ms inclinaes do homem e na sua substituio, sob a inuncia da educao e da cultura ambiente, por inclinaes ao bem. Podemos ento espantarnos de que, no homem assim educado, o mal torne a manifestar-se com tanto mpeto. Mas esta resposta contm ainda a proposio que queremos rebater. Na realidade, noh qualquer erradicao do mal. A investigao psicolgica em sentido mais estrito, a psicanaltica mostra antes que a mais profunda essncia do homem consiste em impulsos instintivos de natureza elementar, iguais em todos e tendentes satisfao de certas necessidades primordiais. Estes impulsos instintivos no so em si nem bons nem maus. Classicamo-los, e classicamos as suas manifestaes segundo a sua relao com as necessidades e as exigncias da comunidade humana. Concederwww.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
11
se- que todos os impulsos proibidos pela sociedade como maus tomemos como representao sua os impulsos egostas e os cruis se encontram entre tais impulsos primitivos. Estes impulsos primitivos percorrem um longo caminho evolutivo at chegarem manifestao no adulto. So inibidos, dirigidos para outros ns e sectores, misturam-se entre si, trocam de objecto e viram-se, em parte, contra a prpria pessoa. Desenvolvimentos reactivos contra certas pulses simulam a transformao intrnseca das mesmas, como se o egosmo se tivesse transformado em compaixo, e a crueldade em altrusmo. Estes desenvolvimentos reactivos so favorecidos pela circunstncia de que algumas moes pulsionais surgem, quase de incio, em pares antitticos, circunstncia notabilssima e estranha para o conhecimento popular, a que se deu o nome de ambivalncia dos sentimentos. O que mais facilmente se observa e mais acessvel compreenso o facto da frequente coexistncia, na mesma pessoa, de um intenso amor e de um dio intenso. A psicanlise acrescenta ainda a tal que ambos os impulsos sentimentais contrapostos tomam, no raro, tambm a mesma pessoa como objecto. S aps a superao de todos estes destinos da pulso se apresenta o que denominamos o carcter de um homem, o qual, como se sabe, s muito insucientemente se pode classicar como bom ou mau. Um homem raras vezes inteiramente bom ou mau; em geral . bom numa circunstncia e mau noutras, ou bom em determinadas condies exteriores e decididamente mau noutras. interessante a experincia de que a preexistncia infantil de intensas moes ms , muitas vezes, justamente a condio de uma clarssima viragem do adulto para o bem. Os maiores egostas infantis podem tornar-se os cidados mais altrustas e abnegados; pelo contrrio, os homens compassivos, lantropos e protectores dos animais foram, na sua maioria, durante a infncia, pequenos sdicos e torturadores de animais. A transformao das pulses ms obra de dois factores que actuam em igual sentido, um interior e outro exterior. O factor inwww.lusosoa.net
i i i
i i
i i
12
Sigmund Freud
terior consiste no inuxo exercido sobre as pulses ms dizemos, egostas pelo erotismo, pela necessidade humana de amor na sua acepo mais ampla. As pulses egostas transformam-se, graas unio das componentes erticas, em pulses sociais. Aprende-se a apreciar o ser-se amado como uma vantagem, pela qual se pode renunciar a outras. O factor exterior a coero da educao, que representa as exigncias da civilizao circundante, e em seguida continuada pela aco directa do meio cultural. A civilidade foi adquirida mediante a renncia satisfao pulsional e exige de todo o novo indivduo a repetio de semelhante renncia. Durante a vida individual tem lugar uma constante transformao da coaco externa em coero interior. As inuncias culturais levam a que as aspiraes egostas se transformem sempre mais, graas s alianas erticas, em tendncias altrustas sociais. Pode, por m, admitir-se que toda a coero interna que se faz sentir na evoluo do homem foi originariamente, isto , na histria da humanidade, apenas coero externa. Os homens que hoje nascem trazem. j consigo uma certa disposio para a transformao das pulses egostas em pulses sociais como organizao herdada, a qual, obediente a leves estmulos, leva a cabo tal transformao. Outra parte desta metamorfose pulsional realizar-se- na prpria vida. Deste modo, o indivduo no se encontra apenas sob a inuncia do seu meio cultural presente, mas est tambm submetido inuncia da histria cultural dos seus antepassados. Se capacidade que advm a um homem de transformar, sob o inuxo do erotismo, as suas pulses egostas chamarmos a sua disposio para a cultura, poderemos armar que a mesma consta de duas partes: uma inata e outra adquirida na vida, e que a relao de ambas entre si e com a parte no transformada da vida pulsional muito varivel. Em geral, inclinamo-nos a valorizar excessivamente a parte inata e corremos, ademais, o perigo de sobrestimar tambm a total disposio para a cultura na sua relao com a vida pulsional, que permaneceu primitiva, isto , somos induzidos a julgar os homens
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
13
melhores do que, na realidade, so. Existe ainda, de facto, um outro factor que turva o nosso juzo e falsica, num sentido favorvel, o resultado. As moes pulsionais de outros homens subtraem-se, naturalmente, nossa percepo. Deduzimo-las das suas aces e do seu comportamento, que referimos a motivos procedentes da sua vida pulsional. Tal deduo erra necessariamente num grande nmero de casos. As prprias aces boas, do ponto de vista cultural, podem derivar, umas vezes de motivos nobres, outras no. Os moralistas tericos chamam boas apenas s aces que so expresso de moes pulsionais boas, e negam o seu reconhecimento s demais. Mas a sociedade, guiada por propsitos prticos, no se preocupa com tal distino; contenta-se com que um homem oriente o seu comportamento e as suas aces segundo as prescries culturais, e no se interroga sobre os seus motivos. Vimos que a coero externa, exercida sobre o homem pela educao e pelo meio ambiente, suscita uma ulterior transformao da sua vida pulsional no sentido do bem, uma viragem do egosmo para o altrusmo. Mas este no o efeito necessrio ou regular da coaco exterior. A educao e o ambiente no se limitam a oferecer prmios de amor, mas lidam tambm com prmios de outra natureza, com a recompensa e o castigo. Podem, pois, fazer que o indivduo submetido sua inuncia se resolva a agir bem, no sentido cultural, sem que nele tenha realizado um enobrecimento das pulses, uma mutao das tendncias egostas em tendncias sociais. O resultado ser, no conjunto, o mesmo; s em circunstncias especiais se tornar patente que um age sempre bem, porque a tal o foram as suas inclinaes pulsionais, mas o outro s bom porque tal conduta cultural traz vantagens aos seus intentos egostas, e s enquanto e na medida em que as procura. Ns, porm, com o nosso conhecimento supercial do indivduo, no temos meio algum de distinguir os dois casos, e o nosso optimismo induzir-nos- decerto a exagerar desmesuradamente o nmero dos homens transformados pela cultura.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
14
Sigmund Freud
A sociedade civilizada, que exige a aco boa e no se preocupa com o seu fundamento pulsional, ganhou, pois, para a obedincia civilizao um grande nmero de homens, que nisso no seguem a sua natureza. Animada por este xito, deixou-se induzir a intensicar em grau mximo as exigncias morais, obrigando assim os seus participantes a distanciar-se ainda mais da sua disposio instintiva. A estes homens imposta uma continuada opresso das pulses, cuja tenso se manifesta em notabilssimos fenmenos de reaco e de compensao. No terreno da sexualidade, onde menos se pode levar a cabo semelhante opresso, chega-se assim aos fenmenos reactivos das enfermidades neurticas. A presso da cultura noutros sectores no acarreta consequncias patolgicas, mas manifesta-se em deformaes de carcter e na disponibilidade constante das pulses inibidas para abrir caminho na ocasio oportuna para a satisfao. Quem assim forado a reagir permanentemente no sentido de prescries que no so expresso das suas tendncias pulsionais vive, psicologicamente falando, muito cima dos seus meios e pode qualicar-se objectivamente de hipcrita, seja ou no claramente consciente desta diferena. inegvel que a nossa cultura actual favorece com extraordinria amplitude este gnero de hipocrisia. Poderia arriscar-se a armao de que se baseia nela e teria de se submeter a profundas transformaes, se os homens decidissem viver segundo a verdade psicolgica. H, pois, incomparavelmente mais hipcritas da cultura do que homens verdadeiramente culturais, e pode inclusive discutir-se o ponto de vista de se uma certa medida de hipocrisia cultural no ser indispensvel para a conservao da cultura, porque a aptido cultural j organizada dos homens do presente no bastaria talvez para esta realizao. Por outro lado, a preservao da civilidade sobre fundamento to equvoco proporciona a perspectiva de iniciar, com cada nova gerao, uma mais ampla transformao pulsional, como substrato de uma melhor civilizao.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
15
As elucidaes at agora feitas do-nos j a consolao de comprovar que a nossa indignao e a nossa dolorosa decepo, por causa da conduta incivilizada dos nossos concidados mundiais, so injusticadas nesta guerra. Baseiam-se numa iluso em que nos enredmos. Na realidade, tais homens no caram to baixo como temamos, porque tambm no tinham subido to alto, como a seu respeito julgvamos. O facto de os grandes indivduos humanos, os povos e os Estados, terem reciprocamente infringido as restries morais foi para eles um estmulo compreensvel para se subtrarem por algum tempo presso da cultura e permitirem uma satisfao passageira das suas pulses retidas. E no perderam assim, provavelmente, a sua moralidade relativa no seio da colectividade nacional. Podemos ainda penetrar mais profundamente na compreenso da mudana que a guerra suscitou nos nossos antigos compatriotas e deparamos ento com uma advertncia a no cometermos qualquer injustia para com eles. As evolues psquicas possuem, de facto, uma peculiaridade que no ocorre em nenhum outro processo evolutivo. Quando uma aldeia se torna cidade ou uma criana se faz homem, a aldeia e a criana so absorvidas pela cidade e pelo homem. S a recordao pode delinear os antigos traos na nova imagem; na realidade, os materiais ou as formas anteriores foram deixados de lado e substitudos por outros. As coisas passam-se de modo diferente numa evoluo psquica. Dada a falta de mutaes, o estado psquico anterior pode no se ter manifestado em muitos anos, no entanto, persiste de tal modo que em qualquer momento se pode tornar de novo a forma expressiva das foras anmicas, e at a nica, como se todas as evolues ulteriores se tivessem anulado ou regredido. Esta plasticidade extraordinria das evolues psquicas no , na sua orientao, ilimitada; pode considerar-se como uma faculdade especial de involuo regresso pois sucede, por vezes, que um estdio evolutivo ulterior e superior, que foi abandonado, j de novo se no pode alcanar. Mas os estados
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
16
Sigmund Freud
primitivos podem sempre ser reconstitudos; o psquico primitivo , no sentido mais pleno, imperecvel. As chamadas enfermidades mentais despertaro no leigo a impresso de que a vida mental e psquica cou destruda. Na realidade, a destruio concerne apenas a aquisies e a desenvolvimentos ulteriores. A essncia da enfermidade mental consiste no retorno a estados anteriores da vida afectiva e da funo. O estado hpnico, a que aspiramos todas as noites, fornece-nos um exemplo excelente da plasticidade da vida anmica. Desde que aprendemos a interpretar, inclusive, os sonhos mais absurdos e confusos, sabemos que, ao adormecer, nos despojamos da nossa moralidade, to trabalhosamente adquirida, como de um vestido e s de manh de novo nela nos envolvemos. Este desnudamento , naturalmente, incuo, j que o estado hpnico nos paralisa e nos condena inactividade. S o sonho nos pode dar notcia da regresso da nossa vida afectiva a um dos mais antigos estdios evolutivos. Assim, por exemplo, curioso que todos os nossos sonhos sejam regidos por motivos puramente egostas. Um dos meus amigos ingleses1 defendeu, uma vez, esta tese numa reunio cientca na Amrica, e uma das senhoras presentes objectou-lhe que tal coisa poderia talvez acontecer na ustria, mas de si mesma e dos seus amigos poderia armar que no sonho tinham igualmente sentimentos altrustas. O meu amigo ripostou energicamente senhora, baseado na sua prpria experincia na anlise dos sonhos. Nestes, as nobres americanas so to egostas como as austracas. Assim, pois, a transformao das pulses em que se funda a nossa capacidade de civilizao, pode, em virtude das inuncias da vida, car anulada de um modo temporrio ou permanente. Sem dvida, as inuncias da guerra integram-se naquelas foras que podem provocar semelhante involuo e, por isso, no precisamos de negar a todos os que hoje se comportam de modo incivilizado a disposio para a cultura, e podemos esperar que as suas pulses tornaro a enobrecer-se em tempos mais serenos.
1
[Ernest Jones].
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
17
Mas talvez tenhamos descoberto nos nossos concidados mundiais um outro sntoma que no menos nos surpreendeu do que a sua descida, to dolorosamente sentida, da altura tica que haviam alcanado. Rero-me falta de discernimento que se revela nas melhores cabeas, sua obstinao e impermeabilidade aos mais vigorosos argumentos, sua credulidade acrtica perante as armaes mais discutveis. Tudo isto oferece, decerto, uma imagem triste, e quero sublinhar expressamente que eu que no sou um cego partidrio de nenhum modo vejo todos os defeitos intelectuais s num dos lados. Mas este fenmeno ainda mais fcil de explicar e muito menos alarmante do que o anteriormente discutido. Os psiclogos e os lsofos ensinaram-nos, j h muito, que fazemos mal em considerar a nossa inteligncia como um poder independente e em passar por alto a sua dependncia da vida sentimental. O nosso intelecto s poderia trabalhar correctamente quando se encontra subtrado aco de intensos impulsos emocionais; no caso contrrio, comporta-se simplesmente como um instrumento nas mos de uma vontade e produz o resultado de que esta ltima o encarrega. Por conseguinte, os argumentos lgicos seriam impotentes frente aos interesses afectivos e, por isso, as contendas com razes (to comuns como as amoras, segundo a expresso de Falstaff2 so to estreis no mundo dos interesses. A experincia psicanaltica sublinhou energicamente esta armao. Pode mostrar, todos os dias, que os homens mais inteligentes se comportam de sbito sem discernimento, como decientes mentais, logo que o conhecimento exigido neles tropea com uma resistncia sentimental, mas tambm recuperam toda a compreenso, uma vez superada tal resistncia. A cegueira lgica, que esta guerra muitas vezes provocou nos nossos melhores concidados do mundo, , pois, um fenmeno secundrio, uma consequncia da excitao sentimental, e de esperar que esteja destinada a com ela desaparecer. Se deste modo voltarmos de novo a compreender, na sua estranheza, os nossos concidados mundiais, suportaremos muito mais
2
[Shakespeare, Henrique IV, parte I, acto 2, 4a . cena.]
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
18
Sigmund Freud
facilmente a decepo que as grandes individualidades da Humanidade, os povos, nos causaram, pois a estes s exigncias muito mais modestas podemos fazer. Reproduzem talvez a evoluo dos indivduos e mostram-se-nos hoje em estdios muito primitivos da organizao, da formao de unidades superiores. Correlativamente, o factor educativo da coero exterior moralidade, que to eciente achmos no indivduo, neles dicilmente perceptvel. Tnhamos decerto esperado que a grandiosa comunidade de interesses criada pelo comrcio e pela produo seria o incio de semelhante coero, mas parece que os povos obedecem agora muito mais s suas paixes do que aos seus interesses. Quando muito, servem-se dos interesses para racionalizar as paixes; antepem os seus interesses a m de poderem fundamentar a satisfao das suas paixes. , sem dvida, enigmtico porque que as individualidades colectivas, as naes, se desprezam, odeiam e aborrecem umas s outras, inclusive tambm em tempos de paz. No sei que dizer. Neste caso sucede precisamente como se todas as conquistas morais dos indivduos se desvanecessem, ao conglomerar-se uma multido, constituda por milhes de homens, e apenas perdurassem as atitudes psquicas mais primitivas, mais antigas e mais grosseiras. Estas lamentveis circunstncias sero, porventura, modicadas por evolues posteriores. Mas um pouco mais de veracidade e de sinceridade, nas relaes dos homens entre si e os seus governantes, deveria aplanar o caminho para tal transformao.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
19
II
A nossa atitude diante da morte
O segundo elemento, de que inro que hoje nos sentimos desorientados neste mundo, antes to belo e familiar, a perturbao da atitude, at agora rme, perante a morte. Esta atitude no era sincera. Se algum nos ouvisse, estaramos naturalmente dispostos a armar que a morte era o desenlace necessrio de toda a vida, que cada um de ns estava em dvida de morte para com a Natureza e deveria estar preparado para pagar tal dvida, em suma, que a morte era natural, indiscutvel e inevitvel. Na realidade, porm, costumvamos comportar-nos como se fosse de outro modo. Temos uma tendncia patente para prescindir da morte, para elimin-la da vida. Tentmos silenci-la; temos at o provrbio: pensamos em algo como na morte. Como na prpria, claro est! A morte prpria , pois, inimaginvel, e todas as vezes que tentamos [fazer dela uma ideia] podemos observar que, em rigor, permanecemos sempre como espectadores. Assim, foi possvel arriscar na escola psicanaltica esta assero: no fundo, ningum acredita na sua prpria morte ou, o que a mesma coisa, no inconsciente, cada qual est convencido da sua imortalidade. No tocante morte dos outros, o homem civilizado evitar cuidadosamente falar de tal possibilidade, quando o destinado a morrer o possa ouvir. S as crianas infringem esta restrio; ameaamse sem pejo umas s outras com as probabilidades de morrer e chegam, inclusive, a dizer na cara de uma pessoa amada coisas como esta: Querida mam, quando morreres, farei isto ou aquilo. O adulto civilizado no admitir de bom grado nos seus pensamentos a morte de outra pessoa, sem aparecer aos seus prprios olhos como insensvel ou mau; a no ser que como mdico, advogado, etc., tenha a ver com a morte. E muito menos se permitir pensar
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
20
Sigmund Freud
na morte de outro quando a tal acontecimento est ligado um ganho de liberdade, de fortuna ou de posio social. Naturalmente, esta nossa delicadeza no evita as mortes, mas quando estas acontecem, sentimo-nos sempre profundamente comovidos e como que abalados nas nossas expectaes. Acentuamos com regularidade a motivao casual da morte, o acidente, a enfermidade, a infeco, a idade avanada, e tramos assim o nosso empenho em rebaixar a morte de necessidade a casualidade. Uma acumulao de casos mortais agura-se-nos como algo de sobremaneira horrvel. Diante do prprio morto adoptamos um comportamento peculiar, quase como de admirao por algum que levou a cabo algo de muito difcil. Exclumos a crtica a seu respeito, fazemos vista grossa sobre qualquer injustia sua, determinamos que de mortuis nil nisi bene3 ,e achamos justo que na orao fnebre e na inscrio sepulcral ele seja honrado e exaltado. A considerao para com o morto, de que ele j no precisa, est para ns acima da verdade, e para a maioria de ns, decerto, tambm acima da considerao para com os vivos. Esta atitude convencional da nossa civilizao perante a morte complementada pelo nosso total colapso quando a morte feriu uma pessoa que nos muito chegada, o pai ou a me, o esposo ou a esposa, um lho, um irmo ou um amigo querido. Enterramos com ele as nossas esperanas, as nossas aspiraes e os nossos gozos, no queremos consolar-nos e recusamo-nos a toda a substituio do ente perdido. Comportamo-nos ento como os Asras, que morrem quando morrem os que eles amam4 . Esta nossa atitude frente morte exerce, porm, uma poderosa inuncia na nossa vida. A vida empobrece-se, perde interesse, quando a aposta mxima no jogo da vida, ou seja, a prpria vida,
Dos mortos apenas se diz bem. [Os Asra so uma tribo rabe; cfr. o poema de Heine Der Asra (no Romancero baseado numa passagem da obra de Stendhal, De lamour: ...e a minha tribo so aqueles Asra, que morrem, quando amam.]
4 3
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
21
se no tem de arriscar. Torna-se to inspida, vazia, como porventura um irt americano, no qual se sabe de antemo que nada pode acontecer, diferentemente de uma relao amorosa continental em que ambos os parceiros devem ter sempre presente a possibilidade de graves consequncias. Os nossos laos sentimentais, a intensidade intolervel da nossa pena levam a desviar-nos dos perigos para ns e para os nossos. No nos atrevemos a ter em conta uma srie inteira de empreendimentos que so perigosos, mas inevitveis, como as tentativas dos aviadores, as expedies a terras longnquas, as experincias com substncias explosivas. Paralisa-nos o escrpulo de quem substituir o lho ao lado da me, o homem ao lado da mulher, o pai junto dos lhos, se alguma desgraa suceder. A tendncia para excluir a morte da conta da vida traz consigo muitas outras renncias e excluses. E, todavia, o lema da Confederao hansetica reza assim: Navigare necesse est, vivere non necesse! Necessrio navegar, no viver! Resta ento apenas procurar no mundo da co, na literatura, no teatro, a compensao do que na vida minguou. A encontramos homens que sabem morrer, mais ainda, que conseguem tambm matar os outros. S a se realiza tambm a condio sob a qual poderamos reconciliar-nos com a morte, a saber, a de que por detrs de todas as vicissitudes da vida nos cou ainda uma vida intangvel. demasiado triste que na vida venha a suceder como no xadrez, onde uma falsa jogada nos pode forar a dar por perdida a partida, mas com a diferena de que j no podemos comear uma segunda partida de desforra. No campo da co, deparamos com a pluralidade de vidas de que necessitamos. Morremos na identicao com um heri, mas sobrevivemos-lhe e estamos dispostos a morrer outra vez, igualmente indemnes, com outro heri. evidente que a guerra tem de excluir esta considerao convencional da morte. Esta j no se deixa agora negar; importa nela acreditar. Os homens morrem realmente, e j no um de quando em quando, mas muitos, frequentemente dezenas de milhares num da. Tambm no se trata de um acaso. Sem dvida, parece ainda
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
22
Sigmund Freud
casual que esta bala acerte num ou noutro; talvez uma segunda bala atinja estoutro, mas a acumulao pe um termo impresso de casualidade. A vida tornou-se denovo interessante, recebeu de novo o seu pleno contedo. Importaria aqui estabelecer uma diviso em dois grupos, separar os que do a sua vida no combate daqueles que permaneceram em casa e apenas tm de esperar vir a perder algum ente querido por leso, doena ou infeco. Seria, decerto, muito interessante estudar as transformaes que ocorrem na psicologia dos combatentes, mas sei muito pouco a tal respeito. Limitar-nos-emos ao segundo grupo, a que ns prprios pertencemos. J armei que, na minha opinio, a desorientao e a paralisia da nossa capacidade funcional, sob a qual penamos, so essencialmente determinadas pela circunstncia de no conseguirmos manter a nossa anterior atitude perante a morte e de ainda no termos achado outra nova. Talvez nos seja de ajuda dirigir a nossa investigao psicolgica para outras duas atitudes diante da morte: para aquela que podemos atribuir ao homem primordial, ao homem da Pr-histria, e para aquela que em todos ns ainda se mantm, mas invisvel e oculta nossa conscincia nos estratos mais profundos da nossa vida anmica. Naturalmente, s por inferncia e mediante construes sabemos como que o homem da Pr-histria se comportava perante a morte, mas, a meu ver, estes meios proporcionam-nos dados assaz dedignos. O homem primordial situou-se na presena da morte de um modo muito notvel. No de uma forma unitria, antes repleta de contradies. Por um lado, tomou a srio a morte, reconheceu-a como supresso da vida e dela neste sentido se serviu; mas, por outro, tambm a negou, reduziu-a a nada. Esta contradio tornouse possvel pela circunstncia de o homem primordial ter adoptado frente morte dos outros, do estranho e do inimigo, uma atitude radicalmente distinta da que adoptou diante da sua prpria.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
23
A morte dos outros era-lhe grata, supunha o aniquilamento do que era odiado, e o homem primordial no tinha qualquer escrpulo em provoc-la. Era, sem dvida, um ser extraordinariamente apaixonado, mais cruel e perverso do que os outros animais. Compraziase em matar, e como se fosse uma coisa natural. No precisamos de lhe atribuir o instinto que impede os outros animais de matar seres da mesma espcie e de os devorar. A histria primordial da Humanidade est pois, cheia de assassnio. Ainda hoje, o que os nossos lhos aprendem na escola como Histria Universal , no essencial, uma srie de assassinatos de povos. O obscuro sentimento de culpa que pesa sobre a Humanidade desde os tempos primitivos, que em algumas religies se condensou na hiptese de uma culpa primignia, de um pecado original, provavelmente a expresso de uma culpa de sangue, que a Humanidade primordial sobre si arrojou. No meu livro Ttem e Tabu (1912-13), seguindo as indicaes de W. Robertson Smith, Atkinson e Ch. Darwin, quis indagar a natureza desta culpa antiga e opino que a hodierna doutrina crist nos possibilita a sua inferncia. Se o Filho de Deus teve de sacricar a sua vida para redimir a Humanidade do pecado original, ento este pecado teve de ser, segundo a lei de talio, a retribuio por algo de semelhante, uma morte, um assassinato. S isto podia exigir como expiao o sacrifcio de uma vida. E se o pecado original foi uma culpa contra Deus Pai, ento o crime mais antigo da Humanidade teve de ser um parricdio, a morte do pai primordial da primitiva horda humana, cuja imagem mnsica foi, mais tarde, transgurada em divindade. A morte prpria era, certamente, para o homem primordial, to irrepresentvel e inverosmil como hoje para cada um de ns. Mas apresentou-se-lhe um caso em que convergiam e chocavam entre si as duas atitudes opostas perante a morte, e este caso tornou-se muito signicativo e rico de consequncias longnquas. Aconteceu quando o homem primordial viu morrer um dos seus familiares, a sua mulher, o seu lho, o seu amigo, que ele amava, certamente
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
24
Sigmund Freud
como ns os nossos, pois o amor no pode ser muito mais jovem do que o prazer assassino. Teve ento, na sua dor, de fazer a experincia de que tambm ele poderia morrer, e todo o seu ser se revoltou contra tal concesso; cada um dos seres amados era, de facto, um fragmento do seu prprio eu amado. Por outro lado, semelhante morte era-lhe todavia grata, pois em cada uma das pessoas amadas havia tambm um elemento estranho. A lei da ambivalncia dos sentimentos, que ainda hoje domina as nossas relaes sentimentais com as pessoas por ns amadas, tinha decerto um domnio ainda mais irrestrito nos tempos primitivos. Os mortos amados eram, no entanto, tambm estranhos e inimigos, que tinham nele suscitado uma cota parte de sentimentos hostis5 . Os lsofos armaram que o enigma intelectual, proposto ao homem primordial pela imagem da morte, o forou reexo, e se tornou o ponto de partida de toda a especulao. Creio que os lsofos pensam a este respeito de um modo demasiado losco, tm em muito pouca considerao os motivos primariamente ecazes. Terei, pois, de restringir e de corrigir a armao anterior: diante do cadver do inimigo vencido, o homem primordial ter saboreado o seu triunfo, sem encontrar estmulo algum para pr a sua cabea em gua a propsito do enigma da vida e da morte. O que desatou a indagao humana no foi o enigma intelectual, nem sequer qualquer morte, mas o conito sentimental que surgiu na morte das pessoas amadas e, todavia, tambm estranhas e odiadas. Foi deste conito sentimental que nasceu a psicologia. O homem j no podia manter de si afastada a morte, pois a experimentara na dor pelos seus mortos; mas no a queria reconhecer, j que lhe era impossvel imaginar-se morto. Chegou assim a um compromisso: admitiu a morte tambm para si, mas contesta a signicao da aniquilao da vida, coisa para a qual lhe tinham faltado motivos perante a morte do inimigo. Na presena do cadver da pessoa amada, o homem primordial inventou os espritos, e o
5
[Ttem e Tabu, O tabu e a ambivalncia dos sentimentos]
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
25
seu sentimento de culpabilidade pela satisfao que se mesclava com a dor fez que estes espritos primignios se tornassem demnios perversos, que importava recear. As transformaes da morte sugeriram-lhe a dissociao do indivduo num corpo e numa alma originariamente vrias; o seu caminho mental seguiu deste modo uma trajectria paralela ao processo de desintegrao que a morte inicia. A recordao duradoira dos mortos tornou-se o fundamento da suposio de outras formas de existncia e deu ao homem a ideia de uma sobrevivncia depois da morte aparente. Estas existncias posteriores foram inicialmente apenas plidos apndices daquela que a morte encerrava; foram existncias espectrais, vazias e escassamente apreciadas at pocas ulteriores. Recordemos o que a alma de Aquiles responde a Ulisses: Honrmos-te outrora, quando vivo, semelhante aos deuses, ns Argivos; e agora, poderoso, mandas nos espritos, que aqui em toda a parte habitam. Por isso, Aquiles, no lamentes a morte. Assim eu falei; e logo ele respondeu, ripostando: No me fales da morte com palavras consoladoras, nobre Ulisses! Preferiria lavrar a terra como jornaleiro, ser um homem necessitado, sem heranas e bem-estar prprio, a reinar sobre toda a multido desesperanada dos mortos. (Odisseia, XI, Versos 484-491)
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
26
Sigmund Freud
Ou na vigorosa verso, amargamente parodstica, de H. Heine:
O mais insignicante listeu vivo de Stuckert junto ao Neckar muito mais feliz do que eu, o Plida, o heri morto, o prncipe das sombras no Averno. S mais tarde que as religies conseguiram apresentar a existncia pstuma como a mais valiosa e completa, e rebaixar a uma simples preparao a vida encerrada pela morte. Em seguida, foi apenas uma consequncia prolongar tambm a vida para o passado, inventar existncias anteriores, a migrao das almas e a reencarnao, tudo com a inteno de despojar a morte da sua signicao de anulao da vida. Assim comeou a negao da morte, negao que qualicmos de atitude convencional e cultural. Diante do cadver da pessoa amada nasceram no s a teora da alma, a f na imortalidade e uma poderosa raz do sentimento de culpabilidade dos homens, mas tambm os primeiros mandamentos ticos. O primeiro e principal mandamento da conscincia emergente foi: No matars! Surgiu como reaco contra a satisfao do dio, oculta por detrs da pena pela morte das pessoas amadas, e estendeu-se pouco a pouco ao estranho no amado e, por m, tambm ao inimigo. Neste ltimo caso, o No matars! j no percebido pelo homem civilizado. Quando a luta cruel desta guerra tiver encontrado o seu desfecho, cada um dos combatentes vitoriosos regressar apressadamente ao seu lar, para o p da mulher e dos lhos, sem que o perturbe o pensamento dos inimigos que ele matou no combate corpo a corpo ou com as armas de longo alcance. Note-se que os povos primitivos ainda existentes na Terra, mais prximos do que ns do homem primordial, se comportam neste ponto de modo muito diferente ou se comportaram, enquanto no sofreram
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
27
a inuncia da nossa cultura. O selvagem australiano, bosqumane ou o habitante da Terra do Fogo no nenhum assassino sem remorsos; quando regressa vencedor da luta no lhe lcito pisar a sua aldeia nem tocar na sua mulher, antes de ter resgatado os seus homicdios guerreiros com penitncias, por vezes, longas e penosas. Naturalmente, a explicao desta superstio evidente; o selvagem teme ainda a vingana dos espritos dos mortos. Mas os espritos dos inimigos chacinados so apenas a expresso da sua m conscincia por causa dos seus homicdios; por detrs desta superstio oculta-se um fragmento de sensibilidade tica que ns, homens civilizados, perdemos. No faltaro por certo almas piedosas que, preferindo ter por estranho natureza do homem tudo aquilo que mau e vulgar, pretendero extrair da antiguidade e imperiosidade desta interdio de homicdio concluses optimistas acerca da intensidade dos impulsos ticos inatos em ns. Mas este argumento demonstra, no entanto, justamente o contrrio. Uma proibio to forte s pode elevar-se contra um impulso igualmente poderoso. O que nenhuma alma humana deseja no precisa de ser proibido, excluise por si mesmo. A acentuao do mandamento No matars! garante-nos justamente que descendemos de uma longussima srie de geraes de assassinos, que tinham no sangue o prazer de matar, como talvez ainda ns prprios. As aspiraes ticas da humanidade, de cuja fora e importncia no h que duvidar, so uma conquista da histria humana e tornaram-se em seguida, embora infelizmente num grau muito varivel, uma propriedade herdada da humanidade actual. Deixemos agora o homem primitivo e voltemo-nos para o inconsciente da nossa prpria vida psquica. Baseamo-nos no mtodo de investigao da psicanlise, o nico que chega a tais profundezas. Perguntamo-nos: como se comporta o nosso inconsciente perante o problema da morte? A resposta rezar assim: quase exactamente como o homem primordial. Neste aspecto, como em muitos outros, o homem da Pr-histria sobrevive imutvel no nosso
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
28
Sigmund Freud
inconsciente. Por isso, o nosso inconsciente no cr na prpria morte, comporta-se como se fosse imortal. O que denominamos inconsciente os estratos mais profundos da nossa alma, constitudos por moes pulsionais no conhece, em geral, nada de negativo, nenhuma negao as contradies fundem-se nele e, portanto, tambm no conhece a prpria morte, qual s podemos dar um contedo negativo. Por conseguinte, nada de pulsional favorece em ns a crena na morte. Talvez seja este at o segredo do herosmo. A fundamentao racional do herosmo baseia-se no juzo de que a vida prpria no pode ser to valiosa como certos bens abstractos e gerais. Mas, a meu ver, o que com maior frequncia acontece que o herosmo instintivo e impulsivo prescinde de semelhante motivao e menospreza o perigo, dizendo para si simplesmente: Nada te pode acontecer!, como na comdia Steinklopferhann de Anzengruber. Ou ento aquela motivao serve apenas para desvanecer as preocupaes que poderiam inibir a reaco herica correspondente ao inconsciente. A angstia da morte, que nos domina de um modo mais assduo do que advertimos, , em contrapartida, algo de secundrio e deriva quase sempre do sentimento de culpa. Por outro lado, aceitamos a morte para o estranho e o inimigo e a eles a inigimos to prontamente e sem escrpulos como o homem primordial. Surge aqui, decerto, uma diferena, que efectivamente se considerar decisiva. O nosso inconsciente no induz ao assassinato, apenas o pensa e deseja. Mas seria errado infravalorar esta realidade psquica em comparao com a fctica. Ela signicativa e traz consigo consequncias graves. Nas nossas moes pulsionais suprimimos constantemente todos os que estorvam o nosso caminho, que nos ofenderam e nos prejudicaram. A exclamao Que v para o diabo!, que com tanta frequncia acode aos nossos lbios para encobrirmos jocosamente o nosso mau humor e que, de facto, quer dizer Que o leve a morte!, , no nosso inconsciente, um srio e violento desejo de morte. Sim, o nosso inconsciente mata at por ninharias: como a antiga legislao ateniense de
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
29
Drcon no conhece, para todos os delitos, nenhuma outra pena a no ser a morte, e tal com uma certa lgica, pois todo o dano causado ao nosso omnipotente e desptico Eu , no fundo, um crimen laesae majestatis. Assim tambm ns prprios, julgados pelas nossas moes inconscientes, somos, como os homens primitivos, um bando de assassinos. Felizmente, tais desejos no possuem a fora que os homens dos tempos primordiais ainda lhes atribuam; de outro modo, no fogo cruzado das maldies recprocas, a humanidade, os homens mais excelsos e sbios e tambm as mais belas e amorosas mulheres, j h muito teriam perecido. Estas teses, que a psicanlise formula, deparam com a incredulidade nos leigos. Rejeitam-se como calnias insustentveis perante as armaes da conscincia, e passam-se habilmente por cima os pequenos indcios com que tambm o inconsciente costuma manifestar-se conscincia. No , portanto, inoportuno referir que muitos pensadores, que no podiam ter sido inuenciados pela psicanlise, denunciaram claramente a prontido dos nossos pensamentos secretos para suprimir o que nos impede o caminho, com um absoluto desprezo pela proibio de matar. Entre muitos outros, escolho a este respeito um nico exemplo que se tornou famoso. Em Le Pre Goriot, Balzac alude a uma passagem nas obras de J. J. Rousseau em que este autor pergunta ao leitor o que ele faria se sem deixar Paris e, naturalmente, sem ser descoberto com um simples acto de vontade, pudesse matar um velho mandarim em Pequim, cuja morte lhe traria grandes vantagens. Rousseau d a entender que no considera nada segura a vida desse dignitrio, Tuer son mandarin tornou-se, em seguida, proverbial como designao de tal disposio secreta, latente ainda no homem de hoje. H tambm um grande nmero de anedotas e historietas cnicas que do testemunho na mesma direco, como, por exemplo, a expresso atribuda ao marido: Se um de ns morrer, irei viver
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
30
Sigmund Freud
para Paris!. Estes chistes cnicos no seriam possveis se no tivessem de comunicar uma verdade negada, qual no se pode dar assentimento quando exposta a sria e de uma maneira declarada. Como se sabe, no chiste at a verdade se pode dizer. Como ao homem primitivo, tambm ao nosso inconsciente se apresenta um caso em que as duas atitudes opostas, em face da morte, chocam e entram em conito; uma, que a reconhece como aniquilao da vida, e outra que a nega como irreal. E este caso o mesmo que na poca primitiva: a morte ou o perigo da morte de um ente querido, do pai ou da me, de um irmo, de um lho ou de um amigo dilecto. Estas pessoas amadas so para ns, por um lado, um patrimnio ntimo, componentes do nosso prprio Eu; por outro, porm, so em parte estranhos, e at inimigos. Todas as nossas relaes amorosas, mesmo as mais ntimas e ternas, implicam, salvo em rarssimas situaes, um fragmento de hostilidade que pode estimular o desejo inconsciente de morte. Desta ambivalncia j no nascem, como outrora, o animismo e a tica, mas a neurose, a qual nos faculta vistas profundas sobre o psiquismo normal. Os mdicos que praticam o tratamento psicanaltico depararam, muitas vezes, com o sintoma de uma preocupao exacerbada pelo bem-estar dos familiares ou com autocensuras totalmente infundadas aps a morte de uma pessoa amada. O estudo destes casos no lhes deixou dvida alguma sobre a difuso e a importncia dos desejos inconscientes de morte. O leigo horroriza-se com a possibilidade deste sentimento e atribui a tal repugnncia o valor de um motivo legtimo para aceitar com incredulidade as armaes da psicanlise. Na minha opinio, sem fundamento algum. No se intenta qualquer depreciao da vida afectiva, e no tem tambm semelhante consequncia. Tanto a nossa inteligncia como o nosso sentimento resiste, decerto, a juntar assim o amor e o dio; mas a natureza, ao trabalhar com este par antittico, consegue conservar sempre desperto e fresco o amor, para o resguardar do dio que, por detrs dele, est espreita. Pode dizer-se que devemos as mais belas oraes da nossa vida
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
31
amorosa reaco contra o impulso hostil, que percebemos no nosso peito. Em resumo: o nosso inconsciente to inacessvel representao da morte prpria, to sanguinrio contra os estranhos e to ambivalente quanto pessoa amada como o homem da Prhistria. Mas quanto nos afastmos deste estado primitivo na nossa atitude cultural e convencional frente morte! fcil dizer como a guerra interfere nesta dicotomia. Despojanos das ulteriores sobreposies da cultura e deixa de novo vir em ns ao de cima o homem primitivo. Obriga-nos novamente a ser heris que no podem acreditar na sua prpria morte; apresentanos os estranhos como inimigos, a quem devemos dar ou desejar a morte; aconselha-nos a sobrepor-nos morte das pessoas amadas. Mas impossvel acabar com a guerra: enquanto as condies de existncia dos povos forem to distintas e as repulsas entre eles to violentas, ter de haver guerras. E surge ento a pergunta: no devemos ser ns os que cedem e a ela se ajustam? No devemos ns confessar que, com a nossa atitude cultural perante a morte, vivemos psicologicamente acima da nossa condio e deveremos, portanto, renunciar mentira e declarar a verdade? No seria melhor atribuir morte, na realidade e nos nossos pensamentos, o lugar que lhe compete e deixar vir um pouco mais superfcie a nossa atitude inconsciente diante da morte, que at agora to cuidadosamente reprimimos? Isto no parece constituir um progresso, mas, em certos aspectos, uma regresso; oferece, todavia, a vantagem de ter mais em conta a veracidade e de tornar novamente mais suportvel a vida. Suportar a vida , e ser sempre, o primeiro dever de todos os viventes. A iluso torna-se sem valor, quando de tal nos impede. Recordamos a antiga sentena: Si vis pacem, para bellum. Se queres conservar a paz, prepara-te para a guerra. Seria oportuno modic-la assim: Si vis vitam, para mortem. Se queres suportar a vida, prepara-te para a morte. Sigmund Freud
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
32
Sigmund Freud
CADUCIDADE (1915)
Passeava eu, h algum tempo, pelos campos oridos de Vero, na companhia de um amigo taciturno e de um jovem, mas j clebre, poeta que admirava a beleza da natureza envolvente, mas no conseguia alegrar-se por causa dela, pois preocupava-o a ideia de que todo este esplendor estava condenado a perecer, de que j no Inverno vindouro teria desaparecido, como toda a beleza humana e todos os produtos belos e nobres que o homem criou ou poderla criar. Tudo o que teria amado e admirado, se no se interpusesse esta circunstncia, agurava-se-lhe desprovido de valor em virtude do destino de perecer a que estava condenado. Sabemos que esta preocupao pelo carcter perecvel do belo e do perfeito pode originar duas tendncias psquicas distintas. Uma leva ao amargado desgosto do mundo que o jovem poeta sentia; a outra, rebelio contra essa pretensa fatalidade. No! impossvel que todo esse esplendor da natureza e da arte, do nosso mundo sentimental e do mundo exterior, esteja realmente condenado a desaparecer no nada! Acreditar em tal seria demasiado insensato e sacrlego. Tudo isso h-de conseguir subsistir de algum modo, subtrado a toda a inuncia que ameace aniquil-lo. Mas esta pretenso de eternidade atraioa com demasiada claridade a sua liao nos nossos desejos para que possa reivindicar que se lhe conceda valor de realidade. O que se revela doloroso pode tambm ser certo; no consegui, pois, decidir-me a refutar a generalidade do perecvel nem a impor uma excepo para o belo
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
33
e o perfeito. Em contrapartida, neguei ao poeta pessimista que o carcter perecvel do belo implicasse a sua desvalorizao. antes um incremento do seu valor! A qualidade de perecvel comporta um valor de rareza no tempo. As limitadas possibilidades de dele fruir tornam-no tanto mais precioso. Manifestei, pois, a minha incompreenso de que a caducidade da beleza houvesse de turvar o gozo que nos proporciona. Quanto beleza da natureza, depressa renasce de cada destruio invernal, e tal renascimento pode, decerto, considerar-se eterno em comparao com o prazo da nossa prpria vida. No decurso da nossa existncia vemos fenecer para sempre a beleza do rosto e do corpo humanos, mas esta fugacidade acrescenta aos seus encantos um novo. Uma or no nos parece menos esplndida porque as suas ptalas s esto viosas durante uma noite. No consegui tambm compreender porque que a limitao no tempo haveria de diminuir a perfeio e a beleza da obra artstica ou da produo intelectual. Surja uma poca em que se reduzam a p os quadros e as esttuas que hoje admiramos; suceda-nos uma gerao de seres que j no compreendam as obras dos nossos poetas e pensadores; tenha lugar ainda uma era geolgica que veja emudecida toda a vida na terra..., no importa; o valor de todo o belo e perfeito que existe reside apenas na sua importncia para a nossa percepo; no necessrio que lhe sobreviva e, por conseguinte, independente da sua perdurao no tempo. Embora tais argumentos me parecessem sem objeco, pude notar que no faziam mossa no poeta nem no meu amigo. Semelhante asco levou-me a presumir que eles deveriam estar impedidos por um poderoso factor afectivo que turvava a clareza do seu juzo, factor que mais tarde julguei ter encontrado. A revolta psquica contra a aio, contra a pena por algo perdido, deve ter-lhes frustrado o gozo do belo. A ideia de que toda esta beleza seria efmera suscitou em ambos, to sensveis, uma sensao antecipada da aio que lhes ocasionaria o seu aniquilamento, e uma vez que a alma se afasta instintivamente de tudo o que doloroso, estas
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
34
Sigmund Freud
pessoas viram inibido o seu gozo do belo pela ideia da sua ndole perecvel. Ao leigo agura-se to natural a pena pela perda de algo amado ou admirado que no hesita em qualic-lo de bvio e evidente. Para o psiclogo, pelo contrrio, esta aio representa um grande problema, um daqueles fenmenos que, embora tambm incgnitos, servem para reduzir a eles outras incertezas. Imaginamos assim possuir uma certa capacidade amorosa chamada "libido-que, no comeo da evoluo, se orientou para o prprio Eu, para mais tarde embora, na realidade, muito precocemente se dirigir para os objectos, que desta sorte cam de certo modo includos no nosso eu. Se os objectos so destrudos ou se os perdemos, a nossa capacidade amorosa (libido) volta a car em liberdade, e pode tomar outros objectos como substitutos, ou regressar transitoriamente ao eu. Todavia, no conseguimos explicar nem podemos a tal respeito aventar hiptese alguma porque que o desprendimento da libido dos seus objectos tem de ser, necessariamente, um processo to doloroso. Comprovamos apenas que a libido se aferra aos seus objectos e que nem sequer quando j dispe de novos sucedneos se resigna a desprender-se dos objectos que perdeu. Eis aqui, pois, a pena. A conversa com o poeta ocorreu durante o Vero que precedeu a guerra. Um ano depois, rebentou esta e roubou ao mundo todas as suas belezas. No s aniquilou a magnicncia das paisagens que percorreu e as obras de arte com que tropeou no seu caminho, mas tambm abateu o nosso orgulho pelos progressos conseguidos na cultura, o nosso respeito perante tantos pensadores e artistas, as esperanas que depusramos numa superao denitiva das diferenas que separam os povos e as raas entre si. A guerra enlameou a nossa excelsa equanimidade cientca, patenteou na sua crua nudez a nossa vida pulsional, soltou os espritos malignos que em ns habitam e que supnhamos denitivamente dominados pelos nossos impulsos mais nobres, graas a uma educao multissecular. Encerrou de novo o recinto da nossa ptria e voltou a tornar
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
35
longnquo e vasto o mundo restante. Arrebatou-nos muito do que amvamos e mostrou-nos a caducidade de muito que julgvamos estvel. No de estranhar que a nossa libido, to empobrecida de objectos, fosse incidir com tanto maior intensidade naqueles que nos caram; no espanta que, de repente, tenha aumentado o nosso amor pela ptria, a ternura pelos nossos e o orgulho que nos inspira o que em comum possumos. Mas os nossos outros bens, agora perdidos, caram porventura realmente desvalorizados aos nossos olhos s porque se revelaram to perecveis e frgeis? Muitos de ns assim o cremos; mas injustamente, conforme, mais uma vez, penso. Quer-me parecer que aqueles que deste modo opinam e parecem estar dispostos a renunciar de uma vez por todas ao aprazvel, simplesmente porque se no revelou estvel, se encontram apenas deprimidos pela pena que lhes causou a sua perda. Sabemos que a amargura, por mais dolorosa que seja, se consome espontaneamente. Logo que tiver renunciado a tudo o que se perdeu esgotar-se- por si mesma e a nossa libido car outra vez em liberdade para substituir os objectos perdidos por outros novos, possivelmente to valiosos ou mais ainda do que aqueles, sempre que formos ainda assaz jovens e conservarmos a nossa vitalidade. de esperar que acontecer a mesma coisa com as perdas desta guerra. Superada a pena, notar-se- que a nossa elevada estima dos bens culturais no sofreu uma diminuio pela experincia da sua fragilidade. Voltaremos a construir tudo o que a guerra destruiu, talvez em solo mais rme e com maior perenidade. Sigmund Freud
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
36
Sigmund Freud
PORQU A GUERRA? (1932)
Carta a Albert Einstein
Viena, Setembro de 1932 Caro Senhor Einstein Quando me chegou aos ouvidos que vos propnheis convidarme para uma troca de ideias sobre um tema que ocupava o vosso interesse e que tambm vos parecia ser digno do interesse de outros, de bom grado concordei. Esperava que escolhsseis um problema na fronteira do nosso conhecimento actual, um problema em que cada um de ns, o fsico e o psiclogo, pudesse abrir um acesso especial de modo que ambos, a partir de vertentes diversas, se encontrassem no mesmo campo. Surpreendestes-me, pois, com a pergunta sobre o que se poderia fazer para evitar aos homens o destino da guerra. Inicialmente, quei assustado sob a impresso da minha quase dizia: da nossa incompetncia, pois aquela agurava-se uma tarefa prtica que incumbe aos homens de Estado. Mas compreendi logo que me tnheis feito a pergunta, no como investigador da natureza e fsico, mas como amigo da humanidade, respondendo ao convite da Sociedade das Naes, maneira de Fridtjof Nansen, o explorador do rctico, que tomou a seu
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
37
cargo a assistncia aos famintos e s vtimas desalojadas da Guerra Mundial. Reecti, ademais, que no se me pedia a formulao de propostas prticas, mas que deveria apenas delinear como se apresenta a uma considerao psicolgica o problema da preveno das guerras. Na vossa carta, porm, j a este respeito dissestes quase tudo. De certo modo, tirastes-me o vento das velas, mas de bom grado navegarei na vossa esteira e limitar-me-ei a conrmar tudo o que enunciastes, explicitando-o um pouco mais, segundo o meu saber ou presuno. Comeais com a relao entre direito e poder. Tal , sem dvida, o ponto de partida correcto para a nossa investigao. Ser-me permitido substituir a palavra poder pelo termo, mais rotundo e mais duro, fora? Direito e fora so hoje, para ns, antagnicos. No difcil mostrar que o primeiro brotou da segunda; se remontarmos aos incios primordiais e observarmos como tal primeiramente aconteceu, a soluo do problema apresenta-se-nos sem esforo. Mas desculpai-me se, no que se segue, digo coisas conhecidas e admitidas como se fossem novidades. O contexto a tal me obriga. Os conitos de interesses entre os homens so, em princpio, solucionados pelo recurso fora. Assim acontece em todo o reino animal, do qual o homem se no deveria excluir; mas, no caso deste, acrescentam-se ainda conitos de opinies que atingem as maiores alturas da abstraco e parecem exigir uma outra tcnica para a sua soluo. Mas isto s uma complicao relativamente recente. Inicialmente, na pequena horda humana, a maior fora muscular era a que decidia a quem deveria pertencer alguma coisa, ou a vontade que se deveria levar a cabo. A fora muscular cedo reforada e substituda pelo uso de instrumentos; vence quem possui as melhores armas ou as emprega com maior habilidade. Com a introduo das armas, a superioridade intelectual comea j a ocupar o lugar da fora muscular bruta, mas o objectivo nal da luta continua a ser o mesmo: pelo dano que se lhe inige ou pela
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
38
Sigmund Freud
aniquilao das suas foras, uma das partes em litgio obrigada a abandonar as suas pretenses ou a sua posio. Tal obtm-se do modo mais completo quando a fora do adversrio denitivamente eliminada, portanto, quando ele morto. Semelhante resultado oferece a dupla vantagem de o inimigo j no poder iniciar de novo a sua oposio e de o seu destino desviar os outros de seguirem o seu exemplo. Alm disso, a morte do inimigo satisfaz uma tendncia instintiva, que mencionarei mais adiante. Ao propsito homicida pode opor-se a considerao de que, poupando a vida do inimigo, e conservando-o atemorizado, ele pode vir a ser utilizado para realizar servios teis. Assim, a fora, em vez de o matar, limita-se a subjug-lo. Eis a origem do respeito pelo inimigo, mas, desde ento, o vencedor teve de contar com os desejos latentes de vingana do vencido, de modo que perdeu uma parte da sua prpria segurana. Tal , pois, a situao originria: domina o maior poder, a fora bruta ou intelectualmente fundamentada. Sabemos que este regime se modicou, a pouco e pouco, no decurso da evoluo, que um caminho levou da fora ao direito, mas qual? A meu ver, s podia ter sido um: o que passava pelo facto de a fora maior de um indivduo poder ser compensada pela associao de vrios mais dbeis. Lunion fait la force. A violncia vencida pela unio, o poder dos unidos representa agora o direito, em oposio fora do indivduo isolado. Vemos, pois, que o direito o poder de uma comunidade. Continua a ser uma fora disposta a dirigir-se contra qualquer indivduo que se lhe contraponha; opera com os mesmos meios, persegue os mesmos ns; na realidade, a diferena reside apenas em que j no o poder de um indivduo a impor-se, mas o da comunidade. Mas para que a transio da violncia ao novo direito se leve a cabo, deve cumprir-se uma condio psicolgica: a unidade do grupo deve ser permanente, duradoira. Se esta se formasse apenas para lutar contra um indivduo demasiado poderoso, e se, aps a derrota deste, se desmembrasse, nada se teria alcanado. O prximo a sentir-se mais forte trataria novamente de
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
39
dominar por meio da sua fora, e o jogo repetir-se-ia sem cessar. A comunidade deve manter-se permanentemente, deve organizar-se, criar prescries que impeam as temidas insubordinaes, deve denir rgos que vigiem o cumprimento das prescries leis e h-de tomar a seu cargo a execuo dos actos de fora legais. No reconhecimento de semelhante comunidade de interesses surgem entre os membros de um grupo humano unido vnculos afectivos, sentimentos comunitrios, em que assenta a sua verdadeira fora. Com isto, penso eu, j temos o essencial: a superao da violncia pela transferncia do poder para uma unidade mais ampla, mantida pelos vnculos afectivos dos seus membros. Tudo o mais ss explicitaes e repeties. As condies so simples, enquanto a comunidade constar apenas de um certo nmero de indivduos igualmente fortes. As leis desta associao determinam ento em que medida o indivduo h-de renunciar liberdade pessoal de exercer violentamente a sua fora, para que seja possvel uma convivncia segura. Mas semelhante situao pacca s teoricamente concebvel, pois, na realidade, o estado de coisas complicase em virtude de a comunidade, desde o incio, englobar elementos de poder desigual, homens e mulheres, lhos e pais, e em seguida, por causa de guerras e conquistas, tambm vencedores e vencidos, que se transformam em senhores e escravos. O direito da comunidade torna-se ento uma expresso das desiguais relaes de poder entre os seus membros; as leis sero feitas por e para os governantes e concedero escassos direitos aos subjugados. H, doravante, na comunidade, duas fontes de perturbao do direito, mas que ao mesmo tempo o so igualmente de novas legislaes. Primeiro, alguns dos senhores tentaro elevar-se acima de todas as restries vigentes, abandonaro portanto a esfera do direito para regressar ao domnio da violncia; em segundo lugar, os oprimidos esforarse-o constantemente por alcanar maior poder e ver reconhecidas na lei estas modicaes, que se caminhe portanto do direito desigual para o direito igual para todos. Esta ltima corrente tornarse- mais poderosa se, no seio da entidade electiva, se produzirem
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
40
Sigmund Freud
realmente deslocaes das relaes de poder, como pode ocorrer na sequncia de mltiplos factores histricos. O direito pode ento adaptar-se paulatinamente s novas relaes de poder ou, o que acontece com maior frequncia, a classe dominante negar-se- a reconhecer a transformao e chega-se rebelio, guerra civil, ou seja, supresso transitria do direito e a novas tentativas violentas que, aps o seu desfecho, podem suscitar uma nova ordem legal. H ainda uma outra fonte de transformao jurdica, que se manifesta apenas de forma pacca: o desenvolvimento cultural dos membros da entidade colectiva, mas esta pertence a um contexto que s mais tarde ser abordado. Vemos, por conseguinte, que tambm dentro de uma entidade colectiva se no pode evitar a soluo violenta dos conitos de interesses. Mas as necessidades e os ns comuns que brotam da convivncia no mesmo solo so favorveis a uma rpida terminao de tais conitos, de modo que nestas condies aumenta sem cessar a probabilidade de uma soluo pacca. Uma olhadela Histria da Humanidade mostra, porm, uma srie ininterrupta de conitos entre uma comunidade e outra ou vrias, entre unidades maiores e menores, entre cidades, comarcas, tribos, povos, reinos, conitos que quase sempre foram decididos pela prova de fora da guerra. Tais guerras terminaram ou no saque, ou na total submisso, na conquista de uma das partes em luta. No se podem julgar com o mesmo critrio todas as guerras de conquista. Algumas, como as dos Mongis e as dos Turcos, s causaram calamidades; outras, pelo contrrio, contriburam para a transformao da violncia em direito, ao estabelecerem maiores entidades em cujo seio foi eliminada a possibilidade do uso da violncia, solucionando-se os conitos mediante uma nova ordem legal. Assim, as conquistas dos Romanos legaram a preciosa pax romana aos povos mediterrnicos. O gosto da expanso dos reis franceses criou uma Frana pacicamente unida e prspera. Embora se agure paradoxal, deve admitir-se que a guerra poderia ser um meio apropriado para estabelecer a anelada paz eterna, j que capaz de criar unidades
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
41
to grandes que um forte poder central torna impossveis outras guerras. Mas, na realidade, a guerra no serve para tal m, pois os resultados da conquista no costumam ser duradoiros; as novas unidades criadas voltam geralmente a desmembrar-se, por causa da escassa coeso entre as partes unidas fora. Alm disso, at agora, a conquista s conseguiu suscitar unies parciais, embora amplas, cujos conitos favoreceram ainda mais as decises violentas. Por isso, todos os esforos blicos s levaram a que a Humanidade trocasse numerosas e ainda incessantes guerras pequenas por conagraes menos frequentes, mas tanto mais devastadoras. Aplicando as minhas reexes actualidade, chego ao mesmo resultado que vs alcanastes por um caminho mais curto. Uma evitao segura da guerra s possvel se os homens se puserem de acordo em estabelecer um poder central, ao qual se conferiria a soluo de todos os conitos de interesses. Aqui conjugam-se manifestamente duas exigncias: a de que seja criada semelhante instncia superior, e a de que se lhe outorgue o poder requerido. Uma s no bastaria. Ora a Sociedade das Naes foi projectada como uma instncia desta espcie, mas no se realizou a outra condio: no possui poder autnomo, e unicamente o obteria se os membros da nova unidade, os Estados singulares, lho conferissem. Hoje, porm, so muito escassas as probabilidades de que tal coisa acontea. Julgar-se-ia mal a instituio da Sociedade das Naes se no se reconhecesse que nela temos uma tentativa, poucas vezes empreendida na Histria da Humanidade e talvez jamais intentada em semelhante escala. a tentativa para conseguir, mediante a invocao de certas posies ideais, a autoridade ou seja, o poder de inuir peremptoriamente que em geral se baseia na posse do poder. Vimos que uma comunidade humana se mantm unida, graas a duas coisas: a coaco da violncia e os vnculos afectivos tecnicamente as chamadas identicaes que ligam os seus membros. Se faltar um destes momentos, o outro poder possivelmente manter unida a comunidade. Naturalmente, tais ideias s possuem um signicado, se expressarem importantes interesses cowww.lusosoa.net
i i i
i i
i i
42
Sigmund Freud
muns dos membros. Perguntar-se- ento qual ser a sua fora. A Histria ensina que, na realidade, exerceram o seu efeito. Assim, por exemplo, a ideia pan-helnica, a conscincia de ser superior aos brbaros vizinhos, ideia to poderosamente expressa nas anctionias, nos orculos e nos jogos festivos, foi assaz forte para suavizar os costumes guerreiros dos Gregos, mas no conseguiu impedir os conitos blicos entre os pequenos agrupamentos do povo helnico, e nem sequer conseguiu evitar que uma cidade ou confederao de cidades se aliasse com o poderoso inimigo persa em prejuzo de um rival. De modo anlogo, o sentimento da comunidade crist, sem dvida poderoso, no foi sucientemente forte para impedir que no Renascimento pequenos e grandes Estados cristos solicitassem, nas suas guerras mtuas, o auxlio do sulto. Na nossa poca, tambm no existe nenhuma ideia a que se possa atribuir semelhante autoridade unicadora. O facto de os ideais nacionais que dominam os povos levarem hoje a um efeito contrrio demasiado evidente. H pessoas que predizem que somente a aplicao geral do modo de pensar bolchevista poderia acabar com a guerra, mas, decerto, ainda hoje nos encontramos muito afastados de tal objectivo, e talvez s pudssemos alcan-lo atravs de uma terrvel guerra civil. Por conseguinte, parece que a tentativa de substituir o poder real pelo poder das ideias est, actualmente, condenada ao fracasso. Faz-se um clculo errado, se no se tiver em conta que o direito foi originariamente fora bruta e que, ainda agora, no pode renunciar ao apoio da fora. Posso agora passar a glosar algumas das vossas proposies. Admirais-vos do facto de que seja to fcil entusiasmar os homens para a guerra, e suspeitais que algo, uma pulso do dio e da destruio, actua neles, facilitando tal incitamento. Mais uma vez, no posso seno partilhar sem restries a vossa opinio. Acreditamos na existncia de semelhante pulso e, justamente nos ltimos anos, esformo-nos por estudar as suas manifestaes. Permitime, pois, que vos exponha uma parte da teora das pulses a que chegmos na psicanlise, aps muitos tacteios e vacilaes. Supowww.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
43
mos que as pulses do homem so apenas de dois tipos: umas que tendem a conservar e a unir denominamo-las erticas, inteiramente no sentido do Eros do Banquete platnico, ou sexuais, ampliando deliberadamente o conceito popular da sexualidade , e outras que tendem a destruir e a matar: concebemo-las como a pulso de agresso ou de destruio. Como advertis, trata-se apenas de uma transgurao terica da anttese entre o amor e o dio, universalmente conhecida e talvez relacionada primordialmente com a que existe entre atraco e repulso, que desempenha um papel no seu campo cientco. No nos apressemos a introduzir aqui os conceitos valorativos de bom e mau. Qualquer destas pulses to imprescindvel como a outra, e da sua aco conjunta e antagnica brotam as manifestaes da vida. Ora parece que quase nunca uma pulso deste gnero pode actuar isoladamente, pois est sempre ligada como ns dizemos, fundida com um segmento determinado da outra, que modica o seu m e que, em certas circunstncias, o requisito inelutvel para que tal m se possa alcanar. Assim, por exemplo, o instinto de conservao certamente de natureza ertica, mas precisa de dispor da agresso, para efectuar o seu propsito. De modo semelhante, a pulso do amor objectal necessita de um complemento do instinto de posse para conseguir apoderar-se do seu objecto. A diculdade de isolar ambas as pulses nas suas manifestaes que, durante tanto tempo, nos impediu de reconhecer a sua existncia. Se estiverdes disposto a acompanhar-me um pouco mais, careis a saber que as aces humanas apresentam ainda uma outra complicao de ndole diversa da anterior. rarssimo que uma aco seja obra de uma nica moo pulsional que, por outro lado, j deve estar constituda em si mesma pelo Eros e pela destruio. Regra geral, necessrio que coincidam vrios motivos de estrutura anloga para que a aco seja possvel. Um dos vossos colegas, um certo professor G. Ch. Lichtenberg, que no tempo dos nossos clssicos ensinava fsica em Gotinga, j o sabia; talvez porque era mais
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
44
Sigmund Freud
exmio psiclogo do que fsico6 . Descobriu a rosa dos mbiles, ao armar: Os mbiles que induzem a fazer algo podem dispor-se como os trinta e dois rumos da rosa-dos-ventos, e os seus nomes formam-se de modo semelhante, por exemplo, po-po-glria, ou glria-glria-po. Por conseguinte, quando os homens so incitados guerra haver neles um grande nmero de motivos nobres ou baixos, daqueles que se proclamam em voz alta, e outros que se silenciam que respondero armativamente. Mas no aproveitamos o ensejo para os revelar todos aqui. Encontra-se decerto entre eles o prazer da agresso e da destruio: inumerveis crueldades da Histria e do quotidiano conrmam a sua existncia e a sua fora. A fuso das tendncias destrutivas com outras erticas e ideais facilita, naturalmente, a sua satisfao. Por vezes, ao ouvirmos falar dos horrores da Histria, temos a impresso de que os motivos ideais s servem de pretexto para os desejos destruidores; outras vezes, por exemplo, em face das crueldades da Santa Inquisio, opinamos que os motivos ideais predominaram na conscincia, subministrando-lhes os destruidores um reforo inconsciente. Ambas as coisas so possveis. Receio abusar do vosso interesse, que gira volta da preveno da guerra, e no das nossas teoras. Contudo, gostaria de me deter ainda um instante na nossa pulso de destruio, cuja popularidade de nenhum modo corre paralela sua importncia. Com o emprego de alguma especulao, chegmos a conceber que esta pulso opera em todo o ser vivo, suscitando a tendncia de o levar sua desintegrao, de reduzir a vida ao estado da matria inanimada. Merece, pois, com toda a seriedade, o nome de pulso de morte, ao passo que as pulses erticas representam as tendncias para a vida. A pulso de morte torna-se pulso destruidora quando, com a ajuda de rgos especiais, dirigida para fora, para os objectos. O ser vivo protege de certo modo a sua prpria vida, destruindo
6 [Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) era um autor muito apreciado por Freud, e que se tornou famoso pelos Aforismos e Epigramas, alm de ser um exmio representante do Iluminismo alemo].
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
45
a vida alheia. Mas uma parte da pulso de morte permanece activa no interior do ser vivo; tentmos explicar um grande nmero de fenmenos normais e patolgicos mediante esta interiorizao da pulso de destruio. Chegmos at a cometer a heresia de atribuir a origem da nossa conscincia moral a semelhante orientao interna da agresso. Como advertis, no deixa de ser inconveniente que este processo adquira uma grandeza excessiva; directamente nocivo para a sade, ao passo que a orientao das ditas energias pulsionais para a destruio no mundo externo alivia o ser vivo, e deve produzir-lhe um benefcio. Sirva isto de desculpa biolgica de todas as tendncias odiosas e perigosas contra as quais lutamos. Deve admitir-se que so mais ans natureza do que a nossa resistncia contra elas, a qual, por outro lado, tambm importa explicar. Talvez tenhais adquirido a impresso de que as nossas teorias so uma espcie de mitologia; se assim fosse, nem sequer seria uma mitologia aprazvel. Mas no caminham todas as cincias naturais para uma mitologa desta ndole? Deparar, hoje, na fsica, com uma situao distinta? Do que precede tiramos para os nossos ns imediatos a concluso de que seriam inteis os propsitos para eliminar as tendncias agressivas dos homens. Haver em regies muito felizes da Terra, onde a natureza oferece prodigamente tudo o que o homem necessita para a sua subsistncia, povos cuja vida decorre paccamente, entre os quais se desconhece a fora e a agresso: dicilmente posso acreditar em tal, e gostaria de indagar algo mais sobre esses bem-aventurados. Tambm os bolchevistas esperam poder eliminar a agresso humana, garantindo a satisfao das necessidades materiais e estabelecendo a igualdade entre os membros da comunidade. Creio que isso uma iluso. Entretanto, esto cuidadosamente armados e mantm unidos os seus partidrios, em medida no escassa, pelo dio contra todos os estranhos. Por outro lado, como advertis, no se trata de eliminar totalmente as tendncias agressivas humanas; pode tentar-se desvi-las, de modo que j no encontrem a sua expresso na guerra.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
46
Sigmund Freud
A partir da nossa mitolgica doutrina das pulses, achamos facilmente uma frmula que contm os meios indirectosde combater a guerra. Se a disposio para a guerra for um produto da pulso de destruio, o mais fcil ser apelar para o antagonista desta pulso, para o Eros. Tudo o que estabelecer laos afectivos entre os homens deve actuar contra a guerra. Estes laos podem ser de dois tipos. Primeiro, os vnculos anlogos aos que nos ligam ao objecto do amor, embora sem objectivos sexuais. A psicanlise no precisa de se envergonhar, quando aqui fala de amor, pois a religio diz o mesmo: Ama o teu prximo como a ti mesmo. Isto fcil de exigir, mas difcil de realizar. O outro tipo de lao afectivo o que se leva a cabo por identicao. Tudo o que estabelece importantes elementos comuns entre os homens desperta tais sentimentos de comunidade, identicaes. Neles se baseia, em grande parte, a estrutura da sociedade humana. Lamentais-vos dos abusos da autoridade, e tal fornece-me uma segunda indicao para a luta indirecta contra a tendncia para a guerra. Que os homens se dividam em dirigentes e dirigidos uma expresso da sua desigualdade inata e irremedivel. Os ltimos formam a imensa maioria, precisam de uma autoridade que tome para eles as decises, s quais se submetem geralmente de um modo incondicional. Deveria aqui acrescentar-se que importa empenharse mais em educar uma camada superior de homens dotados de pensamento autnomo, inacessveis intimidao, que lutem pela verdade e aos quais incumba a direco das massas dependentes. No preciso demonstrar que os abusos dos poderes do Estado e a censura do pensamento pela Igreja de nenhum modo podem favorecer esta educao. A situao ideal seria, claro est, a de uma comunidade de homens que tivessem submetido a sua vida pulsional ditadura da razo. Nada mais poderia suscitar uma unidade to completa e resistente dos homens, embora se renunciasse aos laos afectivos entre eles. Mas tal, com toda a probabilidade, no passa de uma esperana utpica. Os restantes caminhos para evitar indirectamente a guerra so, sem dvida, mais acessveis, mas, em
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
47
contrapartida, no prometem um resultado imediato. difcil pensar em moinhos cuja moedura to lenta que se poderia morrer de fome, antes de se ter a farinha. Como vedes, no muito o que se consegue quando, ao tratarse de uma tarefa prtica e urgente, se acode ao terico afastado do mundo. Ser melhor que em cada caso particular se procure enfrentar o perigo com os recursos disponveis na altura. Mas gostaria ainda de abordar uma questo que levantais no vosso escrito e que particularmente me interessa. Porque nos indignamos tanto contra a guerra, vs, eu e tantos outros? Porque no a aceitamos como mais uma das muitas dolorosas misrias da vida? Parece natural; biologicamente bem fundada, praticamente inevitvel. No vos indigneis com a minha pergunta. Tratando-se de uma indagao, pode decerto adoptar-se a mscara de uma superioridade que, na realidade, no se possui. A resposta ser que todo o homem tem o direito sua prpria vida; que a guerra destri vidas humanas cheias de esperanas; pe o indivduo humano em situaes degradantes; obriga-o a matar outros, coisa que no quer fazer; destri preciosos valores materiais, produtos do trabalho humano, e muito mais. Alm disso, a guerra, na sua forma actual, j no proporciona a oportunidade de cumprir o antigo ideal herico, e uma guerra futura implicaria a eliminao de um ou talvez de ambos os inimigos, devido ao aperfeioamento dos meios de destruio. Tudo isto verdade, e parece to incontestvel que de espantar que as guerras ainda no tenham sido condenadas pelo conselho geral de todos os homens. possvel, todavia, discutir alguns destes pontos. Poderia perguntar-se se a comunidade no tem tambm um direito vida do indivduo; ademais, no se podem condenar em igual medida todas as espcies de guerra; por m, enquanto houver Estados e naes que estejam dispostos destruio sem escrpulos de outros, estes devero estar preparados para a guerra. Mas vou abandonar rapidamente estes temas, pois no esta a discusso a que me convidastes. Tenho em mira outra coisa muito diferente; creio que a causa principal por que nos levantamos contra a guerra
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
48
Sigmund Freud
a de que no podemos fazer outra coisa. Somos pacistas porque, por razes orgnicas, devemos s-lo. Torna-se-nos ento fcil justicar com argumentos a nossa atitude. Tal no , decerto, compreensvel sem uma explicao. E armo o seguinte: desde tempos imemoriais, desenvolve-se na Humanidade o processo da evoluo cultural. (Sei que outros preferem chamar-lhe civilizao.) A este processo devemos o melhor que de ns zemos, e tambm uma boa parte do que sofremos. As suas causas e as suas origens so incertas; a sua soluo, duvidosa; alguns dos seus rasgos, facilmente apreciveis. Talvez leve ao desaparecimento da espcie humana, pois inibe a funo sexual em mais de um sentido, e j hoje as raas e as camadas atrasadas da populao se reproduzem mais rapidamente do que as de cultura elevada. Tal processo pode, porventura, comparar-se domesticao de certas espcies animais. Traz consigo, sem dvida, modicaes orgnicas, mas ainda no podemos familiarizar-nos com a ideia de que esta evoluo cultural seja um processo orgnico. As modicaes psquicas que acompanham a evoluo cultural so notveis e inequvocas. Consistem numa progressiva deslocao dos ns das pulses e numa crescente restrio das tendncias pulsionais. Sensaes que eram aprazveis para os nossos antepassados so-nos indiferentes ou at desagradveis; o facto de as nossas exigncias ideais ticas e estticas se haverem modicado tem um fundamento orgnico. Entre os caracteres psicolgicos da cultura, h dois que parecem ser os mais importantes: o fortalecimento do intelecto, que comea a dominar a vida pulsional, e a interiorizao das tendncias agressivas, com todas as suas consequncias vantajosas e perigosas. Ora as atitudes psquicas que nos foram impostas pelo processo da cultura so negadas pela guerra do modo mais cruel e, por isso, erguemo-nos contra a guerra; no a suportamos mais, e no se trata aqui de uma averso intelectual e afectiva; em ns, pacistas, agita-se uma intolerncia constitucional, por assim dizer, uma idiossincrasia elevada ao mximo. E parece que as de-
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Escritos sobre a Guerra e a Morte
49
gradaes estticas da guerra contribuem para a nossa rebelio em no menor grau do que as suas atrocidades. Durante quanto tempo deveremos esperar at que os outros se tornem tambm pacistas? difcil diz-lo, mas talvez no seja uma esperana utpica a de que estes dois factores a atitude cultural e a angstia justicada perante as consequncias da guerra futura ponham m aos conitos blicos num prazo previsvel. -nos impossvel adivinhar por que caminhos ou desvios se conseguir tal m. Por agora, s podemos dizer: tudo o que fomente a evoluo cultural actua contra a guerra. Sado-vos cordialmente, e peo desculpa se a minha exposio vos desiludiu. Sigmund Freud
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
50
Sigmund Freud
[Nota do Tradutor]
A verso destes trs textos de S. Freud, feita a partir da Studienausgabe, org. de Alexander Mitscherlich, Angela Richards e James Strachey, S. Fischer Verlag, Francoforte, vol. IX, 1974, foi publicada pela primeira vez em 1997. Prope-se agora ao pblico internauta, inteiramente revista, expurgada de algumas decincias (gralhas tipogrcas, giros de frase menos elegantes ou confusos) e melhorada no estilo.
www.lusosoa.net
i i i
Você também pode gostar
- A Carta Roubada Autor Edgar Allan PoeDocumento11 páginasA Carta Roubada Autor Edgar Allan PoeJanaina GabrielaAinda não há avaliações
- A Desobediencia CivilDocumento19 páginasA Desobediencia CivilLeo ZaqueuAinda não há avaliações
- Funções Da LinguagemDocumento24 páginasFunções Da LinguagemAna Cristina Ramos0% (1)
- Lógica Dos Paradoxos: O Cadáver Vivo de TolstóiDocumento7 páginasLógica Dos Paradoxos: O Cadáver Vivo de Tolstóiinadequacao0% (1)
- Bertrand Russell: 3 em 1: No que acredito, Por que não sou cristão, ensaios céticosNo EverandBertrand Russell: 3 em 1: No que acredito, Por que não sou cristão, ensaios céticosAinda não há avaliações
- A Política em Clarice Lispector - Silviano SantiagoDocumento7 páginasA Política em Clarice Lispector - Silviano SantiagoAnissa DaliryAinda não há avaliações
- Desejo Sitiado PDFDocumento115 páginasDesejo Sitiado PDFLena OliverAinda não há avaliações
- 1º Capitulo - ChurchillDocumento23 páginas1º Capitulo - ChurchillEdiouroPub100% (1)
- Franz Kafka Um Artista Da FomeDocumento11 páginasFranz Kafka Um Artista Da FomeCristiano R VrAinda não há avaliações
- Marilena Chauí - Brasil - Mito Fundador e Sociedade AutoritáriaDocumento111 páginasMarilena Chauí - Brasil - Mito Fundador e Sociedade AutoritáriarenatoAinda não há avaliações
- John Wesley e Seu Seculo Vol 01Documento143 páginasJohn Wesley e Seu Seculo Vol 01Eduardo SilvaAinda não há avaliações
- SaramagoDocumento13 páginasSaramagoamebaperdidaAinda não há avaliações
- O Terramoto de Lisboa - A Construção Da Baixa PombalinaDocumento9 páginasO Terramoto de Lisboa - A Construção Da Baixa PombalinatomastomasalmeidaAinda não há avaliações
- Monstros - Obras RarasDocumento17 páginasMonstros - Obras Rarasgui_nf6618Ainda não há avaliações
- Revolução FrancesaDocumento32 páginasRevolução FrancesaJuliana ValentiniAinda não há avaliações
- Quatrocentos Contra Um - Uma His - William Da Silva LimaDocumento115 páginasQuatrocentos Contra Um - Uma His - William Da Silva LimaRui silva de OliveiraAinda não há avaliações
- Camus (Discurso 1957) PDFDocumento4 páginasCamus (Discurso 1957) PDFMatheusMaiaAinda não há avaliações
- A LEITURA DE "OS SERTÕES", HOJE - Alfredo BosiDocumento20 páginasA LEITURA DE "OS SERTÕES", HOJE - Alfredo BosiCleidivan SousaoAinda não há avaliações
- Clarice Lispector - Sobre o Conto O Búfalo (Artigo de Wilberth Salgueiro)Documento11 páginasClarice Lispector - Sobre o Conto O Búfalo (Artigo de Wilberth Salgueiro)WilberthSalgueiroAinda não há avaliações
- Spektro Revista de TerrorDocumento6 páginasSpektro Revista de Terrorfredmacedocadastros100% (1)
- Afrodite Foi À GuerraDocumento12 páginasAfrodite Foi À GuerraEmanueli KosniyzekoAinda não há avaliações
- Acto III - Cena II - Julio Cesar - William ShakespeareDocumento7 páginasActo III - Cena II - Julio Cesar - William ShakespeareFilipe RibeiroAinda não há avaliações
- O Fim Do Homem Sovietico de Svetlana AleksievitchDocumento10 páginasO Fim Do Homem Sovietico de Svetlana AleksievitchVirgínio GouveiaAinda não há avaliações
- Cof Aula 039Documento40 páginasCof Aula 039kiluvixagAinda não há avaliações
- A Narrativa Trivial - Trecho Do Livro O Heroi de Flavio R KotheDocumento6 páginasA Narrativa Trivial - Trecho Do Livro O Heroi de Flavio R KotheivancleberAinda não há avaliações
- Sigmund Freud Um Alemão e Seus DissaboresDocumento63 páginasSigmund Freud Um Alemão e Seus DissaboresLeonardo Biazotto100% (1)
- Jean-François Lyotard - O Pós-ModernoDocumento61 páginasJean-François Lyotard - O Pós-Modernojosé geraldo100% (2)
- BORGES - Ficções (Exame Da Obra de Herbert Quain)Documento4 páginasBORGES - Ficções (Exame Da Obra de Herbert Quain)Osvaldo FerreiraAinda não há avaliações
- 03 - A Floresta Da DestruiçãoDocumento125 páginas03 - A Floresta Da DestruiçãoRafaTrocadoAinda não há avaliações
- Resumo Do Mito de Narciso PDFDocumento6 páginasResumo Do Mito de Narciso PDFMaria Simone AlvesAinda não há avaliações
- Leitura Psicanalítica Do Filme O Show de Truman, o Show Da VidaDocumento3 páginasLeitura Psicanalítica Do Filme O Show de Truman, o Show Da VidaMingus9Ainda não há avaliações
- Machado de La Mancha - Gsutavo BernardoDocumento14 páginasMachado de La Mancha - Gsutavo BernardoThamires MachadoAinda não há avaliações
- 1 - Normas para Adaptação de Livros - ApprisDocumento12 páginas1 - Normas para Adaptação de Livros - AppriscicefrannAinda não há avaliações
- A Pele Do OnagroDocumento18 páginasA Pele Do OnagroElidia Martins0% (1)
- Redação EFAF8º001Documento4 páginasRedação EFAF8º001cleide_stbAinda não há avaliações
- Intepretação de Conto. Ensino Médio. 1Documento2 páginasIntepretação de Conto. Ensino Médio. 1Anderson Alves OliveiraAinda não há avaliações
- A Política Segundo Platão PDFDocumento5 páginasA Política Segundo Platão PDFTanaka EmmersonAinda não há avaliações
- O Problema Do Mal em DostoievskiDocumento7 páginasO Problema Do Mal em DostoievskiNicole AllenAinda não há avaliações
- Trechos de Paulicéia Desvairada - Mario A.Documento3 páginasTrechos de Paulicéia Desvairada - Mario A.anereveAinda não há avaliações
- José Paulo Paes e A Literatura FantásticaDocumento5 páginasJosé Paulo Paes e A Literatura FantásticaAnnie FigueiredoAinda não há avaliações
- Deneval Siqueira - Holocausto Das Fadas - A Trilogia Obscena e o Carmelo Bufólico de Hilda Hilst PDFDocumento114 páginasDeneval Siqueira - Holocausto Das Fadas - A Trilogia Obscena e o Carmelo Bufólico de Hilda Hilst PDFMylena GodinhoAinda não há avaliações
- O Noturno #13 - Gastão Cruls PDFDocumento8 páginasO Noturno #13 - Gastão Cruls PDFAlexander Meireles da SilvaAinda não há avaliações
- ARBEX, José. O Poder Da TV.Documento5 páginasARBEX, José. O Poder Da TV.Marcelo Alves Dos Santos JuniorAinda não há avaliações
- A Desordem e o Limite - A Proposito Da Violência em Grande Sertão VeredasDocumento111 páginasA Desordem e o Limite - A Proposito Da Violência em Grande Sertão VeredasAryanna OliveiraAinda não há avaliações
- BONITINHA MAS ORIDNÁRIA A Castidade Perversa Do Teatro de Nélson RodriguesDocumento8 páginasBONITINHA MAS ORIDNÁRIA A Castidade Perversa Do Teatro de Nélson Rodriguesapi-3720828100% (1)
- SCHORSKE, Carl. Pensando Com A HistóriaDocumento22 páginasSCHORSKE, Carl. Pensando Com A HistóriaMarconni Marotta50% (2)
- Sua Excia. A Presidente Da República No Ano 2500 by Adalzira BittencourtDocumento36 páginasSua Excia. A Presidente Da República No Ano 2500 by Adalzira BittencourtFabricio Basilio100% (1)
- Manifesto Dadaísta, Tristan TzaraDocumento13 páginasManifesto Dadaísta, Tristan TzaraGiulio Cesare Del CarrettoAinda não há avaliações
- O Romance Está MorrendoDocumento30 páginasO Romance Está MorrendoRodrigo Machado CavalcanteAinda não há avaliações
- Trabalho o Auto Da CompadecidaDocumento9 páginasTrabalho o Auto Da CompadecidaJoão MonteiroAinda não há avaliações
- Baruch Espinosa - Artigo de Marilena Chaui2010Documento9 páginasBaruch Espinosa - Artigo de Marilena Chaui2010Geraldo Barbosa NetoAinda não há avaliações
- Entrevista de Bernardo Carvalho A Flavio Moura PDFDocumento8 páginasEntrevista de Bernardo Carvalho A Flavio Moura PDFMaria AliceAinda não há avaliações
- Alexandre Guarnieri - Corpo de Festim PDFDocumento135 páginasAlexandre Guarnieri - Corpo de Festim PDFAlessandro DornelosAinda não há avaliações
- Páginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasNo EverandPáginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasAinda não há avaliações
- O kiwi podre, avenida esperança, e falsos escravos: história de um refugiado polonês preso no BrasilNo EverandO kiwi podre, avenida esperança, e falsos escravos: história de um refugiado polonês preso no BrasilAinda não há avaliações
- Paisagem e Deriva no Cinema de Clint Eastwood: décadas de 70, 80 e 90No EverandPaisagem e Deriva no Cinema de Clint Eastwood: décadas de 70, 80 e 90Ainda não há avaliações