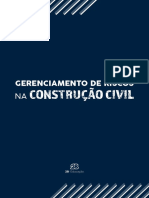Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Revista Aulas Dossie 06 Foucault e As Esteticas Da Existencia
Revista Aulas Dossie 06 Foucault e As Esteticas Da Existencia
Enviado por
marcellotfTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Aulas Dossie 06 Foucault e As Esteticas Da Existencia
Revista Aulas Dossie 06 Foucault e As Esteticas Da Existencia
Enviado por
marcellotfDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Aulas
ISSN 1981-1225
Org.MargarethRago
FoucaulteasEstticasdaExistncia
Unicamp - 2010
www.unicamp.br/~aulas
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
REVISTA AULAS
ISSN 1981-1225
Revista Aulas. Campinas. N 7. 2010.
www.unicamp.br/~aulas
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Revista Aulas uma publicao da Linha de Pesquisa em Histria: Subjevidades, Gnero e Cultura Material, alocada no programa de PsGraduao em Histria da Unicamp. Todos os textos so de responsabilidade dos seus autores. Editores Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari IFCH/UNICAMP Profa. Dra. Margareth Rago IFCH/UNICAMP Edio Executiva Prof. Ms. Adilton Lus Martins Conselho Editorial Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari IFCH/UNICAMP Profa. Dra. Margareth Rago IFCH/UNICAMP Prof. Dr. Paulo Celso Miceli IFCH/UNICAMP Prof. Dr. Jos Alves de Freitas Neto IFCH/UNICAMP Conselho Consultivo Prof. Dr. Alcir Pcora IEL/UNICAMP Prof. Dr. Alfredo Jos da Veiga-Neto FACED/UFRGS Prof. Dr. Antonio Carlos Amorim FE/UNICAMP Prof. Dr. Antonio Paulo Benatte Doutor/UNICAMP Prof. Dr. Carlos Jorge Gonalves Soares Fabiao Universidade de Lisboa Profa. Dra. Carmen Lcia Soares FEF/UNICAMP Profa. Dra. Diana Gonalves Vidal FEUSP Prof. Dr. Durval Muniz de Albuquerque Junior CCHLA/UFRN Prof. Dr. Edson Passetti Faculdade de Cincias Sociais - PUC/SP Profa. Dra. Nri de Barros Almeida IFCH/UNICAMP Prof. Dr. Oswaldo Machado Filho ICHS/UFMT Profa. Dra. Patrcia de Santana Pinho SUNY/Albany Profa. Dra. Renata Senna Garraffoni UFPR Profa. Dra. Tnia Navarro-Swain ICH/UnB
Prof. Adilton Lus Martins
Prof. Dr. Glaydson Jos da Silva UNIFESP
Prof. Dr. Elias Thom Saliba FFLCH/USP Profa. Dra. Eliane Moura Silva IFCH/UNICAMP Prof. Dr. Francisco Ortega Instituto de Medicina Social/UERJ Prof. Dr. Guilherme Amaral Luz INHS/UFU Prof. Dr. Jorge Coli IFCH/UNICAMP Prof. Dr. Jos Rivair Macedo IFCH/UFRGS Prof. Dr. Leandro Karnal IFCH/UNICAMP Profa. Dra. Leila Mezan Algranti IFCH/UNICAMP Profa. Dra. Lourdes Conde Feitosa Faculdades Integradas de Ja Prof. Dr. Luiz Carlos Villalta - FAFICH/UFMG Prof. Dr. Luiz Fernando Ferreira da Rosa Ribeiro IFCH/UNICAMP Profa. Dra. Margarida Maria de Carvalho FHDSS/UNESP/Franca Profa. Dra. Maria Stephanou FACED/UFRGS Profa. Dra. Nauk Maria de Jesus - ICSA/UNEMAT Profa. Dra. Thais Nivia de Lima e Fonseca FaE/UFMG Concepo do projeto geral da Revista Aulas
Prof. Adilton Lus Martins
Produo do site e concepo grfica
Edio e Reviso Textual Prof. Dr. Renilson Rosa Ribeiro UFMT
www.unicamp.br/~aulas
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Dossi Estticas da Existncia Organizadora: Margareth Rago Unicamp Reviso: Margareth Rago Unicamp Editorao de textos Adilton Lus Martins Direo e edio de vdeos Adilton Lus Martins
Dossi: Foucault e as Estticas da Existncia
www.unicamp.br/~aulas
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Contedo Textual
Alfredo Veiga-Neto .......................................................................................................................................... 11 Ana Carolina Arruda de Toledo Murgel ........................................................................................................... 25 Durval Muniz de Albuquerque Jnior............................................................................................................... 41 Luana Saturnino Tvardovskas ......................................................................................................................... 59 Maria Igns Mancini de Boni ........................................................................................................................... 97 Maria Rita de Assis Csar ............................................................................................................................. 113 Natalia Montebello ......................................................................................................................................... 125 Nildo Avelino .................................................................................................................................................. 145 Norma Telles ................................................................................................................................................. 167 Priscila Piazentini Vieira ................................................................................................................................ 187 Susel Oliveira da Rosa .................................................................................................................................. 205 Tony Hara ...................................................................................................................................................... 217
Contedo em Vdeo
Vide www.unicamp.br/~aulas
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
10
www unicamp br/~aulas
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Dicas . . .1
Alfredo Veiga-Neto
Texto preparado para o Dossi Aulas Foucault e as Artes do Viver, por solicitao de MargarethRago(UNICAMP),emmarode2010. Alfredo VeigaNeto Doutor em Educao, Professor Convidado do PPGEducao da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Professor Titular (aposentado) do DepartamentodeEnsinoeCurrculo,FaculdadedeEducaodaUniversidadeFederaldo RioGrandedoSul.alfredoveiganeto@uol.com.br
Dica: substantivo feminino Regionalismo: Brasil. Uso: informal. informao ou indicao boa; pl, pala. (Houaiss, 2001, verbete dica)
11
www.unicamp.br/~aulas
12
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
impressionante o nmero e a variedade de publicaes que tratam de questes relativas ao planejamento e execuo da pesquisa cientfica. Algumas so boas;outras,nemtanto...Algumassoteis;outras,deumainutilidadeimpressionante. Algumas so bem especficas; a maioria, de uma tal generalidade que, tentando tratar sobretudo,setornammuitodifusaseatdispensveis. Foi pensando em tudo isso que, durante um bom tempo, resisti ideia de escrever um texto de carter metodolgico para aqueles que trabalham na interseco Estudos FoucaultianosEducao. Afinal, para que serviria mais um conjunto de sugestes metodolgicas, mesmo que tais sugestes fossem especficas e se movimentassem nesse cruzamento ainda pouco explorado entre ns? Dvidas a mais: at que ponto se pode mesmo falar em metodologia, quando se trata do conjunto de uma obra que uma longa explorao da transgresso, da ultrapassagem do limite social? (Bourdieu, 1984, p.2); e que queremos dizer quando falamos em aplicar Foucault? Somavase minha resistncia, o fato de j existirem alguns textos poucos, verdade sobre como trabalhar no cruzamento entre o pensamento de Michel Foucault e a Educao ou, se quisermos, sobre como aplicar as contribuies do filsofo Educao. Eu mesmo venho discutindo tais questes metodolgicas h mais de uma dcada: VeigaNeto (1995, 1996, 2003, 2005, 2006, 2009); Gallo, Veiga Neto (2006); VeigaNeto, Fischer (2004). E, mesmo correndo o risco de ser parcial, no h como esquecer outros textos, tambm especficos, que vm circulando entre ns: Fischer(2002,2002a,2004);Arajo(2007);(2007);Gadelha(2007);somamseaesses, escritos em lngua portuguesa, a traduo brasileira da coletnea organizada por Peters eBesley(2008). Apesar de tudo isso, ocorreume finalmente que valeria a pena continuar a investir no assunto, desde que lhe fosse dado, agora, um tratamento mais direto e coloquial,menosformalebemcomportado.Assim,aocontrriodoqueeuhaviafeito principalmente no livro Foucault & a Educao (VeigaNeto, 2003) no qual desenvolvi uma discusso metodolgica um tanto tcnica e (digamos) austera, ou nos artigos Mtodo e teoria em Michel Foucault (VeigaNeto, 2009) no qual a discusso tem um acento filosfico, e Na oficina de Foucault (VeigaNeto, 2006) no qual a discusso tem um acento literrio, optei aqui por uma retrica e um formato mais leves, com passagens at mesmo jocosas. Pareceume que recorrer a sugestes ou dicas na forma de frases curtas, quaseaforismos, proposies esparsas ainda que reunidas segundo o tema ou o objetivo, seria mais produtivo do que optar por explicaes e consideraesmaislongasedetalhadas. Almdisso,ocorreumeampliarmaisoescopodessassugestes,isso,no me ater especificamente ao pensamento de Foucault, mas fazer consideraes metodolgicas e procedimentais mais abrangentes, desde que tenham a ver (direta ou mesmo indiretamente) com a perspectiva dos Estudos Foucaultianos. Assim, alm das sugestes e alertas centrados nas ferramentas que se usam na oficina do filsofo e na atmosfera que ali se respira, elenco vrias dicas mais gerais. Elas se destinam a quem est envolvido com a elaborao de textos e a execuo de projetos de pesquisa em geral, sem prejuzo para aqueles que se movimentam no mbito dos Estudos Foucaultianos.
13
www.unicamp.br/~aulas
Assim, como logo se ver, tais dicas gerais so, na sua maioria, de ordem prtica.Mas,mesmoquesirvamparaqualquerumqueestejaenvolvidocomapesquisa cientfica seja nas (assim chamadas) Cincias Naturais, seja nas Cincias Humanas, insisto que elas me parecem cruciais quando se trata de aplicar Foucault. Pode at se tornar um exerccio interessante examinar o quanto cada dica est mais (ou menos) ligadaediretamentecomprometidacomosEstudosFoucaultianos... Algumas proposies so at hilrias; muitas apelam para metforas inesperadas e jogam engenhosamente com palavras, contradies e paradoxos, figuras de retrica etc. Todas falam por si mesmas. Vrias delas fui buscar em dois autores que so frasistas2 magistrais: Millr Fernandes e Arthur Bloch. Algumas so de outros autores; entre eles, Michel Foucault. Outras, ainda, eu mesmo criei a partir da minha experincianavidaacadmica;nessas,noconstaafonte. Esperoquetudoissosejatileinteressanteparaaquelesque,emmaiorou menor grau, se envolvam na interseco dos Estudos Foucaultianos com a Educao. Um ltimo comentrio: de certa maneira, este texto pode ser lido de modo articulado com aqueles outros que j escrevi sobre o mesmo assunto; ainda que cada um fale por simesmo,achoqueelessecomplementamepodematsepotencializar.
Para comear, um pouco de Foucault
Foucaultnopauparatodaobra. Corolrio 1: To importante saber onde possvel aplicar Foucault saberondeissoimpossvel. Corolrio2:Nadvida,noultrapasse. Corolrio3:Sequiserultrapassar,consulteantesumespecialista. Foucaultnoumguru. Corolrio1:Sevocprecisadeummestre,procureoutro. Corolrio2:Sevocnovivesemumaigreja,suapraiaoutra. NoporqueFoucaultestudouapriso,aescola,aclnica,ohospcio,o quartel, o convento que ele serve para qualquer estudo que se interesse por tais instituies. Se Foucault no um remdio, pelo menos ele serve como um grande estimulante. NoesperedeFoucaultaquiloqueelenuncaquisfazer. Corolrio 1: Junto a ele ou a partir dele, voc pode descrever, analisar e problematizar;desdequeseesforcebastante. Corolrio 2: Se voc estiver mais interessado em julgar, achar solues ouprescrever,procureoutrapraia. Esclio1:Vocsempreencontraroutraspraias.
O leitor atento logo ver que uso a palavra frasista no sentido que lhe d Borba (2002, p.739): pessoa habilidosa em forjar frases de efeito; e no no sentido que lhe d Houaiss (2009, verbete frasista): aquele que gosta de ou usa frases rebuscadas e ocas. Assim, no caso deste texto, frasista no tem, em absoluto, um sentido pejorativo...
2
14
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Esclio 2: Sempre haver praias que parecero mais acolhedoras, confortveiseinteressantes,independentementedesua(in)utilidade. No busque Foucault porque dizem que ele est na moda, mas porque ele nos ajuda a problematizar e a desenvolver a crtica para poder pensar de outro modo. A crtica consiste em desentocar o pensamento e em ensaiar a mudana; mostrar que as coisas no so to evidentes quanto se cr; fazer de forma que isso que se aceita como vigente em si no o seja mais em si. Fazer a crtica tornar difceis os gestos fceis demais. Nessas condies, a crtica e a crtica radical absolutamenteindispensvelparaqualquertransformao(Foucault,2006,p.180). Corolrio1:Criticarnofalarmaldosoutros. Corolrio2:Criticarooutronoimplicafalarbemdesimesmo,custado outro. Corolrio3:Nadaevidenteporsimesmo. Eu gostaria que meus livros fossem como bisturis, coquetis molotov, ou minas, e que se carbonizassem depois do uso, quais fogos de artifcio (Foucault, 1994,p.1593). Corolrio1:SerfoucaultianoimplicanoseguirFoucault. Corolrio2:Serfoucaultianopraticarafidelidadeinfielaofilsofo. Esclio:Noseincomodecomosparadoxos. Consolo:Seosparadoxosfossemmesmolevadosasrio,Zenoteriarazo eningummorreriaflechado. No, no, eu no estou onde voc me espreita, mas aqui de onde o observorindo(Foucault,1997,p.20). Como voc pode me atribuir a ideia de que a mudana impossvel, uma vez que eu sempre uni os fenmenos que eu analisava ao poltica? (Foucault, 2005,p.22). Eu acredito na liberdade dos indivduos. Em uma mesma situao, as pessoasreagemdemodomuitodiferente(Foucault,2005,p.23). Prefirateorizaoaoinvsdeteoria. Mas o que a filosofia hoje em dia eu quero dizer a atividade filosfica seno o trabalho crtico do pensamento sobre o prprio pensamento? (Foucault,1984,p.1415). Foucaultumkantianosumamenteparadoxal(Rajchman,1987,p.89). Aarqueologiaentendeodiscursoenquantoumconjuntodeenunciados queseapoiaemummesmosistemadeformao(Foucault,1997,p.124). A arqueologia no trata de interpretar o discurso para fazer atravs deleumahistriadoreferente(Foucault,1997,p.54). A genealogia uma metodologia que busca o poder no interior de uma tramahistrica,emvezdeprocurloemumsujeitoconstituinte(Foucault,1992,p.7). A genealogia uma atividade, uma maneira de entender, um modo deverascoisas(Foucault,1999,p.15). A arqueologia seria o mtodo prprio da anlise das discursividades locais; e a genealogia, a ttica que faz intervir, a partir dessas discursividades locais
15
www.unicamp.br/~aulas
assim descritas, os saberes desassujeitados que da se desprendem (Foucault, 1999, p.16).
Primeira (e grande...) Lei de Murphy
Sealgumacoisapuderdarerrado,dar(Bloch,1977,p.21). Corolrio autorreferente: At a Lei de Murphy pode dar errado. Se ela der errado,elaestarcerta;seelaestivercerta,eladarerrado. Esclio:Proposiesautorreferentespodemserparadoxais. Desdobramentos,derivadosdoapriorihistrico: Como tudo pode acontecer, mais cedo ou mais tarde qualquer coisa darerrado. Corolrio1:Maiscedooumaistarde,aLeideMurphydarerrado. Corolrio2:Omundoparadoxalenopercamaistempocomisso.
Leis (muito) gerais
Tudodtrabalho. Tudodifcil. Corolrio 1: O que parece fcil ser difcil; o que parece difcil ser dificlimo. Corolrio2:Desistadoqueparecedificlimo. Tudotomatempo. Corolrio:Otemponossoinimigo. Enquanto as demandas teimam em ser elsticas ad infinitum, o tempo teimaemserfixo Corolrio: Retroativamente e ad nauseam, as demandas sempre superam otempoprevisto.. Esclio 1: Retroativamente e ad nauseam significa que mesmo que voc reprogrameotempoprevisto,aleicontinuavalendo:vocestsempreatrasado. Esclio2:SerqueZenotinharazo? Nadatofcilquantoparece(Bloch,1977,p.21). S h uma regra definitiva: no h regras definitivas (Fernandes, 1994, p.411). Esclio:Denovo:omundoparadoxal Porqu?filosofia.Porquepretenso(Fernandes,1994,p.435). Corolrio:Perguntesempre. Corolriodocorolrio:Duvidesempre. Corolriodocorolriodocorolrio:Atdevocmesmo. No h nada mais equivocado do que a certeza. (Fernandes, 1994, p.76). Nada mais falso do que a verdade estabelecida. (Fernandes, 1994, p.487). AverdadefilhadotempoeobradoHomem(Stein,1981,p.47) Corolrio1:Averdadeexiste.
16
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Corolrio2:Averdadedestemundo(Foucault,2001,p.112). Corolrio 3: A verdade inseparvel do processo que a estabelece (Deleuze,1991,p.72). Corolrio4:Tenhamuitocuidadocomaverdade. Uma coisa uma coisa; outra coisa outra coisa (Adgio popular ps moderno).
Projetos de Pesquisa
Se um projeto de pesquisa no vale a pena, no vale a pena ser bem feito(Bloch,1977,p.57). Qualquer projeto que termine com 60% realizado um milagre (Fernandes,1994,p.389). Todontrazconsigoduaspontassoltas(Bloch,1977,p.13). Otimoinimigodobom(Adgiopopular). Corolrio: Um bom plano hoje melhor do que um plano perfeito amanh(Bloch,1977,p.76). Amontanhaficamaisngrememedidaquevocavananaescalada Corolrio: O cume sempre parece mais prximo do que realmente est (Bloch,1980,p.71). Nenhuma experincia um fracasso completo ela sempre pode servircomoumexemplonegativo(Bloch,1977,p.60). Contraponto:Mesmoassim,prefirasempreosexemplospositivos. Um quilo de aplicao vale uma tonelada de meditao (Bloch, 1977, p.35). Umprojetonodevecomearpelaescolhadasferramentas. Corolrio1: No a sofisticao da ferramenta que determina se ela adequadatarefaquevoctempelafrente. Corolrio 2: Antes de pegar um alicate, examine se a tarefa no apenas pregarumprego. Contraponto: De qualquer maneira, teorizao, ferramentas e problemas caminhamesedefinemjuntos Osproblemasdepesquisanoestovagandopora,soltosnomundoe nossaespera;elestmdeserconstrudos,alimentados,tecidos,cultivados.
Foco:
Algum com um relgio sabe que horas so. Algum com dois relgios nuncatemcerteza(Bloch,1977,p.87). Se, como tcnico, voc quer mesmo ganhar as Olimpadas, leve um atleta que pula cinco metros e no cinco atletas que pulam um metro (Bloch, 1977, p.98). Um erudito sabe tudo. Um sbio sabe o essencial (Fernandes, 1994, p.139),
17
www.unicamp.br/~aulas
Acerca daquilo de que no se pode falar, tem que se ficar em silncio (Wittgenstein,1987,p.142). Corolrio:Porquenotecalas?.
Ferramentas:
A teoria como caixa de ferramentas quer dizer: a) que se trata de construirnoumsistema,masuminstrumento:umalgicaprpriasrelaesdepoder e s lutas que se engajam em torno delas; b) que essa pesquisa s pode se fazer aos poucos, a partir de uma reflexo (necessariamente histrica em algumas de suas dimenses)sobresituaesdadas(Foucault,2003,p.251). Todos os meus livros so pequenas caixas de ferramentas (Foucault, 2001a,p.1588). Quantomaisfunesumaferramentapodeexecutar,piorelaexecutar taisfunes(Bloch,1977,p.55). Corolrio:Escolhasempreaferramentacerta. Contraponto:Nuncafcilescolheraferramentacerta. Ferramentasincrementadasnofuncionam(Bloch,1977,p.40). Os computadores no merecem confiana; mas os seres humanos merecemaindamenos(Bloch,1977,p.49). Se voc no entende determinada palavra em um artigo tcnico, deixe adelado;oartigoficarmelhorsemela(Bloch,1977,p.60).
Empulhaes, embromaes, enrolaes:
Qualquer ideia, por mais simples que seja, pode ser expressa nos termosmaiscomplicados(Bloch,1977,p.83). O territrio por trs da retrica est sempre minado de equvocos (Bloch,1977,p.83). Tudo possvel dizer se voc no sabe do que est falando (Bloch, 1980,p.54). Parasaberseointerlocutorsabeoquediz,peaparaeledizerdeoutra maneira. A nvel do ser humano e no bojo das prticas escolares nodiscursivas, o arcabouo terico que trata da cidadania, enquanto experincia vlida e valor tico, varia enfaticamente em funo das vertentes modernas que tratam dos direitos humanos, do politicamente correto e da biopoltica. Desse modo, a ao militante antibablicasetornaopropsitodeumaconscinciapolticalibertriabl...bl...bl... Esclio:Comoquemesmo?????????? Corolrio 1: Frases turvas denotam pensamentos opacos. E issona melhor dashipteses.... Comfrasescurtasepalavrassimples,maisdifcilenrolar. Corolrio: Afastese dos textos ricos em palavrrios vazios, circunlquios rebuscados, erudio empolada, metforas obscuras, construes pretenciosas. Em geral,elessoproduzidospormentesindigentes,muitoindigentes.
18
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Todo excesso de palavras proparoxtonas um forte sinal de empulhao. Desconfie dos textos em que h mais palavras entre aspas do que palavrassemaspas. Nuncaconfundaliteraturacomliteratice.
Revisores, avaliadores e pareceristas:
Aosorrir,umavaliadorpodeestarsatisfeitoporquevocest sesaindo bemouporquevocestsofrendo. Corolrio: Procure sempre avaliar se o sorriso do seu avaliador sinal de solidariedadeoudesadismo. Esclio: Assim como so as pessoas, so as criaturas (Adgio popular; vazio,masimpressiona. Quando algum, que voc admira e respeita muito, parece mergulhado em profundos pensamentos, em geral est pensando no prprio almoo (Bloch, 1977, p.85). Semprehavererrosimpossveisdeencontrar. Odiabomoranatipografia(Antigoadgiopopular). Corolrio: Oserrosmaisimportantessempre passarosemsernotados atolivroestarimpresso(Bloch,1980,p.23). Encontrando um erro, a reviso se justifica e no procura mais (Bloch, 1977,p.43). O maior erro enviar um original sem erros, para um revisor que vive disso(Bloch,1980,p.45). Nadaimpossvelparaquemnotemquefazerotrabalhoelemesmo (Bloch,1977,p.87). No importa quanto voc faa; nunca ter feito o bastante (Bloch, 1977,p.69). Para muitos, o que voc no fez muito mais importante do que tudo quevocfez,independentementedovolumeedaqualidadedoquevoctenhafeito. Nenhuma proposta julgada pelos outros com a mesma proposio de quemprops(Bloch,1977,p.25). Corolrio1:Sevoc explicaapropostatoclaroqueningumpodedeixar deentender,algumdeixa(Bloch,1977,p.25). Corolrio 2: Se voc faz uma coisa que tem certeza de ser aprovada por todos,algumnoaprovar(Bloch,1977,p.25). Quemavaliatambmavaliado. Os maiores desentendimentos se do entre os entendidos (Fernandes, 1984,p.160).
Prazos:
Tudolevamaistempodoquesepensa(Bloch,1977,p.21). Todasoluocrianovosproblemas(Bloch,1977,p.21).
19
www.unicamp.br/~aulas
Senointeressa,nointeressa(Bloch,1977,p.23). Todo fio cortado no tamanho indicado ser curto demais (Bloch, 1977, p.35). Depois de acrescentar duas semanas ao cronograma para atrasos imprevisveis,acrescentemaisduasparaimprevisveisimprevisveis(Bloch,1977,p.45). Para calcular o tempo necessrio para realizar um trabalho, tome o tempo que voc acha realmente necessrio, multiplique por 2 e eleve o resultado quarta potncia. Verificaremos que, em mdia, devese destinar 2 dias para o trabalho de1hora(Bloch,1977,p.78). Nada jamais foi executado dentro do prazo ou do oramento (Bloch, 1977,p.78). O dicionrio explica que prazo significa tempo em que algo deve ser feito.Mas,cuidado:noconfundadeveserfeitocompodeserfeito. Corolrio: Assim como uma coisa uma coisa e outra coisa outra coisa, deverumacoisaepoderoutracoisa.
Redao, texto, discurso:
No confunda rigor com exatido. Aquele sempre desejvel; essa umaquimera. Nuncauseaspalavrasnunca,sempre,todosenenhum. Observao: Para acalmar os lgicos ortodoxos, talvez seja melhor dizer: suseapalavranuncaumaveznavidaparadizerquenuncanuncadeveserusada... Tenha o maior cuidado com as palavras verdade, verdadeiro, natural, natureza, humano, Humanidade. Se sozinhas elas so problemticas, quando combinadas como em: a natureza humana, a verdadeira natureza humana, as verdadesnaturaisetc.,odesastrecerto. Tenha o maior cuidado com o advrbio mesmo, evitando uslo nos sentidosdejustamente,precisamenteouverdadeiramente. Corolrio1:Nopensamentonorepresentacionista,nofundacionalistae noessencialista,nofazsentidoumaperguntadotipoquemesmoisso?. Corolrio2:Omesmomataopensamento. Corolrio3:Omesmocongelaahistria. Noseconstranjaemusaraexpressopareceque. No fundo, eu no gosto de escrever; tratase de uma atividade muito difcilderealizar(Foucault,1994,p.1593). Corolrio 1: Considerando o autor da frase, v sempre com muito cuidado. justamente no discurso que vm a se articular poder e saber (Foucault,2001b,p.45). A citao mais valiosa ser sempre aquela da qual voc no consegue determinarafonte(Bloch,1980,p.63). Corolrio 1: Imediatamente aps transcrever uma citao, registre a fonte porextenso. Corolrio2:Sevocnotiveracessofonte,descarteacitao.
20
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Restos... (que fazer com eles?)
Primeira regra do desmontador de relgios: guarde todas as peas (Bloch,1980). Maisvaleumpassarinhonamodoquedoisvoando(Adgiopopular). Denadaadiantaguardarse,maistarde,vocnolembrarqueguardou. Idem,sevocnolembraroqueguardou.Ibidem,sevocnolembrarondeguardou. Corolrio:Etiquetas,ndiceselistagensnuncaestoemexcesso.
Referncias bibliogrficas
ARAJO, Ins L. Vigiar e punir ou educar? Educao. So Paulo: Segmento. n.3 (Especial FoucaultPensaaEducao),mar.,2007.p.2635. BLOCH,Arthur.ALeideMurphyprimeiraparte.RiodeJaneiro:Record,1977. ______.ALeideMurphysegundaparte.RiodeJaneiro:Record,1980. BORBA,FranciscoS.DicionriodeusosdoPortugusdoBrasil.SoPaulo:tica,2002. BOURDIEU,Pierre.Leplaisirdesavoir.LeMonde,27,juin,1984. DELEUZE,Gilles.Foucault.SoPaulo:Brasiliense,1991. FERNANDES,Millr.MillrdefinitivoaBbliadocaos.PortoAlegre:LP&M,1994. FISCHER, Rosa B. A paixo de trabalhar com Foucault. In: COSTA, Marisa V. (org.). Caminhos Investigativos: novos olhares na pesquisa em Educao. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.p.3960. ______. Verdades em suspenso: Foucault e os perigos a enfrentar. In: COSTA, Marisa V. (org.). Caminhos Investigativos II: novos olhares na pesquisa em Educao. Rio de Janeiro: DP&A,2002a.p.4971. ______. Na companhia de Foucault: multiplicar acontecimentos. Porto Alegre, UFRGS: Educao&Realidade,vol.29,n.1,2004.p.215227. FOUCAULT, Michel. Histria da Sexualidade. Vol 2: O uso dos prazeres. Paris: Gallimard, 1984,p.1415). ______.MicrofsicadoPoder.RiodeJaneiro:Graal,1992. ______.DitsetEcrits:19541988.Paris:Galimard,1994. ______.Aarqueologiadosaber.RiodeJaneiro:ForenseUniversitria,1997. ______.Emdefesadasociedade.SoPaulo:MartinsFontes,1999.
21
www.unicamp.br/~aulas
______. La fonction politique de lintellectuel. In: ______. Dits et crits II. Paris: Quarto, Gallimard,2001.p.109114. ______. Des supplices aux cellules. In: ______. Dits et crits II. Paris: Quarto, Gallimard, 2001a.p.15841588. ______.Osanormais.SoPaulo:MartinsFontes,2001b. ______. Poderes e estratgias. In: ______. Ditos e escritos IV: estratgia, podersaber. Rio deJaneiro:ForenseUniversitria,2003.p.241252. ______.Sexo,podereindivduo:entrevistasselecionadas.Desterro:Nefelibata,2005. ______. Estil donc important de penser? (entretien avec D. ribon), Libration, n.15, 3031 mai 1981, p. 21. In: ______. Dits et crits IV (19801988). Paris: Gallimard, 2006. p.178182. GADELHA, Sylvio. Foucault como intgercessor. Educao. So Paulo: Segmento. n.3 (EspecialFoucaultPensaaEducao),mar.,2007.p.7483. GALLO, Silvio D.; VEIGANETO, Alfredo. Ensaio para uma Filosofia da Educao. Educao. SoPaulo:Segmento.n.3(EspecialFoucaultPensaaEducao),mar.,2007.p.1625. ,JorgeRamosdo.OgovernodoalunonaModernidade.Educao.SoPaulo:Segmento. n.3(EspecialFoucaultPensaaEducao),mar.,2007.p.3645. PETERS, Michael; BESLEY, Tina (Org.). Por que Foucault? Novas diretrizes para a pesquisa educacional.PortoAlegre:Artmed,2008. STEIN,Ernildo.HistriaeIdeologia.2.ed.PortoAlegre:Movimento,1981. VEIGANETO, Alfredo. (org.) Crtica Psestruturalista e Educao. Porto Alegre: Sulina, 1995. ______. A ordem das Disciplinas. Porto Alegre, PPG Educao/UFRGS. 1996. Tese de Doutorado. ______.FoucaulteaEducao.BeloHorizonte:Autntica,2003. ______. La actualidad de Foucault para la educacin. In: ZULUAGA, Olga et. alli. Foucault, laPedagogaylaEducacin:pensardeotromodo.Bogot:UPN,IDEP,2005.p.229250. ______. Na oficina de Foucault. In: GONDRA, Jos; KOHAN, Walter (org.). Foucault 80 anos.BeloHorizonte:Autntica,2006.p.7991. ______.MtodoeteoriaemMichelFoucault:(im)possibilidades.Pelotas,UFPel:Cadernos deEducao,n.34,2009(noprelo). VEIGANETO, Alfredo; FISCHER, Rosa Maria B. Foucault, um dilogo. Porto Alegre, UFRGS: Educao&Realidade,vol.29,n.1,2004.p.725.
22
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado LgicoFilosfico e Investigaes Filosficas. Lisboa: FundaoCalousteGulbenkian,1987.
23
www.unicamp.br/~aulas
24
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
A potica feminista em Alice Ruiz, Ledusha e Ana Cristina Cesar
Ana Carolina Arruda de Toledo Murgel
DoutorandaemHistriaCulturalIFCH/Unicamp BolsistaFAPESPDR2 Email:acmurgel@gmail.com
Resumo
Atravsdealgunspoemaspublicadosnosanos1970e80porAliceRuiz,AnaCristinaCesar e Ledusha discuto, neste artigo, o conceito de potica feminista como foi proposto por Lcia Helena Vianna, tentando ampliar suas possibilidades na leitura da poesia escrita por mulheres,ondeapoticasetraduzemreinvenesdesieemumaescritafeministadesi, apontandoparanovasestticasdaexistncia.Paraproblematizaressaproposta,utilizoas referncias tericas e metodolgicas das concepes de Michel Foucault e as leituras sobre psmodernidade, feminismos e relaes de gnero, nas perspectivas apontadas por Linda Hutcheon, Luce Irigaray, Elaine Showalter, Helosa Buarque de Hollanda e MargarethRago.
Palavras-chave
PoticaFeminista,Feminismos,AliceRuiz,LedushaSpinardi,AnaCristinaCsar
25
www.unicamp.br/~aulas
26
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
The Feminist Poetics in Alice Ruiz, Ledusha and Ana Cristina Cesar
Abstract
Through some poems published in the 70's and 80's by Alice Ruiz, Ana Cristina Cesar and Ledusha I discuss in this article the idea of a feminist poetic as it was suggested by Lcia Helena Vianna, trying to increase its possibilities for the reading of poetry written by women, where the poetics is translated in the self reinvention and in a feminist self writing pointing to new aesthetics of existence. In order to problematize this suggestion I use the theoretical and methodological references of Michel Foucault's conceptions as well as readings on postmodernity and feminisms and gender relation in the perspectives pointed out by Linda Hutcheon, Luce Irigaray, Elaine Showalter, Helosa Buarque de HollandaeMargarethRago.
Keywords
FeministPoetics,Feminisms,AliceRuiz,LedushaSpinardi,AnaCristinaCesar
27
www.unicamp.br/~aulas
28
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Helosa Buarque de Hollanda afirmava, num artigo publicado no Jornal do Brasil, em 1981, olhando a grande pilha de livros escritos por mulheres que se avolumava sobre sua mesa: o discurso feminista supe algumas simplificaes e uma certaincapacidade,enquantolinguagem,paraenfrentarseusfantasmasmaisdelicados (Hollanda, 2000:200). No entanto, folheando os livros de algumas das poetas daquela gerao,detectouemboapartedelassintomasdeumdiscursopsfeminista,umnovo espao para a reflexo sobre o poder da imaginao feminina. Uma revolta molecular quase imperceptvel no comportamento, na sexualidade, na relao com o corpo e a palavra. E anunciou: julgo redundante observar que essa nova mulher prev um novo homem(Hollanda,2000:201). O que traziam aquelas mulheres em seus escritos para contradizer a impresso inicial da autora do artigo? Quais seriam as simplificaes e as incapacidades do discurso feminista apontadas pela autora? Que mudana teria ocorrido nos textos das jovens poetas que poderiam ser configuradas como uma revolta molecular (da imaginao?)comoopsfeminismo? Venho trabalhando h alguns anos com a potica de Alice Ruiz, uma das poetas dessa gerao citada por Hollanda. Durante minhas pesquisas de mestrado com algumas compositoras da Vanguarda Paulista, Alice me apresentou alguns artigos feministas que escreveu para jornais e revistas durante os anos 1970, antes da publicao de seu primeiro livro, Navalhanaliga, onde as referncias s propostas feministas do perodo eram evidentes. Pergunteime, ento, o quanto a sua experincia como articulista feminista teria marcado tambm sua obra potica e as letras que vem compondo desde os anos 1980, com parceiros como Alzira Espndola, Itamar Assumpo,ArnaldoAntuneseZMiguelWisnik,entremuitosoutros. No texto j citado, Helosa Buarque de Hollanda afirma que estava impactada especialmente por Ana Cristina Cesar, mas no fala de Alice Ruiz ou de Ledusha3,outrasduaspoetasdessagerao.Noentanto,quasetrsdcadasdepois,so as trs que esto sobre a minha mesa provocando a mim e aos tempos atuais com versos secos e diretos, so elas que ainda hoje me desafiam em folheadas casuais com asquaismehabitueinessesanostodosemqueelasvivemcomigo,jinscritasemminha prpriasubjetividade. Conheci os versos das trs poetas quase simultaneamente, no incio dos anos 1980, quando a Editora Brasiliense lanou a srie Cantadas Literrias, composta em sua maior parte pelos chamados poetas marginais e pstropicalistas (as duas denominaes so de Helosa Buarque de Hollanda). Esses poetas iniciaram suas publicaes independentes em meados dos anos 1970. A coleo da Brasiliense trazia a republicao desses livretos, e foi assim que li A teus ps (1982), de Ana Cristina Cesar, PelosPelos(1984)deAliceRuizeFinesseeFissura(1984)deLedusha. Na poesia dessas trs mulheres, visvel a fora da imaginao feminina, a revoluomolecularnasexualidadeenocorpoaquesereferiaHollanda:
I
Leda Spinardi assinou o primeiro livro como Ledusha, somente.
29
www.unicamp.br/~aulas
Enquanto leio meus seios esto a descoberto. difcil concentrar-me ao ver seus bicos. Ento rabisco as folhas deste lbum. Potica quebrada ao meio II Enquanto leio meus textos se fazem descobertos. difcil escond-los no meio dessas letras. Ento me nutro das tetas dos poetas pensados no meu seio (Cesar, 1985: 92) A fada que te atravessou ontem os sonhos Constata tirando as sapatilhas Que aquele grande amor Foi pras picas (Ledusha, 1984: 30) Gotas Caem em golpes A terra sorve Em grandes goles Chuva Que a pele no enxuga Lgrima A caminho de uma ruga gua viva gua vulva (Ruiz, 1980: s/n)
Em Toward a Feminist Poetics, publicado em 1987, Elaine Showalter discutia os problemas acadmicos enfrentados pela crtica feminista, das crticas beligerantes dos crticos literrios do sexo masculino incompreenso enfrentada pelas tericas feministas, a despeito da existncia de centenas de universidades americanas com cursos regulares na rea de gnero naquela poca. Para essa autora, a vulnerabilidade enfrentada pela crtica feminista deviase ausncia de uma teoria feminista claramente articulada e excessivamente ligada ao discurso terico marxista. E quando essa articulao se delineava, tornavase sempre suspeita por ativismo dentro da academia, ou mais especialmente, era colocada sob suspeita por fontes manifestadamente machistas e distorcidas (Showalter, 1987: 127). No entanto, ela nota que na fico escrita por mulheres precisa, complacente e sistematicamente o homem tem sido frequentemente alvo de stira, especialmente quando seu tema a mulher(Showalter,1987:127). Emumestudosobreasescritorasinglesas,dividiuemtrsfasesaliteratura escrita por mulheres: a fase feminina (feminine), at 1880, quando as escritoras adotavam pseudnimos masculinos e tambm a escrita consagrada pelos homens para escrever; literatura feminista (feminist), de 1880 at 1920, abarcando a fase pelos direitos sufragistas, e a fico da mulher (female), de 1920 at a atualidade, que
30
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
exatamente onde a stira e a ironia aos personagens e discursos masculinos aparecem de forma mais clara. Para essa autora, o primeiro grande nome a abrir essa literatura Virgnia Woolf, que inauguraria as utopias amaznicas4, com Um Teto Todo Seu, de 1928. Showalter contrape essa ltima fase da fico da mulher com as duas anteriores: aqui, as escritoras rejeitam a imitao da fase feminina e o protesto da fase feminista, considerando que so duas formas de dependncia ao masculino. Elas se voltam,agora,paraaexperinciafemininacomofontedeumaarteautnoma. Essa diviso por perodos de produo bastante interessante para pensarmos a poesia e a literatura, mas devo fazer a ressalva de que no consigo enxergarnesselivrodeVirgniaWoolfasutopiasamaznicas. Um teto todo seu um livro surpreendente, imprescindvel para se pensar as desigualdades de gnero. A proposta da escritora o fim das hierarquias, a desconstruodosesteretiposfemininosemasculinos,contudonohneleasugesto deumasociedadeestritamentefeminina,emqueomasculinoserianegadoouexcludo. Sim, ela irnica e satiriza alguns dos personagens masculinos, mas evidente que sua crtica dirigida aos discursos misginos e desqualificadores desses personagens sobre as mulheres, como um certo Von X, a quem ela atribui a autoria da obra monumental (Virginia Woolf j apresenta o livro com ironia) A inferioridade mental, moralefsicadosexofeminino(Woolf,1990;40) A ironia e a stira so observadas tambm em alguns dos poemas das brasileirasdosanosde1980,nosomente dirigidas aospersonagenscomotambmaos esteretipos da fala. Com o recurso da ironia, elas escrevem apontando as desqualificaes e preconceitos nas construes do discurso masculino sobre o feminino. Nesse primeiro poema, Ana Cristina Csar mostra seu estranhamento sobre o queseriaumameninasria:
Atrs dos olhos das meninas srias Mas poderei dizer-vos que elas ousam? Ou vo, por injunes muito mais srias, lustrar pecados que jamais repousam? (Cesar, 1982: 23)
Ledusha se apropria do discurso sobre a incapacidade das mulheres para questes prticas como uma desculpa deslavada, reforada no ttulo, para no compareceraumencontro:
Deslavada Meu querido Antnio No pude ir Pneu furou No sei trocar
Sociedades que seriam mais justas sob o comando das mulheres ou sociedades exclusivamente formada por mulheres.
31
www.unicamp.br/~aulas
(Ledusha, 1984: 45)
Alice Ruiz, por sua vez, ironiza a princesa, a rainha do lar, a fada na cozinha:
Alma de papoula Lgrimas Para as cebolas Dez dedos de fada Caralho De novo cheirando a alho (Ruiz, 1980: s/n)
H nos versos dessas mulheres uma clara afirmao de uma crtica feminista, que a terica literria Lcia Helena Vianna vai chamar de potica feminista e que, ao mesmo tempo, seria o caminho apontado por Showalter em seu artigo aqui citado.
Para Vianna, a potica feminista deve ser entendida como toda discursividade produzida pelo sujeito feminino que, assumidamente ou no, contribua para o desenvolvimento e a manifestao da conscincia feminista, conscincia esta que sem dvida de natureza poltica (O pessoal poltico), j que consigna para as mulheres a possibilidade de construir um conhecimento sobre si mesmas e sobre os outros, conhecimento de sua subjetividade, voltada esta para o compromisso estabelecido com a linguagem em relao ao papel afirmativo do gnero feminino em suas intervenes no mundo pblico. Conscincia com relao aos mecanismos culturais de unificao, de estereotipia e excluso. E ainda, a conscincia sobre a necessidade de participar conjuntamente com as demais formas de gnero (classe, sexo, raa) dos processos de construo de uma nova ordem que inclua a todos os diferentes, sem excluses. Potica feminista potica empenhada, discurso interessado. poltica. (Vianna, 2003: 2)
Vianna coloca a memria como categoria fundacional dessa discursividade dapoticafeminista,apontandoamemriaindividualcomoaprincipalcaractersticada poticafeminista.Paraessaautora,enquantoamemriaindividualamoral,anrquico e faz o inventrio catico das coisas mnimas (Vianna, 2003: 3), a memria coletiva normativa e moralizante. Para ela, os dois tipos de memria se cruzam na fico escrita por mulheres, mas Vianna privilegia a memria individual como a chave poltica dessa potica. Lcia Helena Vianna escreve esse texto pensando em alguns contos de autoras brasileiras, em que a memria individual fortemente marcada nas histrias apresentadas. Essa memria individual tambm est presente nos versos escritos pelas poetasquetragoaqui,masameuvernaapropriaoesubversodamemriacoletiva atravs da pardia e da ironia, que a potica feminista se afirma, escancarando a transformaopolticadosolharesfeministasnasartes.
32
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Vianna tambm nota essa apropriao da memria coletiva, assim como a utilizao da ironia e da pardia (Vianna, 2004: 153), mas me parece que percebe essa apropriao como decorrente da memria individual. Penso que essas apropriaes da memria coletiva so to importantes quanto a memria individual na ao poltica na poticafeminista. A utilizao da pardia , como lembra Linda Hutcheon, poltica e histrica, uma caracterstica contraditria e paradoxal da potica psmodernista como o o prpriopsmodernismo:
ao mesmo tempo, suas formas de arte (e sua teoria) usam e abusam, estabelecem e depois desestabilizam a conveno de maneira pardica, apontando autoconscientemente para os prprios paradoxos e o carter provisrio que a elas so inerentes, e, claro, para sua reinterpretao crtica ou irnica em relao arte do passado. Ao contestar implicitamente, dessa maneira, conceitos como a originalidade esttica e o fechamento do texto, a arte ps-modernista apresenta um novo modelo que atua a partir de uma posio que est dentro de ambos e, apesar disso, no est inteiramente dentro de nenhum dos dois, um modelo que est profundamente comprometido com aquilo a que tenta descrever, e apesar disso, ainda capaz de critic-lo (Hutcheon, 1991: 43)
Na potica feminista, h tambm uma apropriao de autores conhecidos emversosrpidos.Uma crtica direta comaintenoexplcita deapontarosparadoxos, numa inverso desestabilizante do pensamento. Se Jos5, de Carlos Drummond de Andrade,eraumhomemcomconflitosdentrodeumaexistnciamasculinajexplorada e vivida (no h mais caminhos), a Maria, de Alice Ruiz, uma mulher limitada pela existnciadentrode umpadrodofeminino:ela viveuavida quese esperavadeuma mulher, para o marido e para os filhos. No olhar da poeta, uma vida resumida, fechada, sem sentido, uma novida. Se Jos insiste em caminhar e ir em frente apesar das limitaes,Mariaspodeesperaramorte,porqueaprendeuamorteemvida:
drumundana e agora Maria? o amor acabou a filha casou o filho mudou teu homem foi pra vida que tudo cria
E agora, Jos? / A festa acabou, / a luz apagou, / o povo sumiu, / a noite esfriou / e agora Jos? / [...] / Est sem mulher, / est sem discurso, / est sem carinho, / j no pode beber, / j no pode fumar, / cuspir j no pode, / a noite esfriou, / o dia no veio, / o bonde no veio, / o riso no veio, / no veio a utopia / e tudo acabou / e tudo fugiu / e tudo mofou, / E agora, Jos? [...] Se voc gritasse, / se voc gemesse, / se voc tocasse / a valsa vienense, / se voc dormisse, / se voc cansasse, / se voc morresse... / Mas voc no morre, / voc duro, Jos! (ANDRADE, Carlos Drummond, 1965. Trechos de Jos)
33
www.unicamp.br/~aulas
a fantasia que voc sonhou apagou luz do dia e agora Maria? vai com as outras vai viver com a hipocondria (Ruiz, 1984:60)
No verso vai com as outras, lembreime da letra de Vincius de Moraes paraacanoMariavaicomasoutras,quediz:Mariaeraumaboamoa/Praturma l do Gantois / Era Maria vai com as outras / Maria de coser / Maria de casar... Perguntei a Alice se havia alguma referncia tambm a Vincius, ao que ela respondeu que no, que era mesmo expresso Maria Vai com as Outras, muito usado naquele tempo e ainda nos dias de hoje. A poeta lembrou que no existe expresso similar para o masculino, ou seja, quando uma mulher pensava de forma diferente da conveniente para seu gnero (ou dos esteretipos sobre), era chamada de Maria Vai com as Outras, deixando sempre implcita na frase a incapacidade das mulheres de tomarem decisessozinhasoudepensaremdiferentemente. Foucault via aquele momento pscontracultura como efervescente, a ponto de sugerir a possibilidade de uma nova esttica da existncia, j que os antigos valores estticos e morais estavam sendo contestados6. Para Hutcheon, por sua vez, a potica psmodernista era oriunda de uma grande mudana nas artes que ocorria a partir dos escritos das mulheres e negros, no final dos anos 1960 e incio de 70, da contestao das hierarquias e do sujeito universal (Hutcheon, 1991: 8990). Para essa autora, o direito de expresso no algo que possa ser aceito pelos excntricos como preexistente. E a problematizao da expresso por meio da contextualizao na situao enunciativa o que transforma o excntrico no psmoderno (Hutcheon, 1991:99). Se no incio das lutas feministas as mulheres se tornaram oradoras, tomando e subvertendo os discursos sobre o feminino e criticando ao mesmo tempo os ideais de feminilidade como a maternidade e a beleza, apropriandose assim de um modo masculino de existncia (Rago, 2004: 33), a partir dos anos de 1980, novas configuraes do pensamento feminista se colocam, especialmente ligados ao pensamentopsestruturalistaeaafirmaodasdiferenas:
(...) A feminista deixou de ser a oradora pblica de outrora, avessa maternidade, enquanto que ser me tambm deixou de implicar, necessariamente, a perda do desejo sexual. Mostrando que poderiam existir modos diferentes de organizar o espao, outras artes de fazer no cotidiano, da produo cientfica e da formulao das polticas pblicas s relaes amorosas e sexuais, a crtica feminista evidenciou que mltiplas respostas
6
(...) a idia de uma moral como obedincia a um cdigo de regras est desaparecendo, j desapareceu E a esta ausncia de moral corresponde, deve corresponder uma busca que aquela de uma esttica da existncia. (Foucault, 2004, p.290).
34
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
so sempre possveis para os problemas que enfrentamos e que outras perguntas deveriam ser colocadas a partir de uma perspectiva feminista, isto , a partir de um pensamento que singulariza, subverte e diz de onde fala. (Rago, 2004; 34)
dentro dessa nova configurao que vamos encontrar tambm a arte de AnaCristina,AliceeLedusha. Se pensarmos na definio de Vianna para potica feminista, creio que podemos somar a ela a perspectiva de Linda Hutcheon sobre a potica psmodernista. Assim, a potica feminista se apropria da memria coletiva com o uso da pardia e da ironia como forma de subverso, ao presente na arte das trs poetas aqui apresentadas, mostrandose tambm profundamente ertica, introspectiva e tambm dialgica,numalinguagemrenteaocorpoeaomesmotempolibertria,contestandoas hierarquiaseesteretiposentreosgneros.Oquesedelineianaartedessasmulheres uma escrita feminista de si, onde a subjetividade se constri na inveno e na apropriao tambm da memria coletiva, implodindo por dentro seus conceitos normativos e apontando para a construo de uma nova esttica da existncia, como propeFoucault. O mito de Penlope como guardi da fidelidade conjugal, da mulher espera do retorno de seu homem aventureiro frequentemente lembrado por elas de forma particularmente irnica. Na poesia abaixo, de Ana Cristina Csar, notvel o confrontoentrePenlopeeUlysses:
Ulysses E ele e os outros me vem. Quem escolheu este rosto para mim? Empate outra vez. Ele teme o pontiagudo Estilete da minha arte tanto quanto Eu temo o dele. Segredos cansados de sua tirania Tiranos que desejam ser destronados Segredos, silenciosos, de pedra, Sentados nos palcios escuros De nossos dois coraes: Segredos cansados de sua tirania: Tiranos que desejam ser destronados. O mesmo quarto e a mesma hora Toca um tango Uma formiga na pela Da barriga, Rpida e ruiva, Uma sentinela: ilha de terrvel sede.
35
www.unicamp.br/~aulas
Conchas humanas. Estas areias pesadas so linguagem. Qual a palavra que Todos os homens sabem? (Csar, 1985:121-122) No poema de Ledusha, Penlope no trai por distrao: est to irritada com os esteretipos do feminino que mal repara nos olhos masculinos interessados sua volta: Cicatriz de Penlope O dia se arrasta como um pndulo transfigurado Luz imvel de outono no quarto em desordem Sempre busco pela casa algo que no sei o que Mas sei que sobra, dele Velha melodia o ronco barulhento do seu carro Amor Ficar aqui at que o vento refresque minha lama de tantas curvas At que chova e cheira a terra e passem barcos e nuvens O homem que me sorriu no elevador voltou Em outras cores No era assim que eu queria que voc me olhasse? Conversa de mulheres, bordar E desbordar Ainda h pouco retoquei cena por cena O projeto do romance. Assim no vale? Alisar as plumas antes? Mscara de artista, Me recuso Sinto medo desejo e sono. Estremeo ao menor zumbido. Mulher, Pssaro penteando as asas, sempre. No sei se quando ele me beija pensa em palmeiras suspensas: Tristeza que carrego, sobra no tempo, ameaa. Virgular feminino. Voc pensa que me entende? Eu no quis dizer ao mesmo tempo: Alma e corpo. Faa isso, pegue minha mo, no faz tanto frio. Tento dizer que colecionar pedras em segredo no fica bem, Baby Minhas lgrimas, patticas? Dolores Duran escreveu Por causa de voc Com o lpis de sobrancelha. Uso esse vestido vaporoso Como o mesmo lirismo.
36
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Caminho como se assobiasse e no reparo No homem que me deseja parado no sinal. (Ledusha, 1984: 49-50)
Alice Ruiz mostra o tdio da espera na poesia em homenagem a Gertrud Stein, a poeta toca a temtica mtica apontando a metfora da espera de Penlope tecendo a mortalha para construir sua alegoria. Percebese que a questo no a memria, mas a irritao com a imagem das mulheres resguardadas, espera, enquanto seus maridos viviam o mundo da aventura, o que se pode perceber pelo acrsticonaprimeiraestrofe.Visual,opoematecidocomorendanasegundaestrofe:
(Ruiz, 1980: s/n)
37
www.unicamp.br/~aulas
As trs poetas devolvem a Penlope o tear e a tessitura, o texto. Penlope guardidamemriaindividualdofeminino,enodamemriacoletivadoviajanteheri oudafidelidade.Emseustextos,Ulyssesnovolta,eelasnooqueremdevolta. A recusa da espera rompe com o arqutipo feminino do romantismo, da princesa espera do final felizes para sempre, como lembra Norma Telles, da mulher esperadocasamento,JulietaesperadeRomeu,IsoldadeTristo. A Carolina de Chico Buarque sai da janela e se liberta do tempo, da passividade e da cegueira. Rapunzel recolhe as tranas e rompe as trancas da torre da espera. Potica feminista, psmoderna e libertria, na ironia que as correntes se rompem na arte dessas mulheres que se apossam dos mitos e letras de canes, de outros poetas, discursos, arqutipos, e os reapresentam inscrevendo em sua arte uma estticafeministadaexistncia.
Bibliografia
ANDRADE,CarlosDrummondde ___1965.AntologiaPotica.JosOlympio:RiodeJaneiro. CESAR, Ana ___ 1982. A Teus Ps. So ___1985.InditoseDispersos.SoPaulo:Brasiliense. FOUCAULT,Michel ___2004.Ditos&EscritosV:tica,Sexualidade,Poltica.Org.ManoelBarrosdaMotta.Rio deJaneiro:ForenseUniversitria. GASPARINI, Elio; HOLLANDA, Helosa Buarque de; VENTURA, Zuenir. ___ Cultura em trnsito da represso abertura. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 2000. HUTCHEON,Linda ___1991.Poticadopsmodernismo:histria,teoria,fico.RiodeJaneiro:Imago. LEDUSHA ___1984.FinesseeFissura.Brasiliense:SoPaulo. RAGO,Margareth ___ 2004. Feminismo e subjetividade em tempos psmodernos in Poticas e Polticas Feministas.OrganizadoporClaudiadeLimaCostaeSimonePereiraSchmidt.Florianpolis: EditoraMulheres. RUIZ,Alice Cristina Brasiliense.
Paulo:
38
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
___ 1980. Navalhanaliga. ___1984.PelosPelos.SoPaulo:Brasiliense. SHOWALTER,Elaine
Curitiba:
Grafipar.
___ 1985. Toward a Feminist Poetics in The New Feminist Criticism: Essays on women, literatureandtheory.EditedbyElaineShowalter.London:ViragoPress. VIANNA,LciaHelena ___ 2004. Potica Feminista Potica da Memria in Poticas e Polticas Feministas. Organizado por Claudia de Lima Costa e Simone Pereira Schmidt. Florianpolis: Editora Mulheres.___ 2003. Potica Feminista Potica da Memria in Labrys Estudos Feministas, n 4, Braslia: Montreal: Paris Agosto/Dezembro de 2003. (http://www.unb.br/ih/his/gefem). WOOLF,Virginia ___1990.Umtetotodoseu.SoPaulo:CrculodoLivro.
39
www.unicamp.br/~aulas
40
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Amores que no tm tempo: Michel Foucault e as reflexes acerca de uma esttica da existncia homossexual
Durval Muniz de Albuquerque Jnior
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Resumo
Este texto trata das reflexes feitas pelo filsofo francs Michel Foucault acerca de uma esttica da existncia homossexual. Em entrevistas e artigos Foucault refletiu sobre as artes da existncia desenvolvidas, notadamente pelos homossexuais masculinos, como resposta ao regime a excluso que suas prticas, sentimentos e amores esto submetidos numa sociedade heteronormativa. Ele chamou ateno, especialmente, para o que seria um regime de temporalidade especfica dos amores homoafetivos, marcados pela instantaneidade,pelarapidez,pelafugacidade,dandoorigemacentralidadedoatosexual e a urgncia na sua realizao. Impedidos, em grande medida, de fazerem a corte demoradamente a seus parceiros, tendo que rentabilizarem ao mximo seus encontros afetivos e sexuais, os homossexuais vo investir na recordao, na lembrana e na narrativa dos seus encontros amorosos, tentando assim prolongar, atravs de uma memria atenta para os detalhes, notadamente para os detalhes corporais e relativos ao ato sexual, estes encontros fortuitos, que se materializar na literatura escrita por homossexuais em narrativas que, ao contrrio daquelas escritas por autores heterossexuais, vo passar rapidamente pelo momento da corte e se deleitarem na descriodomomentodoencontrodoscorposedossexos.
Palavras-chave
Foucault; homoafetividade; esttica da existncia; temporalidade; narrativa; literatura homossexual.
41
www.unicamp.br/~aulas
42
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Ephemeral Love: Michel Foucaults reflections on a homossexual aesthetics of existence
Abstract
This paper refers to Foucaults reflections on a suggested homosexual aestetics of existence. In many of his articles and interviews, he reflected on the arts of living developed by male homosexuals as a reaction to regimes of exclusion that affect their loving practices and feelings in a heteronormative society. He specially focused on a specific temporality that characterizes gay modes of loving through fugacity and transitoriness, giving place to the centrality of the sexual act and the urgence of this practice. As homosexuals are impeded of courting their partners, they invest in creating narratives that memorize their dates. Thus, they try to prolong the remembrance of the corporal details and of the sexual images of these ephemeral dates. This is revealed in theirgayliteraryworks.
Keywords
Foucault,homoaffectivity,aestheticsofexistence,temporality,narrative,gayliterature.
43
www.unicamp.br/~aulas
44
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
O melhor momento, no amor, quando o amante se distancia no txi.
Urgncia. Seria sob o signo da urgncia, da rapidez, da instantaneidade que se apoiaria todo um estilo de vida, uma cultura, uma esttica da existncia elaborada pelos homossexuais no mundo ocidental contemporneo. Em um mundo j marcado pela velocidade dos transportes, das comunicaes, num mundo em que houve uma espcie de compresso temporal,8 a temporalidade, presente nas relaes sexuais e afetivas entre pessoas do mesmo sexo, seria ainda mais fugaz, ainda mais passageira.Osamoreshomossexuaisseriamamoresquenotmtempooudosqueno tm tempo a perder. Cercados por uma sociedade heteronormativa, proibidos de se manifestarem em pblico, faltandolhes suportes sociais, inclusive legais, em muitas sociedades, para se apoiarem, estes amores s se tornam possveis, viveis, maximizando o uso do tempo, fazendo um uso concentrado dos dias, das horas, dos minutos e segundos que tm disposio. Por muito tempo, proibidos de dizerem o nome, no haveria nestes amores muito tempo para a fala, para a discusso da relao, para a elaborao discursiva, para a inveno narrativa da relao afetiva. Tendo disposiofragmentosdeumdiscursoamoroso9quenolhesdizemrespeito,elaborado em torno das relaes afetivas heterossexuais, os amantes homossexuais sofreriam de uma espcie de afasia, por se sentirem sempre deslocados, fora de lugar, diria mesmo ridculos naquele discurso. No contando com recursos narrativos a seu dispor, no havendo muito tempo a perder com a colocao em narrativa da relao afetiva, os amores homossexuais tenderiam a se concentrar no ato sexual, a supervalorizar, a investir toda a criatividade, todo o desejo, a construir uma estilstica da existncia em tornodocoito,docorpoacorpodosexo. Esta a opinio de Michel Foucault quando, em entrevista,10 perguntado por que a chamada literatura homossexual dedicase a descrio detalhada e demorada do ato sexual, enquanto que na chamada literatura heterossexual haveria certo pudor no momento de falar da dimenso corporal das relaes afetivas. Foucault vai argumentar que a chamada literatura heterossexual vai valorizar o que seria o perodo, o tempo da corte, aquela temporalidade que antecede o ato sexual, que pode, nestas relaes, se estender por anos. Os amores heterossexuais, por serem reconhecidos,legitimadosevalorizadossocialmente, porcontaremcomsuporteslegais, institucionais e culturais, podem durar. Alis, so pensados para terem uma longa durao. Os amores heterossexuais se consumariam e se consumiriam lentamente, contariam com o tempo e com espaos necessrios para que se elaborem mais longamente. A literatura ocidental dedicou e dedica muitas pginas elaborao discursiva,narrativizaodosamoresheterossexuais.Umamanteheterossexualtemo que dizer, tem a seu dispor um discurso amoroso elaborado, pode levar horas narrando
FOUCAULT, Michel. Choix Sexuel, Acte Sexuel. In: Dits et crits: Paris: Galimard, 1994, p. 330. Para a noo de compresso espao-temporal ver: HARVEY, David. Condio Ps-Moderna. So Paulo: Loyola, 1992. 9 Referncia ao texto de BARTHES, Roland. Fragmentos de um Discurso Amoroso. So Paulo: Martins Fontes, 2003. 10 FOUCAULT, Michel. Op. Cit., p. 328.
7 8
45
www.unicamp.br/~aulas
suas experincias emocionais, afetivas e erticas. O casal heterossexual dispe de tempo e de modelos narrativos para elaborarem discursivamente a sua relao, o prprio ato sexual antes mesmo que este acontea. Como dispem de um rico arquivo de imagens, como o imaginrio em torno destes amores vasto e, inclusive, idealizado, os amantes heterossexuais podem levar muito tempo imaginando, preparando no terreno do sonho, no plano do discursivo o acasalamento sexual que um dia vir acontecer. Parodiando a frase de Casanova, que se refere aos amores heterossexuais, segundo a qual o melhor momento, no amor, quando se sobe as escadas, deixando explcito que talvez o melhor momento deste tipo de amor o tempo de sonho que o antecede, a sua elaborao imaginria antes que o ato sexual venha materializlo e, talvez, quebrar com o seu encanto, que o melhor momento para osamoresheterossexuais seriaeste tempodeespera,deexpectativa,estelongotempo de preparao para a sua definitiva consumao, Foucault dir que para os homossexuaisomelhormomento,noamor,quandooamantesedistancianotxi.11 Amante que, muitas vezes, foi conquistado num encontro fortuito; amores que muitas vezes no tiveram tempo nem de dizer os seus nomes, dada a urgncia da satisfao do desejo; encontro instantneo entre corpos dos quais algumas vezes mal se viu o rosto, dada a escurido do lugar onde o encontro acontece. quando o ato sexual acaba, quandootempoconcentrado,atemporalidadeextremamentecomprimidadoencontro dos corpos passa. quando o amante se afasta, quando foi embora, que este encontro, que este corpo, que a relao vai ser trabalhada pelo imaginrio. Vai ser sempre como lembrana, como memria, como um retornar narrativo sobre a experincia que este encontro ganhar contornos de sonho. Somente depois de ocorrido ele ganhar significado. Talvez, por isso, faa parte da cultura gay, do estilo de vida dos homossexuais, o falar constante, o narrar permanente de suas aventuras sexuais. Enquantonasrelaessexuaisheterossexuaisafantasiaantecedeoatosexual,lheserve de estmulo, d a ele colorido prvio, prepara a sua significao, muitas vezes, as relaes homossexuais, por sua instantaneidade, vo alimentar fantasias acerca do que j se passou. Muitas vezes ao narrar a aventura sexual porque passou, para seus amigos, para outros homossexuais, que o amante fantasiar sobre o corpo, sobre o ato, sobre a prpria relao que teve com este outro. Um ato sexual afsico, um encontro que resultou apenas da linguagem dos gestos, dos toques, dos olhares, um ato sexual em que a boca esteve ocupada com outras prticas que no a da fala, pode dar origem, no tempo seguinte, a uma proliferao narrativa, a uma mirade de significaes. Um atosexualquepodeterduradominutos,notempoquesesegue,podeoriginarhorasde narrativas, de fantasias, de sonhos. Um corpo que mal se divisou na escurido pode alimentar a fabricao de muitos corpos narrados, imaginados, sonhados. Narrativa, quase sempre, centrada no prprio ato sexual, que assim estendido, dilatado, monumentalizado, memorizado. Um ato, para o qual faltava tempo, ganha, assim, o tempoquenopossua. Muitasvezesrestadaqueleencontrourgente,passageiroepassante,um pequeno agrupamento de signos, restos, sinais, indcios, a partir dos quais o amante
11
FOUCAULT, Michel. Op. Cit. p. 330.
46
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
homossexual tenta configurar uma histria para o que se passou, tenta dar contornos narrativos, tenta dar significado, tenta transformar em um fato o que acabou de lhe acontecer, tenta urdir a sua microhistria. Um trao de perfume que ficou em sua roupa, o cheiro do suor do amante em seu corpo, outras secrees corporais impregnadasemseucabelo,ohlitomodificadopelocontatocomogostoalheio,algum desconforto fsico motivado pela violncia e rapidez do ato, uma mancha a salpicar aqui e ali a pele, formam um pequeno arquivo daquele encontro, arquivo que deve ser imediatamente aberto narratividade, sob pena de, em sua fragilidade, mal deste arquivo,12 logo vir a ser substitudo por outros. Somente aps ter procurado usar com a mxima intensidade, ter explorado com vigor o corpo que se oferece suas carcias, o homossexual pode parar para relembrlo, pode se dedicar a explorar os detalhes, daquele corpo, que ficaram em sua memria. Somente aps a urgncia da frico, pode advir o momento da fico, da construo de um corpo potico. Somente aps o taxi partir quando o amante no vai embora a p ou de nibus mesmo , que o homossexual,aindajogadonacamaounosof,poderecordaroformatodesuaboca,a textura e o cheiro de seus cabelos, os lindos cachos dourados que cercava seu sexo, pensar na mimosa forma de suas mos ou de seus ps, relembrar a poderosa consistncia de suas coxas, os contornos de seu umbigo ou de suas ndegas, a delicadeza de seus mamilos, o mistrio de seus olhos, pode, assim, tentar prolongar a sensaode xtase,decompletudequepdesentirhpouco.Atravsdamemriaeda imaginao percorrer novamente, vrias vezes, aquele corpo, far outros tantos atos sexuais com aquela mesma pessoa, explorar recnditos daquele corpo que lhe foram interditados, proibidos ou deixados de lado pela falta de tempo. At mesmo o furo na cueca do amante ser a passagem secreta para a construo imaginria de outro pas das maravilhas. Tendo partido em sua moto ou at em sua bicicleta, o amante pode ser agoraromanceado,podecomearaseropersonagemdeumafantasiadeamoreatde romance. O homossexual pode comear a se apaixonar por aquele que at que um prximo encontro venha desmentir ele j perdeu. O tempo dos amores homossexuais seria como o tempo da saudade, um tempo retrotenso,13 um tempo que se abre para trs, uma temporalidade que se volta para o alargamento do passado e, no qual, se busca um futuro, pelo retorno do que se foi, pela presena do ausente. Um futuro passado14aguardariaeguardariaosamoreshomossexuais. S quando aquele banhista que foi conquistado na praia, por um insistente olhar em direo sua sunga, se afasta, deixando o seu parceiro, deitado como uma sereia, naquela pedra que os serviu de leito, que este pode lembrar e degustardemoradamenteasinterjeies,aspalavrasdeprazerquesuabocadepssego deixou escapar, junto com as vagas de prazer, que vieram aoitar seu corpo, ao ritmo dasondas.Quedasenuemolhadodesuoremar,acatarcomopequenasprolas,como estrelas do mar, como conchas, estas palavras que o amante deixou rolar na areia. Com
12 13
Referncia ao texto de DERRIDA, Jacques. Mal de Arquivo. So Paulo: Relume-Dumar, 2001. Ver: NORONHA, Maria Teresa. A saudade: contribuies fenomenolgicas, lgicas e ontolgicas. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2007 Referncia ao livro de KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.
14
47
www.unicamp.br/~aulas
elas tenta construir uma frase inteira, uma sentena, um enunciado de amor. S depois que, o jovem de periferia, com seu tnis e jeans pudos, guiado at o banheiro mais prximo, por um simples aceno de cabea ou um mordiscar de lbios cheio de desejo, fecha a porta atrs de si, o amante se queda, ainda sfrego, procurando prolongar a sensaodogestodecarinhofeitoemseuscabelospormosgeladas,trmulas,midas de medo e de emoo. Sentado no vaso sanitrio, ouvindo o som das descargas dos banheiros vizinhos, como se fosse o som de longnquas cachoeiras, ele tenta lembrar os balbucios,arespiraodoparceiro,cadavezmaisalteradapelaemergnciadoprazer,e aquele enunciado meu amor que lhe caiu dos lbios no mesmo instante em que o prazer escorria para outra boca. Apenas quando aquele que foi conquistado no nibus, pelo roar insistente das coxas, pelo mirar de esguelha para a intumescncia que teimava em denunciar o estado de excitao do seu vizinho de cadeira, permitindo vislumbrar um prometedor objeto de desejo quase rasgando a delicada bermuda de nylon, se afasta, rpida e furtivamente, da construo abandonada ou do beco escuro, onde os dois puderam estacionar a volpia do desejo o combustvel de sua aventura, onde puderam, por um momento breve e fugaz, dar um lar ou um quarto para sua relao de passageiros, que podem dar abrigo na memria, na lembrana, aos fragmentos de discurso amoroso que o encontro produziu, podem urdir a fantasia de um conto de fadas ou de fodas, a partir de enunciados atirados naquela sarjeta, podem colecionar, como se fossem pirilampos, as frgeis e pouco claras palavras que vieram iluminar suas vidas, por instantes, rasgando a escurido de breu que cercava seus corpos em atividade. Como nos diz Paul Ricouer,15 o tempo vivido, o tempo dos homens,otemponarrado;paraconstruloprecisopalavras.Porisso,nestesamores que no tm tempo, cada palavra dita uma preciosidade, cada palavra de amor pronunciada, mesmo que seja extorquida custa de um combinado pagamento, pode ser o princpio de um enredo. Umas poucas palavras de afeto tendem a ser suficientes para que, com elas, se tea uma temporalidade afetiva, um tempo de amor. Nestes amores que se inventam e, muitas vezes, que se esgotam, a cada encontro, o tempo urgeenelesurgeoprprioserdotempoedoamor. Comoacontecenamaioriadasvidasquesoclandestinas,oshomossexuais construram um estilo de vida, uma esttica da existncia baseada na maximizao do uso do tempo, quando se trata da realizao dos atos que so considerados fora da norma.Fazeromaisrpidopossvel,consumaroquantoantesoatosexual,comoforma de evitar que algumas das inmeras foras que operam no social, no sentido de tornar este ato impossvel, venham se manifestar. preciso levar o amante para o ato sexual antes que a famlia chegue ou saiba, antes que o par heterossexual telefone ou chame, antes que a polcia passe, antes que qualquer transeunte homofbico veja. Tudo antes, sempre antes, da a abordagem direta, a paquera rpida, a corte imediata, o estar sempre preparado, alerta para qualquer possibilidade de realizao do ato sexual e, ao mesmo tempo, para qualquer ameaa a sua realizao. O homossexual, notadamente o homossexual masculino, que tambm se elabora tendo como referncia a maneira como a masculinidade pensada no ocidente, valoriza o sexo e centraliza sua vida sexual e afetiva em torno do ato sexual. As carncias e necessidades afetivas e
15
Referncia a livro de RICOUER, Paul. Tempo e Narrativa. Tomo I. Campinas: Papirus, 1994.
48
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
emocionais dos homossexuais masculinos tendem a ser canalizadas e reduzidas ao ato sexual. Impossibilitados, na maioria das vezes, de reproduzirem o modelo do amor romntico, ainda idealizado nas sociedades ocidentais, muitas vezes recusando o modelodocasamentoheterossexual,modeloemcriseentreosprpriosheterossexuais, os homossexuais vm inventando diferentes tipos de relaes afetivas e amorosas, aquelas possveis na condio de recusados pela cultura hegemnica em que ainda vivem, muitas delas ainda centradas, sobremaneira, no ato sexual e, frequentemente, apoiadasnumaverdadeirafalolatria.Nosavidaafetivadoshomossexuaismasculinos tende, muitas vezes, a ser reduzida realizao do ato sexual, como muitas vezes o ato sexualreduzidoaousoecontatocomofalo.Ocorpodoamantedeocasioreduzido ao seu pnis, estando vedado o contato e a explorao de outras reas do corpo do parceiro,notadamenteabocaesuapartedetrs. Michel Foucault vai valorizar, positivamente, dois processos que, segundo ele, estariam contribuindo para construir lentamente novos estilos de vida para os homossexuais masculinos, processos que ele visualizava ocorrendo nos Estados Unidos, que poderiam vir a modificar esta cultura gay falocntrica e articulada em torno do ato sexual.16 Por um lado, ele atribui prpria centralidade que o ato sexual tem na vida homossexual proliferao de novas prticas, criatividade e inventividade que seriam investidas pelos homossexuais neste momento. Ao contrrio da tendncia rotina e monotonia que devastavam, em pouco tempo, as relaes sexuais dos casais heterossexuais, os homossexuais teriam construdo uma cultura sexual cada vez mais variada e sofisticada, visando, justamente, o alongamento e o aproveitamento mximo do tempo que teriam a seu dispor: o tempo do ato sexual. Se o nico tempo que seu amante lhe reserva o tempo para o ato sexual, fundamental que este ato se prolongue, que este ato se complexifique e ganhe novas prticas para que possa se estender. Sendo negados aos homossexuais o prazer e a satisfao de andar de mos dadas em pblico, de se beijarem e se abraarem para que os outros testemunhem o vnculo afetivo que os une, se o prprio prazer de narrar seus amores muitas vezes proibido, silenciado, restaria o investimento na maximizao do tempo do ato sexual, no prolongamento do tempo em que na intimidade, em segredo, s escondidas, na vida privada estes amantes se encontram. Os homossexuais fariam do ato sexual uma forma de ganhar tempo, buscando formas de prolongar seus jogos, suas carcias, suas preliminares, adiando, o quanto for possvel, o gozo, o pice da relao sexual. O ato sexual teria dado espao, segundo Foucault, experimentao, seria um espao de experincia de novas possibilidades de uso do corpo e do sexo, para amores que possuam ou possuem pouco ou nenhum horizonte de expectativa.17 Ele chega a dizer que os lugares de frequentao e de encontros sexuais entre homossexuais seriam laboratrios de experimentao de novos usos dos prazeres, de novas formas de existncia.18 As chamadas perverses ou as prticas sexuais consideradas no cannicas funcionariam, inclusive, como um atrativo para os homens que, procurariam nas
FOUCAULT, Michel. Op. Cit, p. 332. Referncia a conceitos discutidos por KOSELLECK, Reinhart. Op. Cit. pp. 305-329. 18 FOUCAULT, Michel. O Triunfo Social do Prazer Sexual: uma conversao com Michel Foucault. In: Ditos e Escritos. Vol. V. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2004, pp. 119-125.
16 17
49
www.unicamp.br/~aulas
relaeshomoerticas,anovidade,aexploraodezonasergenas,ousodocorpoque as relaes sexuais tradicionais com as mulheres no permitiriam: o sexo oral, o coito anal, o cunilingus, a podolatria, o travestismo, o banho prateado e dourado, o sadomasoquismo, etc. A maior liberdade sexual permitida aos homens em nossa sociedade dirigeos para relaes sexuais com outros homens, j que a educao sexual limitadoradadasmulheresastornaparceirascomparcorepertriodeprticassexuais. A indstria pornogrfica, cujos produtos so mais acessados pelos homens, estimula esta busca por novidades no campo das prticas sexuais, seja no contato com prostitutas,sejanocontatocomtravestisouamanteshomossexuais. A segunda transformao que Foucault valoriza seria aquela que se dava para alm das relaes sexuais.19 A excluso social a que so submetidos os homossexuais,opreconceitoeoestigmadequesovtimas,asconstantesameaasea violncia, fsica e psicolgica, so condies sociais e histricas que teriam permitido a emergncia de solidariedades, de amizades, de formas de convivncia e de sociabilidades inovadoras socialmente, notadamente quando se trata de figuras masculinas. Para Foucault a esttica da existncia, nomeada nos Estados Unidos de gay, pelo prprio nome que escolheu, era uma recusa e uma opo em relao s formas de existncia prevalecentes na sociedade americana, notadamente entre os homens. A cultura gay era contestadora, pois se contrapunha cultura masculina norteamericana, marcada por um culto virilidade, violncia, notadamente quela militarizada e militante, uma cultura individualista, centrada na competio e no domnio. A amizade homossexual, as relaes afetivas e de ajuda, que muitas vezes se sobrepunham barreiras tnicas, de classe e reuniam pessoas de idades e condio profissionais e educativasbastanteheterogneas,ensaiavamapossibilidadedenovostiposderelaes entre as pessoas. Foucault achava que a grande contribuio da luta homossexual no devia se esgotar na conquista de direitos legais, embora estes fossem fundamentais, mas eles no transformavam necessariamente a cultura heterossexista imperante. Quem modificaria esta cultura seriam os prprios homossexuais ao criarem novas prticas de si e novas relaes com os outros, que poderiam servir de modelos alternativosquelesimperantesnasociedadeocidentalcontempornea. A revalorizao da amizade entre homens, a valorizao da solidariedade e do companheirismo entre pessoas racialmente distintas, pertencentes a classes sociais diferentes, com idades e formaes profissionais e educacionais diferenciadas, poderia ser o laboratrio de novas relaes sociais. A amizade masculina, sentimento que foi colocadosobsuspeitaedesqualificadosocialmentenoocidenteporcausadaameaada sodomia e, posteriormente, da homossexualidade, seria uma maneira de criar temporalidadesafetivasmaisestendidasparapessoascujosafetos,cujosamoresteriam pouco tempo.20 urgncia do ato, brevidade temporal da relao sexual, a amizade entre homens, podia permitir, como si ocorrer com maior frequncia nas relaes homossexuaisfemininas,oalargamentodatemporalidadedasrelaesafetivasentreos homens. A amizade pode permitir a circulao e a permanncia em lugares pblicos de amantes que se amavam clandestinamente, a convivncia e o partilhamento de um
19 20
FOUCAULT, Michel. Escolha Sexual, Ato Sexual, p. 334. FOUCAULT, Michel. Uma Esttica da Existncia. In: Ditos e Escritos. Vol. V, pp. 288-293.
50
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
tempo mais estendido de vida entre pessoas que, de outra forma, s se encontrariam para o ato sexual. Embora o movimento homossexual tenha colocado o revelarse, o assumirse como uma imposio e, ao mesmo tempo, como uma conquista, uma forma de afirmao poltica e social dos homossexuais, Foucault discordava deste imperativo de dizer a verdade. Ele defendia a ideia polmica de que esta obrigao de sair do armrio,quandocolocadaparaoshomossexuais,podiasignificarasubmissovontade de verdade e, com corolrio, vontade de controle caracterstica do poder disciplinar moderno.21 Seria o dispositivo da confisso operando entre os homossexuais, obrigandoos a revelarem e assumirem uma verdade para si, pressuposto tpico de uma sociedade apoiada na ideia de indivduo e de que este possui uma essncia, uma verdade interna nica e inescapvel, revelada, justamente, atravs da verdade sobre o sexo. Diga com quem fazes sexo e direi quem s, seria a mxima desta sociedade da identidadesexual,dodispositivodasexualidade.22 Foucault vai defender que nem sempre a liberao seria sinnimo de liberdade.Haveriaumaliberdadealojadanonoconfessar,nonodizer,noserecusara falar. O anonimato, se em muitos casos era uma ameaa, era um risco, inclusive de vida para os homossexuais, podia tambm se constituir num espao de liberdade para a vivncia de emoes, de relaes, de experincias, de parcerias amorosas, impossveis de serem vividas s claras. Nem sempre o vir a pblico seria sinnimo de felicidade e de alegria; s vezes a descoberta de uma paixo escondida sob o manto da amizade masculinapodiasignificaradordaperdaedaexecraopblica.Oshomossexuais,para ele, eram uma presena incmoda na cultura ocidental por questionarem em sua prpria existncia as polticas e as polcias da identidade, operadores fundamentais nesta cultura. A exigncia de fazer do ser homossexual uma identidade, tal como formulada por amplos setores dos movimentos sociais de homossexuais, incomodava a Foucault,quepensavaseranovidade,agrandecontribuiodavivnciahomossexual,o fatodenosepautarpelalgicadaidentidade,emboraelanodeixedeestarsempre espreita. As prticas de travestismo, de mascaramento, o fascnio pela simulao, a conscincia aguda que teriam a maioria dos homossexuais, de que a sociedade um grande teatro onde cada um representa papis, a percepo de que a histria e a vida so mascaradas, um permanente carnaval e a vivncia permanente do disfarce e da dissimulaofariamdoshomossexuaissujeitosdeoutraestticadaexistncia,emqueo que menos importa a identidade fixa, o nome, a verdade que se pretende ter cada um.23 Os homossexuais seriam sujeitos montados a partir de outros processos de subjetivao, sujeitos que, muitas vezes, investem conscientemente em sua prpria fabricao. Sujeitos que literalmente se inventam e reinventam, que mudam de nome, de aparncia, de desejo e de sexo, seres que mudam at de corpo, na busca de construremterritriosparaseudesejohabitar,decorposparamaterializaressedesejo. Dragqueensnavida,dragqueensdotempo,mesmoquandodecaralimpaecorponu. Mas, nesta discusso sobre uma esttica da existncia homossexual, outro temaaparecedeformarecorrentenasentrevistasetextosescritosporMichelFoucault:
FOUCAULT, Michel. Sexualidade e Poltica. In: Ditos e Escritos. Vol. V, pp. 26-36. FOUCAULT, Michel. O Verdadeiro Sexo. In: Ditos e Escritos. Vol. V, pp. 82-91. 23 FOUCAULT, Michel. Verdade, Poder e Si Mesmo. In: Ditos e Escritos. Vol. V, pp. 294-300.
21 22
51
www.unicamp.br/~aulas
otemadasolido.24Seotempodosamoreshomossexuaiscomeaquandooamantese afasta no txi, este tempo comea quando se instala a solido. quando a presa, fruto deumaboanoitedecaada,abandonaoapartamentodoamante,levandomuitasvezes sua carteira, seu celular ou, significativamente, seu relgio este instrumento fundamental na construo do tempo cronolgico, que ele queda sozinho e, pode, neste estado de solido, comear a obra de construo narrativa do que acaba de lhe acontecer,inclusive,pensarnasexplicaesquedaraoserindagadosobreo paradeiro de seus objetos, j que, numa inverso perversa de valores, ele que deve sentir vergonha de ter sido assaltado e no o ladro que acaba de lhe sair pela porta, j que este se sente justificado por ter feito uma espcie de ato reparador de sua honra maculada pelo que acaba de acontecer no quarto. Mesmo quando o amante concede umtemposuplementaraoatosexual,momentoemqueentre umabaforadaeoutrade fumaa do cigarro, tentam entabular uma conversao, que se inicia envergonhada, como se ambos estivessem culpados pelo que acabam de fazer, falam sobre a condio do tempo, perguntam sobre o que fazem ou onde moram e terminam por conversar sobre futebol, em dado momento, em um salto, como se uma urgncia o tivesse chamado, veste rapidamente as roupas que ficaram jogadas pelo cho e sai pela porta, deixando atrs de si apenas o rastro de sua presena. Aquele que entrara pela porta da casa, aps ser contatado pela internet, que foi aguardado por um tempo que pareceu longo, tempo que possibilitou a guarda, em lugar seguro, de todos os instrumentos perfurocortantes existentes no lar, tempo de espera e de esperana, mas tambm tempo de angstia, de medo e de insegurana, concede a ddiva de, aps o ato sexual, permanecer alguns minutos se refrescando no banho, retirando com gua e sabonete, svezescomcertoasco,opequenoarquivoderastrosdeixadospelottette.Tempo paraqueoamanteveja,peloespelhotranslcidodobox,alinguetadouradadaguado chuveiro a percorrer, como fizera h pouco sua prpria lngua, as lindas formas musculares do corpo que se banha, ver a delgada camada de espuma que cobre a pele debanooudemrmoreescorregarlentamente,preguiosa,comosetambmquisesse permanecer mais tempo grudada naquele corpo, at se desmanchar em bolhas assim como acabam seus sonhos , jogadas aos ps daquele amante virtual, que se tornou atual,25masque,eminstantes,entrarnovamenteemlinhadefuga,26deixandoemseu lugar, espuma e solido e, talvez, a torneira do chuveiro bastante apertada pelo gesto domacho. Como dir Blanchot,27 a solido fundamental para que exista obra. A narrativa dos amores homossexuais, as narrativas que constituem uma temporalidade mais alongada do que aquela permitida pela vivncia do tempo intensivo do ato sexual, s so possveis de serem elaboradas no tempo de solido, que se abre logo aps o aparecimento espetacular do parceiro. O tempo dos amores homossexuais seria este tempo de solido, este tempo de solido habitada por muitas presenas, condies
FOUCAULT, Michel. Sexualidade e Solido. In: Ditos e Escritos. Vol. V, pp. 92-103. Para a relao entre atual e virtual ver: DELEUZE, Gilles. Bergsonismo. So Paulo: Editora 34, 1999. 26 Para a noo de linha de fuga ver: DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Flix. O Anti-dipo: capitalismo e esquizofrenia. Lisboa: Assrio & Alvim, 1996. 27 BLANCHOT, Maurice. O Espao Literrio. Rio de Janeiro: Rocco, 1987.
24 25
52
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
indispensveis, segundo o filsofo francs, para que a literatura se faa. Da, porque, paraFoucault,aliteraturahomossexualseconstruirianestetempodesolido,tempode ruminao lenta daquilo que foi fugaz, passageiro, mas intenso.28 , na literatura, na narrativa,queoshomossexuaisvotornarextensivo,umtempoquedeverasintensivo e intenso, emocionalmente e fisicamente falando. A narrativa desfia, alonga o fio do tempo que estivera enrolado, enroscado como uma mola em torno daquele ato quase epifnico, quase sagrado.29 Em torno daquele corpo e daquele sexo que foi quase veneradooudeglutido,eminstantes,comoumdeus,asolidovaipermitiraconstruo da narrativa que o idolatra e o endeusa. Os amores homossexuais se fazem literatura e literatura atenta para a dimenso carnal do amor, literatura que se compraz em narrar, com detalhe, o ato considerado, muitas vezes, impuro e antiliterrio, antipotico, pois ela nasce deste esforo por fazer durar, por dar extenso, por dar consistncia a um momento que requereu um enorme investimento libidinal, afetivo e emocional, mas quepodeteracabadotomaisrapidamentequantooamantequissairdaquelasituao quelhepareceuincmodaouoquantomaisrpidoelequisreceberasuaremunerao. Os escritores homossexuais tentariam, narrativamente, evitar a morte prematura daquela esperana de encontrar o amor, que buscado em cada esquina, em cada sauna,emcadacinema,emcadarostoetorocomosquaissecruzamnasruas.Como,a cada vez que se faz uma conquista, ela tem a dimenso de uma vitria em uma batalha, como ela a materializao do improvvel e, muitas vezes, do impensvel, no se pode deixar de contla, de registrla, mesmo que seja em formato de uma histria tratados ebatalhas,ou,talvez,quemsabe,comoumahistriavistadebaixooudobaixo. A solido instaura este tempo da criao, permite a rememorao, o trabalho de fixao na memria de traos e aspectos daqueles acontecimentos que so memorveis, que devem ser descritos para si mesmo, vrias vezes, para que ganhem foro de verdade, para que se tornem crveis para si mesmo, para que, com eles, um sujeito v se desenhando.30 Com a autoestima, com o amor prprio, quase sempre, afetados pela denegao social que sofrem, os homossexuais precisam, constantemente,fazeremcomoqueumtrabalhodereconstruodesi.Comosefossem roupas rasgadas, a autoimagem dos sujeitos homossexuais, numa sociedade heterodominante, precisa estar sendo sempre remendada. Cada vez que um encontro amoroso, que uma relao de afeto fornece um tecido precioso de carinho, de respeito e de desejo, os homossexuais utilizaro este tempo de solido para restaurar com este tecido a sua figura de sujeito mutilada. Este contar e recontar das aventuras, dos encontros, que pode vir, inclusive, a se tornar literatura como em Oscar Wilde, em Proust, em Cocteau, em Arenas, em Genet, em Lezama, em Caio Fernando Abreu, em Glauco Mattoso. O estender, o exagerar, o aumentar cada acontecimento ertico que ocorre em sua vida, tornase parte de um estilo de vida, de uma esttica da existncia que requer o uso constante da fantasia, da fico, da capacidade de simulao, de inveno e criao, sem as quais o tempo de solido se tornaria tempo vazio, tempo de tdio,tempomorto.Agitar,palavraquetantoseescutanabocadoshomossexuais,para
Ver: MACHADO, Roberto. Foucault, a Filosofia e a Literatura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. Ver: PELBART, Peter Pal. O Tempo No Reconciliado, So Paulo: Perspectiva, 1998. 30 FOUCAULT, Michel. A Escrita de Si. In: O Que Um Autor. Lisboa: Vega, 1992.
28 29
53
www.unicamp.br/~aulas
que o tempo que promete ser de solido e de estagnao possa dar lugar ao fazer acontecer,aumtempodecriaodosoutroscomosoutrosedesiconsigomesmo. Haveria uma espcie de paralelismo entre o sexo que se faz sozinho e a escritaliterria.Asolidopermitenosotrabalhoderememorao,denarrativizao, de inscrio numa memria e numa literatura das lembranas que ficaram de um acontecimento ertico significativo. A solido permite e, muitas vezes convoca, quase obriga, a explorao solitria e solidria do corpo prprio.31 No seria a masturbao uma importante etapa na construo do corpo prprio, sexuado, no seria uma verso da etapa do espelho, to importante na fenomenologia de MerleauPonty ou na psicanlisedeLacan?32SeoespelhoparaFoucaultdocampodasheterotopias,33estes espaos que realizam, no presente, utopias, sonhos, sem que se espere sua realizao no futuro, estes espaos que esto, mas no so inteiramente reais, no seria este corpofantasma, este corpomemria, este corpolembrana com o qual se copula solitariamente, ao mesmo tempo, espelho, projeo e realizao de um sonho num espaoetemposconcretos?Ocorpoquefoimaterialidade,nopassado,quefoibeijado, sugado, lambido, apalpado, cheirado, mordido, olhado, ouvido, explorado, invadido, incorporado,sermuitasvezesevocado,numtrabalhometiculosoeprecisodamemria voluntria, para servir de referente para novas fantasias sexuais que alimentaro o autoestmulo sexual e a satisfao autnoma do desejo. O prazer encontrado na escrita homossexual bem pode ser um prazer paralelo e convergente com o prazer dado pelo ato masturbatrio. A obra, assim como o ato sexual solitrio, requer a convocao para o presente de uma ausncia, de um ausente, que vem se materializar no ato que se pratica.34Oreencontrocomooutro,aressurreiodooutrodiferencialmente,talcomo propiciado pela obra, se d tambm no ato sexual onrico. O tempo da solido, assim como o tempo da histria, um tempo saturado de agoras,35 um tempo chamalotado, como gosta de dizer Serres,36 um tempo pregueado, dobrado, como diria Deleuze,37 um tempo barroco em que diferentes camadas de corpos, de sensaes, de prazeres, de dores, de sofrimentos, vm se misturar. Tanto no relato literrio, como no relato de corposedeatossexuaisqueestimulameacompanhamaprticadamasturbao,vrios corpos e acontecimentos vm se fundir, vm se misturar. Assim como na literatura, a narrativa onrica, imaginativa, que a se estabelece, pode seguir uma viso cronolgica, linear, evolutiva do tempo e do enredo, como pode sobrepor temporalidades, acontecimentos, embaralhar pessoas,rostos, corpos, rgos sexuais, produzindo corpos plissados, frankesteinianos. Numa espcie de cosmorama e quem sabe no tenha
Para a noo de corpo prprio ver: HEIDEGUER, Martin. Ser e Tempo. Petrpolis: Vozes, 2006. Ver: MERLEAU-PONTY, Maurice. O Visvel e o Invisvel. So Paulo: Martins Fontes, 2003 e LACAN, Jacques. O Seminrio Livro 11, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 33 FOUCAULT, Michel. Outros Espaos. In: Ditos e Escritos. Vol. III. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2001. 34 Sobre esta discusso ver: RICOEUR, Paul. A Memria, a Histria, o Esquecimento. Campinas: EDUNICAMP, 2008. 35 Expresso encontrada em: BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de Histria. In: Magia e Tcnica, Arte e Poltica. Obras Escolhidas. Vol. I. So Paulo: Brasiliense, 1985, pp. 222-232. 36 Ver: SERRES, Michel. Os Cinco Sentidos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 37 DELEUZE, Gilles. A Dobra: Leibniz e o barroco. Campinas: Papirus, 1991.
31 32
54
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
nascido da a ideia do cinema, reunindo imagenstempo e imagensmovimento,38 um conjunto de imagens se sucedem, imagens de corpos sem rgos,39 de rgos sem corpos,decorpossemrosto,derostossemcorpos,40imagensemquesevieramfixaras memrias dos encontros rpidos, tal como Bergson e Ricouer41 teorizaram e, possivelmente, praticaram, imagens do tempo intensivo da paixo e do teso, que se encadeiam, ganham velocidade, passam por sua mente, no mesmo ritmo com que friccionase o membro desonesto ou desliza algo no interior do vaso traseiro.42 Opera a, como ir ocorrer na literatura, uma espcie de lgica do jogo, jogos de linguagemejogosdeimagens,umaespciedelgicacombinatria,ondeoaleatrio,as justaposies, as convivncias, as misturas, as mestiagens, as coalescncias que so, muitas vezes, interditadas na vida diria, podem vir a ocorrer. Aqueles dois amantes, que no podem saber da existncia um do outro, que so cuidadosamente distribudos na agenda para que no se encontrem, no coincidam, no se misturem, sob pena de acabar com a harmoniosa vivncia a trs, pondo em perigo a deliciosa existncia de um terceiro termo includo,43 podem, neste momento de solido, podem neste momento emqueohomossexualtemtempoparaoamor,viremaconviver,asesobreporem,ase mesclarem, num terceiro ente construdo. Como diria Ricoeur, numa reflexo bastante significativa para esta situao, literalmente, esta uma memria que se tem mo,44 um vivido disposio para ser lembrado, usado, manipulado pelos punhos, tanto para se tornar pginas literrias, quanto para se tornar derramamento infecundo da semente, homenageando, neste passo, os inventores do pecado contra a natura, estigma com que primeiro se marcaram os amores homoerticos. A literatura, como a masturbao, seria autoafeco, seria um trabalho de si sobre si mesmo, forma de escrever e esculpir o si mesmo. O cuidado de si45 atravs do dado pelos outros, literalmenteartesdefazer46asieconsigomesmoatravsdamemria,dalembranade outrostemposeoutroscorpos. Para Michel Foucault a inveno da homossexualidade,47 que se deu na modernidade, significou o cerceamento de dadas possibilidades de escolhas sexuais. A sociedade heteronormativa proscreveu determinadas escolhas e determinadas condutas, tidas como inaceitveis, situandoas entre o pecado, o crime e a doena. Este
Referncia as obras de DELEUZE, Gilles. A Imagem-Movimento: Cinema 1. 2 ed. Lisboa: Assrio & Alvim, 2009; A Imagem-Tempo: Cinema 2. So Paulo: Brasiliense, 1985. 39 Referncia ao texto de DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Flix. Como criar para si um corpo sem rgos. In: Mil Plats: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 3. So Paulo: Editora 34, 1996, pp. 9-29. 40 Ver o texto de: DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Flix: Ano Zero: Rostidade. In: Mil Plats: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 3, pp. 31-61. 41 BERGSON, Henri. Matria e Memria. So Paulo: Martins Fontes, 2006 e RICOUER, Paul. A Memria, a Histria, o Esquecimento. 42 Expresses usadas pelo discurso inquisitorial para se referir ao pnis e ao nus. 43 Sobre o terceiro excludo ver: DELEUZE, Gilles. Diferena e Repetio. 2 ed. So Paulo: Graal, 2009. 44 RICOEUR, Paul. A Memria, a Histria, o Esquecimento. 45 Referncia ao livro: FOUCAULT, Michel. Histria da Sexualidade III: O cuidado de si. Lisboa: Relgio Dgua, 1994. 46 Referncia ao livro: CERTEAU, Michel. A Inveno do Cotidiano I: artes de fazer. 14 ed. Petrpolis: Vozes, 2000. 47 FOUCAULT, Michel. Escolha Sexual, Ato Sexual, p. 320.
38
55
www.unicamp.br/~aulas
lugar misto que ocupa a figura do homossexual, aoitado por este triedro dos saberes: saberes religioso, jurdico e mdico, far com que, muitas vezes, tenha que buscar na escrita o desvelamento de seu prprio segredo ou a descoberta de seu prprio pecado, de seu crime ou de sua doena. A literatura homossexual nasceria desta interrogao sem resposta, desta busca por uma ontologia de si mesmo, que medida que no encontrada, gera angstia e desconcerto naquele que escreve. Escrita que se descobre como vrtice a girar em torno de um abismo que s se aprofunda, o abismo do ser que, segundo Heidegger, s encontra sua justificativa na morte.48 A vivncia do que se nomeou de homossexualidade implica a instaurao de um inqurito acerca de si mesmo pelo prprio sujeito que se vai constituindo nesta indagao, nesta insegurana, nesta pergunta permanente do porqu de seu desterro e de sua condenao por um Deus cruel e sdico. Afinal, que Deus esse que aps criar uma dada espcie de seres, os condena ao constante oprbrio, a permanente condio de seres que no devem manifestar materialmente ou externamente o que so? Seres condenados a ficarem prisioneiros de seu corpo ou de seu esprito. O criador dos tempos, o senhor das eras, criou seres e amores condenados a no terem tempo, a no terem espaos, a existirem eseremvividoscomoconcessesquesodiablicopermite. Para Foucault a luta pelo direito de liberdade da escolha sexual era uma contribuio poltica importante que os homossexuais poderiam dar sociedade. Isto no significava a liberdade de se praticar qualquer ato sexual, pois, o estupro, o sexo no consentido no deveria ser aceito socialmente.49 Para isto era fundamental, segundo ele, retirarse a centralidade, a importncia, o carter dramtico que as sociedades ocidentais modernas atribuem s prticas sexuais. Se elas fossem tomadas com a mesma normalidade com que se encaram as prticas alimentares ou as prticas de higiene, se elas deixassem de ser este centro de significao dos sujeitos, se uma escolhasexualfosseencaradacomamesmanaturalidadecomqueencaramosaescolha das cores das roupas que vestimos ou dos alimentos com que matamos fome, a escolha sexual deixaria de ter este peso, esta importncia, que torna aqueles que fazem escolhas, que no so prevalecentes na cultura ocidental moderna, motivos deateno, decuidadoedeescndalo. Como um filsofo que buscou na histria uma forma de lidar com os problemas filosficos, sem cair na metafsica ou no empirismo, Michel Foucault dedicou sua vida a pensar como nos tornamos o que somos, a problematizar o que nos fez ser como somos, praticando o que nomeou de uma ontologia do tempo presente, uma arqueologia dos saberes e uma genealogia das foras que engendraram, atravs de rupturas, deslizamentos, convergncias, paralelismos, o que viemos a nos tornar. Esta interrogao sobre o ser do presente, sob a singularidade de seu tempo, sob a especificidade de sua condio histrica, e, por que no, de sua condio de sujeito, o levou ao encontro da problematizao da homossexualidade, da prpria sexualidade,50 como este dispositivo, este conjunto de saberes, regras, cdigos, prescries, instituies, que vieram fabricar um sujeito homossexual, vieram alojar neste lugar
Ver: HEIDEGER, Martin. Op. Cit. FOUCAULT, Michel. Escolha Sexual, Ato Sexual, p. 324. 50 FOUCAULT, Michel. Histria da Sexualidade I: a vontade de saber. 18 ed. So Paulo: Graal, 2007.
48 49
56
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
nenhum,queodoser homossexual,serdefinido pelanegativa,peloqueno,tantas vidasecomissointerditlas,proibilasdecertosprazeres,decertasvivncias,decertos direitos mais comezinhos: como o de poder beijar o ser que se ama, como o de poder acariciar o rosto do ser amado, como o de poder dizer palavras de amor para aquele a quem se quer, como o de andar de mos dadas, como o de tocar, como o de conviver comapessoaamada,comoodefalarsobreseusamoresedesamores,comoodepoder denunciar as violncias fsicas e psicolgicas, as extorses e chantagens, os chistes e gestos de desprezo e preconceito de que so vtimas. Mas, ao mesmo tempo, tentou mapear as novas formas de vida, as novas experincias, os novos estilos de vida, as inmeras formas de convivncia e sociabilidade, as solidariedades, os conflitos e as hierarquias e dissenses que moldavam estticas da existncia para a vida homoafetiva e homossexual. Procurou no se colocar no lugar do sbio ou daquele que dita regras para que os homossexuais seguissem, mas estando implicado na prpria condio e questo colocada pela inveno desta categoria e pela emergncia de sujeitos e estilos de vida que a tomam como referncia; se empenhou em problematizar tanto a categoria e seus usos, como as vivncias que esta possibilitou, chamando ateno no apenas para o que elas significavam de subservincia ou resistncia opresso e excluso que implicava este condio, mas ressaltou, acima de tudo, a construo de estticas e ticas da existncia, que poderiam servir de laboratrios de experimentao para novas formas de se relacionar, de viver a amizade e o amor, de praticar o sexo, de usar os corpos e os prazeres, que pudessem servir de alternativas para as formas predominantes no presente. Dedicouse a pensar como nos amores que no tinham tempo, outros possveis tempos, outras formas de temporalidade poderiam estar sendo ensaiadas. Tempos em que, talvez, o melhor, no amor, no seria quando se sobe a escadaouquandooamanteseafastanotxi,masquandoaescadaouotxipossamse constituir em lugares de encontro, suportes de encontros amorosos feitos tanto para subiredescer,quantoparachegarepartir,tantoparaentraresair,quantoparaparare se mover, no importando que sexo tm, de que genitlia dispem, aqueles que se encontram. Nem um tempo anterior, nem um tempo posterior guardaria o melhor do amor, mas um tempo saturado de agoras, de horas de amor e de prazer, amores que no precisem dizer o seu nome, porque como se chame no ter a menor importncia, apenasimportarcomoseame.
57
www.unicamp.br/~aulas
58
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Modos de viver artista: Ana Miguel, Rosana Paulino e Cristina Salgado
Luana Saturnino Tvardovskas
DoutorandaemHistriaCulturalpelaUnicamp bolsistaFAPESP
Resumo:
Pretendo nas seguintes pginas desenvolver uma reflexo acerca da prtica artstica de mulheres no Brasil contemporneo. Concentrome nas poticas visuais de Ana Miguel, Rosana Paulino e Cristina Salgado, cujos temas envolvem questes de gnero. Investigo como suas obras de arte conjugam aspectos ticos e polticos, ao mesmo tempo em que formulam novas possibilidades para as subjetividades femininas hoje. A escolha de constituir suas vidas a partir de questes artsticas conectase, aqui, s problematizaes de Michel Foucault acerca das estticas da existncia, como estilos de vida diferenciados presentesnaexperinciahistricagrecoromana.
Palavras-chave:
arte contempornea, estticas da existncia, Ana Miguel, Cristina Salgado, Rosana Paulino.
59
www.unicamp.br/~aulas
60
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Artistic ways of living: Ana Miguel, Rosana Paulino and Cristina Salgado
Summary:
In this paper I develop some reflections on womens artistic practices in contemporary Brazil. I focus on the artistic productions of Ana Miguel, Rosana Paulino and Cristina Salgado, whose subjects encompass gender questions. I investigate how their artwork combines ethic and political aspects while formulating new possibilities for the female subjectivity in current days. The choice of constituting theirs lives from artistic issues is connected to Michel Foucaults questioning on the aesthetics of existence as different lifestylespresentedintheGreekandRomanshistoricalexperiences.
Key words:
contemporaryart,aestheticsofexistence,AnaMiguel,CristinaSalgado,RosanaPaulino.
61
www.unicamp.br/~aulas
62
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
para aqueles que no crem mais na verdade, coloca-se a tarefa de serem artistas, adoradores de formas Nietzsche
modos de viver artista
Esse texto pergunta sobre as prticas artsticas contemporneas como um espao de resistncia ao empobrecimento tico, poltico e subjetivo atual, tendo em vista o debate acerca do esvaziamento da experincia, amplamente problematizado por diversos autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze e Flix Guatarri, Hannah Arendt, Richard Sennett, pelo pensamento feminista, entre outros. Numa conjuno entre crtica cultural e histria, buscase observar como as poticas visuais de trs artistas brasileiras Ana Miguel (Niteri, RJ, 1962), Rosana Paulino (So Paulo, SP, 1967) e Cristina Salgado (Rio de Janeiro, RJ, 1957) lanam possibilidades outras de constituio desi,namedidaemquedeslocamsentidosestabelecidosepromovemnovosmodosde comporarelaocomoscorpos,osdesejosecomaprpriacriatividade. As obras de arte criadas por essas mulheres so capazes de estimular um pensamento diferenciado sobre as prticas de subjetivao atuais que muitas vezes esto permeadas por violncias simblicas e por arbitrariedades de toda espcie. Tal inquietao que emerge no campo artstico acentuase a partir de um problema filosfico perseguido por Foucault, a saber, como se d historicamente a constituio das subjetividades e quais as conseqncias ticas e polticas de tais definies (FOUCAULT, 2006 A: 264). Tratase de uma perspectiva ontolgica que diz respeito a como os sujeitos so constitudos em relaes de poder e de saber, e tambm na relao consigo. Para o pensador, na dimenso tica expressa na relao de si para consigo que o indivduo pode confrontar o poder e criar um modo de vida mais livre e intensificado. No entanto, nem toda prtica de si prev uma positivao das experincias vividas e da relao com o outro. Ao contrrio, no descontinuum da histria, o que presenciamos hoje um profundo grau de humilhao e desvalorizao vivenciado pelos indivduos, cada vez mais atomizados e dependentes de mercadorias desenhadas para a satisfao imediata e fugaz. Vemse por todo lado polticas de subjetivao produtoras de subjetividades mercadolgicas, em que as relaes com o mundo e consigo so empobrecidas, em favor dos contatos flutuantes estimulados pelo capitalismodainformao(ROLNIK,1996:44). Interessado na questo do sujeito e sua relao com a verdade, Foucault debruase em diferentes textos sobre o tema das artes da existncia. Para ele, nas civilizaes antigas grecoromanas, concentrandose nos anos I e II AC., haveria uma experincia pautada na afirmao da liberdade e na tica, com o intuito de criao de uma existncia boa e bela (FOUCAULT, 2006 A: 268). Haveria a prescries e cnones coletivos,pormsemaconstituiodeumcdigoderegrascomoviriaaseinstaurarno cristianismo,cumpridopormeiodaobedinciaaumavontadesoberanadeDeus.
Com o cristianismo, vimos se inaugurar lentamente, progressivamente, uma mudana em relao s morais antigas, que eram essencialmente uma
63
www.unicamp.br/~aulas
prtica, um estilo de liberdade. Naturalmente, havia tambm certas normas de comportamento que regravam a conduta de cada um. Porm, na Antiguidade, a vontade de ser um sujeito moral, a busca de uma tica da existncia eram principalmente um esforo para afirmar a sua liberdade e para dar sua prpria vida uma certa forma na qual era possvel se reconhecer, ser reconhecido pelos outros e na qual a prpria posteridade podia encontrar um exemplo. (FOUCAULT, 2006 - B: 289-290)
Descontinuidades e rupturas so apontadas por Foucault na relao do sujeito com a verdade na tradio ocidental. A capacidade de conduzir a prpria vida liberta da moral em termos de juzo de valor o que est em pauta nessa discusso. O campo aberto de problematizaes sobre as artes de viver, explorado por Foucault, e tambm por Nietzsche, no trata, como se poderia pensar literalmente, de investigar uma vida de prazer ou de alegria entediada. Antes, conforme explicita o terico alemo Wilhelm Schmid, (...) significa apenas fazer de sua prpria vida objeto de uma espcie desaberedearte(SCHMID,2007:46). Governar a si mesmo, a autarquia antiga, definese ento pela capacidade dedarformaasiprprioedemodularseusprpriosvalores,nosesubmetendoauma moral dominante e normalizadora. importante lembrar que Foucault, ao tratar de processos culturais e histricos, sempre tinha no horizonte a discusso sobre a prpria atualidade: a questo do presente. Quando ele investiga as estticas da existncia na experincia grecoromana, quer marcar uma diferena, um estranhamento em relao aopresente.Explicitaqueoanseiodeconstituirasimesmocomoumindivduolivre,um cidado da polis, um dos elementos chave dessa experincia antiga. Tal objetivo constitudo por prticas com uma inteno de transformao e ateno a si mesmo chamadas por Foucault de tcnicas de si. Consistiam em reas de ateno como a alimentao a diettica, as relaes amorosas a afrodisia, a elaborao de si pela escrita,comooscadernosdeanotaochamadosHupomnmatas,ofalarfrancamente como a parrsia cnica (FOUCAULT, 2006 C: 147 e 2009: 248). Essas aes estavam destinadas constituio de um cidado e, nesse sentido, as artes da existncia contemplavam o cuidado com o outro, a constituio de si por meio de relaes de amizade, de amor e de aprendizado embora esse cuidado de si possa soar erroneamenteaosouvidosmodernoscomoumaespciedeegocentrismo. Tratase justamente para Foucault de investigar uma outra relao possvel com as normas, as prescries e com a verdade ao mesmo tempo lembrarmos que olhamos ainda dentro da tradio ocidental fazendo surgir um espao diferenciado de construodesi. Essa perspectiva terica converge para um modo de pensar a arte que interessa em especial produo de mulheres artistas contemporneas, em que a prpria vida tomada como matria de trabalho. As experimentaes artsticas realizadas por Ana Miguel, Rosana Paulino e Cristina Salgado so modos de conduzir as prprias existncias de modo mais autnomo e criativo. Ao apresentar obras que contestam o carter conservador e misgino do mundo atual, apresentam um espao privilegiado de interseo com o pensamento foucaultiano, j que estabelecem uma relao crtica com as verdades estabelecidas, repensando os modos de construo das subjetividades.
64
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Segundo a antroploga Norma Telles, as artes trazem tona possibilidades de percepo sobre o humano que muitas vezes mtodos de investigao racionais e cientficosnodocontadealcanar.
no entroncamento de inmeras veredas, onde os fios de vrias disciplinas se cruzam, enrolam, desenrolam que as criaes culturais adquirem todas as suas significaes e que o imaginrio no corre o risco de ser trancado numa anlise racionalista imvel ou instrumental que asfixiaria sua pregnncia numa lgica mecanicista e linear do social (TELLES, 2008: 116).
Aposturacrticadasartistasaquiabordadaspromoveumdeslocamentono modotradicionaldepensarotrabalhoartstico,namedidaemqueaelaboraodavida ganha destaque. No se trata, ento, de afirmar a identidade do artista, j que simplesmente produzir uma obra no garante ao sujeito um compromisso tico como o aqui destacado. preciso viver artista, atravs de prticas de si que promovam a construo de uma existncia tica e poltica; atravs da feitura de imagens poticas que desejem compor, transformar e inspirar a si e ao outro a fortunas impensadas, a lugaresdecriaodavidaedesimesmoaindainexplorados. Tomar a si mesmo como uma obra de arte a ser formulada, lapidada, pintada em cores ou cantada em sons harmnicos, na Antiguidade fora compreendido comoexpressodetemperanaedomniodesi.Obviamente,estamostratandodeuma chave muito distante da j integrada tradio crist, onde o controle dos desejos, do corpo e das emoes visa reafirmar a prpria inadequao do sujeito perante os desgnios de Deus. o que Foucault identifica como renncia a si na experincia crist, consolidadaapartirdetcnicasdeexamedesi,comoaconfisso.
O homem, no Ocidente, tornou-se um animal confidente. (...) Da tambm [derivou], essa outra maneira de filosofar: procurar a relao fundamental com a verdade, no simplesmente em si mesmo em algum saber esquecido ou em um certo vestgio originrio mas no exame de si mesmo que proporciona, atravs de tantas impresses fugidias, as certezas fundamentais da conscincia. A obrigao da confisso nos , agora, imposta a partir de pontos diferentes, j est to profundamente incorporada a ns que no a percebemos mais como efeito de um poder que nos coage; parece-nos, ao contrrio, que a verdade, na regio mais secreta de ns prprios, no demanda nada mais que revelar-se; e que, se no chega a isso, porque contida fora, porque a violncia de um poder pesa sobre ela e, finalmente, s se poder articular custa de uma espcie de liberao (FOUCAULT: 1999: 59-60).
Emtermosmaiscomunsecorrentes,natradiocristconfessional,vivese sempre o olhar do outro ou adotase esse outro seja ele Deus, o Estado, o mdico, o pai, etc. como aquele que possui a verdade sobre ns e que, portanto, tem mais autoridade e capacidade para definir o que o bom e o correto, assim como o mau e o condenvel. Devese falar de si ao outro, numa operao em que se adqua ao discurso verdadeiroquenoresidemaisemsi. Tratase de um problema sobre a verdade e sua posse, na medida em que os indivduos constituemse norteados por valores morais. Toda uma tradio dominante baseiase nessa impotncia do indivduo perante o deslocamento do eixo da
65
www.unicamp.br/~aulas
verdade para fora de si. Constituirse numa vida bela, nesse sentido, demandaria um questionamento sobre os investimentos que recaem sobre as subjetividades, num movimentoconstantedeempoderamento,emqueasverdadesuniversaispudessemser desmontadas e os indivduos criassem espaos alternativos para a construo de saberes. Pensandopoliticamente,cadavezmaisurgente,ento,umconhecimento situado e incorporado que deixe de lado os pseudouniversalismos e uma viso falogocntrica do mundo. Tratase de ensaiar propostas mais mltiplas e fragmentadas, quetomememcontaadiversidadedeexperinciasculturaisehistricasenoapenasa dosujeitomasculino,brancoeocidentalestandartedosdiscursosverdadeiros. Quais so os espaos na atualidade que imprimem sentidos de transformao experincia? A arte, sem dvida, um desses, ainda que nem toda produo artstica invista em tal proposta. Tradicionalmente, apenas os saberes legitimadospeloracionalismoadquiriremoestatutodeverdade.Ovispotico,emque a arte possui um papel fundamental, oferece certamente inmeras outras propostas para a compreenso da experincia humana. A imaginao artstica, segundo Gaston Bachelard, investe no campo simblico, ao mesmo tempo em que produz, atravs do devaneio e da experimentao, um caminho alternativo para a construo dos saberes (BACHELARD, 2008: 11). Tais caminhos foram dicotomizados pela moderna cincia ocidental, mesmo que em vivncias culturais prximas a ns latinoamericanos, esses saberes estivessem muitas vezes mesclados ou fossem equivalentes, como em diversos grupos indgenas, rabes, africanos e judaicos. Pois bem, o campo das prticas cotidianas, so conhecidos os resultados de tais hierarquizaes, que tendem desvalorizao do sensvel, das expresses artsticas, corpreas ou mesmo aquelas tidas comofemininas.
a arte toma corpo
H em Ana Miguel, Rosana Paulino e Cristina Salgado um espao contundente de reflexes sobre a constituio de si na atualidade. Na contramo da conformidade e do conservadorismo que invadem a indstria cultural e que norteiam inmeras relaes pblicas e ntimas, suas poticas visuais lanam no ar inquietaes e relampejos imaginativos. De grande reconhecimento no terreno das artes, nacional e internacionalmente, as trs artistas possuem trajetrias e opes estticas bastante diferenciadas,mastodaselaspercorremoterrenodasexperimentaes,dasinstalaes edaproduodeobrastridimensionais. IniciamsuascarreirasnomomentodeaberturapolticanoBrasil,nadcada de 1980, em que a redemocratizao coincide com o desejo dos artistas de ousarem caminhos estticos inusitados e experimentao em suportes e materiais. A chamada gerao 80 nas artes marcouse tambm por uma grande exposio realizada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, em 1984, que contava com mais de 100 artistas, entre eles, Ana Miguel e Cristina Salgado. Chamada Como vai voc, Gerao 80?, a exposio foi uma ampla manifestao pblica de artistas e de suas produes, que mobilizou o pblico de maneira indita at ento, num clima de euforia
66
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
perante as possibilidades de mudana que se apresentavam ento no pas (COSTA, 2004:4).51 Passados os anos de desmontagem do regime militar (a chamada poltica de distenso, de 1974 a 1978), os movimentos sociais como o feminismo eram fortalecidos e as mulheres impunhamse como sujeitos polticos, atuando de maneira crtica em variadas reas como a produo cultural, o poder legislativo e a rea acadmica.SegundoapesquisadoraHeloisaBuarquedeHollanda,todoumnovotecido socialvemtonanalutapelodireitocidadania;discutemsenovasformasdepensare fazer poltica, consolidase o debate conduzido pelas chamadas minorias (HOLLANDA, 1991:7). Nesse momento de profundo debate social feminista, essas questes tambm encontraram equivalncia na produo artstica de mulheres como Lygia Clark (19201988), Ana Bella Geiger (1933), Ana Maria Maiolino (1942), entre muitas outras. Artistas ainda mais jovens como Ana Miguel, Cristina Salgado e Rosana Paulino expressam tambm vinculadas a essas preocupaes polticas uma rebeldia contra a condio histrica de submisso das mulheres. Ainda que no se intitulem feministas desviandose de qualquer fixidez identitria diversas artistas incorporam e discutem questes de gnero, como atenta Hollanda. Elas so transgressoras no campo do imaginrio, das prticas e do simblico e produzem arte com um contedo poltico especfico, ao reciclarem imagens da vida cotidiana e da experincia feminina, em campos expandidos da arte. Expandidos porque se situam em zonas instveis entre escultura e objetos; entre vdeo e udio; entre escrita, desenho e gravura; entre fotografiaepintura;entreinstalaoeperformance.Sopropostaspluraisquerompem determinaes ou limites dos gneros artsticos, respondendo mais diretamente s problemticasvividasdoqueaterrenosdefinidos. Ana Miguel, artista carioca, estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, em 1979, e fez inmeros cursos durante sua formao artstica. Estudou paralelamente Antropologia e Filosofia Contempornea na Universidade Federal Fluminense e na Universidade de Braslia e viveu em Barcelona, entre 1991 e 1994eemBraslia.52Atualmente,viveetrabalhanacidadedoRiodeJaneiro. Os trabalhos de Ana Miguel primam pela delicadeza dos detalhes e materiais empregados, como bordados, algodo, l, agulhas, etc. H uma recorrncia das cores branca, corderosa e vermelha, numa composio suave que contrasta com as temticas abordadas, como as crticas culturais, os conflitos polticos e sofrimentos ntimos. Na obra Mm, de 1998, um suti de croch, feito com l na cor bege possui transpassado no lugar do mamilo um dente natural. Esse dente est colado sobre um material semelhante a um dedo, feito de cera na cor vermelha, o que gera um
Embora Rosana Paulino vivesse em So Paulo e no tenha participado diretamente da exposio aqui referida, sabido que esse clima cultural percorria todo o pas, sobretudo reas acadmicas como a USP, em que a artista cursou artes poucos anos depois. 52 Suas obras esto em importantes colees pblicas, tais como Coleo Gilberto Chateaubriand; Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; coleo Cndido Mendes; Museu de Arte de Braslia; Centre de Lectura, Reus, Catalunha e na Seo de Gravura Contempornea da Biblioteca Nacional de Madri. Catlogo da Bienal de So Paulo, 2002. web http://bienalsaopaulo.globo.com/artes/artistas/artista_descritivo.asp?IDArtista=11742
51
67
www.unicamp.br/~aulas
estranhamento do corpo, da prpria amamentao e maternidade. Esse seio tornase ameaador e ativo, onde as representaes naturais entram em suspenso e outros sentidos crticos proliferam. Em Ana, so utilizados elementos comuns e cotidianos, criados atravs de trabalhos manuais femininos, como bordados e costura e essa aparente suavidade, porm, contrasta com um humor corrosivo, que gera assemblages perversas, feitas de l e olhos de vidro, veludo e alfinetes, garras e dentes.53 Cria e molda,atravsdoencontroinusitadodetemticasemateriais,oespaodaintimidadee do corpo, do imaginrio, promovendo uma crtica do empobrecimento da experincia e doscontatoshumanosnacontemporaneidade.
Ana Miguel, M-m, 1998.
A instalao Circulacin, de 19941995, convida a manusear livros com texturas cuidadosamente preparadas, revestidos de acrilon. So bordadas a palavras que se enchem de afectos e de memrias.54 Para tocar na obra, a artista indica que precisam ser colocadas luvas cirrgicas, pois nada deve ser feito sem cautela. Nesse movimentodeimersoformulaseumacompreensomaisampladasconexesentreas
53 54
Cf. Catlogo da exposio Territrio Expandido III, Sesc Pompia, So Paulo, 2001. Para Deleuze e Guatarri, a obra de arte um ser de sensao, composto de afectos e perceptos. Ela cria zonas de indeterminao e de indiscernibilidade entre coisas, pessoas, animais: s a vida cria tais zonas, em que turbilhonam os vivos, e s a arte pode atingi-la e penetr-la, em sua empresa de co-criao (DELEUZE e GUATARRI, 2009: 225).
68
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
palavras e a materialidade dos objetos. Segundo a crtica de arte Marlia Panitz, essa pequena enciclopdia da artista est profundamente mergulhada no erotismo do toque ecadaumpodecomporimagensdesinessecontato(PANITZ,2008:79).Htambmem I Love you, 2000, uma cama amplo colcho branco e macio no cho da galeria e travesseiros que sussurram palavras doces, encantadoras. Sobre ela, esto teias de aranha enormes e vermelhas, que tremem ao serem acionadas, feitas a mo em croch por Ana. As teias e os fios surgem em diferentes obras da artista, remetendo lucidamente s associaes entre o feminino e as aranhas, as fiandeiras, as estrias de Rapunzel. O qu impele o amor? O sublime, no olhar da artista, evoca tambm a complexidade das relaes amorosas, as redes e os ns que entorpecem, fascinam e inquietam.
Ana Miguel, Circulacin, 1994-1995, detalhe.
EmLivro=sonho,2006,precisopausarasexcitaescotidianasepreparar se para mergulhar nos sentidos sutis da obra. Primeiro devese calar pantufas vermelhinhas para entrar na exposio. Existem instrues logo na porta: 1 vista as pantufas vermelhas sobre seus sapatos. 2 deitese na cama. 3 escute seu travesseiro. 4muitocuidadocomosfioseaspalavras.AseroencontradoslivrosdeProust,Kafka, Walter Benjamin, Franois Truffaut, e alguns outros, espalhados ao lado de uma cama cobertaporummosquiteiroetravesseiros.
69
www.unicamp.br/~aulas
Ana Miguel, I Love you, 2000.
Existe uma ligao entre os fios de l vermelha e as palavras que Ana escolhedentrodecadalivro.Osfiossocondutoresdepalavras,sotramasmateriais, mas tambm redes sensveis que unem os livros, os sonhos e os leitos cuidadosamente aconchegantes. Conectam a matria etrea dos sonhos e da poesia, num procedimento que alude a um jogo caapalavras que aparece em algumas obras mais recentes da artista. De uma pgina de Kafka, por exemplo, Ana extrai uma palavra algo que lhe brilha ou reluz. E a sublinha com linha vermelha que perfura o papel. O fio segue percorrendoopisodagaleriaeaolongodofioaartistafixouetiquetasdiminutas(como as que eram usadas para identificar as roupas infantis dcadas atrs e ainda hoje em alguns pases, como a Frana). Nas etiquetas, as palavras extradas do livro foram bordadas. Num movimento peculiar, Ana Miguel tece um imaginrio que combina uma precisa percepo da atualidade e sutis resistncias pela construo de um outro corpo maissensorialemltiplo.
70
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Ana Miguel, Livro=sonho, 2006, detalhe.
RosanaPaulinogravadora,viveetrabalhaemSoPaulo.Entreosanosde 1993e1995,fezestgionoAtelideRestaurodeobrasdeArteemsuportedepapeldo Museu de Arte Contempornea da Universidade de So Paulo MAC/USP. Em 1995, tornouse bacharel em Gravura pela Escola de Comunicao e Artes da Universidade de SoPaulo.TambmfezespecializaoemgravurapeloLondonPrintStudio,emLondres,
71
www.unicamp.br/~aulas
atravs da Bolsa APARTES/CAPES e possui doutorado em andamento em Artes Plsticas pelaECA/USP.55 A artista adentra o campo de discusso do gnero e da etnicidade e trabalha com as imagens de mulheres negras e mestias, por vezes remetendo ao espao domstico e a funes sociais especficas, como a tecel e a operria (FAZZOLARI, 2006). Discute a construo da identidade da mulher negra atravessada pelas condies de trabalho, pelas relaes de poder e pelo preconceito racial. Essa expresso de resistncia aparece fortemente na obra Sem ttulo, 1998, onde cabelos negros, preconceituosamente chamados de ruins, como explica a artista, so colocados sobre bastidores pequenos crculos de madeira cobertos com pano, tpicos para bordado. Abaixo de cada mecha de cabelos, um nome feminino: Dulce, Helosa, Helena, Lilian, Nadir, Alice, etc. A obra faz pensar na massificao da identidade da mulhernegra,reduzidaanomesprpriosetrazotomdoanonimatosocial.Soretratos distorcidos, pois ao invs de rostos, apresentase o que une as mulheres negras no esteretipo da raa. Ironicamente so emoldurados e dispostos como num memorial, mascompostosdepequenotraocorpreo:osfios,ospelos.
Rosana Paulino, Sem ttulo, 1998.
55
Possui obras em variadas colees pblicas, dentre as quais se destacam MAM - Museu de Arte Moderna de So Paulo; Pinacoteca Municipal - Centro Cultural So Paulo; Fundao Cultural Cassiano Ricardo - So Jos dos Campos, SP e Universidade Federal de Uberlndia, MG. Cf. http://www.galeriavirgilio.com.br/artistas/rpaulino.html
72
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Rosana produz gravuras irnicas e intrigantes, por exemplo, em Memento Mori,de2000,ondeumafigurafemininaposademodosensualsobreimagensdeossos. Acima da imagem, vse um carimbo que reproduz em vermelho a afirmao bblica s p. A interveno parece marcar a perspectiva crtica da artista no horizonte dos esteretiposfemininos,sobretudoperanteaobsessocomamagrezaesade.Ironizao carter corpreo e mortal da existncia, sugerindo a banalidade da corrida incessante pela juventude. Amplia, assim, a discusso que permeia variadas de suas obras: a crtica aos padres de beleza contemporneos que submetem as mulheres a rituais sem sentido e despotencializadores. Para Rosana, a arte deve servir a uma problematizao daexistncia:
Rosana Paulino, Memento Mori, 2000.
73
www.unicamp.br/~aulas
(...) tocaram-me sempre as questes referentes minha condio de mulher e negra. Olhar no espelho e me localizar em um mundo que muitas vezes se mostra preconceituoso e hostil um desafio dirio. Aceitar as regras impostas por um padro de beleza ou de comportamento que traz muito de preconceito, velado ou no, ou discutir esses padres, eis a questo (PAULINO, 1997).
J no incio de sua carreira, Rosana produz uma srie composta de imagens fotogrficasantigasempretoebranco,gravuraseescritos,emqueabalaossentidosda domesticidade e os padres de feminilidade estabelecidos. Rainha do lar (1997) e to fcil ser feliz (1995), por exemplo, abordam o caminho imposto culturalmente do casamento e do cuidado com o lar e com os filhos. Suas obras carregam tambm a denncia da realidade ainda mais dura enfrentada pelas mulheres negras, em sua cotidianalutaparadesfazerpreconceitosebarreirasobjetivasesubjetivas.
Rosana Paulino, to fcil ser feliz?, 1995.
74
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Em instalao mais recente intitulada Colnia (2006), a artista apresenta esculturas em terracota de figuras femininas que remetem a organizao de uma colmia composta de rainha, operrias e soldados. Nessa comunidade imaginria de insetos, as figuras possuem inmeros seios que evocam deusas ancestrais ligadas criatividade e a guerra, como Artemis.56 As chamadas operrias, de seus seios saem novelos de fios, metamorfoseando mulheres em bichos da seda. Por outro vis, so
Rosana Paulino, Rainha, Colnia, 2006
56 Refiro-me a uma escultura da deusa grega Artemis (Diana), localizada no Templo de Ephesus (550 a. c.), atual Turquia, e que possui por seu corpo mltiplos seios. Para a cultura helnica, Artemis era a deusa da caa, dos bosques e protetora dos animais selvagens.
75
www.unicamp.br/~aulas
como as abelhas operrias que parecem estar presas s tarefasdo cuidado com a prole, o que imprime obra uma crtica dos papis sexuais. Os soldados apresentam tambm seioseestorepletosdecorrentes,ganchos,pedras,parafusos,tecidoseagulhasqueos aprisionam e imobilizam. Tambm aludem a um lado sombrio da construo das subjetividades: o controle do outro e perpetuao das desigualdades de gnero. A escultura rainha, assim como uma abelha rainha protegida e limitada reproduo ironicamente composta por centenas de olhos incrustados em seu corpo, mas, como afirma a artista, est cega sobre seu papel no mundo. Na realidade, uma grande escrava; como aquelas mulheres que no esto conscientes de seu papel na vida, vivendoapenasparaosoutros(filhos,marido,trabalho,etc.).57 Estacolnianodeixadereconstruircriticamenteoprocessodaescravido e a vivncia brutal da colonizao por negros e negras submetidos ordenao imposta da civilizao branca. Numa resistncia imaginativa aos impedimentos culturais, Rosana investiga em variadas obras essa ligao na ordem do devir entre animais e humanos, entre o mundo dos insetos e a psique feminina. Elabora com franqueza e surpreendente vigor essas vivncias, revisitando o passado colonial e tornandonos sensveisaessasvidasmarcadaspordoresesofrimentosesquecidospelahistriaoficial, masquecotidianamentevibramnoscorposenassubjetividades. Cristina Salgado vive e trabalha no Rio de Janeiro. pintora, desenhista, escultora, gravadora. Estudou desenho e pintura com Roberto Magalhes, Rubens Gerchman e Astrea Al Jaick, entre 1977 e 1978; e litografia com Antonio Grosso, em 1981, na Escola de Artes Visuais no Parque Lage, no Rio de Janeiro, onde se torna professora em 1988. Em 1989, participa do Projeto Quatro Quadros, criando painis para o Centro Cultural Cndido Mendes.58 doutora em Linguagens Visuais, Escola de Belas Artes/ Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ e professora no Instituto de Artes/UerjenoDepartamentodeArteseDesign/PUCRJ..59 Suas obras investem nas intensidades, apresentando corpos fragmentados, povoados por referncias ao universo feminino e masculino. O artista e crtico de arte Ricardo Basbaum, acerca da obra de Cristina Salgado, comenta que aes como fragmentar o corpo, dividilo em pedaos, perfurlo, juntar suas partes de outras maneiras, alterar sua funcionalidade, sua simbologia, fazem parte do procedimento da artista (BASBAUM, s/d). H em seu trabalho dois aspectos marcantes: a cor e a forma orgnica(SALGADO,1991:90). Diversas de suas sries como Nuas (1999) tratam de temas pesados e violentos, como a dificuldade de enfrentar o olhar acusatrio sobre o corpo feminino, atravs do deslocamento de clssicos elementos de seduo como prolas, meias de seda e sapatos de salto alto, misturados com elementos tradicionalmente domsticos como bonecas e camas. A srie As meninas (1993), so esculturas em ferro fundido, de
Rosana descreve essa perspectiva sobre sua obra em seu blog oficial http://www.rosanapaulino.blogspot.com/ 58 Cf. Enciclopdia de Artes Visuais do Ita Cultural. www.itaucultural.org.br 59 Possui trabalhos no Museu de Arte Moderna de Niteroi MAC- Niteri (Joo Sattamini Collection); no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (Gilberto Chateaubriand Collection); na University of Essex Collection of Latin American Art e na Shell do Brasil.
57
76
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
feies e tamanho que lembram bonecas infantis. No entanto, essas figuras foram fatiadas na horizontal e cada uma das partes girou sobre um eixo. O estranhamento imediato,poisossentidosdoscorpossosuspensos,incorporandoumaviolnciaobtusa napercepodafeminilidade.
Cristina Salgado, Sem ttulo, srie Nuas, 1999.
77
www.unicamp.br/~aulas
Cristina Salgado, Sem ttulo, srie As meninas, 1993.
Cristina comenta que em suas pinturas de pequeno formato h ainda mais fortemente esse dilogo com a subjetividade feminina: mulheres nuas ou vestidas, ou parcialmente vestidas; simplesmente expostas ao olhar, com constrangimento ou apenas perplexas na condio de exposio, simultaneamente compulsria e compulsiva(SALGADO,2008:106). Numa conexo com a imaginao surrealista, Cristina cria imagens de corpos fantsticos, contraditoriamente leves e enormes, como em Instantneos (2002), em que se compem elementos femininos, unhas pintadas, bocas sensuais, olhos realistas, subvertendo a compreenso de unidade e integridade das identidades. A artista parece interessarse mais fortemente pelos fluxos, desejos e conflitos que atravessam os corpos, o que se nota em variados guaches e pastis, feitos ao longo de sua carreira. Nestes, braos e pernas nascem de ventres contorcidos, ligandose a bocas monstruosas, mas tambm engraadas como em desenhos animados infantis, que ironizam os pavores social e culturalmente perpetuados acerca da sexualidade e dos
78
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
encontros humanos. Cristina Salgado aborda as imagens que perseguimos conflituosamente que povoam territrios entre os desejos individuais e as construes culturais,entreoespaodeautorepresentaoeasimposiesexternas.
Cristina Salgado, Sem ttulo (Mulher circuito), 1996.
A artista problematiza profundamente os modos de relao da cultura contempornea com as imagens, investigando os procedimentos de legitimao ou ataque s mesmas (SALGADO, 2008: 11). Nesse movimento, aborda suas referncias prprias, como as marcas de uma infncia catlica, discutindo a tradio religiosa iconoclasta. Suas obras mais recentes so esculturas moles, feitas de camadas de tecido sobreposta, em instalaes que evocam imagens de corpos, integrantes do projeto Escultura como imagem, de 2008. O estranhamento e o impensado so propostas constituintes de sua potica, que se filia ao belo sentido da iconofilia - o amor pelas imagens, de uma relao subjetiva que deseja a imagem como companheira de vida e que, fundamentalmente, acredita na visualidade como capaz de deter camadas invisveis (SALGADO, 2008: 13).
79
www.unicamp.br/~aulas
Cristina Salgado, Escultura como imagem, 2008.
As imagens artsticas de Ana Miguel, Rosana Paulino e Cristina Salgado tencionam o territrio das subjetividades na atualidade, sobretudo no que se refere aos conflitos entre a experincia do corpo feminino e a misoginia ainda presente na cultura globalizada. Tais poticas geram deslocamentos conceituais e de valores, desnaturalizandoarelaoculturalmenteestabelecidaentreasmulheres,anaturezaea domesticidade. Nesse prisma, a arte contempornea pode ser mais bem compreendida na interseco com as estticas da existncia, ao evidenciar espaos de liberdade e de resistnciasnormasquepodemsercriadosapartirdaimaginao.Humaimpactante atuao poltica nessas recentes produes que, nas rupturas promovidas com os padresculturais,contestamahierarquizaodosgneros,ousamcaminhosnovospara tratarodesejoereelaboramopassadobrasileirodemodonovitimizado.
- os fios e os ns
Segundo Suely Rolnik, a arte contempornea no Brasil e em outros pases afetadospelasditadurasmilitaresepeloterrorismodeestado,sobretudoapsadcada de1990,passaatrabalharnummovimentodereativaodeforasintensivaspresentes na arte das dcadas de 1960 e 70, abafadas violentamente pelo momento poltico e social (ROLNIK, 2009). Para Rolnik, no se trata apenas de uma reapresentao dessas obras produzidas na contracultura, mas de um desejo de tornar sensvel tais produes, num movimento micropoltico, onde est em jogo sermos afetados pela arte em nossos prprioscorpos. Artistas hoje fortemente relembrados como Helio Oiticica (19371980) e Lygia Clark (19201988) promoveram e continuam a gerar debates frontais s
80
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
inquietaes e tenses vividas, inventando, juntamente com suas obras de arte, novos modosdeexistnciaenovosconceitos.Mudanasnaproduoartstica,principalmente a partir da dcada de 1960, apontam para uma valorizao do processo de criao, sem que este gere necessariamente um objeto de arte. Reapropriaes de objetos, como no readymade duchampiano, criam sentidos outros. As propostas estticas de Lygia Clark, por exemplo, se materializam muitas vezes no prprio corpo do artista ou no contato do espectador com a obra, como o caso de suas ltimas obras, seus Objetos Relacionais.60 So saquinhos de pano, de plstico, com areia e gua; ou canos, conchas e panos, entre outros elementos cotidianos, que Lygia utiliza em suas sesses em seu apartamento/consultrio experimental, em que enriquece as fronteiras entre a arte a clnica.Nessesentido,ocorpopassaaserexploradoradicalmente,tornandosepartedo trabalho em si, um elemento primordial que guarda vestgios do vivido. Hlio Oiticica, com seus Penetrveis, Blides, projetos ambientais, etc., promovia a imerso do espectador em espaos de luz, cores e formas, propondo novas formas de habitao subjetiva do mundo. Com suas capas chamadas Parangols, a arte toma a forma de roupasquesoacorvestidanocorpo.Ocorpoasetornaapinturadepoisdoquadro; eomovimentodocorpoanimaascoresdomundo(CARNEIRO,2004:237).
Desde a formulao do Parangol como programa ambiental Hlio sabe que suas propostas trazem uma nova vitalidade, aberta transformao no espao e no tempo. (...) Por meio de suas obras, Hlio visava atingir, incorporar o outro, dissolver as barreiras das pessoas percepo das coisas, desabitu-las de seu dia a dia. A participao do espectador na realizao das proposies artsticas para Hlio assim tambm como para Lygia Clark e Lygia Pape exerccio de desprogramao e descondicionamento, que tendem a resultar em mudanas de atitude perante a vida. No se trata de conscientizar. (...) Trata-se aqui de inveno de mundos, sem rtulos identitrios que fixem o caminho da experincia, tratase de liberao e expanso de foras sempre novas (CARNEIRO, 2009. web).
As obras so, neste prisma, objetos que carregam uma potncia de diferenciao, que no foram criados para serem simplesmente expostos, mas que dependem da experimentao pelo espectador para realizarem sua tarefa criativa. H toda uma fora de transformao gerada nessas dcadas de 1960 e 1970 que bebida por artistas da nova gerao, preocupados com o reavivamento dessa experincia esttica marcante. Convergncias e traos ticos podem ser encontrados nesse cruzamento.ParaRolnik,
Tais afirmaes tem sentido se entendermos a produo, tanto de conceitos quanto de formas de existncia (sejam elas individuais ou coletivas) como
Segundo Suely Rolnik, Objeto Relacional a designao genrica atribuda por Lygia Clark a todos os elementos que utilizava nas sesses de Estruturao do Self trabalho praticado de 1976 a 1988, no qual culminam as investigaes da artista que envolvem o receptor e convocam sua experincia corporal como condio de realizao da obra1. Incorporada ao prprio nome dos objetos, sua qualificao indica de antemo que a essncia dos mesmos se realiza na relao que com eles estabelece o cliente da proposta da artista (ROLNIK, web).
60
81
www.unicamp.br/~aulas
atos de criao, tal como os que se efetuam na arte. Nessas aes micropolticas, produzem-se mudanas na cartografia vigente. A pulsao desses novos diagramas sensveis, ao tomar corpo em criaes artsticas, tericas e/ou existenciais, as tornam portadoras de um poder de contgio potencial de seu entorno (ROLNIK, 2009: 9).
As poticas visuais so aqui pensadas enquanto propostas alternativas de constituio dos indivduos em prticas mais livres e imaginativas. Podem ser lidas na chave terica das estticas da existncia, na medida em que a arte um dos mais importantes componentes da existncia humana, como elemento funcional (GUATARRI e ROLNIK, 2005). A arte deve servir vida, ativao de nossos corpos, intensificao das experincias. Pois bem, no que Foucault interessouse, seno pelas vidas plenas de significado e trabalhadas cuidadosamente feito obra de arte, definidas como meta existencialaosgregos?
Hlio Oiticica. Blide, Caixa 22, Poema caixa 4, Apropriao, Mergulho do Corpo, 1967.
Toda uma cultura de si nos foi apresentada por Foucault. Uma experincia que prenuncia que preciso preocuparse consigo mesmo objetivando constituirse como indivduo livre, ao invs de anularse violentamente atravs de culpas e ressentimentos. Uma tica do eu, em que o ponto de confronto ao poder est na relaodesiparaconsigo. A arte contempornea, chacoalhando a distncia estabelecida tradicionalmente entre o espectador e a obra, reconhece que o ato de criao est
82
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
intimamente ligado interveno do observador. Tratase de uma perspectiva experiencial da arte, um modo de ver e de submergir na vivncia do corpo, como j convidava Oiticica em Mergulho do corpo, de 1967.61 Outra relao conosco mesmos e com o mundo proposta aqui. No mais a transcendncia a uma suposta verdade que residiriaforadesi,masvibraesdavidamesma,docorpo. Uma proposta de imanncia que tangencia o que Deleuze aborda a partir de Espinosa: ainda no sabemos o que pode o corpo.62 Lygia Clark, Lygia Pape, Hlio Oiticica e muitos outros investigaram esse contato explosivo entre o corpo, a subjetividade e a poltica, em que toda e qualquer cristalizao identitria ou desejo de transcendncianegado(CARNEIRO,2004:105,107).Aproduoartsticadadcadade 1980 em diante anos em que Ana Miguel, Cristina Salgado e Rosana Paulino estabelecem suas carreiras, atualiza de modos variados a radicalidade das propostas estticas dessas dcadas anteriores, priorizando certamente suas urgncias e trilhando caminhos prprios. Desenhamse conexes que investem num olhar crtico sobre as experincias vividas. Sublevamse multiplicidades ou matilhas, como instigam Deleuze e Guatarri, j que no o nome prprio do artista o indicador da fora criativa aqui presente, mas o contgio, a propagao, a ocupao (DELEUZE e GUATARRI, 2008: 20). Nessesentido,osfiosensqueligamessaspoticasvisuaisnopermitemserpensados comocausalidadeouimitao,mascomodeviresqueosatravessam.63
- trabalho escultrico sobre si
As artes de viver, no sentido impresso por Foucault, trazem tona variadas tcnicas de si da Antiguidade que contemplavam a sabedoria prtica da vida, exercitadas amplamente como modo de conduzir a existncia. Trata-se, para o pensador, de conferir formas vida e no de insistentemente buscar uma essncia oculta em si mesmo. Nega-se a projeo de determinaes sociais sobre o indivduo, ao mesmo tempo em que o potencial de criao de si priorizado.
Cristina Salgado desenvolve em 2006 uma instalao intitulada Mulheres em dobras, que consiste em objetos tridimensionais compostos por camadas sobrepostas de tecidos coloridos, tomando a forma de corpos retorcidos. Dentre as esculturas moles, notase uma Maria convulsionada.64 So panos com densidades e texturas diferentes, com cores que remetem aos tecidos corporais, pele; dobrados escrupulosamente pela artista, formando imagens de um corpo em transio. A parte
Numa apropriao de um verso de Ferreira Gullar, Hlio Oiticica produz essa obra. Blide, Caixa 22, Poema caixa 4, Apropriao, Mergulho do Corpo, 1967. 62 Sobre esse tema, Deleuze e Guatarri afirmam No sabemos nada de um corpo enquanto no sabemos o que pode ele, isto , quais so seus afectos, como eles podem ou no compor-se com outros afectos, com os afectos de um outro corpo, seja para destru-lo ou para ser destrudo por ele, seja para trocar com esse outro corpo aes e paixes, seja para compor com ele um corpo mais potente (DELEUZE e GUATARRI, 2008: 43). 63 Devir um rizoma, no uma rvore classificatria nem genealgica. Devir no certamente imitar, nem identificar-se; nem regredir-progredir; nem corresponder; nem produzir, produzir uma filiao, produzir por filiao. Devir um verbo tendo toda sua consistncia; ele no se reduz, ele no nos conduz a parecer, nem ser, nem equivaler, nem produzir (DELEUZE e GUATARRI, 2008: 19). 64 So trs esculturas chamadas Mulheres convulsionadas, sendo que aqui abordo a maior delas.
61
83
www.unicamp.br/~aulas
interna da escultura consiste em dobras assimtricas de tecido, contornada por duas sees mais lisas externas, onde h faixas comprimidas de tecido. Tudo preso por parafusos de metal. A escultura mesma est presa na parede, como que escorrendo impelidapelaforadagravidade.
Cristina Salgado. Maria convulsionada. Srie Mulheres em dobras, 2006.
A obra inserese numa pesquisa terica e prtica bastante ampla, apresentada na tese de doutorado da artista, intitulada Escultura como imagem, de 2008. Cristina Salgado transita por campos disciplinares diversos como a psicanlise, a
84
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
esttica,afilosofiaeahistria,compondoumadiscussoacercadoestatutodaimagem na tradio ocidental. Pesquisa o carter invisvel das imagens mentais, discutindo as tradicionais separaes entre imagem e escultura. Na exposio tambm intitulada Escultura como imagem, posterior a Mulheres em dobras, Cristina arquiteta camadas de carpete sobrepostas, que so efemeramente construdas como escultura sem qualquer material de sustentao. Desmontamse ao serem retiradas do espao expositivo, mostrandoseucartermoldveletransitrio.ParaacrticadearteTaniaRivera,
A imagem no deixa de ser a afirmada, porm ela sofre uma toro fundamental. A escultura se prope como imagem no espao, dispensando a presena do suporte que a definiria como imagem. A imagem brota do cho, do inorgnico, do industrial. Brotaria talvez do nada, assim como um vaso se faz pelo vazio que o esculpe de dentro, no exemplo que Lacan retoma de Heidegger. Escultura como imagem desdenha o plano no qual poderia se afirmar como representao, para apresentar-se em sua fora de matria. Ela no chega a dispensar o plano, a superfcie, mas o retorce e dobra sucessivamente, com determinao, at torn-lo diretamente matria apresentada, volume no espao (RIVERA, 2008. web).
A artista trabalha amplamente sobre a figura humana, em muito perturbando a anatomia e criando formas prximas a abstraes, dando nfase aos desejos vorazes e sentidos corporais. O emaranhado de tecido inmeras peles, rugas e dobras criadas por Cristina Salgado nos incitam a experimentar a vibrao dos corpos, a energtica presente e pulsante na imagem, tensionada pelo ritmo regular criado pelas camadassobrepostasdetecido. Ao mesmo tempo, a escultura Maria convulsionada remete a um corpo feminino de uma Maria cotidiana e ordinria, o que nos indica que Cristina Salgado est desviandose do campo escultrico de representaes ideais, confrontandonos com um corpo em convulso, em intensidade pura. No uma percepo de um fsico belo como poderia ser criada pela virtuosidade do escultor, mas uma ruptura subjetiva dada pela relao imediata entre nosso corpo e a imagem uma sensao, em linguagemdeleuziana,capazdenosfazerestranharaaparentetranqilidadedoscorpos (DELEUZE, 2007). Uma provocao de tornarse subjetivamente e poeticamente mltiplo: h zonas de escape nesse corpo tomado precisamente num corte longitudinal cirrgico:pelonus,pelavulvaepelaboca.Soreasabertas,ondeasdobrasdeforase abrem e por onde irrompe o corpo convulsionado, no emoldurado, no controlado. Isso nos deixa entrever que no se trata apenas do jogo entre o interior/exterior do corpo, mas de campos intensivos que o habitam. So como zonas de indiscernibilidade ou as zonas esfumaadas salientadas por Deleuze em sua Lgica da Sensao. Espaos em que o animal e o humano se confundem, por onde o corpo todo parece querer escapar(DELEUZE,2007).
85
www.unicamp.br/~aulas
Cristina Salgado. Mulheres em dobras. Vista da exposio, 2006.
EssaMarianocontaumahistria,nemmesmorepresentaumcorpo,ela est isolada em sua estranheza e isso cria toda uma potncia de diferenciao. Para Cristina, a obra tambm resulta de um questionamento sobre o uso das imagens na cultura crist, remetendo a uma madre coberta com seu manto. No lhe interessa reiterar qualquer carter dogmtico, mas investigar o impacto subjetivo de tais figuras, pois, como ela mesma afirma, a construo das trs Marias no previu qualquer conotao religiosa, e sim a sempre presente questo da memria corporal, da viso de peles e dobras (SALGADO, 2008: 155). A monstruosidade de um rosto completamente deformado pelo tecido, mas que carrega certa suavidade e doura duplicidade apreciada pela artista. Para ela, a imagem sugere uma santa, uma mulher com vu, com a cabea levemente inclinada em posio de enlevo mas interiormente convulsionada(SALGADO,2008:156). Em suas obras, Cristina Salgado investe nessas imagens conflituosas dos corpos, que em sua conformao mostramse avessas s organizaes biologizantes, s identidades sexuais e s categorizaes racionais. Irrompe delas um corpo vibrtil, comoafirmaRolnikcapazesdenosimpeliraexpressesesensaesarrebatadoras,
O corpo vibrtil a potncia que o corpo tem de vibrar a msica do mundo, composio de afetos que toca viva voz na subjetividade. A consistncia subjetiva feita dessa composio sensvel, que se cria e recria impulsionada pelos pedaos de mundo que nos afetam. O corpo vibrtil, portanto, aquilo que em ns ao mesmo tempo dentro e fora: o dentro
86
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
nada mais sendo do que uma filtragem seletiva do fora operada pelo desejo, produzindo uma composio fugaz (ROLNIK, 1989:72).
- habitar lugares impensados
Ana Miguel. I miss you, 2002.
H um ponto nodal na perspectiva nietzscheana de esttica da existncia. No se trata de uma viso de belo, mas de um trabalho sobre si que seria inspirado nos procedimentos dos artistas, de se tornar um mestre de si mesmo. Colocase, assim, a existncia na categoria de uma obra de arte. As obras de Ana Miguel so diretamente ligadasquestodosujeito,aconstituiodesi naatualidade, marcandoum espaode reflexoalternativosobreocorpoeaintimidade,queconvergeparatalpropostatica. AnaMiguel criamquinasfantasmticasquenostransportamparamundos reaiseimaginrios.Em2002,emsuaexposioImissyou,algumasdaspeasconsistiam no que artista intitulou de mquinas de audiotransporte, sugerindo intrigantes modosdehabitaroespaodocorpoedaafetividade. So espcies de capacetes, lembrando casulos ou mesmo cpsulas, feitos de plstico e recobertos por um veludo muito bonito, macio e branco; um croch em l que conforta e envolve o visitante que os veste em mistrios. Em 2006, Ana apresenta novamente essas construes eletrnicas, agora numa instalao intitulada Rosa
87
www.unicamp.br/~aulas
Morada,em queosobjetosrecebemacorrosadacomoacarne,segundoaartista,para criar mais fortemente o sentido da casa como corpo. Tratavase ento do projeto Moradias Transitrias, uma iniciativa do Sesc So Paulo, que reuniu diversos artistas em tornodotemadoespaoedatransitoriedade.
Ana Miguel. Rosa Morada, 2006.
Esse casulo para a cabea est ligado auma espcie de mochila, que possui o mesmo material, por meio de fios que tambm se conectam ao teto. Os visitantes interagem com esses objetos, os vestem e os experimentam, adentrando um espao tempo de sussurros e rudos dissonantes, gravados por Ana, que so reproduzidos no interiordoaparelho. Comoumabrigo,umamoradaumlugardeviveroudeconviver.Umlugar que oferece um cuidado especfico, como na intimidade da casa. Em Ana, preciso fechar os olhos para ver, como abordou Marlia Panitz, e para entrar numa experincia de escuta de uma linguagem sem palavras (PANITZ, 2008). Em Rosa Morada, assim como nos Objetos Relacionais de Lygia Clark, ao espectador proposto mergulhar corporeamente no processo artstico. Caminhos de foras que compem sentidos atravs do contato. Ao ser inoculado pela obra, um estranhamento das percepes cotidianasrealizaseeoutrossaberesesensaespodemserproduzidos. Esseenvolvimentoprofundoentreaexperimentaodaobraeaapreenso do espectador compe, falando mais amplamente, grande parte da criao artstica do
88
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
sculo XX. H, porm, um apuro ainda mais consistente na produo de Ana Miguel em queaartistapareceprepararoespaoparaqueseadentrenummundooutro. Assemelhase a Lygia Clark e suas Mscaras sensoriais (1967) compostas porculos,caracisnosouvidoserevestimentosde texturasdiferentesqueindicavam esse micromundo sensorial de cheiros, cores e sons diversos, onde cada um poderia entrar num mundo isolado de sensaes diversas (CARNEIRO, 2004: 58). Segundo a pesquisadora Beatriz Carneiro, verdadeiros capacetes eram vestidos na cabea, no como camuflagem ou disfarce, mas para permitir a concentrao do usurio em suas sensaes tteis, olfativas, auditivas e visuais. Possibilitava tanto se sentir integrado a um mundo amplo quanto totalmente isolado em suas sensaes (CARNEIRO, 2004: 111).
Lygia Clark. Mscaras sensoriais, 1967.
Nesse mesmo percurso, pareceme que Ana questionase sobre a possibilidade de nos transportarmos a outras zonas de sensibilidade, sempre causando deslocamentos subjetivos por meio da sutileza e da raridade de sua imaginao criadora. Para aqueles que vem a obra de fora, tambm h uma potica misteriosa flutuando no ar: indivduos absortos em pensamentos e em mundos interiores, sendo levados por mquinas sonhadoras, utpicas ou mesmo heterotpicas, utilizando Foucault.65 Nessa enigmtica estria, somos instigados a fantasiar sobre como seria adentrarumarosamorada,ntimaesecreta,queestivessesempreaoalcancedasmos, capazdenoslevaralugaresimpensados?
65 Beatriz Carneiro, acerca do conceito Heterotopia de Foucault afirma que ele define espaos especficos que se situariam dentro dos espaos sociais cotidianos, com funes diferentes destes e muitas vezes opostas, espaos onde se reuniriam resqucios de vrios outros espaos e tempos formando um conjunto que se deslocaria do cotidiano, permitindo experincias paralelas diversas. (CARNEIRO, 2004: 40)
89
www.unicamp.br/~aulas
Uma morada um ethos, no sentido primordial da palavra grega um modo de viver e de constituir relaes com os demais e com o meio. E a construo de uma morada, como aponta Carneiro, no se afasta, deste modo, da proposta da construo de si (CARNEIRO, 2004: 245). As artes plsticas so tambm tcnicas de si que incitam transformao, como esclarece Foucault. Afinal, questiona ele: porque um pintor trabalharia se no fosse para ser transformado por sua pintura? (FOUCAULT apudCARNEIRO,2004:21).
- falar francamente da escravido
H em obras de Rosana Paulino elementos que fazem pensar no cinismo antigo (a postura crtica em relao cultura, o falar francamente), como abordado por FoucaultemLeCouragedeLaVerit.LegouvernementdesoietdesautresvolII.Apartir dos cnicos, divergindo da apressada apreenso contempornea da falsidade a eles atribuda, o autor abre um campo de problematizaes sobre a prtica da coragem da verdade,ouseja,aposturadedizerasuaprpriaverdade,sobretudoquandotalatitude tica implica em perigo e em confronto direto ao poder (FOUCAULT, 2009: 248). Uma vida radicalmente outra deveria emergir do compromisso com a vida verdadeira, o chamado escndalo cnico, que tem por objetivo uma transformao das atitudes moraise,aomesmotempo,doshbitosedosmodosdeviver(Idem:258).Essatradio poltica e tica retomada por Foucault, que mostracomo a militncia revolucionria, a partirdosculoXIX,atualizaessecarterderupturacomoinstitudo. O combate cnico postura crtica em relao aos costumes, convenes, instituies, leis e contra um certo estado de humanidade, como afirma Foucault, ganha para os gregos a forma de uma atitude visceral e agressiva que pretende a modificao, no apenas de si mesmo, mas da prpria humanidade (FOUCAULT, 2009: 258).Arelaocomaverdadereside,ento,noindivduoenoforadeleeocuidadode si referese diretamente a um cuidado com o mundo (RAGO, 2009). Esse deslocamento observado por Foucault emite ecos para pensarmos em estilos de vida que compreendem esse confronto ao poder na atualidade, como expressos na potica de Rosana Paulino. Aproximao valiosa, sobretudo, se atentarmos, como destaca Margareth Rago, que para a militncia filosfica cnica a verdadeira atividade poltica no se encontra na discusso de temas como a guerra e a paz, os impostos, taxas e rendas da cidade, mas na considerao de temas essenciais como felicidade e infelicidade,boaemfortuna,servidoeliberdade(RAGO,2009). Para Rosana, sua histria pessoal trouxe a experincia necessria para que ousasse romper o silncio que ronda o impasse da escravido africana e do preconceito racial ainda no Brasil de hoje. Uma histria de opresso de toda uma cultura onde os corpos e os desejos foram recalcados em nome da racionalidade masculina, branca e ocidental.Poucosefaladaexploraodoscorposdasescravas;dofatodequeahistria da colonizao tambm a triste memria de um estupro coletivo. E seria dissonante pensarquetaismarcasehumilhaesnoresidemaindaemnossoscorposdenegros, de mulatos, de mulheres violentadas, de quase brancos marginalizados e pobres: quase todospretos,comobemdiriaCaetanoVeloso.
90
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
A artista traa paralelos ao longo de sua produo visual entre a histria da escravido, a violao dos corpos femininos e a constituio das subjetividades na atualidade, sobretudo das mulheres negras, que vivenciam mais duramente as arbitrariedades da cultura patriarcal. Em instalaes recentes como Amasdeleite (2008) e Da memria e das sombras: as amas (2009) surgem imagens impactantes dessasvidas,numparadigmaentreaescravidoeocuidado(quemsabe,afeto?)comos filhos de seus algozes. Afinal os bebs, ainda no peito, so incapazes de sustentar pensamentos doentios e autoritrios. Essa complexa rede de sensaes e significados culturaisemergeacidamentedasimagensdeRosana. Amasdeleite torna sensvel a compreenso de como os corpos das mulheres negras escravizadas compunham relaes de submisso/amor/contgio com os das crianas brancas. Nessa instalao, gravuras da artista so impressas em tecido. Elastrazemimagensde mulheresnegras,figurasgravadasempreto,quereconhecemos a partir de adereos nos cabelos e no modo de carregar as crianas nas costas, comum em algumas tribos africanas e tambm no Brasil colonial. Dos seios dessas mulheres, saem fitas brancas de cetim espcie de fluxo do leite alimento nutrio, que esto aos poucos preenchendo garrafas. Essas fitas longas descem em direo ao cho, onde encontram com garrafinhas de vidro transparente, que esto tambm cheias de fragmentosdefotografiasdecorposdemulheresecrianas.Nopodemosveraocerto, mas a composio ganha o sentido de um elo profundo entre essas vidas femininas submetidas aos desmandos dos senhores e a memria dos corpos hoje, ainda marcados poressemesmoconstrangimento.
Rosana Paulino. Amas-de-leite, 2008.
91
www.unicamp.br/~aulas
Instalaes artsticas muitas vezes desestabilizam a ligao entre os corpos e o espao e alteram a maneira como os indivduos percebem essa relao cotidianamente estvel. Mas os espaos, bem sabemos, so tambm alicerces da memria individual e coletiva, carregando afetos, estrias e imagens muito antigas. Na exposio Da memria e das sombras: as amas, Rosana inicia um projeto de ocupao dos espaos, montando uma exposio numa senzala preservada no subsolo de um casaro colonial, em Campinas.66 H uma desorientao fsica, um incmodo no mnimo,queseexperimentaaoentrarnumlugarcomoesse.Aospoucos,mesmocoma pouca luminosidade escolhida para a exposio, nos aproximamos das paredes para ver que nelas existem pequenos sulcos, de onde saem mos. Foram moldadas em pedaos de couro e esto espalhadas pelas paredes. Num procedimento similar instalao As amas, j mencionada, dessas mos saem fitas, fitilhos muito brancos, que at chegam a brilharemmeiopenumbra.Asfitasconectamseapequenosobjetos,umaassemblage feita de vidro redondo e cncavo, cera, ptalas e fotografias de corpos fragmentadas, rasgadas e recortadas. So como relicrios constitudos por essa ligao com o passado escravocrata. Carregam a poesia presente em momentos de renascimento e de valorizaodahistriaindividualecoletiva.
Rosana Paulino. Da memria e das sombras: as amas, 2009. Fotos Celso Ricardo.
66
Casaro colonial do Parque Ecolgico Monsenhor Emlio Jos Salim, Campinas SP.
92
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Rosana Paulino. Da memria e das sombras: as amas, 2009. Fotos Celso Ricardo.
Essasamassointegralmentesuasmos,queevocamotrabalhoescravo,o servio e tambm o afeto, o toque. So receptivas, esto surpreendentemente postas em gesto generoso, oferecendo laos e fios que indicam caminhos e impresses. A dualidadepresentenaimagemaomesmotempo sombriaeacolhedorainstigaauma revisita dos lugares da memria em nosso tempo. Passamos a um interesse singular por essasestriasapagadas,aperguntarquemforamessasmulherescapazesdedoaremse; vidasqueganhamressignificaopoticapelaprecisodoolhardeRosanaPaulino. Essas obras tambm no deixam de promover uma problematizao sobre a constituio de indivduos livres, sacundindo a poeira de memrias quase adormecidas, ressignificando a experincia da dor e da submisso e, ao mesmo tempo, trazendo tona relampejos e instantes belos, mesmo em sua pequenez, diante do poder. So singelas e insistentes resistncias, estas promovidas por Rosana, mas que carregam a coragem de falar francamente das incongruncias e crueldades que compemsubjetividadesautoritriasnosdiasdehoje.
- fabulaes de si
Numa aproximao com o pensamento de Foucault, conexes entre as artes visuais e a tica, os estilos de vida antigos e a criao de si mesmo ganham forma. As artistas aqui contempladas geram debates sobre as subjetividades na atualidade, contestando as tradicionais prticas misginas e racistas que as permeiam. O que potencializaavidanessasproduesartsticas,muitasvezes,acapacidadedeproduzir
93
www.unicamp.br/~aulas
estranhamentos perante o cotidiano, a desnaturalizao de categorias binrias e suas ferozes crticas cultura. Perante o empobrecimento subjetivo, tico e poltico que se estendepordiversossegmentossociais,obrasartsticascomoasdeAnaMiguel,Cristina SalgadoeRosanaPaulinosoalternativasenriquecedorasparaopensamento. Inventoras de possibilidades de vida, produtoras de sensaes sempre novas, flutuam em regies fronteirias da potica e do ethos. Acerca da estagnao de sentidos sobre o eu, indagam pelos modos de criar subjetividades mltiplas e relaes com o outro que no se norteiem mais pelo olhar amedrontador das confisses e ressentimentos cristos. Utilizam de ironia e humor, formulando um olhar penetrante sobre o cotidiano e tambm sobre a histria do pas, marcando um posicionamento de confrontoaopoder. A meu ver, a esto marcadas variadas confluncias entre as prticas artsticascontemporneasdemulhereseosmodosdeexistnciacomoumaticadoeu, sobretudo se atentarmos para as possibilidades de configurao de si que a se apresentam,dotadasdeumdinamismoprprio.ParaSchmid,
A tica da conduo da vida e da prxis da liberdade substitui a moral, que foi imposta ao indivduo a partir de uma instncia codificadora, seja ela Igreja ou Estado. Na concepo desta tica, fala-se bastante em responsabilidade e em experimentao [Versuch], mas no em culpa, que o conceito central da moral crist. Podemos acrescentar outros conceitos: veracidade, honestidade intelectual, autoconhecimento (no sentido dos antigos), autocrtica, auto-superao: o eu [Das Selbst] est no centro desta tica, assim como a aptido para a transformao de si prprio (SCHMID, 2007: 48).
No se pode, hoje, prescindir de relaes mais libertrias consigo e, conseqentemente,daformulaode crticassverdadesproclamadas.Nocampodo pensamento feminista, esse desafio e insurreio contra os regimes estabelecidos tm um frescor indispensvel. Num exerccio permanente de cuidado consigo mesmo, precisoconfiguraravidaemrelaesmaisestetizadasefrutferas.Aspoticasvisuaisde Ana Miguel, Cristina Salgado e Rosana Paulino propem esta constante produo de diferenasedefabulaesdesi. Nesses fragmentos recortados, cruzando produes artsticas contemporneas e a perspectiva da filosofia da diferena sobre a antiguidade, busquei aqui percorrer a inveno de novos sentidos ticos no presente. Como afirma Norma Telles, a sensibilidade moderna indo ao encontro da sensibilidade antiga, atravs de milnios, para reclamar uma herana perdida e trazla de volta de modo a que possa nosajudaraimaginarumnovofuturo(TELLES,2008:123).
Referncias Bibliogrficas
BACHELARD,Gaston.Apoticadoespao.SoPaulo:MartinsFontes,2008. BASBAUM, Ricardo. Humana/inumana, texto crtico disponvel no site oficial da artista www.cristinasalgado.com
94
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
CARNEIRO, Beatriz. Relmpagos com claror. Lygia Clark e Hlio Oiticica, vida como arte. SoPaulo:Imaginrio/Fapesp,2004. __________ A inveno da vida como obra de arte: o anarquismo em Hlio Oiticica, web, s/d, disponvel em http://www.nusol.org/agora/pdf/beatrizsciglianocarneiro.pdf, acessoem20/12/2009. CatlogodaexposioTerritrioExpandidoIII,SescPompia,SoPaulo,2001. COSTA,MarcusdeLontra.Osanos80:umaexperinciabrasileira.TextoparaoCatlogo Ondeestvoc,gerao80?RiodeJaneiro:CentroCulturalBancodoBrasil,2004. DELEUZE,Gilles.Lgicadasensao.RiodeJaneiro:Zahar,2007. __________ e GUATARRI, Flix. Mil Plats. Capitalismo e esquizofrenia, vol. 4. So Paulo: Ed.34,2008. __________eGUATARRI,Flix.Oqueafilosofia?RiodeJaneiro:Ed.34,2009. FAZZOLARI, Cludia. Da estratgia ficcional/da potica visual para o gnero feminino na contemporaneidade: Carmen Calvo, Rosngela Renn, Rosana Paulino e Ana Prada. In. AnaisdoSeminrioInternacionalFazendoGnero7,2006. FOUCAULT, Michel. Histria da Sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edies Graal,1999. __________AAticadocuidadodesicomoprticadaliberdade.In.DitoseescritosV tica,sexualidadeepoltica.RiodeJaneiro:ForenseUniversitria,2006,pp.264287. __________ B Uma esttica da existncia. In. Ditos e escritos V tica, sexualidade e poltica.RiodeJaneiro:ForenseUniversitria,2006,pp.288293. __________CAescritadesi.In.DitoseescritosVtica,sexualidadeepoltica.Riode Janeiro:ForenseUniversitria,2006,pp.144162. __________ Le courage de la vrit. Le gouvernement de soi et des autres. Vol. II. Paris: Gallimard/Seuil,2009. GUATARRI, Flix e ROLNIK, Suely. Micropolticas, cartografias do desejo. Rio de Janeiro: Vozes,2005. HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Uma questo de gosto. Texto para o Catlogo Quase Catlogo2.ArtistasPlsticasnoRiodeJaneiro19751985.UFRJ:RiodeJaneiro,1991. PANITZ, Marlia. Ana Miguel. Uma imagem... um segredo contado ao p do ouvido. RevistaMaquete.Dezembrode2008.7479.Braslia. PAULINO,Rosana.TextoparaCatlogodoPanorama97.MAM:SoPaulo,1997. RAGO,Margareth.Escritasdesi,Parrsiaefeminismos,2009,noprelo.
95
www.unicamp.br/~aulas
RIVERA, Tania. Escultura como imagem de Cristina Salgado, texto crtico disponvel no siteoficialdaartistawww.cristinasalgado.com,acessadoem12/12/2009. ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental. Transformaes contemporneas do desejo. So Paulo:EstaoLiberdade,1989. __________ Lygia Clark e o hbrido arte/clnica, Percurso Revista de Psicanlise, Ano VIII, n 16: 4348, 1 semestre de 1996. Departamento de Psicanlise, Instituto Sedes Sapientiae,SoPaulo. __________FurordeArquivo,2009,noprelo. __________ Breve descrio dos objetos relacionais, web, s/d, http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/descricaorelacionais.pdf, acessoem20/12/2009. SALGADO, Cristina. Escultura como imagem. Tese de doutorado em Linguagens Visuais. ProgramadePsgraduaoemArtesVisuais.RiodeJaneiro:UFRJ,2008. __________ Entrevista. HOLLANDA, H. B. (org.) Catlogo Quase Catlogo 2. Artistas PlsticasnoRiodeJaneiro19751985.UFRJ:RiodeJaneiro,1991. SCHMID, Wilhelm. Dar forma a ns mesmos. Sobre a filosofia da arte de viver em Nietzsche.RevistaVerve,n12:4464,2007.NuSol,PUCSoPaulo. TELLES, Norma. Fios comuns. Revista Estudos de Literatura Brasileira Contempornea, QuestesdeGnero,n32:115125,Julhodezembrode2008,Braslia.
96
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Gilda e a arte da existncia
Maria Igns Mancini de Boni67 Resumo
EstetextoabordaahistriadeRubensAparecidoRinqueouGildaqueviveuemCuritiba (1970/1983) e sempre foi visto como um ser excntrico, folclrico e louco. Longe de vlo dessaforma,pensaravidadeGildaacompanhadadeFoucaultpermiteaabordagemde suavidacomoartedaexistncia.Suasexualidadeparadoxal,seujeitodetrataraspessoas de forma direta e franca mesmo correndo riscos como o de ser maltratado no apenas verbalmente como tambm fisicamente,inclusive pela policia, permite mostrar como essa personagem recriou sua trajetria que pode ser percebida como tcnica de subjetivao, num processo de inveno de um novo modo de existir. Moldou sua vida a partir de critriosprpriosquedemonstravamseucompromissoticocomopresentequevivia.
Palavras-chave
artedaexistncia,subjetivao,tica,preconceito,Curitiba
67
Professora do Curso de Histria da Universidade Tuiuti do Paran
97
www.unicamp.br/~aulas
98
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Gilda and the art of existence
Abstract
This text touches upon the history of Rubens Aparecido Rinque, aka Gilda, who lived in Curitiba and was always seen as an eccentric, folkloric and insane person. Far from addressing him this way, thinking the life of Gilda in the light of Foucault allows an approachofhislifeasanartofexistence.Hisparadoxsexuality,hisstraightandfrankway ofrelatingtopeople,atriskofverbalandphysicalabuseevenfromthepoliceallowsusto show how this character reinvented his path that may be understood as a subjective techniqueinaninventionprocessofanewwayofliving.Hemoldedhislifebasedonhis owncriteriathatshowedhisethicalcommitmentwithhislivingpresent.
Key-words
artsofexistence,subjectivition,ethic,prejudice,Curitiba
99
www.unicamp.br/~aulas
100
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Gilda em traje de festa
Fotgrafo desconhecido. Gilda em traje de festa. [198-].1 fotografia P&B, 15/20. Acervo do Museu da Imagem e do Som. Gov.Pr.
Curitiba, capital do Paran, cultivou sempre uma imagem de cidade pacata e ordeira, considerada por muitos provinciana e conservadora. Sempre tratou seus momentos de crise como causados por elementos externos e estranhos sua ndole. Assim foi com o adensamento populacional e os problemas urbansticos do incio do sculoXX,atribudosaograndecontingentedeimigrantesaquiaportados;assimfoicom a greve de 1917, provocada por imigrantes anarquistas; com a gripe espanhola, trazida deoutrasplagas.Assimtambmcomosmovimentosurbanosdadcadade1950,como a greve da carne, provocada pelas mulheres comunistase trabalhadores migrantes que para aqui se deslocaram para o espetculo dos andaimes que foi a preparao para a comemorao do centenrio de sua emancipao poltica. A soluo para esses entraves seria um governo forte, conservador e defensor da ordem. No por acaso o
101
www.unicamp.br/~aulas
candidato Plnio Salgado, do PRP (Partido da Representao Popular), foi o mais votado para presidente do pais em 1955, na capital dos paranaenses, que tambm confirmava sua conservadora viso de mundo, ao permitir, na dcada de 1960, que o Movimento TFP (Tradio, Famlia e Propriedade) ganhasse as ruas para defender uma sociedade organizada sob preceitos cristos e baseada em um governo forte o suficiente para impor a moralizao social, aqui vista, como ensina Foucault como um conjunto de valores e regras que so propostos aos indivduos e aos grupos, de maneira mais ou menos explicita, por diferentes aparatos prescritivos (a famlia, as instituies educativas,asigrejas,etc).(Foucault,1984:26).68 A partir dos anos 1970 a cidade vai sofrer novo surto de remodelao urbana, como outros que j haviam ocorrido desde a virada do sculo XX, mas que traz em seu bojo uma tentativa de transformla em uma cidade moderna, no autntico modus vivendi urbano e burgus, exemplo para outras cidades do pais, numa nova ordem poltica. A histria dessa remodelao teve inicio ainda na dcada anterior quando os eventos de 1964 encontraram uma cidade tipicamente classe media, apesar do expressivo contingente universitrio, uma vez que no havia universidades no interior do estado; contudo esses universitrios no tiveram fora para mudar a sociedadequecontinuavaconservadoraeprovinciana. Adotandoopropsitodeviveramodernidadecomo
Um tipo de experincia vital experincia de tempo e espao, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida- que compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo hoje.( Berman, 1986:15)
... o ento prefeito Ivo Arzua Pereira, em 1965 cria o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) com o objetivo de planejar, ordenar e orientar o crescimento da cidade, que possua uma populao de 609.026 habitantes (IBGE, 1983) echamaojovemarquitetoJaimeLernerparacoordenaroPlanoDiretordaCidade.Para adequarse ao momento poltico, Jaime Lerner filiouse a ARENA e em 1971 foi indicado comoprefeitobinico.NacontinuidadeJaimeLernerfoiindicadonovamenteem1979e eleitoem1989.(Roncaglio,2000) A Cidade Sorriso como era denominada pelos seus prprios habitantes, comea a passar ento por alteraes fsicas que transformaro suas feies. Mas estas novas feies, segundo Santos, ocultam cidades que demarcam diferentes momentos de sua historia, embora uma memria oficial encarreguese de conservar alguns marcos do passado. (Santos, 1998:79) As alteraes propostas visavam a construo de uma urbe que transformasse a velha Curitiba provinciana em uma cidade moderna, voltada paraosculoXXI,acidademodelodeumBrasilvivel. A cidade cresce e o crescimento populacional intenso, vem acompanhado do aumento da violncia, da pobreza e da favelizao de grandes regies. No entanto, criase uma imagem de capital de Primeiro Mundo, baseada em uma intensa campanha de mdia. Novos cognomes so acrescentados aos j existentes, Capital Modelo, Capital Planejada, Capital Europia, Capital de Primeiro Mundo, atravs deumabemsucedidacampanhadecitymarketing(Sanchez,1977).Vaiseimprimindo
68
A TFP coletava assinaturas contra a Lei do Divrcio, em defesa da famlia crist.
102
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
uma imagem de cidade que, mesmo sendo pensada para as camadas mdias da populao, tomada como sendo para todos. Sanchez observa ainda, um planejamento urbano que se organiza a partir de um projeto de ordenamento social, onde as populaesmigrantes,queacorremparaaCapitalemconseqnciadoxodoagrcolae pela propaganda de cidademodelo, encontram uma poltica urbana que no estava preparada para receblas, e que levaas a buscar o entorno da Capital como opo de moradia. (ibid). Para esta nova urbe, a autora cunha o epteto cidade espetculo, uma cidademarca,vendvel,ummodelodeordemecivilidade. Retomase a idia de uma Curitiba, ordeira, com sua populao branca, de origemeuropia,disciplinadaetrabalhadora,umBrasilDiferente(Martins,1955)69 No entanto, apesar do crescimento do nmero de habitantes, a vida curitibana resumiase nesta poca Rua XV de Novembro onde tudo acontecia, e Avenida Luis Xavier, espao que vai ser conhecido como BOCA MALDITA, pela pretenso de ser uma tribuna livre,de discusses polticas nacionais, estaduais e urbanas. As mudanas comeam por ali, quando recuperase o antigo nome de Rua das Flores e a via transformada em um calado apenas para pedestres, onde at bicicletas foram proibidas, ( para estas foram construdas as ciclovias), e num espao de diversasquadrasaruarecebejardineirasfloridasequiosquesdevendadeflores. As trs gestes de Jaime Lerner foram pautadas por obras que revolucionaram a arquitetura dos edifcios. Construiu um sistema virio com canaletas exclusivas para nibus expressos, estaes tubo, sistema nico de passagens, ciclovias que cruzavam a cidade. Limpou e alargou ruas, melhorou a coleta de lixo, instituindo a coleta seletiva. Converteu uma velha pedreira em local de espetculos, ao qual deu nome do poeta Paulo Leminski. Recuperou o antigo Paiol de Plvora transformandoo em teatro. Velhos nibus foram usados nas Linhas de Oficio, revitalizou praas e espalhou parques pela cidade. Edificou a Opera de Arame, no meio da mata, bela no visual mas ruim de acstica; criou o Jardim Botnico. No Centro Histrico instalou o Relgio das Flores, que constitudo de flores da estao, ao marcar o tempo curitibano tambmmarcaseusatrasoseparadas,parecequeinspiradoemsuasociedade. A Cidade Sorriso recebe novos cognomes como Cidade Modelo; Cidade Laboratrio; Capital Ecolgica. A classe media foi ao delrio, pois deixavase para traz o complexodecomarcesqueacompanhavaoscuritibanos.70 Poroutrolado,comoditoacima,apropagandaaliadaaoxodoruraltrouxe para a cidade grandes levas de migrantes, formando vrios pontos de favelizao atingindoacifradeummilhodehabitantes,segundooIBGE. Mas, se a classe media exultava de satisfao, vozes dissonantes se faziam ouvir no apenas em oposio ao prefeito, mas tambm idia de que a sociedade se modernizava. Escritores, crticos, poetas e jornalistas, como Wilson Martins diziam ser Curitiba classe mdia em tudo, ou ainda Dalton Trevisan que lamentava a nova Curitiba,enfeitadacompontosdenibuscobertosdeacrlicoazulequiosquesdeflores,
Livro publicado em comemorao ao Centenrio da Emancipao Poltica que enaltece a presena branca do imigrante no Paran, diferenciando-o de outros estados. 70 Expresso cunhada pela historiadora Altiva Pilatti Balhana. Assim como provincia, crcere, larremete ao escritor Dalton Trevisan.
69
103
www.unicamp.br/~aulas
populosa, fantasiosa e irreal, apesar das chuvas persistentes, uma de suas caractersticas.
Curitiba Revisitada Que FIM cara voc deu minha cidade a outra sem casas demais sem carros demais sem gente demais Senhor sem chatos demais ... Quem sabe at uma boa cidade Ai no chovesse tanto assim Chove pedra das janelas do cu chove canivete dos telhados Chovem goteiras na alma Nesse teu calado de muito efeito na foto colorida No se d um passo sem escorregar dois e trs ... Uma das trs cidades do mundo de melhor qualidade de vida Depois ou antes de Roma? Segundo uma comisso da ONU Ora o que significa uma comisso da ONU No me faam rir curitibocas Nem sejamos a esse ponto desfrutveis Por uma comisso da ONU ... A melhor de todas as cidades possveis Nenhum motorista p respeita o sinal vermelho Curitiba europia do primeiro mundo Cinqenta buracos por pessoa em toda calada Curitiba alegre do povo feliz Essa a cidade irreal da propaganda Ningum viu no sabe onde fica Falso produto de marketing poltico pera bufa de nuvem fraude arame Cidade alegrssima de mentirinha Povo felicssimo sem rosto sem direito sem po Dessa Curitiba no me ufano No Curitiba no uma festa Os dias da ira na rua vem a ... Cinqenta metros quadrados de verde por pessoa De que te servem Se uma em duas vale por trs chatos ... no te reconheo Curitiba a mim j no conheo a mesma no , outro eu sou ... Nada com a tua Curitiba oficial enjoadinha narcisista Toda de acrlico azul para turista ver ... No me toca essa glria dos fogos de artifcio S o que vejo tua alminha violada e estripada A curra de teu corao arrancado pelas costas
104
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Verde? no quero Antes vermelha do sangue derramado de tuas bichas loucas E negra dos imortais pecados de teus velhinhos pedfilos ... Essa tua cidade no minha Bicho daqui no sou ... Curitiba apenas um assobio com dois dedos na lngua Curitiba foi no mais
(Trevisan, 1992) A cidade transformavase vertiginosamente, mas no a sociedade e neste ambiente controvertido na Rua XV de Novembro, j transformada em calado para pedestres (incio da dcada de 1970), aparece a figura de Rubens Aparecido Rinque, nascido em Ibipor, /Pr em 1950. Sua presena em Curitiba, era atribuda, segundo boatos,ao fato de ser um artista, vindo com uma companhia teatral e que desiludido com a perda de um grande amor, resolvera aqui permanecer; para outros teria seguido o xodo rural. Morreu em 1983, e embora boa parte da populao sequer tenha ouvido alguma referncia a ele, muitos curitibanos ainda guardam na lembrana a personagem GildadeAbreucomoseautodenominava.Aindafazpartedoimaginriodospoucosque ouviramfalaroutiveramcontatocomele.Foiexecradopormuitos,masparaoutrosera aalegriadaXV71 De temperamento forte e franco vestiase de mulher e sua sobrevivncia nas ruas davase s custas de pequenas chantagens, as quais praticava com muita irreverncia.Uma moeda ou um beijo era seu mote de aproximao, constrangendo o cidado abordado, diante dos transeuntes que paravam para aguardar o desfecho da situao Tambm usava o subterfgio de a mando de algum, amigo ou inimigo do cidadodesatento,aplicarlheumsonorobeijo;oquelheresultoueminmerascorridas parafugirdasanhadesuasvitimas. Sisudos senhores eram seus alvos preferidos, que irados e pasmos pediam ao da policia contra aquele individuo abusado. As aes de Gilda incomodavam os freqentadoresdoespaodenominadoBocaMalditaapequenaavenidaLuisXavier, tribuna independente de Curitiba, onde se reuniam cidados aposentados ou desocupados,polticos,jornalistas,profissionaisliberais,paraolharasmoasqueporali transitavam,falardepolticaefalarmaldosdesafetos.Seulder/presidenteeraAnfrsio Siqueira, que a institucionalizou e inclusive distribua comendas a seus freqentadores, desviandose dos propsitos iniciais de jogar conversa fora. Neste espao institucionalizado, Gilda era persona non grata, pois no respeitava os cnones da urbanidadepretendida. Mas Gilda tinha tambm admiradores e defensores que a consideravam rainha da Rua XV, onde reinou alegre por vrios anos. Dela disse um deles Gilda era a nossa Geni. Trabalhava cenicamente seu bal esquisito e pretensamente sexy como um doidivanas assustador e terno( Atem, 1983) Gostava de danar defronte lojas de
71
Numa referncia ao calado no qual havia se transformado a Rua XV de Novembro, uma das principais artria da cidade.
105
www.unicamp.br/~aulas
discos, divertindo os transeuntes da cidade que adotou, e que segundo o autor acima citado tambm a adotou, porem mal. Comparecia a todos os espetculos teatrais da cidade, danando e se exibindo vestindo soires capazes de distrair toda uma platia (Macedo, apud. Dirio do Paran, 1977) Quando vestido de mulher e simulava um streeptease, choviam moedas atiradas pelos estudantes e transeuntes que a assistiam. Adorava um fotgrafo e sempre que podia exibiase para suas lentes. Assim vivia, circulando pelo centro da cidade, divertindose, danando nos minguados carnavais de Curitiba,masqueeramsuagrandepaixo.Assimviveulivremente,poralgunsanos. Como dito acima Gilda era persona non grata na Boca Maldita onde foi criada uma Banda Polaca72 , que sairia no Carnaval de 1981; como se tratava de carnaval, previase a irreverente Gilda danando na Banda. Para evitar sua presena, o cidado foi preso e assim permaneceu durante todo o perodo de Momo, muito se falando que teria sido a mando de Anfrisio Siqueira, presidente da Boca Maldita e lderdaBandaPolaca.Comoreao
o Bloco do Cadver usou , tres dias depois o episdio como tema e procedeu o enterro do Anfrisio na Avenida Deodoro. Ganhou o primeiro lugar no carnaval ... Sua msica: O Anfrisio estrebuchou/ foi enterrado pelo bloco do cadver/ e a Boca Maldita chora de emoo/ matamos o Anfrsio/ e tiramos a Gilda da priso/ Gilda tarar/Gilda, tarar.( Marins, 1983: 25)
Tambm a priso arbitrria pela Delegacia de Costumes desencadeou uma onda de protestos em setores da sociedade, inclusive com a atuao de advogados, pedindo hbeas corpus. Rubens/ Gilda inicia na priso uma greve de fome e debilitado foitransferidospressaseemsigiloparaumHospitalPsiquitricodacidade. A Imprensa questionava a retirada de Gilda de circulao (para no atrapalhar a Banda Polaca) e estranhava as vistas grossas que a policia fazia em relao aos guardacostas da Banda, muitos conhecidos como baderneiros da cidade. (Dirio do Paran,1981) Cabe salientar que este cidado foi taxado de bicha, travesti, homossexual, veado,gay,maluco,comotambmrecebeuotitulodealegriadocarnaval,rapazalegre, tipo popular,e foi alvo de diversas homenagens, como em 1982, a do Bar Bife Sujo, reduto de intelectuais da poca, que fez desfilar um Bloco de Sujos, cujo tema era Gilda e trazia o prprio como porta estandarte, em desagravo a sua priso no ano anterior. UmObeliscoqueexistianaRuaXVfoidurantealgumtemposeumarcodeglria. Mas ainda em 1982, uma reportagem do Jornal Dirio do Paran, o denominava figura folclrica de Curitiba, no somente pelas suas andanas pela Boca Maldita e Rua XV de Novembro, mas tambm por suas participaes nos frios carnavais curitibanos, animando os folies. Nesta matria, relatavase a misria em que Gilda estava vivendo, numa situao lamentvel, sem roupas, dormindo nas praas, com enfermidades, sem condio de tratamento. Dizia a reportagem que desde a mudana
72 BANDA POLACA, criada na Boca Maldita para desfilar no fraco carnaval curitibano era uma aluso presena em Curitiba, de grande contingente de imigrantes dessa etnia.
106
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
do Albergue Noturno do centro da cidade, dormia ao relento, sob marquises, vivendo como mendigo, os cabelos em desalinho, mal cheiroso,vestidos e calas esfarrapadas. No entanto continuava a circular pela cidade, maltrapilho e apresentando alguns sinais dedebilidade.(DirioPopular,1982) AmatriarelatavatambmquetodasasnoitesumakombidaSecretariade Sade passava pelas praas recolhendo os mendigos que dormiam nos bancos, para levlosaumabrigo,masquenoorecolhia,deixandooaorelento. Nesteperodo,umfotgraforegistrouatristezaestampadanoantesalegre rosto de Gilda, agora com barba crescida, inchado, roupas em desalinho, propriamente andrajos, um crucifixo a guisa de colar,um pedao de tecido rendado enfeitando os cabelos amarfanhados, como um turbante e o olhar profundo, fixo na cmera como a darumrecado:apesardospesares,aindaestouaqui.
Gilda Triste
Fotgrafo desconhecido. Gilda triste. [198-].1 fotografia P&B, 10/14. Acervo do Museu da Imagem e do Som. Gov.Pr.
107
www.unicamp.br/~aulas
Gilda pretendia ainda brincar o prximo carnaval, embora temesse ser preso como anteriormente, j que se anunciava um arrasto da policia para antes do reinado de momo. Apesar do medo da priso, argumentava que como havia danado nos comcios dos candidatos a governador (Jose Richa e Saul Raiz) sem ser importunada pelapolcia,esperavaomesmoacontecer.oquerealmenteaconteceu. Morreu em 15 de maro de 1983 .no dia da posse de Jose Richa, o candidato eleito, seu dolo. Havia dito a um jornalista que votara em Richa, ia a sua posse e iria beijlo. No consegui realizar seu sonho, foi encontrado morto em uma casa abandonada. Causa Mortis meningite, cirrose heptica e bronco pneumonia, embora tenham circulado boatos sobre espancamento ou briga..No dia seguinte a sua morte uma reportagem da Folha de Curitiba lembrava declaraes de Gilda como a de ser o primeiro gay desta cidade, no sentido de rapaz alegre, e frases como No sou de transar com gente do mesmo sexo. Tenho vontade de me travestir, travistome e curto o lance na maior. Pena que nem todos me compreendam(Lacour,1983). Recebeu diversas homenagens, inclusive no Obelisco,numa espcie de velrio sem cadver, com velas acesas, floreas, muitas mensagens, inclusive do poeta Geraldo Cardoso Pleno ms de fevereiro/ Com a Gilda e um Pandeiro/fazamos carnaval homenagens estas que ao fim de alguns dias foram mandadas retirar por Anfrisio Siqueira. (Marins,1983:23). Foi tambm homenageada, por fotgrafos, que realizaram uma exposio em um bar da cidade, e em anos subseqentes por grupos teatrais. Alguns anos depois, em 1995 uma crnica de Wilson Bueno, publicado no jornal Gazeta do Povo com o titulo de Viado, rememorava a historia de Gilda, seu comportamento, suas artimanhas e faanhas na Boca Maldita.(Gazeta do Povo,1995), e em 2007 foi realizadoodocumentrioBeijonaBocaMaldita,quetrouxeumasriededepoimentos, poemaseimagensrevivendoapersonagem. Mas outras falas tambm se ouviram, quando se aventou a hiptese de colocar o nome de Gilda em uma placa de bronze no Obelisco, como certas pessoas s querem aparecer, mesmo que para isso tenham que usar um defunto; tudo o que aconteceu uma vergonha para Curitiba. A Gilda eu conheci, era um pstula, sifiltico, um bbado que vivia provocando as mocas ; Gilda tinha que ser internada, ela tinha que morar num hospital ou ainda, no tenho nada contra a Gilda, muito pelo contrario, mas homenagem a troco de que?(Gazeta do Povo,1983) Enfim Gilda era a encarnaodoparadoxodacidade.
Um estudioso comenta que
levou facada, escapou de morrer enforcado por um mendigo, foi espancado diversas vezes, levou tiro, mas nunca reagiu com a mesma violncia. Suas passagens pela policia registram desacato s autoridades, atentado ao pudor, vadiagem, alcoolismo, e outras transgresses. No h registro de casos graves envolvendo seu nome (COSTA, 2000:32).
Quando de sua morte, foi alvo da caridade pblica para que tivesse um funeraldecente.Constaqueumadvogadoquenoquisseidentificar,doouaroupacom a qual foi sepultado. Uma empresa funerria doou o caixo, como tambm foi doado espao num tmulo comprado com a inteno de acolher travestis e/ou seus familiares
108
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
pobres.Mas,mesmoapsamorteGildaaindasofreu,poiscomonotraziaconsigoseus documentos,tevequeaguardar,oficialmentesemidentificaonumadasprateleirasdo necrotrio do IML, que estes documentos chegassem enviados do norte do Paran, dizem,pelasuamequenoquiscompareceraoenterro. No entanto apesar de todos percalos e preconceitos que viveu,Gilda lembrada como uma personagem que apenas gostava de afrontar a sociedade curitibana que se queria moderna e perfeita e por isso foi alvo de vigilncia e perseguio.Foiumafiguraqueduranteum certotempoquebrouasisudezda cidade e fezocuritibanosairdoseucasulocomsuaartedaexistncia. NoanoseguinteasuamortefoitemadosambaenredodaEscoladeSamba EmbaixadoresdaAlegriaquelembrasuaalegriamas,comtoquesdetristeza.
Gilda Sem Nome
Ai que saudade, que saudade! Que me vem! Das brincadeiras que a Gilda aprontava Cinqenta mangos pra beijar um certo algum Descontrada Gilda ia ... e beijava Beijou doutor ... o senador... Falou de amor! Brincou ... Brincou ... E pelas ruas da cidade/ Ela pintou e bordou Gilda o seu bom humor deixou Um oceano de saudade Gilda, o seu Carnaval marcou Por muito tempo a rotina da cidade Da melindrosa, de princesa oriental Da avenida faz seu palco natural E de repente transformava-se o artista De Carlitos a vedete ou passista! Ai que saudade... (Mattar, Carvalho, Ribeiro, 1984)
Gilda uma personagem interessante de ser estudada pois permite diversas miradas no apenas para sua figura, como tambm, e independentemente de sua sexualidade, permite entender a moral da cidade que a acolheu, as relaes de podereporqueno,suatica,suasubjetividadeesuaartedeviver. Comecemos o percurso pela questo da sexualidade.Como diz um depoente do curta metragem Beijo na Boca Maldita, no sei se falo ele ou ela (Ribeiro, apud Beijo na Boca Maldita, 2007).Neste mesmo documentrio identificada por alguns como boneca,bicha louca, outros afirmam, no sei se era homossexual, tinha horror de ser chamado do viado no era como ns, no tinha glamour, tinha feminilidade mas se preciso partia para briga; Ela porem dizia que apenas gostava de se travestir e no de transar com pessoas do mesmo sexo e afirmava SouGilda,Travesti.(BeijonaBocaMaldita,2007) EsteparadoxoremeteaquestescolocadasporMichelFoucault acercadas problematizaes da sexualidade, como a imagem da figura tipo: o homossexual ou
109
www.unicamp.br/~aulas
invertido seus gestos,sua aparncia, sua maneira de enfeitarse, seu coquetismo... emboraGildativessecompleies masculinas,fugindoaoesteretipodoindivduoque manteriarelaescomomesmosexo. Gilda era uma pessoa livre. Mesmo inconscientemente tinha a prtica voluntriaquedeterminavaasimesma suasregrasdeconduta,transformandosuavida numa arte de existir. Fazia consigo mesma e com os outros, jogos de verdade escrevendo sua histria, sua relao consigo mesma, sua experincia. Jogava com sua imagem era ou no homossexual? Exercia ou no uma inverso de papis?. Vestiase de mulher mas dizia no gostar de transar com o mesmo sexo, exibia feminilidade ao mesmo tempo que partia para briga se chamado de viado. E como diz Foucault. tudo isso fazia seu interlocutor perguntarse se est verdadeiramente diante de um homem ouumamulher(Foucault,204:206). E tanta liberdade no ficou impune, pois viveu em uma cidade com conceitos de moral e moralidade ainda presos a valores e regras impostos por preconceitosdecertaformaligadosainstituiescomofamlia,escolaereligioenoa comportamentosnosentidoqueFoucaultdenominatecnologiasdoeu,que
permitem que os indivduos efetuem, por conta prpria ou com a ajuda de outros, certo numero de operaes sobre seu corpo e sua alma, pensamentos, conduta ou qualquer forma de ser, obtendo, assim, uma transformao de si mesmos, com o fim de alcanar certo estado de felicidade, pureza, sabedoria e imortalidade.(FOUCAULT, 1991, p.48)
Embora vivendo numa cidade preconceituosa, provinciana, enfrentou o poder estatizado, a policia, o poder institucionalizado da Boca Maldita, e as suas prprias condies econmicas adversas para curtir seu gosto em travestirse e divertirse. No se vinculou a regras dos cidados ilibados, comendados da Boca, mas s suas prprias, naquilo que Foucault entende por esttica da existncia, ou uma maneiradevivernaqualovalormoralnoprovemdaconformidadecomumcdigode comportamentosnemdeumtrabalhodepurificao,masdecertosprincpiosformaise gerais no uso dos prazeres, na distribuio que se faz deles, nos limites que se observa nahierarquiaqueserespeita.(FOUCAULT,1984) Rubens Rinque fez de sua vida um reflexo de liberdade que percebia como jogo de poder. Ele apenas gostava de afrontar a sociedade curitibana que se queriamodernaeperfeitaeporissofoialvodevigilnciaeperseguio.Desmascaroua hipocrisia com sua escolha pessoal de liberdade, com sua arte da existncia, no deleite darelaoconsigo.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ATEM,R.Todavia.In:JornaldoEstado,Curitiba.02/07/1983 BEIJONABOCAMALDITA.YankoDelPino.Curitiba:2007.1DVD,16m.son,color. BERMAN, M. Tudo que slido desmancha no ar: a aventura da modernidade. So Paulo: CompanhiadasLetras,1986.
110
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
BRASIL,INSTITUTOBRASILEIRODEGEOGRAFIAEESTATSTICA,Anurio1983. COSTA,O.S.Gilda,umolharsobreacidade.Curitiba:UTP,2000.(mimeo) DIRIODOPARAN.Curitiba:34/03/1981. DIRIOPOPULAR.Curitiba:21/05/1982 FOUCAULT, M. Historia da Sexualidade 2. O uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1984. FOUCAULT, M. Deux essais sur le sujet et le pouvoir IN. DREYFUS, H.; RABINOW,P.Michel Foucault:umparcoursphilosophique.Paris:Gallimard,1984. FOUCAULT,M. tica, Sexualidade, Poltica. Ditos e Escritos V. Rio de Janeiro: Forense Universitria,2004. FOUCAULT,M.Tecnologiasdelyoyotrostextosafines.Barcelona:PaidosIbrica,1991 FOLHADECURITIBA.Curitiba:16/03/1983 GAZETADOPOVO.Curitiba:23/03/83 GAZETADOPOVO.Curitiba:28/07/1995 LACOUR,J.Rquiem.In:FolhadeCuritiba,Curitiba,16/03/83 MACEDO, R.G. Cada um cai do bonde como pode. Apud: Dirio do Paran. Curitiba: 04/09/1977. MARINS,P. A morte de Gilda, a alegria das ruas. PANORAMA. Curitiba: Maio/83.Ano32, n.327. MATTAR, C.E.; CARVALHO, R.; RIBEIRO,C. Gilda sem nome. Estado do Paran. Curitiba: 22/02/1984. RONCAGLIO,C.HistoriaAdministrativadoParan.Curitiba:ImprensaOficial,2000 SANCHEZ GARCIA, F. Cidade espetculo, poltica,planejamento e city marketing. Curitiba: Palavra,1997. SANTOS,A.C.A.Memriasecidade.Curitiba:AosQuatroVentos,1997. TREVISAN,D.EmBuscadaCuritibaPerdida.SoPaulo:Record,1992
111
www.unicamp.br/~aulas
112
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Orlando ou um outro aprendizado do corpo
Maria Rita de Assis Csar73 Resumo
Este trabalho dialoga com a biografia de Orlando, de Virginia Woolf, com o objetivo de explorar as possibilidades de um corpoque no est demarcado no interior das fronteiras do sistema sexognero. Para este dilogo contemporneo com a obra sero abordados conceitos de Michel Foucault, especialmente o dispositivo da sexualidade e Judith Butler, a respeito da crtica ao sistema corposexognero. Orlando e os outros corpos que escapam aos sistemas normativos, em especial transexuais e travestis, so aqui tomados como corpos que resistem e produzem formas outras formas de inteligibilidade do corpo, dosexoedognero.
Palavras-chave:
Dispositivodasexualidade;norma;heteronormatividade;transexualidade;VirginiaWoolf.
73
Professora do Departamento de Teoria e Prtica de Ensino e do Programa de Ps-Graduao em Educao da Universidade Federal do Paran UFPR.
113
www.unicamp.br/~aulas
114
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Orlando or another apprenticeship of the body
Abstract
This paper dialogues with Virgina Woolfs biography of Orlando and intends to explore thepossibilities of abodythat is not enclosed into the frontiers of the sexgender system. Inordertoproceedinthisdialogue,IshallapproachthematterthroughMichelFoucaults concept of the dispositive of sexuality and Judith Butlerscriticisms towards the bodysex gender system. Under such theoretical approach, Orlandos body as well as other bodies that escapenormative systems, such as those from transsexuals andtransgenders,can be takenasbodiesthatresistandproduceotherwaystoconceivebody,sexandgender.
Keywords
sexualitysdispositive;norm;heteronormativity;transexuality;VirginiaWoolf.
115
www.unicamp.br/~aulas
116
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
O sistema sexo-corpo-gnero
Em seu livro Histria de Sexualidade vol.1. A vontade de saber (1984), Michel Foucault colocou em xeque a idia de sexualidade que atravessou o sculo XX como o elemento organizador das subjetividades. Com a reelaborao do conceito de sexualidadecomoumdispositivodisciplinarebiopoltico,MichelFoucaultdemonstrouo carter histrico da produo da sexualidade ao longo do sculo XIX, alm do seu funcionamentonaordenaodeumsistemainstitudosobreapremissadosexodesejo. Nesse momento da histria os corpos e as prticas erticas de crianas, mulheres, rapazes e mesmo do casal foram esquadrinhados para o estabelecimento da fronteira entre normalidade e patologia, em uma operao que fundiu os discursos mdico, jurdico e governamental. (FOUCAULT, 1984: 29) A nominao dos sujeitos procedeu de umaengenhariaconceitualeinstitucionalemvistadaqualoscorposforamseparadose escrutinados exausto, alm de realizada uma classificao minuciosa das prticas sexuais que, por sua vez, foram separadas entre prticas lcitas e ilcitas, ou normais e anormais. Ampliando essa discusso podemos perguntar sobre a ao do dispositivo da sexualidade na constituio do sistema sexocorpognero. Embora seja necessria a mobilizao de outros conceitos e autoras, esta uma questo que inicialmente pode ser analisada por meio do dispositivo da sexualidade, tal como pensado por Foucault. A primeira parte desta interrogao, isto , a constituio do dispositivo da sexualidade, diz respeito constituio dos novos sujeitos que iro habitar os pores, no necessariamente mal iluminados, da sociedade da segunda metade do sculo XIX. Michel Foucault delimitou a produo de quatro novas subjetividades produzidas no mbito do dispositivo da sexualidade: a criana masturbadora, a mulher histrica, o jovem homossexual e o casal no maltusiano. Essas quatro figuras dizem respeito no somente s prticas e desejos sexuais classificados no exterior de uma sexualidade legtima. (FOUCAULT, 1984: 47) Para alm dessa classificao, de fundamental importncia a produo de subjetividades especficas, dentre as quais, para a presente anlise,recortamosafiguradohomossexual,ou,melhordizendo,osujeitohomossexual produzidopormeiododiscursomdico.SegundoFoucault:
Esta nova caa s sexualidades perifricas provoca a incorporao das perverses e nova especificao dos indivduos. A sodomia a dos antigos direitos civil ou cannico era um tipo de ato interdito e o autor no passava de seu sujeito jurdico. O homossexual do sculo XIX torna-se uma personagem: um passado, uma histria, uma infncia, um carter, uma forma de vida; tambm, uma fisiologia misteriosa. Nada daquilo que ele , no fim das contas, escapa sua sexualidade. Ela est presentes nele todo: subjacente a todas as suas condutas j que ela o princpio insidioso e infinitamente ativo das mesmas; inscrita sem pudor na sua face e no seu corpo j que um segredo que se trai sempre como natureza singular. (FOUCAULT, 1984: 43)
O autor ressalta que o famoso artigo de 1879 escrito pelo mdico alemo Westphal, no qual descreve as sensaes contrrias, pode ser considerado como a
117
www.unicamp.br/~aulas
data de nascimento do sujeito homossexual. Nesse artigo, a homossexualidade foi descritacomoumacategoriapsicolgica,psiquitricaemdica.ParaFoucault:
A homossexualidade apareceu como uma das figuras da sexualidade quando foi transferida, da prtica da sodomia, para uma espcie de androginia inferior, um hermafroditismo da alma. O sodomita era um reincidente, agora o homossexual uma espcie. (FOUCAULT, 1984: 43-44)
No curso de 1975 proferido no Collge de France, Os anormais (2001), Foucault trouxe luz uma srie de casos de hermafroditas. Para Foucault, possvel traar uma genealogia dos hermafroditas a partir da anlise das distintas formas de abordagem desses indivduos ao longo de quatro sculos. No sculo XVIII, aps a identificao de que um mesmo indivduo portava os dois sexos em um mesmo corpo, ento este indivduo poderia escolher entre um dos dois sexos. O importante era a proibiodasodomia,emvistadaqualhaveriaacondenaojurdica,quepoderialevar penademorte.(FOUCAULT,2001:93) Foucault analisou uma literatura mdicojurdica sobre hermafroditas entre ossculosXVIeXIXquefartaericanodetalhamentoquantoaosexamesdoscorpose aspenalidadesaplicadas.Notranscursodaqueleperodo,oqueoautorpercebeufoium deslocamento em relao abordagem da questo, isto , o/a hermafrodita deixava de ser tomado/a como um monstro da natureza e passava a ser tomado/a como um caso mdico, uma anormalidade anatmica e fisiolgica e, sobretudo, um caso que no estaria fora da natureza, mas que se tornaria uma monstruosidade de carter que iria aproximlo da criminalidade. (FOUCAULT, 2001: 93) As condenaes posteriores ao exame mdico, a partir do sculo XVIII, possuem o sentido de uma reintegrao ao sexo verdadeiro.Humaenormepreocupaocomavestimenta,quedeveriasercondizente com o sexo determinado pelo saber mdico e, sobretudo, que o casamento fosse realizadocomumindivduodosexooposto. Aquilo que se observa nessa longa jornada histrica em torno dos/as hermafroditas diz muito sobre a configurao do dispositivo da sexualidade, que se estabeleceuporcompletonosculoXIX.Osexonotoleraqualquerdubiedadeeseno houver correspondncia entre o sexo e uma anatomia definida, ento ser necessria a produo de uma verdade mdica que estabelea a correta definio. Alm disso, fundamental a constituio de hbitos e vestimentas condizentes com a condio do sexo verdadeiro e, por fim, a unio com o sexo oposto, nica e exclusiva unio matrimonial tambm verdadeira. Dessa forma, por meio da anlise dos casos de hermafroditismo, Michel Foucault pde descrever o funcionamento do dispositivo da sexualidadequeproduziuosistemacorposexogneroentreossculosXVIIIeXIX. Judith Butler, inspirada por Michel Foucault, retornar aos hermafroditas para desconstruir o sistema corposexognero. As suas anlises sobre indivduos hermafroditas cirurgicamente corrigidos ao nascer demonstram uma importante continuidade com as prticas mdicas do sculo XVIII. Esses indivduos contemporneos no so mais definidos como monstros a serem eliminados ou como criminosos, todavia, so indivduos que perante o olhar mdico necessitam de uma importante correopormeiodeintervenescirrgicasrealizadaslogoaonascer.(BUTLER,2001: 19) O saber mdico determina o sexo verdadeiro e a cirurgia realizada para a retirada
118
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
dequalquervestgiodosexoinvasor.Nopossvelsuportaradubiedadeanatmica,na medida em que isso tambm pode significar uma dubiedade do desejo. Somente possvel suportar um corpo que carregue um sexo que corresponda ao desejo correspondente ao sexo verdadeiro. Essa a regra de ouro da heterossexualidade normativa.Pormeiodofuncionamentodosdispositivos,tantodasexualidade,proposto porFoucault,quantodaheterossexualidadecompulsria,deButler,podemosinterrogar os no to novos sujeitos da normalizao contempornea e do sistema corposexo gnero,isto,aexperinciatransexual. Quem so estes corpos que habitam as margens do dispositivo da sexualidade? Transexuais e travestis apreendidos no interior dos dispositivos da sexualidade e da heteronormatividade so aqueles/as que Judith Butler chama de corpos que no pesam (Butler, 1999: 171), isto , corpos que no valem, que no importam e que podero ser descartados sem mais. Diferentemente dos/as hermafroditas, que sero corrigidos/as logo ao nascer, travestis e transexuais iniciam as transformaes corporais na puberdade, momento em que so vtimas de variadas formas de excluso e violncia. Estes corpos, como observou Berenice Bento, podem ser:
(...) corpos pr-operados, ps-operados, hormonizados, depilados, retocdos, siliconizados, maquiados. Corpos inconclusos, desfeitos e refeitos, arquivos vivos de histrias de excluso. Corpos que embaralham as fronteiras entre o natural e o artificial, entre o real e o fictcio, e que denunciam, implcita ou explicitamente, que as normas de gnero no conseguem um consenso absoluto na vida social. (BENTO, 2006: 19-20)
Em A reinveno do corpo. Sexualidade e gnero na experincia transexual (2006), importante pesquisa sobre a experincia transexual no Brasil e na Espanha, Berenice Bento analisou um conjunto de aspectos que produzem a experincia transexual, desde a sua insero no Cdigo Internacional de Doenas, em 1980, at as lutas de coletivos sociais pelos direitos de cidadania, alm das experincias de entrevistadas/osquepodemseracolhidasnouniversoamplodaexperinciatransexual. BereniceBento(2006)afirmaque: A experincia transexual um dos desdobramentos do dispositivo da sexualidade, sendo possvel observla como acontecimento histrico. No sculo XX, mais precisamente a partir de 1950, observase um saber sendo organizado em torno dessa experincia. A tarefa era construir um dispositivo especfico que apontasse os sintomas e formulasse um diagnstico para os/as transexuais. Como descobrir o verdadeirotransexual?(132). AssimcomoFoucaulteButler,Bentotambmdemonstraovidoapetitedo discursomdicoemabocanharaexperinciatransexual,produzindoacomoanomaliaa ser tratada e, talvez, corrigida. A autora parte da tese da inveno da transexualidade a partir da segunda metade do sculo XX, encontrando no discurso mdico todos os elos dessacadeiadeconstruo.Astesesmdicas,todasfortementeapoiadasnodispositivo da sexualidade, na heterossexualidade compulsria e no dimorfismo sexual, produziram protocolos para o diagnstico do verdadeiro transexual (BENTO, 2006: 43), isto , aqueleouaquelapassveldesubmissoscirurgiasderetificaogenital.
119
www.unicamp.br/~aulas
Assim, a experincia transexual convertida em anomalia mental e, ao ser tomada como patologia aps a execuo de um longo protocolo mdicopsicolgico, concede o direito ao sujeito transexual da cirurgia de transgenitalizao ou adequao sexual. Este protocolo est submetido ao sistema corposexognero e, sobretudo, heterossexualidade normativa como possibilidade de prtica sexual futura. O olhar mdico ir tentar assegurar uma suficiente feminilidade ou masculinidade ao corpo que ser submetido cirurgia de adequao. Ao analisar algumas experincias transexuais antes da cirurgia, Judith Butler afirma que: As investigaes e as inspees podem ser entendidas como a inteno violenta de implementar a norma e a institucionalizao daquelepoderderealizao.(BUTLER,2006:103)
Orlando e o outro aprendizado do corpo
Orlando o personagem de quem Virginia Woolf empreende a fico biogrfica Orlando (2008), publicada em 1928 e dedicada a Victoria SackvilleWest, uma escritora aristocrata e grande amor de Virginia Woolf (KNOPP, 1988: 24). Como se sabe, Orlando um fidalgo que viveu na corte isabelina no sculo XVII e que, aos 30 anos, se transformouemumamulher.AnarrativaacompanhaavidadeOrlandoaolongodetrs sculos,oqueproduzumasensaodeimortalidadeque,noentanto,refutadapelo/a personagem. Orlandopodesertomadocomoumareflexosobreasexualidadevitoriana. (KAIVOLA, 1999: 238) O raiar do sculo XIX narrado como a chegada de uma bruma mida e fria que assola o Reino Unido, produzindo o recolhimento dos indivduos e a transformaonosmodosdehabitarevestir,almdemodificaesintensasnosmodos de se relacionar com o sexo oposto. (WOOLF, 2008: 151) A importncia do casamento, da fidelidade, dos filhos para a mulher, exposta de maneira a interrogar os novos preceitos nascentes. Entretanto, o olhar de Orlando sempre estrangeiro, ela/ele vem de uma experincia de outros tempos, tempos que se sobrepem e produzem formas inusitadasdereflexosobreopresente. AindacomofidalgodosculoXVII,Orlandoseapaixonaporumafiguraque, primeiravista,poderiasertantoumrapazcomoumadama,Sacha,umaprincesarussa de carter independente e tempestuoso, uma mulher que tem modos e um vigor que no so prprios das damas nobres. (WOOLF, 2008: 29) Depois surge a arquiduquesa Griselda de FinsterAarhorn que, apaixonada por Orlando, deixao desconfortvel e confuso quanto ao amor, a ponto dele solicitar ao rei que o enviasse a Constantinopla como embaixador (WOOLF, 2008: 77). No decurso de uma revoluo na Turquia, aps umsonodemuitosdias,Orlandodespertoucomumcorpodemulher. Quando finalmente retorna corte inglesa, j no sculo XVIII, Orlando plenamente aceito na corte como mulher, mas resta uma pequena suspeita: ela se depara com processos nobilirios e judiciais que a acusavam de ter casado com uma mulher, da existncia de filhos naturais e quanto a seu prprio sexo. Sem qualquer questionamento pessoal sobre sua atual condio, Orlando inicia um aprendizado do feminino, das roupas, sapatos, do modo de andar, das formas de resolver problemas sem valerse da estocadas de espadas. Entretanto, a demarcao entre o masculino e o
120
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
feminino sempre dbia e entendida por Orlando quase como pragmtica. Assim, o/a bigrafo/adeOrlandoafirmaque:
A mudana havia sido produzida sem sofrimento e completa, de tal modo que Orlando parecia no estranhar. Muita gente, a vista disso, e sustentando que a mudana de sexo contra a natureza, esforou-se em provar, primeiro: que Orlando sempre tinha sido mulher; segundo: que Orlando , neste momento homem. Decidam-se bilogos e psiclogos. (WOOLF, 2008: 92)
Os amores de Orlando sempre deixavam alguma dvida, primeiro Sacha, por quem Orlando se apaixonou antes mesmo de saber se se tratava de uma moa ou de um rapaz, depois a arquiduquesa FinsterAarhorn, que mais tarde revelouse como um arquiduque, que se apaixonou primeiro pelo Orlandorapaz e depois pelo Orlando mulher. Experimentando ambas as vestimentas, durante o dia os vestidos de brocado e noite os trajes masculinos, Orlando despertava paixes em homens e mulheres. Vestidadehomemoudemulher,primeiramentenoviaqualquerdiferena,mascomo passar do tempo experimentava sensaes distintas como medo, timidez, destemor, vaidade, atribuindo ao vesturio a razo dessas diferenas. Alguns filsofos diriam que a mudana de vesturio tinha muito a ver com isso. Embora parecendo simples frivolidades,asroupas,dizemeles,desempenhammaisimportantefunoqueadenos aquecerem, simplesmente. Elas mudam a nossa opinio a respeito do mundo, e a opinio do mundo a nosso respeito. (WOOLF, 2008: 124) A voz de Woolf pode ser escutada como uma contestao da opinio dos filsofos sobre a vestimenta. Para Woolfbigrafa:
A diferena entre os sexos tem, felizmente, um sentido muito profundo. As roupas so meros smbolos de alguma coisa profundamente oculta. Foi uma transformao do prprio Orlando que lhe ditou a escolha das roupas de mulher e do sexo feminino. E talvez nisso ela estivesse expressando apenas um pouco mais abertamente do que usual a franqueza, na verdade, era a sua principal caracterstica algo que acontece a muita gente sem ser assim claramente expresso. Pois aqui de novo nos encontramos com um dilema. Embora diferentes, os sexos se confundem. Em cada ser humano ocorre uma vacilao entre um sexo e outro; e s vezes s as roupas conservam a aparncia masculina ou feminina, quando, interiormente, o sexo est em completa oposio com o que se encontra vista. Cada um sabe por experincia as confuses e complicaes que disso resultam (...). (WOOLF, 2008: 124-5)
Essa perspectiva expressa por Virginia Woolf sobre a sexualidade e a diferena sexual, que tambm pode ser compreendida contemporaneamente como o sistema normativo de sexognero, transpassa toda a obra, tanto em relao a Orlando como tambm para com outros/as personagens, pois neles sempre haver alguma caracterstica que transborda o sistema sexognero. Assim, Orlando muda freqentemente o vesturio, confundindo e embaralhando os gneros e transgredindo normas. Para o/a narrador/a: (...) no tinha dificuldade de em sustentar o duplo papel, pois mudava de sexo muito mais freqentemente do que podem imaginar os que s usaramumaespciederoupas.(WOOLF,2008:146)
121
www.unicamp.br/~aulas
Somente no sculo XIX chega o veredicto sobre as pendncias jurdicas e o parecer sobre o verdadeiro sexo de Orlando. Meu sexo leu em voz alta, com certa solenidade declarado, indiscutivelmente e sem sobre de dvida (que dizia eu h um minuto, Shel?), feminino. (WOOLF, 2008: 169) Shel tambm perguntava a Orlando se elanoseriaumhomem. O parecer veio na forma de documento, com lacre, selos, fitas e assinaturas, demonstrando assim que autoridades no assunto haviam finalmentedecididooverdadeirosexodeOrlando. Tal como Orlando, Herculine Barbin tambm teve o seu verdadeiro sexo atribudo por meio de uma autoridade mdicojurdica. (FOUCAULT, 1983) Entretanto, diferentemente de Orlando, Herculine Barbin, que se sentia confortvel como mulher e entre mulheres, ao ser declarada um homem precisava aprender um modo de vida que no lhe pertencia. Orlando cruzou sculos e sua quase imortalidade lhe garantiu que fossesempreestrangeiro,habitandoostemposcomumdistanciamentoquepermitiaas indefinies. Herculine, prisioneira do sculo XIX, s habitara esse momento sombrio descrito por Virginia Woolf como nebuloso e mido. Este o momento em que se distriburam os corpos, colocandoos obrigatoriamente na norma sexual, como descreveuMichelFoucault. O nome Orlando permaneceu o mesmo sem qualquer susto ou problema lord Orlando ou lady Orlando; j Herculine, ao ser declarado homem, foi abrigada/o a ter outra identidade e passou a ser Abel Barbin (FOUCAULT, 1983:85). A experincia transexual contempornea demonstra a importncia do nome social, isto , um nome que acolhe e produz pertencimento ao novo gnero. A utilizao do nome social de travestis e transexuais uma questo importante trazida pelos prprios coletivos sociais. Embora j reconhecido em algumas instituies e motivo de projetos de leis e decretos, o nome social permanece como um tabu. Em se tratando da experincia escolar, o nome social aparece como um fator de distrbio da ordem. Orlando, diferentemente das experincias contemporneas normativas da transexualidade, a construo literria da no domesticao, da desnaturalizao ou ainda da resistncia normatizao da sexualidade, talvez porque parea ser imortal e assimatravesseostempossemsercontaminadopor eles.Nofinal dotexto,quandoum pssaro sobrevoa sua cabea, Orlando grita: o ganso (...) o ganso selvagem... Selvagem o seu nolugar em um mundo que para ele permanece em aberto, um lugaremquenadaestconcludo.
Referncias Bibliogrficas
BENTO, B. A. de M. A (re) inveno do corpo: sexualidade e gnero na experincia transexual.2006,RiodeJaneiro,Garamond;RiodeJaneiro,UERJ,CLAM. BUTLER,J.Deshacerelgnero.2006,Barcelona,Paids. BUTLER, J. La questin de la transformacin social. In: BERCKGERNSHEIM, E.; BUTLER, J.; PUIGVERT,L.(orgs.)Mujeresytransformacionessociales.2001,Barcelona,ElRoure. BUTLER, J. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo. In: LOURO, G. L. (org.) Ocorpoeducado.PedagogiasdaSexualidade.1999,BeloHorizonte,Autntica.
122
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
FOUCAULT,M.Osanormais.2001,SoPaulo,MartinsFontes. FOUCAULT, M. A histria da sexualidade I: a vontade de saber. 1984. 5 ed., So Paulo, Graal. FOUCAULT, M. Herculine Barbin: o dirio de um hermafrodita. 1983, Rio de Janeiro, FranciscoAlves. KAVIOLA, K. 1999. Revisiting Woolfs representation of androgyny. Tulsa Studies in WomensLiterature,18(2):235261. KNOPP, S. 1988. If I saw you would you kiss me? Sapphism and the subversion of Virginia WoolfsOrlando.PMLA,103(1):2434. WOOLF,Virginia.Orlando.2008.2ed.,RiodeJaneiro,NovaFronteira.
123
www.unicamp.br/~aulas
124
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
revoltar-se? contra si
Natalia Montebello74 Resumo
A experimentao analtica em Nietzsche, Deleuze e Foucault provoca desdobramentos em conversas com o anarquista individualista francs Albert Libertad e o escritor D. H. Lawrence, acontecendo, tambm, na companhia de Franz Kafka, Ren Char, Samuel Beckett e Alexander Berkman. Tratase de problematizar a amplitude revolucionria da liberdade como demarcao histrica e poltica na passagem do sculo XIX para o XX, num encontro entre invenes insurgentes, afirmando liberdades nmades, que escapam formadoEstadonopensamento.
Palavras-chave
liberdade,devir,revolta,contrasi,nmades
74
Doutora em Cincias Sociais pela PUC/SP.
125
www.unicamp.br/~aulas
126
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
to revolt? against oneself
Abstract
The analytic experimentation in Nietzsche, Deleuze and Foucault leads to developments in conversations with the french anarchist individualist Albert Libertad and the writer D. H. Lawrence, also taking place in the presence of Franz Kafka, Ren Char, Samuel Beckett and Alexander Berkman. It's a time to put in doubt the revolutionary amplitude of liberty as a historical and political demarcation between the XIX and the XX centuries, in an encounter between insurgent inventions, fastening nomad liberties, that escape the form of the State onto thought itself.
Key-words
Freedom,become,revolt,againstoneself,nomads
127
www.unicamp.br/~aulas
128
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
(1)
Todos esses sculos de filosofia, a longa slida sombra de Plato, e j nohaviamaisdvida,milvezesforaeserialembradaamesmaconsigna:nopossvel rir, no se deve, no convm. E Descartes insiste, permanece, revigora isso que j se fazia hbito, embora continuasse interdio. Plato, Descartes, Kant, Hegel, e depois MarxeFreud,eumahistriadafilosofiaqueconjuraoriso,poisavidahdeserterrvel, o terrvel mistrio de sua origem, seu terrvel fim anunciado em todo juzo, a vida entendida como sentena, como fatalidade, como dvida, contrada com a eternidade. E junto a Marx e a Freud, Nietzsche: como ler Nietzsche, Kafka ou Beckett, pergunta Deleuze, e no rir, no rir muito e com freqncia, e no ter, vez ou outra, ataques de riso? Seria como no ter lido esses livros, esses grandes livros, dentre aqueles desenhando o preciso horizonte de nossa contracultura. Nietzsche, Freud e Marx: se sobre os trs se inscreve nossa cultura moderna, Freud e Marx poderiam ser o amanhecer da cultura, mas Nietzsche, anota Deleuze, seria o amanhecer de uma contracultura. O marxismo e a psicanlise, ento, as duas burocracias fundamentais, uma pblica e outra privada, cujo objetivo realizar melhor ou pior uma recodificao daquilo que no cessa de se descodificar em nosso horizonte, enquanto que para Nietzsche tratase de deixar passar algo que no se deixa e que jamais se deixar codificar(Deleuze,2005,p.322). Era julho de 1972. No Centre Culturel International de CerisylaSalle, na Normandia, Deleuze participava do colquio Nietzsche aujourdhui?. Sob o ttulo de Pensenomade,otextoqueapresentaraseriapublicadonoanoseguinte,nasmemrias do colquio, e novamente em 2002, na coletnea de textos e entrevistas A ilha deserta (Ibid., pp. 321332), preparada por David Lapoujade. O encontro entre Deleuze e Nietzsche capilar: a pele, superfcie que atravessa e corri a interioridade orgnica, semntica, do corpo, compondo fluxos que escapam ao eu, coletivo ou individual, designando as representaes para todos. A filosofia, seu problema capilar, problema funcionandonomovimentonmade,queDeleuzedisparanoencontrocomNietzsche.A filosofiareviradanapotnciadodevir,aoexperimentarfalaremnomeprprio. Livre de interpretao, Nietzsche d o gosto perverso de falar em nome prprio, gosto que jamais deram Marx ou Freud, de falar por afectos, intensidades, experincias, experimentaes (Deleuze, 1992, p. 15). A revista La Quinzaine Littraire de abril de 1973 publicava a Carta a Michel Cressole, de Gilles Deleuze. Quando em 1990 reunia em suas Pourparlers textos de entrevistas que reverberavam desde 1972, DeleuzevoltacartaaCressole,agoraCartaaumcrticosevero(Ibid.,pp.1122),logo de cara, abrindo essa memria. Diante do Deleuze de Cressole, Deleuze inventa uma fuga, prtica de um pensar desvencilhado de tribunal, afirmando uma sada, e a vivacidadedessemovimento,emlugardesecircunscreverresposta/alegao. Algo se passa ou no se passa: No h nada a explicar, nada a compreender,nadaainterpretar(Ibid.,p.17).umamaneiradeler,dizDeleuze,sede um livro interessa saber to s se funciona, e como funciona. Pergunta analtica: como algo funciona, e no mais o que . E mais: se no h nada a interpretar, no se trata apenas de saber como algo funciona, mas, antes, se funciona. Deleuze convida pergunta: funciona para voc? Da que suas leituras, seus escritos, seus amigos, seus
129
www.unicamp.br/~aulas
filhos, sua casa, suas unhas, suas questes no fundem uma histria pessoal, um tempo solidificado num territrio memorvel; da que sua existncia no resulte numa identidade, e no produza identificao. Pois ao falar em nome prprio preciso no mais se tomar por um eu, por uma pessoa ou por um sujeito: Ao contrrio, um indivduo adquire um verdadeiro nome prprio ao cabo do mais severo exerccio de despersonalizao, quando se abre s multiplicidades que o atravessam de ponta a ponta, s intensidades que o percorrem (Ibid., p. 15). No uma superao um aperfeioamento ou uma reformulao do sujeito, ou mesmo uma guerra declarada contra ele, e uma vitria decretada, mas algo que escapa ao sujeito, algo que jamais se deixar codificar, uma intensidade, uma intensidade nmade: o que acontece entre Nietzsche e Deleuze, uma anarquia, nessa conversa capilar que Deleuze se inventa na atualidadeirredutveldaexistncia. A anarquia como intensidade analtica, como problema menor, provoca deslizar, sair, inventar encontros entredois, desvencilhados de territrios, livres de fronteiras: o menor, afirma Deleuze, no se define pelo nmero, mas acontece como devir. O que define a maioria um modelo ao qual preciso estar conforme: por exemplo, o europeu mdio adulto macho habitante das cidades Ao passo que uma minoria no tem modelo, um devir, um processo (Ibid., p. 214). Deleuze e Guattari, num encontro desdobrado em mil plats, dissolvendo o espao dos nomes, e o tempo que os contm, projetam o entredois na atualidade imanente dos espaos lisos, que escapamaosespaosestriadosdoEstado,aindaquehajasempreumacapturaprovvel. NoespaolisonoaconteceoqueporprincpioescapaaoEstado,nooutroterritrio de um mesmo do Estado, outra territorialidade/Estado, mas uma territorialidade em movimento, e uma intensidade, uma intensidade nmade: o acontecimento de uma fuga, de uma sada, na intensidade do movimento livre da supremacia dos pontos de partidaedechegada. No espao liso, o nomadismo que afirmam entredois, Deleuze e Guattari desenharo intermezzo: Um trajeto sempre est entre dois pontos, mas o entredois adquiriu toda a consistncia, e desfruta tanto de uma autonomia como de uma direo prprias. A vida do nmade intermezzo. Inclusive os elementos de seu habitat esto concebidosemfunodotrajetoqueconstantementeosmobiliza(Deleuze &Guattari, 2008, p. 384/385). O nmade no o migrante: se o migrante vai de um ponto a outro, sob essa ordem, sejam quais forem os pontos, para o nmade os pontos subscrevemse ao trajeto, apenas como conseqncia e necessidade de fato. De maneira que o nomadismosubverteosedentarismo doespaoestriadoestriadopormuros,limites e caminhos entre os limites (Ibid., p. 385) , assim como o movimento desse espao, de um ponto a outro. E no se poder definir tampouco o nmade to s pelo movimento:serprecisopensaravelocidade. O extensivo do movimento e o intensivo da velocidade. Se o movimento, enfim,dizrespeitoaumcorpoUno,quevaideumpontoaoutro,avelocidadedescreve um corpo cujas partes irredutveis (tomos) ocupam ou preenchem um espao liso maneira de um turbilho,75 com a possibilidade de surgir em qualquer ponto (Idem). O turbilho, a velocidade giratria, improvvel, das partes de um corpo, esse corpo como
75
Grifos de Deleuze e Guattari.
130
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
unidade do mltiplo, do que nunca se sabe antes, esse movimento intensivo ser a mquina de guerra nmade. A mquina de guerra que escapa ao Estado, ainda que possa, a qualquer momento, ser capturada pelo Estado. Enfim: a unidade de um corpo nmade,do queaconteceentredois,adaanarquia:noaunidadedoUno,masuma unidademaisestranhaquessedizdomltiplo(Ibid.,p.163). Experimentar, em lugar de interpretar. Dizer coisas simples em nome prprio, e nada alm. Experimentar, abrirse s multiplicidades, s intensidades que percorrem, de ponta a ponta, a prpria pele. Essa anarquia, que Nietzsche inventa na filosofia: potncia do menor, movimento/velocidade do nmade, intensidade do devir, ou multiplicidade entredois: um agudo tremor, com que Nietzsche desapruma todo o pensamento ocidental contemporneo, retomando uma delicadeza analtica em Foucault, quando anota, em 1966: Impossvel dizer eu no lugar de Nietzsche (Foucault, 2000a, p. 32). Impossvel dizer eu, ainda com Foucault, como se diz com Descartes, que a todo momento pode ser substitudo por seu leitor. E ento, delicadeza analtica retomada nesta conversa, junto a Deleuze: no interessa comentar Nietzsche como se comenta Descartes ou Hegel, abrindo o texto do colquio de CerisylaSalle, de 1972. Se Foucault desliza na intensidade do eu que no se pode dizer em Nietzsche,explicitandoessaperturbaoqueeleinstalanafilosofia,Deleuzepermanece nacompanhiadeFoucault,investindonopensarnmadequeescapaaoeu.Eseescapa, porque acontece em outro plano, dir Deleuze. No se diz eu no lugar de Nietzsche, pois nele no h nada a interpretar. Quem so hoje os nmades? A pergunta sobre Nietzsche que Deleuze apresenta em 1972 abandona a interpretao, pergunta em movimento, interessada na potncia das foras em jogo lanadas na capilaridade do aforismo,ouaquiloqueDeleuzeproblematiza naquestodoestilocomopoltica.Como no rir, ento, quando h uma alegria dissolvendo a m conscincia do ressentimento que s pode julgar, ou uma ironia escancarando as foras do negativo funcionando como virtude? Nietzsche, o riso na filosofia, em lugar do significante, do eu repetido no verbo que cria e recria um mesmo Uno sobre tudo, para todo sempre. O riso, a dissoluo da interioridade do eu, e o fora da multiplicidade das relaes nmades instaladasnodeviremfuga,emfluxosdefugasintensivas,entredois.
Tomando partido contra si Nossos adeptos jamais nos perdoam, quando tomamos partido contra ns mesmos: pois isso significa, a seus olhos, no apenas rejeitar seu amor, mas tambm desnudar sua inteligncia (Nietzsche, 2008, p. 130).
Como escapar sentena de liberdade? Como burlar esse desgnio? Como subverter uma ordem, um territrio que a todo momento se recompe? Como fugir de uma lngua que se anuncia lei? Como deixar de ser senhor, soberano, profeta, heri? Como deslizar das profundidades ancestrais instaladas no hbito da docilidade moral, em cada gesto, em cada cadncia, em cada promessa em nome de todos, do bem de todos?Corroeramemria,odesprezo,ocansao,oressentimentoeofervorinstalados no tempo, o tempo instalado na eternidade; a eternidade, da vida, feita corpo feito alma, feita nimo, feita agora, agora e sempre. Um instante, a aguda superfcie de um silnciodissolvendoodizer,ainvenodepalavrassemeco,ainvenodepalavrassem
131
www.unicamp.br/~aulas
peso,semfundoesemforma,apenasuminstante,contraaeternidadenomesmodesi, contra si a batalhada intensiva da que fala Nietzsche em seu Humano, demasiado humano (Nietzsche, 2008). Apenas um instante, e o mundo desmorona. E to s, e a existncia revirada nessa batalha, acontece farpa. Farpa: uma durao, uma extenso, ummovimento,eumapotncia:umadelicadeza,umaleveza,umacrueldade.Etos.E nohalm. Uma anarquia, e o mundo desmorona. Desmorona, porque no acontece, porque no lhe acontece existncia, nesse instante, nessa batalha. Uma aguda anarquia, contra si, atravessa a fatalidade da origem ao destino do corpo/alma, uno para si, universal, deus, natureza, homem: inscrevese na pele, nessa atualidade. A cada vez, uma crueldade capilar, essa anarquia da que se diz aguda: quando se inventa dizer, to s, o que no se pode calar, falar em nome prprio, abandonar toda benevolncia, toda redeno, todo compromisso alm, alm da pele. Pensar em nome prprio, como falava Zaratustra, quando a pergunta deixa de ser livre do qu?, pois interessasaber:livreparaqu?(Nietzsche,2005,p.128). quele que caminha para a solido, para encontrarse a si mesmo, sentindose livre da conscincia do rebanho, Zaratustra lhe diz: Quero ouvir teu pensamento dominante, e no que escapastes de um jugo (Idem). Ao solitrio o rebanhojamaisperdoar;maiscedooumaistardetentarcrucificlo.Odioeainveja sero os sentimentos que tentaro matar o solitrio: o solitrio deve ser capaz de ser umassassino.Deveapartarsedosbonsedosjustosquenosuportamqueminventa sua prpria virtude , e da santa simplicidade que no suporta o que no simples. E se apartar tambm do seu amor, que no resiste mo estendida em splica. Mas, sobretudo,apartarsedesimesmo.Ocaminhodosolitrio,ento,serodocriadoredo amante. Do criador, depois que no h mais do que cinzas, pois o solitrio dever arder em seu prprio fogo; e do amante, pois s o amante pode desprezar aquilo que ama. E ento dir Zaratustra: Amo a quem quer criarse por cima de si mesmo e por isso sucumbe(Ibid.,p.130). O prlogo que escrevera em 1886, para os textos do seu Humano, demasiado humano, Nietzsche o instala sobre esta questo: preciso falar apenas do que no se pode calar o resto no passa de tagarelice. O que no se pode calar, aquilo que superamos, depois de uma convalescncia, diz Nietzsche de seus escritos, at que em mim nascesse o desejo de explorar, de esfolar, desnudar, apresentar (ou como queiram chamlo) posteriormente, para o conhecimento, algo vivido e sobrevivido,algumfatooufadoprprio(Nietzsche,2008,p.7).Ofogoeodesprezodo solitrio, criador e amante, que se separa do rebanho, no para se encontrar, mas contra si: perder o rosto, dir Deleuze. Ser um traidor, de seu prprio reino, ser traidor de seu sexo, de sua classe, de sua maioria que outra razo para escrever? E ser traidor da escritura (Deleuze & Parnet, 1998, p. 58). Trair, perder a identidade, o rosto. Trairafilosofia,poisserimpossveldizereuemseu lugar,oqueNietzscheinventana filosofia,suaperturbao.
132
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
(2)
Porvir Destino, revolta ou direito: um sentido mtico ou mgico, revirado numaconscinciafabular:crculoperfeito,palavragirandoemrbita.Liberdade,palavra desdobrada em semnmero de grandezas, a qualquer momento: a eternidade astral das revolues. Enterrada em todas as alturas conhecidas do verbo, das misteriosas profundidades da criao s tenebrosas profundidades do sempre ltimo juzo. Palavra derramada no tempo que contm a promessa e a virtude da vida, na eternidade anunciadanafatalidadedotempo,detodosostemposredimidosemum.Ecoancestral, ressoando grandioso no sentido fatalmente humano do arbtrio eco litrgico de um obscuro silncio: a vida s pode ter sentido, e ser perdoada, com a aceitao fervorosa do incompreensvel. Em rbita, na eternidade circular do arbtrio, a liberdade inscreve a vida nessa eterna revoluo. E a vida deve ter sentido, deve, acima de tudo, ser perdoada:osofrimentoaprimeiramedidadoquandodaliberdade;oquando,sendoa medida do perdo de todo sofrimento; o perdo, ainda, a medida do incompreensvel, doincompreensvelhbitodesesuportaravida. Teria sido assim, naquele sculo, embora os profetas (novos antigos profetas) falassem de uma conscincia da liberdade quando falavam de uma sombra, darevoluosombradaliberdade.Teriasidosempreassim,enadamais,derevoluo em revoluo e existiria, por certo, palavra mais humana do que liberdade? Ou, ao escapar a ela, dilacerao mais terrvel, um acontecer nohumano mais terrvel noutra palavra? Nos seus sonhos, escrita capilar redobrada sobre a prpria pele, escrita dilacerada, dilacerada em sonhos sem sono contra o prprio corpo que ainda insiste na pele; quem, agora, seno Kafka, para escancarar o inominvel nohumano da mais terrivelmente humana das palavras eternas? Sonhei que ouvia Goethe declamando, com liberdade e arbtrio infinitos (Kafka, 2008, p. 50). Julho de 1912, num dirio de viagem. Liberdade e arbtrio infinitos: a impossvel oposio explode (j explodiu) no poemaquefaltadeclamao,queporsuavezexplode(emexploso,explodiu?)navoz que abandona o artista sonhei que ouvia nada mais a ser salvo, depois disso nada maisaserdito,quepudesseserporvir;nadaalm,nemumaforma,nemumsignificado, nem um mistrio nada, alm da prpria pele dilacerada pela reverso irredutvel de todos os sentidos, num sonho sem sono, num instante improvvel, numa experimentao contra si, essa vivacidade de algo de nohumano acontecendo: a intempriecapilardasforasemtenso,nodevir,umdevir.
O quadro da vida a tarefa de pintar o quadro da vida, por mais que tenha sido proposta pelos escritores e filsofos, absurda: mesmo pelas mos dos maiores pintores-pensadores, sempre surgiro apenas quadros e miniaturas de uma vida, isto , de sua vida e outra coisa tambm no ser possvel. Naquilo que est em devir, um ser em devir no pode se refletir como algo firme e duradouro, como um o (Nietzsche, 2008, p. 22/23).
Em devir Albert Libertad. Sob a tutela direta, formal, verdadeiramente ineludvel, do Estado francs, ele deveria cumprir 21 anos. Para ser liberto desses cuidados. Foi pela graa de seus pais, desconhecidos, desaparecidos com seu nascimento. Antes, incluso, de que convictas conjecturas chegassem a alguma bela
133
www.unicamp.br/~aulas
prova. Tanto faz. Cumpriu seus anos em novembro de 1896, e j ia de Bordeaux a Paris. Pressa certeira, prolongada em Paris, no vigor arrancado de cada nervo; com a exuberncia de quem se diria saber, desde cada nervo em riste, de sua morte tambm arrancada.Arrancadadocorpo,damemriainconformadadocorpo,suanicaprofunda lentido onde mais poderia esquecerse de sua morte? O resto, tudo mais, ia adiantado. Por impacincia, desprezo agitado, no pelo corpo, mas por toda lentido, todo cansao, todo descanso. Adiantado, jamais alm. De vez em quando, tinha de se surpreender em cambalhotas, suas velocidades dissolvidas no giro, turbilho, como em Deleuze e Guattari (2008): o extensivo do movimento e o intensivo da velocidade, na multiplicidade irredutvel de um corpo, um corpo. E nunca se sabe: as vezes que fizera de suas muletas umas muletas estourando a dignidade equilibrada dos (quantos?) agentes da ordem, fardados ou fervorosos, que se lhe vinham encima, encima de um corpoparaltico,interditadodesdehaviasabesel Foi a Paris, s ruas de Paris, e noite dormia num abrigo. Justo enfrente ao escritriodo Le Libertaire, que Sbastien Faure apenas havia fundado, em novembro de 1895. Algo j sabia de Faure, quase vinte anos mais velho, e do anarquismo, e j haviacomeadosuasconversas.Seriaemmuitoconhecidoporessasconversaspblicas, quenofezmaisdoqueampliar,emnmeroeemfora.Palavrasemriste,despertando a sombra constante dos censores, da polcia e dos incomodados aparecendo por toda parte. E em seu estilo atravessam as leituras de Nietzsche e Stirner, e as amizades com mile Armand, Andr Lorulot ou Vctor Serge. Naquele sculo em fim, convulsionado de revoluo e de liberdade, de classe operria, de liberalismo, de unitarismos, de sindicalismos e anarquismos, e de todas as modulaes e insurgncias entre tudo isso, um anarcoindividualismo na companhia de Nietzsche e de Stirner. Pode que fugaz, mas nada conveniente. Pouco depois de chegar a Paris conheceria Sbastien Fuare, e seu convitedesehospedarnoLeLibertaire. Em novembro de 1875, dia 24. Nasceu, rfo imediato na comuna de Bordeaux, no departamento da Gironda, na regio de Aquitnia, no sudoeste francs emaranhado, desde uma memria de primeiros imprios, com catales e bascos da Espanha, e entre outros, da Espanha, da Frana e da Itlia, dizendo da Occitnia, nao sem Estado, hoje demarcada pelo Estado francs. Entre esses povos, naes e lnguas, e Estadosinstalandofronteirasenimos,aindahoje,enosculoXIX,enooutro,eassime assim. Recoberto em mil camadas de senhores e irmos, e povos, e sacerdotes, e pais e mes.Encerradonoencerropiedosoecaridoso,maisum,doEstado,paraelecongnito, diaapsdiaapsdia,atcumprirasentenadosquecouberemem21vezes365dias,5 horas, 49 minutos, 12 segundos. Detido em msculos detidos nos seus movimentos disparados em incontornveis urgncias. E em Paris, entre amigos e amores, mas de caramultidoderessentidos,indignadosemagoados,eaindaosagentesdaordem,os oficiais, detrs dele, perto dele, vigiando, seqestrando, espancando, torturando, denunciando;esua morte logomais,nohospitalLariboisire,naruaAmbroise Par,em Paris. Dia12de novembro,em 1908,seisdiasdepoisdelchegaro que durou uma doena infecciosa (esta verso), ou sua fora em mngua (verso dois), frente ao espancamento covarde dos que, de novo, cumpriram seu dever. De qualquer maneira, os sujeitos ocultos nas verses, longe de acabar com o estatuto do autor narrador mais
134
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
confivel, distribuem entre todos a histria e o veredito, o arremedo da participao tal qual nas novelas e os mil e um programas de participao, ou na internet. E o juzo afundando na mais plcida das mais cvicas profundidades: o que permanece, revigorado, na boca do povo. O que foi ou no, nunca se sabe, nunca se soube, pois o que um artigo determinado afirma no o ser, em devir, que lhe escapa (e isso tanto faz): aquilo que o determinado mostra o funcionamento quase impecvel do regime de determinao na democracia, a participao significa liberdade. E no se diz o sem ter de dizer eu: o tirano, o rei, o general, o superior, e os executores da lei e da ordemestoportodaparte.Todoscomprometidoscomaverdade. Apenas chegara a Paris, foi morar no Libertaire. Todas as novas e velhas declinaes de liberdade estavam por a, bem na ponta das lnguas. Tambm se conta quelnaFranalindandoespanhis,umdeles,anarquista,devolveulheafora,oestilo e a cadncia com que dizia a palavra, na pele, sem sossego: e lhe inventou esse nome espanhol (sendo essa a primeira das formas que seu nome dissolveria): Libertad. Joseph Albert, quando chegava a Paris j era Libertad, ou Albert Libertad. E contam que ele gostava de dizer, quando lhe perguntavam qual, afinal, era seu nome, que para ele isso no tinha a menor importncia (ele gostava de falar, de lanar coisas ao falar). Mas como no se chamaria, ento, Libertad? Dormia no Le Libertaire, mas ainda no havia comeado a escrever para esse jornal. Trabalharia um tempo como corretor, na grfica de Aristide Briand, quem editava o La Lanterne e imprimia o Le Journal du Peuple, que Faure editava. Na grfica de Briand, entretanto, Libertad s comearia a trabalhar depoisdedoismesesdepriso. Albert Libertad gostava de entrar nas igrejas de Paris. E se deva esse gosto cadavezquepodia.Quandosecelebravaamissa,claro.AigrejadoSacrCoeurficavaa poucosmetrosdoLeLibertaire.Passavaporl,umdiaqualquer,dosprimeirosquevivia em Paris, e havia missa. Entrou de surpresa, e foi jogando seus gritos e suas muletas, a voz, as palavras e as muletas uma coisa s, uma coisa que ele era nessa reverso de tudo l, que s a fora policial pde interromper. E que a justia rapidamente sentenciou como crime de rebelio: dois meses. Da foi morar no Le Libertaire, a poucos metros daquela a primeira igreja que visitava em Paris. Seu estilo em turbilho, aparecendo sem anncio ou dizendo sem anncio algo do que no se devia ouvir falar: desde que chegou a companhia da polcia lhe foi sentenciada para todos seus dias, de perto.Quifosseapolciaseuouvinteeleitormaisempenhado,indiferentespalavras que com muita facilidade abalavam os outros. Qui em algum de seus pores esteja hojeumamemriasuatoeloqentequantooesquecimentoquehnoutrasalturas Mas isso, tampouco, tem a menor importncia; no para reivindicar um nome, gesto de por si tenebroso, estabanado demais, quando seu nome ele mesmo o esquecera. E condenar esta leveza, com Ren Char? (2007): Os pssaros livres no suportam ser observados. Sigamos sendo obscuros, renunciemos a ns mesmos, perto deles(p.113).Emnomedoquseriaprefervelerigirumnovobonecodepedra,eficar ao p, para que todos vejam as flores ou os escarros de uma contemplao engajada? Ou melhor: como possvel que se prefira adorar, amar ou condenar, e no sair do mesmonegativodesempre?Sair,enosabermais,noprecisarsaberdeantemo,no lembrar do porvir, uma fuga: movimento e velocidade uma fuga, mas uma fuga nmade. Obscuros, no ser como esses pssaros; deixar de ser o que se , j que perto
135
www.unicamp.br/~aulas
deles s o que se pode, o quanto se puder deixar de ser, e no ser mais do que esse encontro. Algo de nohumano que escapa a todas as declinaes formais da palavra, o movimento, os giros, a delicadeza, as velocidades, os sons novocais: da mesma maneira, quando escreve, Char no ensina a fazer como ele, a imitar essa revolta que elejinventoumaspossvelficarpertodele(n1).
(3)
Morou na Itlia at 1929, at quase encerrarse 1929, quando foi para Vence, na Frana. Tuberculoso. E l morrera, em 1930, em maro. Tuberculoso. Era 17 defevereirode1929,eojornalbritnicoSundayDispatch publicavaMyselfrevealed,de D. H. Lawrence (2008),76 que morava na Itlia, vivendo perto dos camponeses dos quais queria, ento, viver perto. No para viver com eles, isso seria uma espcie de priso (Ibid., p. 156). No para idealizlos. Basta dessa asneira! (Idem). Viver perto deles, anota, suas vidas indo adiante junto com a minha, e em ligao com a minha (Idem). Com eles, em um certo contato silencioso (Idem), com eles, que compunham seu ambiente. E deles o fluxo humano que chega at Lawrence, que abria essas linhas dizendo haver nascido e haver sido criado em meio classe trabalhadora um garoto pobredaclassetrabalhadora. Em 1929, contando pouco mais de quarenta anos, um garoto pobre da classetrabalhadoravoltasecontrasi,nessaslinhasdetobrevesagudaspontiagudas, sem piedade: Mas afinal de contas, o que sou agora? (Ibid., p. 149). Agora, em 1929, quando o mundo rua, chegando outubro; e a Europa, vetusta e arruinada, embora para Lawrence o menos arruinado dos continentes, em 1929, Um lugar onde se vive, est vivo (Ibid., p. 155). Agora, em 1929, perto dos camponeses que compem seu ambiente, em algum lugar da Itlia, em algum lugar da Europa, fluxos, seu ambiente, algo nohumano, novocal, pois algo est errado, seja comigo, seja com o mundo, ou com ambos (Ibid., p. 154), e se pergunta o que sou?: o qu? Aquele garoto pobre da classe trabalhadora seu pai, apenas um minerador de carvo; sua me, que vinha da cidade, da pequena burguesia da cidade, que perfeitamente falava o kings english, incapaz de pronunciar uma frase sequer daquele dialeto de minerador, do minerador seu marido, dela, a esposa de um trabalhador, e nada mais, com sua pequena touca negra puda e sua aparncia sagaz, desembaraada, diferente (Ibid., p. 151)., aquele que escreve contra si: No se pode pertencer em absoluto a classe alguma (Ibid., p. 156). Nascido e criado na classe trabalhadora, agora, em 1929, num tempo que se fazia daclassemdia. Era 1929, no limite, da classe, da classe trabalhadora, conformada num sculo anterior, enterrandose noutro, seu fim porvir; e a classe trabalhadora, esgarandose em lutas quase perdidas, quase novas, quase porvir. A classe trabalhadora e a burguesia, um tempo noutro tempo, esse limite em 1929, e a classe mdia, no o triunfo da classe mdia, mas o triunfo daquilo que a classe mdia .77
Na edio brasileira (Lawrence, 2008), Meu ser revelado, includo como apndice da coletnea de contos. 77 Grifo de Lawrence.
76
136
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
um abismo. Um abismo, para alm do qual todo o melhor fluxo de pessoas perdido (Ibid., p. 155). Um abismo, uma priso, quando Lawrence pensa seu contanto com o mundo, com as pessoas, que nunca teve, para ele, nada de vital. Priso de sua classe trabalhadora, limitada no preconceito, na inteligncia, embora de certa maneira profunda e apaixonada. E priso da classe mdia, essas pessoas encantadoras e cultas, das que freqentemente poderia dizer serem boas, embora delas tambm diga Lawrence que silenciam sua vitalidade, embora frvolas, e sobretudo desapaixonadas, e muito, ou, no melhor dos casos, que mudam de sentimentos, a grande emoo manifesta da classe mdia (Ibid., p. 156). Uma ou outra classe, a conscincia que se tornou exclusiva, a parca, espria presuno mental que tudo o que sobrou da conscincia,logoquesetornouexclusiva(Ibid.,p.157). H uma ruptura com as pessoas, com o mundo, algo que escapa a essa conscincia, quando Lawrence se pergunta o que sou, agora, no final das contas?, nessa ruptura, seu ambiente, a intensidade do que lhe vvido e visceral: sua conscincia passional, e sua antiga afinidade de sangue com seus semelhantes e os animais e a terra. Num limite, que poderia ser o da classe trabalhadora na classe mdia, ou do sculo XIX no XX, em 1929, Lawrence inventa uma escrita nohumana e no vocal que subverte os nomes, todos os nomes, toda vez que se pergunta quem sou?. Eu, no comeo, no eterno comeo, no mundo repartido em deuses, em causas, em classes,emverbos.
As pessoas foram quase sempre amigveis comigo. Dos crticos, no falaremos, so de uma fauna diferente. E eu quis ser amigvel de verdade com alguns, pelo menos, de meus semelhantes. No entanto, jamais tive xito por inteiro. Se me dou bem no mundo uma questo; mas sem dvida no me dou muito bem com o mundo. Se sou um sucesso mundial ou no, na verdade no sei. De algum modo, todavia, no me sinto tanto um sucesso como pessoa. Quero dizer com isso que no sinto que haja qualquer contato cordial legtimo entre mim e a sociedade, ou entre mim e outras pessoas. H uma ruptura. E meu contato com algo no-humano, no-vocal (Lawrence, 2008, p. 149).78
E de novo, dizem por a Dizem: para afirmar esses movimentos, a multiplicidade em devir que no cessa, os seres em devir que apenas uma soluo interpretativapodefixar(eentooquesepensaestencerradonainterpretao),para permanecer no movimento, saindo da verdade e do verdadeiro; ou para rir, para rir da sisudez com que se costuma (e se deve) dizer eu no lugar de outro eu. Libertad tambm gostava disso, esquecer seu nome, desmoronando o solo e o cu que abrigam outros.Esairnumpulo,inventarumgiro:Dizemqueoslobosnosedevoramentresi (Libertad, 1906). Publicava na edio de 20 de dezembro do Lanarchie, em 1906, Le Syndicatoulamort[Osindicatoouamorte],instalandonessagargalhadaalevezade queprecisavaparaexperimentarumpensarintempestivo,atravessandoosindicato,em
78
Grifos de Lawrence.
137
www.unicamp.br/~aulas
meio ao tempo em que estava, ainda o tempo de sua grande virtude. O homem pode ser o lobo do homem, como h tanto se repete, mas, dizem, os lobos no se devoram entresi.Oshomens,contudo,sim. E mais, essa diferena de apetites entre os lobos e os homens seria, precisamente, resultado da civilizao: a civilizao,79 to maravilhosamente favorvel ao desenvolvimento de nossos mais selvagens instintos, segue Libertad (Idem), consagraria esse devorarse entre si que diferenciaria os homens dos lobos. No s inverso do postulado poltico, homo homini lupus, que com Hobbes atualiza o pressuposto da necessidade do Estado, mas corrosiva ironia, que explicita o deslizamento analtico para outro ponto de vista: no se trata da crtica necessidade doEstado comoparmetrolgico,poisinteressadescrevercomofuncionamasrelaes polticasnavirtualidadedasprticassociais.Multiplicidadedeprticas,dentreasquaisa interpretaotericauma,quecompe,enoconforma.Seohomemnoolobodo homem, no ser porque, contrariamente teoria poltica, os homens no se devorem entresinaausnciadoEstado:porquesedevoram,nacivilizao,isto,nointeriordo Estado, diferentemente dos lobos. Os homens se devoram, e se devoram de todas as maneiras, cada vez mais, como que numa espcie de razo direta ao denominado progresso da sociedade capitalista. Nessa sociedade das modernas classes sociais, Libertad e Lawrence se encontram numa ruptura que amanhecendo o sculo XX ainda soa extravagante: burgueses se devoram e proletrios se devoram, e a est aquele abismoqueviaLawrence,masoproletariadosedevoracomespecialavidez,eseresse odeslizamentodeLibertad. Soberanos, financeiros e burgueses no desdenham devorarse entre si (Idem), entretanto, seja por falta de uma fome que de outras maneiras satisfazem, seja por predileo em devorar o povo, no se devoram entre si, nem remotamente, com a fria com que o povo ele mesmo o faz. Assim, o proletrio Apreciase com todos os molhos e, bem ou mal temperado, jovem ou velho, tenro ou passado, devorase com um apetite que praticamente tambm o nico testemunho crescente de estima de quedispe(Idem).Nacidadeounocampo,nafbricaounaoficina,ondequerqueseja que o povo trabalhe para sustentar a fortuna de um senhor, onde trabalhar fervorosamenteparaconquistaraestimadopatro,ali,dizLibertad,osentimentomais estendido o encarniamento na luta contra os companheiros de trabalho ou de misria (Idem). E quantas vezes no foi parar nisso a causa operria que animava nessestemposasmodernaslutasrevolucionrias?
Ondeestomartelo?Vai,carpinteiro!Umaconfusodevozesressoanosmeusouvidos. Apesar da dor, luto por me levantar. Sinto encima de mim o peso de muitos corpos. Agora a voz de Frick! No est morto? Arrastome em direo fonte do som, arrastando comigo o forcejar de meus rivais. Tenho de tirar o punhal do meu bolso J o peguei! Ataco com o punhal as pernas do homem que est perto da janela, uma e outra vez. Escuto que Frick grita de dor h muito barulho de passos e gritos , me puxam pelosbraos,osretorcem,antesdemealaremforadocho(Berkman,2007,p.55).
79
Libertad usa a palavra em itlico.
138
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
A Carnegie Steel Company, em Pittsburgh, era a maior empresa de ao do mundo. Andrew Carnegie a fundara na dcada de 1870, e a dirigia, 20 anos mais tarde, quando comearam os conflitos com seus trabalhadores, organizados na Amalgamed Association of Iron and Steel Workers [Associao Mista de Trabalhadores do Ferro e do Ao]. Em1892,porm,transferiusuafunotemporariamentea HenryClayFrick,outro magnata dessa indstria, mas tambm () um homem conhecido por sua inimizade com os trabalhadores (Goldman, 1996, p. 111). Em maio de 1892, lembra Emma Goldman,osacordossalariaisentreosindicatoeaCarnegieSteelCompanyestavampor expirar. Milhares de operrios especializados trabalhavam nas instalaes de Homestead, cidade prxima a Pittsburgh, por salrios escandalosamente baixos. Clay Frick dissolveu as negociaes sindicais, e os acordos at ento celebrados, estabelecendo individualmente as conversas com os trabalhadores, e ameaando com demisso e fechamento das fbricas. E isso fez. Uma declarao de guerra, que derivou no massacre de trabalhadores por assassinos contratados por Frick, em julho de 1892. AlexanderBerkman,oamadoSashadeEmma,decidiuentomatarHenryClayFrick. Era o momento psicolgico para um Attentat: o pas inteiro estava comovido, o mundo inteiro considerava Frick o autor de um assassinato a sangue frio (Ibid., 115). Sasha mataria Frick e, condenado a morte, daria sua vida pelo povo. Era sbado, 23 de julho de 1892. Alexander Berkman aparece com trs disparos no escritrio de Frick, que cai ferido. Levava consigo um punhal envenenado, no caso de que com a pistola no morresse o magnata. Mas enquanto seu ajudante o protegia do prximo ataque, alguns de seus operrios se apressaram a deter Berkman, a golpe de martelo, salvando prontamente a vida de seu abatido patro. Em lugar de morrer pelo povo, o jovem Alexander Berkman ser condenado a 22 anos de priso. Em lugar de serem abalados pelo suposto efeito revolucionrio desse gesto, os trabalhadores da Carnegie Steel Company arremessaramse contra Berkman. O senhor, o capataz: sua necessidade de vigilncia, de defesa e de polcia contra aqueles que lhes servem o de menos. Nove de cada dez vezes, no encontraro guardies mais fiis, vigilantes mais ativos, agentes mais dedicados, defensores mais fervorosos do que os prprios companheiros desses desgraados (Libertad, 1906). Agudo limite de uma palavra, a liberdade designando uma causa alm da prpria pele, nessa intensidade que corri as grandezas do esprito, a atualidade da pergunta permanece nesse giro surpreendente, turbilhodealgonohumano,intempestivo:intilrevoltarse?
(4)
Afilosofiaromance,deHegeleSartre;afilosofiameditao,deDescartese Heidegger; e a filosofiateatro, de Zaratustra a Diferena e repetio (Deleuze, 1988): escreve Foucault, leitor de Deleuze. Leitor desse livro, que o teatro, a repetio de uma nova filosofia,80 desde o Zaratustra: no absolutamente reflexo sobre o teatro;
80 Foucault fala da repetio de uma nova filosofia, no s operando na intensidade da repetio sem origem ou reaparecimento do mesmo, mas tambm num desdobramento com Deleuze, no que ele mesmo afirmara de Nietzsche e Kierkegaard: Eles inventam, na Filosofia, um incrvel equivalente do teatro, fundando, desta maneira, este teatro do futuro e, ao mesmo tempo, uma nova Filosofia (Deleuze, 1988, p. 12).
139
www.unicamp.br/~aulas
no absolutamente teatro prenhe de significaes. Mas filosofia tornada cena, personagens, signos, repetio de um acontecimento nico e que jamais se reproduz (Foucault, 2000b, p. 142). A filosofiateatro, o fim da filosofia da representao. Para Deleuze, filosofiateatro em Nietzsche e em Kierkegaard, e o problema do movimento, que percorre seus escritos: Eles querem colocar a metafsica em movimento, em atividade querem fazla passar ao ato e aos atos imediatos. No lhes basta, pois, propor uma nova representao do movimento; a representao j mediao. Ao contrrio, tratase de produzir, na obra, um movimento capaz de comover o esprito fora de toda representao; tratase de fazer do prprio movimento uma obra, sem interposio; de substituir representaes mediatas por signos diretos; de inventar vibraes, rotaes, giros, gravitaes, danas ou saltos que atinjam diretamente o esprito (Deleuze, 1988, p. 32). Para Foucault, filosofiateatro em Deleuze: Incipit philosophia(adadiferena)(Foucault,2000b,p.143). Uma nova filosofia, enfim, em Nietzsche, que multiplicou os gestos filosficos(Foucault,2000a,p.33);ouemNietzscheeKierkegaard,queestoentreos que trazem Filosofia novos meios de expresso (Deleuze, 1988, p. 32). Ou em Deleuze, ao pensar a intensidade, essa aguda revoluo em filosofia que , para Foucault,
() tornar-se livre para pensar e amar o que, em nosso universo, ruge desde Nietzsche; diferenas insubmissas e repeties sem origem que sacodem nosso velho vulco extinto; que fizeram espoucar, desde Mallarm, a literatura; que fissuraram e multiplicaram o espao da pintura (divises de Rothko, sulcos de Noland, repeties modificadas de Warhol); que definitivamente quebraram, desde Webern, a linha slida da msica; que anunciam todas as rupturas histricas de nosso mundo. Possibilidade finalmente oferecida de pensar as diferenas de hoje, de pensar o hoje como diferena das diferenas (Foucault, 2000b, p. 144).
Teatro maravilhoso, teatro atual: leitor de Diferena e repetio, Foucault retorna aos traados dinmicos desse teatro da repetio, quando experimentamos uma linguagem que fala antes das palavras, gestos que se elaboram antes dos corpos organizados,mscaras antes das faces,espectros e fantasmas antes dos personagens todo o aparelho da repetio como potncia terrvel (Deleuze, 1988, p. 35). O teatro da repetio opese ao teatro da representao: assim como o movimento, diz Deleuze, opese ao conceito e representao que subscreve o movimento ao conceito.
Teatro pouco provvel outrora de beijos dados e recebidos. Ou to s dados. Ou to s recebidos. Ficar sobretudo com a nfima elevao das comissuras. Sorriso? possvel? Sombra de um a ntigo sorriso sorrido enfim definitivamente. Como a boca mal entrevista sob os raios que de sbito a abandonam. Ou melhor, que ela abandona. Sada para a escurido onde sorrir sempre. Se de sorrir se trata. Samuel Beckett, Mal visto mal dito (1980)
intil revoltarse? No Le Monde de 11 de maio de 1979 aparecia um breve escrito de Foucault. A revoluo iraniana que apenas acontecera poderia ser seu
140
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
tema, se com essa formalidade interessasse esquecer o movimento do texto, outras intensidades. J de sada, Foucault desvencilhase das sentenas tericas que fascinam outros intelectuais, ocupados em designar tipologias, cronologias e territrios de toda ndole. O movimento com que um s homem, um grupo, uma minoria ou todo um povo diz: No obedeo mais, e joga na cara de um poder que ele considera injusto o riscodesuavidaessemovimentomepareceirredutvel(Foucault,2004,p.77). Esse movimento, esse momento, essa reverso intensiva, quando nada mais se permuta na vida, nesse giro que se encontra, no a promessa, mas a possibilidade n1 que impede que qualquer poder possa se dizer absoluto. Algo escapa, e escapa pelo meio, a qualquer momento, quando algum afirma no obedeo mais. Mesmo histria das revoluesescapamessasintensidadesemdevir. Arevoltainscrevesenahistria,mastambmlheescapa:() precisoao mesmotempoespreitar,porbaixodahistria,oquearompeeagita,evigiarumpouco por trs da poltica o que deve incondicionalmente limitla (Ibid., p. 81). seu trabalho, aquele que escolheu, quando se diz intelectual, no riso vivaz que dissolve a grandiloqnciadassolenidadestericas.Quandoateoriasomentepermiteafirmarque talrevoluo,outalinsurgncia,merecetalapologiaporquelivroudeumpoderterrvel, ou que merece tal condena porque instituiu um poder terrvel, o pensar analtico permanece espreita, por baixo da histria e por trs da poltica, lembrando que Ao poder,precisosempreoporleisintransponveisedireitossemrestries(Ibid.,p.80). Mas se as revolues, na histria, desenham essa fatalidade da insurgncia, da desobedincia instituindo novas relaes de poder, seria intil, ento, revoltarse? O queescapaahistriaodilaceramento,quandoaprpriavidaoqueestemrisco.Se o poder no absoluto, no porque seja possvel se opor s relaes que se considereminjustas,masporqueaqualquermomentopossvelescaparaessajustia. O irredutvel da revolta subverte as coordenadas da histria e da poltica: Kafka no designa a liberdade no sonho, ou o sonho na literatura; o nohumano de Lawrencenoilustraafatalidadedalutadeclasses;ospssaroslivresdeRen Charno representam a salvao potica; Libertad no destri a causa operria; Nietzsche no traduzoabsurdonafilosofia;Deleuzenorevelaumacontemplaofilosficadaarte.E Foucault no restitui uma pureza perdida da revoluo. irredutvel revoltarse em conversas nmades que rompem e agitam, tambm, a histria do pensamento. A histria ou a poltica, num limite insuportvel, na prpria existncia. No para salvar ningum,noparafalarporningum,noparadefenderumaliberdadequalquerporvir. Numa experimentao analtica, interessa inventar percursos entredois, pensar livre de pontos de chegada e de partida, contra si. Pensar em devir, acontecimento irredutvel, quenovaialmdaprpriapele(dessasuperfcie/corpo,dessecorpo/atualidade).
Por que compara o mandamento interno a um sonho? Seria o primeiro como o segundo, absurdo, desconexo, inevitvel, exclusivo, portador de alegrias ou medos infundados, incomunicvel enquanto um todo e exigindo ser comunicado? Tudo isso: absurdo porque s posso sobreviver aqui se no lhe obedecer; desconexo porque no sei quem o ordena, e com que objetivo; inevitvel porque me pega de surpresa, to desprevenido quanto os sonhos assolam quem dorme, embora quem se deita para dormir deveria saber que vai
141
www.unicamp.br/~aulas
sonhar. exclusivo, ou assim parece, porque no posso concretiz-lo, no se mistura realidade e por isso no pode ser repetido; provoca alegrias ou medos infundados, alis muito mais estes do que aquelas; no pode ser comunicado porque inatingvel, e pelo mesmo motivo exige ser comunicado. Franz Kafka, Quarto caderno in-oitavo, 7 de fevereiro de 1918.
Referncias bibliogrficas
BERKMAN,Alexander.Memoriasdeunanarquistaenprisin.2007.Barcelona,Melusina. DELEUZE,Gilles.Diferenaerepetio.1998.Trad.LuizOrlandieRobertoMachado.Riode Janeiro,Graal. __________Conversaes.1992.Trad.PeterPlPelbart.RiodeJaneiro,Ed.34. __________ La isla desierta y otros textos Textos y entrevistas (19531974). 2005. Valencia,PreTextos. DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Flix. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 2008. Valencia,PreTextos. DELEUZE, Gilles & PARNET, Claire. Dilogos. 1998. Trad. Eloisa Arajo Ribeiro. So Paulo, Escuta. FOUCAULT, Michel. Michel Foucault e Gilles Deleuze querem devolver a Nietzsche sua verdadeira cara. In: Arqueologia das cincias e histria dos sistemas de pensamento. Ditos&Escritos,II.2000a.Trad.ElisaMonteiro.RiodeJaneiro,ForenseUniversitria. __________Ariadneenforcouse.In:Arqueologiadascinciasehistriadossistemasde pensamento. Ditos & Escritos, II. 2000b. Trad. Elisa Monteiro. Rio de Janeiro, Forense Universitria. __________ intil Revoltarse?. In: tica, sexualidade, poltica. Ditos & Escritos, V. 2004. Trad. Elisa Monteiro e Ins Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro, Forense Universitria. GOLDMAN, Emma. Viviendo mi vida, Vol. I. 1996. Trad. e notas Antonia Ruiz Cabezas. Madrid,FundacindeEstudiosLibertariosAnselmoLorenzo. KAFKA,Franz.Sonhos.2008.Trad.RicardoF.Henrique.SoPaulo,Iluminuras. LAWRENCE, D. H. O cego e outros contos. 2008. Org. e Trad. Maurcio Brigo. So Paulo, Hedra. LIBERTAD, Albert. El sindicato o la muerte. 1906. In: Multitud Red social de reflexin crticacontempornea[Citado12desetembrode2009].DisponvelnaWorldWideWeb
142
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
<http://colaboratorio1.wordpress.com/2008/09/30/clasicossubversivoselsindicatoola muertealbertlibertad1906/> NIETZSCHE,Friedrich.AshablZaratustra.2005.Madrid,Valdemar. __________ Humano, demasiado humano: um livro para espritos livres. Vol. II. 2008. Trad.,notaseposfcioPauloCsardeSouza.SoPaulo,CompanhiadasLetras.
143
www.unicamp.br/~aulas
144
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Errico Malatesta e a revoluo como esttica da existncia
Nildo Avelino
Doutor em Cincia Poltica PUC-SP, Ps-Doutorando em Histria Poltica IFCH/UNICAMP : nildoavelino@gmail.com
Resumo
A partir do conceito de problematizao o artigo investiga as formas historicamente singulares e as maneiras como elas configuraram um certo tipo de resposta ao problema da revoluo, procurando mostrar em que medida possvel pensar a revoluo como umaestticadaexistnciaatravsdaqualosindivduosdoformaeconferemumcritrio de estilo s suas vidas e militncia poltica. Aps abordar a concepo da revoluo em Francis Bacon e Cesare Lombroso, foram retomadas as reflexes de Errico Malatesta que valorizam as pequenas lutas parciais para a constituio de um saber estratgico; em seguida,foiabordadoalgunsaspectosdocuidadodesinarevoluoespanhola.
Palavras-chave
Revoluodevirestticadaexistnciaanarquismorevoluoespanhola.
Bolsista da Fundao de Apoio Pesquisa do Estado de So Paulo FAPESP.
145
www.unicamp.br/~aulas
146
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Errico Malatesta and the revolution as aesthetics of existence
Abstract
From the concept of problematization the article explores the historically singularity forms and the ways how they have shaped a certain kind of answer to the problem of the revolution, trying to show what extent it is possible to think of revolution as an aesthetics of existence through which individuals give form and give a criterion of style to their lives and political militancy. After addressing the concept of revolution in Francis Bacon and Cesare Lombroso, were taken as reflections of Errico Malatesta who value the small struggles partials to form a strategic knowledge; and then was approached some aspects of self-care in the Spanish revolution.
Keywords
Revolution becoming aesthetics of existence anarchism Spanish Revolution.
147
www.unicamp.br/~aulas
148
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Introduo
Uma dificuldade levantada pela anlise do tema da revoluo consiste no fato de que o prprio termo aciona o modelo terico inaugurado pela Revoluo Francesa, provocando um certo nmero de simplificaes e de rejeies. Foi desta forma que, no comeo dos anos 1980, o historiador italiano Giampietro Berti, especialistanaobradeErricoMalatesta,escreveuumaanlisedarevoluoafirmandoo fim da era das revolues. O comeo deste fim foi situado precisamente na derrota da revoluo espanhola. Segundo Berti, a revoluo espanhola foi o acontecimento que inaugurou um novo ciclo histrico no qual a revoluo no teria mais lugar. Aps a revoluo espanhola, a revoluo e a prtica revolucionria passaram a pertencer a determinadas formas sociais especficas exauridas pelo desenvolvimento histrico. Entretanto, o mesmo no ocorreu com a ideologia revolucionria que se fixou no tempo, perdendo a base real que a tinha determinado. Com isso, a revoluo foi secularizada nacabeadosrevolucionrios.Emoutrostermos,ateoriadarevoluose deteve no sculo XVIII e comeo do sculo XIX. Um atraso enorme, portanto, foi acumulado nos ltimos decnios. Um atraso que hoje pesa e impede seguir adiante (BERTI,1983:31). A crtica de Berti revoluo assinala uma certa percepo que tomou corpoapartirdosanos1970sobreotema.umacrticaencontradanahistoriografiado anarquismo de autores como George Woodcock (2002[1973]), James Joll (1970) e Henri Arvon (1971). Tratase de apontar o esgotamento da era das revolues no apenas em relao ao anarquismo, mas ao socialismo de modo geral. Mas com relao ao anarquismo,porencerrarumatrajetriairremediavelmenterevolucionria,osefeitosda crtica revoluo tm implicaes mais severas. Woodcock (2002: 288), por exemplo, apontando a verdadeira morte do movimento anarquista em 1939, chamou a gerao anarquista psrevoluo espanhola de plida imagem do movimento anarquista histrico, um fantasma que no inspira nem temor entre os governos nem esperana entreospovos,ounemmesmointeresseentreosjornalistas. De maneira um pouco mais elaborada, essa percepo foi retomada no comeo dos anos 1980 na tentativa de salvar o anarquismo deixando morrer a revoluo. Durante o colquio Um anarquismo contemporneo, realizado na cidade deVenezaem1984,JooFreireassinalavadoisaspectosdoproblema.Deumlado,dizia queodescrditoprogressivoegeneralizadodaprpriaidiaderevoluoeraoefeito de uma dinmica scioeconmica esforandose por demonstrar que a revoluo cadavezmenosvivel,queimpossvel.(FREIRE,1986:26).Mastambmexistiaofato de que cada vez menos desejase a revoluo. Assim, alm do fato de que a revoluo nos parece cada vez mais impossvel, existe tambm um segundo aspecto, to importante quanto o primeiro, que o fato dela ser cada vez menos desejvel. (Ibid.: 28)Sinaldosnovostemposque,portanto,obrigavaumareviso.ParaFreirearevoluo no mais que uma orientao estratgica, um elemento histrico e circunstancial. Assim como a referncia aos operrios, a referncia revoluo representa uma conjuno durante uma etapa histrica do anarquismo, mas no mais que isso. (Ibid.: 39) Na mesma direo Toms Ibez recusou a indistino perigosa entre anarquismo e revoluoafirmandoaincompatibilidadeentreambosnamedidaemqueessaltima
149
www.unicamp.br/~aulas
portadora de uma srie de efeitos necessariamente liberticidas. Entretanto, pondera Ibez, que no se trata de colocar em causa o desejo de revoluo (IBAEZ, 1986: 79). O perigo, segundo ele, est na revoluo enquanto projeto, ou seja, na elaborao poltica e estratgica do desejo revolucionrio. O que representa srio problema a constituio do desejo de revoluo num projeto racional, elaborado, articulado, servindo de motor eficaz da ao individual ou coletiva, porque o desejo de revoluo tornase, necessariamente, uma empresa totalitria e um instrumento de dominao. (Ibid.:80) Namesmapoca,noanode1978,MichelFoucaultperguntavaseseaquele finaldesculoassistiaalgocomoofimdaeradasrevolues.Paraele,tratavasedeum gnero de profecia e de condenao morte da revoluo um tanto derrisrios. Pouco convencido, pareceulhe que se tratava no da morte da revoluo, mas do fim de um perodo histrico que, desde 17891793, foi, ao menos para o Ocidente, dominado pelo monoplio da revoluo. (FOUCAULT, 2001: 547) Esgotavase nos anos 19701980 no a revoluo, mas a designao da revoluo como luta global e unitria de uma nao inteira,deumpovo,deumaclasse;revoluocomolutaqueprometiasacudirdecima baixoopoderestabelecido,aniquilloemseuprincpio;revoluoenquantolutade liberao total, e neste sentido, como luta imperativa que subordina dentro de uma hierarquiatodasasoutraslutasmenores.FoiestemonopliodarevoluoqueFoucault viu enfraquecerse nos anos 1980. Em todo caso, reconheceu que a taxa de desejabilidade da revoluo havia diminudo consideravelmente em relao ao sculo XX, graas ao estalinismo e aos eventos que as revolues comunistas produziram em todomundo.
Hoje, a revoluo acabou tornando-se aos olhos das massas qualquer coisa de inacessvel ou de terrvel. Na minha opinio, o papel do intelectual hoje deve ser o de restabelecer para a imagem da revoluo a mesma taxa de desejabilidade daquela que existia no sculo XIX. (...) Para isso necessrio inventar novos modos de relaes humanas, quer dizer, novos modos de saber, novos modos de prazer e de vida sexual. Parece-me que a mudana dessas relaes pode transformar-se numa revoluo e torn-la desejvel. Em suma, a formao de novos modos de relaes humanas se torna um tema indispensvel para falar da revoluo. (Ibid.: 85-86)
Que algum alheio ao anarquismo como Foucault se posicione pela revoluo em oposio a uma contempornea tendncia anarquista no revolucionria, certamente inusitado. Mas para alm do fato inslito importa perceber como Foucault introduziu uma outra possibilidade de pensar a revoluo que no pela simples declarao de morte e esgotamento: tratase da revoluo como esttica da existncia. Assim, retomando a noo foucaultiana de problematizao, gostaria de interrogar sobre as formas historicamente singulares e as maneiras como essas formas configuraram, numa poca dada, um certo tipo de resposta ao problema da revoluo. Problematizar a revoluo significa, estritamente, analisar a maneira pela qual a revoluo foi constituda como problema para o pensamento e quais estratgias foramdesenvolvidascomorespostas.Tratase,portanto,deevitarosesquemasprontos recusando a revoluo como representao ou como modelo de comportamento para
150
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
aterse materialidade dos discursos por meio dos quais ela efetivamente existiu como problema. Pareceme que as crticas revoluo so duplamente insuficientes. De um lado, aceitaram a representao estratgica que consistiu em impor a Revoluo Francesa como modelo explicativo da revoluo em geral atravs do qual a revoluo passa a ser representada como momento decisivo, como ato redentor, como noite dos povos, como le grand soir. Modelo que implicou uma temporalidade retilinear e binria que comanda o pensamento poltico desde o sculo XIX e fez com que as revolues sucessivas a ele fossem sempre a retomada da obra inacabada da Grande Revoluo: o incio sempre inacabado de um novo recomeo portador de sonhos, esperanasepromessasmilenaresnocumpridas.Deoutrolado,aoaceitaraRevoluo Francesa como modelo explicativo, os crticos da revoluo no souberam distinguir a Grande Revoluo, na sua funo de signo nico da revoluo que, com fora de atrao, comanda todos os afrontamentos, rebelies e resistncias que atravessam interminavelmente nossa sociedade. (FOUCAULT, 2001: 280). No souberam separar a RevoluoFrancesacomo olugardagrandeRecusa almadarevolta,focodetodasas rebelies, lei pura do revolucionrio (FOUCAULT, 1993: 91). No souberam, enfim, apartar o monocentrismo da Revoluo Francesa dos diversos pontos de resistncia ao poder. Em outras palavras, os crticos da revoluo no perceberam que a Revoluo Francesa,apresentadacomorupturaradical,divisobinriaemacia,eranofundouma codificao estratgica dos pontos de resistncia. Com isso, confundiuse incessantemente duas coisas muito distintas: a revoluo como codificao dos afrontamentos e o devir revolucionrio dos indivduos. Problema grave se verdade, comoafirmouDeleuze(2004:211),queodevirrevolucionriodaspessoas,emnossos dias,anicacoisacapazdeconjurarosfascismosederesponderaointolervel. Alm disso, no parece convincente o argumento, antes mencionado, que procura distinguir desejo e projeto: como se fosse possvel tomar o desejo como realidade espontnea e intangvel ao poder ou como realidade transhistrica e como pretende a psicanlise como universal antropolgico. Tampouco parece aceitvel o procedimento que assimila revoluo e movimento operrio como circunstncias histricas: bvio que sejam, todavia, preciso lembrar que, enquanto problema, a revoluo precede o movimento operrio no anarquismo e que, sobretudo, tratase de duas realidades portadoras de intensidades muito distintas. Em ambos procedimentos a questo permanece em aberto, resultando ainda incompreensvel porque o anarquismo norevolucionrio do sculo XXI no seria, como afirmou Woodcock, uma plida imagemdo movimentoanarquistahistricoeumfantasmaque noinspiranemtemor nem esperana. Por essa razo, ao analisar algumas formas de problematizao da revoluo,procurareimostraremquemedida,apartirdanoodedevirrevolucionrio, possvel pensar a revoluo como uma esttica da existncia atravs da qual os indivduos do forma e conferem um critrio de estilo s suas vidas e prpria militncia poltica. Retomo, para tanto, as reflexes do anarquista italiano Errico Malatestaealgunsestudossobrearevoluoespanhola.
151
www.unicamp.br/~aulas
As tempestades de Estado
Segundo Mona Ozouf (1989), o sculo XVIII comportou pelo menos duas dimenses de revoluo. A primeira dizia respeito ao movimento astronmico do retorno de formas que j haviam surgido. Sinnimo de perodo, a revoluo o movimento que traz as coisas de volta a seu ponto de partida e que, na realidade humana, representa o eterno retorno de certas formas polticas j conhecidas. Tratase do modelo astronmico da revoluo solar aplicado s sociedades humanas implicando o retorno a uma condio anterior e um movimento de irresistibilidade, de ordem e de regularidade; implicando tambm a passividade dos homens diante de um acontecimento quase natural para o qual desempenham um papel unicamente de espectadoresenodeatores;implicando,finalmente,aausnciadenovidade, oeterno retorno, uma histria cclica. A revoluo aparece como processo inevitvel, quase naturalesempreameaador,arriscandofazercomqueosImprios,ReinadoseEstados, aps terem alcanado o znite da histria, desapaream: o reino babilnico, o Imprio Romano, o Imprio de Carlos Magno, todos os mais poderosos e gloriosos Estados da histria entraram, um aps o outro, nessa espiral de decadncia, nesse ciclo de nascimento, crescimento, perfeio e, finalmente, declnio e morte. Esse ciclo foi chamado revoluo: fenmeno natural da vida dos Estados que conduz, aps alcanar o esplendordesuaexistncia,aumprocessodedecadnciaedemorte. Processo natural e ciclo inevitvel na vida dos Estados. Mas a revoluo, alm da dimenso fantstica e milenarista, possuiu tambm uma outra dimenso que fazia com que sua sorte dependesse da histria dos homens. Dimenso que rivalizou com o sentido astronmico: tratase da revoluo como vicissitudes da existncia humana, como mudanas extraordinrias sobrevindas nos negcios pblicos, como reveses de sorte na vida das naes. O que est em jogo no o eterno retorno da revoluo astronmica, mas o aparecimento brusco e violento da novidade, do imprevisvel e da desordem. Existe nesta dimenso um elemento de destaque que joga um papel fundamental na revoluo e que, dirseia, constitui sua materialidade e sua face emprica: o elemento da guerra. No a guerra no seu sentido clssico, entendida comoconflitoentrenaesbeligerantes.Nemtampoucoaguerranosentidoalegricoe hobessiano como guerra de todos contra todos; a guerra no seu sentido vulgar, a pior das guerras: a guerra generalizada, a guerra sem quartel e sem campanha, numa palavra, a guerra civil. A guerra civil, que no deve ser confundida nem com a guerra estatal nem com a guerra de todos contra todos, uma guerra que coloca os diversos elementosdamesmasociedadeunscontraosoutros;aguerraquenoterminacoma vitria,masqueseperenizanasinstituiesqueelamesmaproduz:aguerradepatres contra empregados, de proprietrios contra inquilinos, de camponeses contra latifundirios. Ela decifra na revoluo o jogo dos desequilbrios, das dessimetrias, das injustias e de todas as violncias que funcionam apesar e sob a ordem das leis (FOUCAULT, 1999a: 92). A revoluo precisamente o que reativa e intensifica essa guerra que no cessou, mas que foi mascarada pelo poder. No apenas reativa, mas sobretudo busca explicitamente a inverso final e definitiva das relaes de fora que atuam nela. nessa direo que preciso entender a revoluo como processo de decadnciaemortedosimpriosedosEstados:namedidaemqueelaimplica,reativa
152
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
e intensifica, at um ponto mximo, as relaes de fora e as convertem no elemento determinante,evidente,imanenteenormaldavidadosEstados. Na dimenso como vicissitudes dos negcios humanos a revoluo no maisqueaoutrafacedeumaguerraquetemsuafacepermanentenalei,nopodereno governo.Sealei,opodereogovernorepresentamumaguerradeunscontraosoutros, ento a revoluo vai significar a guerra dos outros contra uns (Ibid.: 129). Essa espessuraguerreiradasrevoluesevidentenosEnsaiosdeFrancisBacon,escritosem 1625. Encontrase neles uma marcada distino entre o entendimento da revoluo antesdaRevoluoFrancesa,nosculoXVII,eaquelepormeiodoqualarevoluoser percebidaapartirdosculoXVIII. Nos seus Ensaios Bacon definiu as sedies como fenmenos normais, naturais e imanentes vida dos Estados; utilizando uma designao interessante chamouas de tempestades de Estados. Segundo ele, s possvel aos governos prever a poca de suas tempestades fazendo ateno aos seus primeiros sinais de desordens, tais como os discursos licenciosos contra o Estado e os libelos contra a ordem pblica. E assim como as tempestades, as sedies possuem tambm sua materialidade especfica. A matria das sedies o que constitui o elemento inflamvel, o material combustvel constitudo de duas realidades: primeiramente, a indigncia, um estado de indigncia excessiva, um nvel de pobreza que deixa de ser suportvel: as rebelies de barriga so as piores (BACON, 2007: 52). Em seguida, existem os fenmenos de descontentamento que so independentes do estmago, porque so da ordem da opinio, e representam para o corpo poltico o que os humores so para o corpo natural, do origem febre e inflamao (Id.). Bacon insiste que nenhum Estado est ao abrigo dos descontentamentos e que esses freqentementeacumulamsesilenciosamente. Fome e opinio so os combustveis das sedies. Entretanto, necessitam ser ascendidos pelo que Bacon chamou de casualidades. As casualidades constituem os materiais flamejantes, so as labaredas atiradas sobre os combustveis das sedies a indigncia e o descontentamento. Porm, as casualidades que fazem arder as sedies so inmeras, mltiplas e principalmente so imprevisveis. De tal modo que Bacon insiste que os remdios contra as sedies devem ser empregados contra a fome e a opinio os materiais combustveis e no contra as casualidades. Porque as causas podem ser to numerosas e to ocasionais que quando uma remediada, rapidamente outra toma seu lugar. As sedies, diz Bacon, podem ser ascendidas simplesmente por uma inovao no campo religioso, por um aumento nos impostos, por uma alterao nas leis e nos costumes, por opresses, pela quebra de privilgios, enfim, por tudo aquiloqueofendendoaspessoas,uneaseastecenumacausacomum (Ibid.: 53).Por isso, o modo mais seguro de prevenir as sedies privlas da sua matria inflamvel, tendoemvistaquedifcilsaberdeondevirafascaqueasincendiar(Ibid.:52). Em todo caso, os Estados no so jamais isentos de tempestades, pois as sediessoinevitveisequererevitlas,dizBacon(Ibid.:65),seriapretenderdominar a fortuna. Do que procede a inevitabilidade das sedies? As sedies so inevitveis, segundo Bacon, em razo de uma dificuldade inerente aos negcios do governo. Ele afirma que os governos devem saber de antemo se negligenciaro e permitiro o preparo de desordens, visto que ningum capaz de evitar as fascas ou de saber de
153
www.unicamp.br/~aulas
onde elas viro. Os exemplos que Bacon fornece para ilustrar essa problemtica so muito interessantes. Ele afirma que um rei sempre obrigado a lidar com seus vizinhos, com suas esposas, com seus filhos, com o clero, os comerciantes, seu povo e soldados. Todas essas relaes que um rei obrigado a manter so fontes de perigos para o exerccio do poder real. Assim, existe sempre o perigo de que os Estados vizinhos cresam por aumento de territrio, pela expanso de seu comrcio ou por avanos na indstria e nas cincias, tornandose com isso mais ameaadores do que j eram. As esposas dos soberanos so frequentemente fontes de perigo, e a histria repleta de exemplos cruis em que elas, sobretudo as adlteras e as movidas pela ambio de tornar rei o prprio filho, constituram um perigo letal para os homens do poder: a histria de Lvia Drusilla Claudia, que teria envenenado seu marido, o Imperador Romano Tibrio; tambm o caso de Roxalana, que provocou a runa do Sulto Mustaf; ou ainda como fez a rainha Isabel da Frana, que deps e assassinou seu prprio marido, o rei da Inglaterra Eduardo II. Tambm os filhos dos soberanos so fontes potenciais de perigo, aqui a histria ainda repleta de exemplos em que a suspeitaentrereiseseusfilhosprovocougrandestragdias.Ocleroumperigoparaos reis quando ope sua cruz espada real. Enfim, so sempre fontes de instabilidade polticaoshomensdocomrcio,ossoldadose,sobretudo,opovo. A descrio de Bacon revela uma sensibilidade muito difundida na poca. Como observou Senellart (2006: 239), tratase de uma poca em que a fora tornase o fatordecisivo.EmummundonomaisordenadopelaProvidncia,masatravessadopor foras aleatrias e ameaadoras, no qual a realidade deixa de ser o espao harmonioso para tornarse palco de batalhas permanentes, toda e qualquer continuidade entre o Prncipe e seus sditos rompida. Neste sentido, o perigo inerente aos negcios dos soberanos, que Bacon entrev at mesmo nas relaes de famlia, o perigo da dominao; perigo advindo de um tipo de relao de poder cujo comeo remonta ao campo de batalha; poder que contm nele mesmo o elemento evocado por Bacon causador de instabilidades, que leva para o interior dos Estados a possibilidade perpetuamente presente da revoluo e que faz da revoluo um fato cotidiano e normal na vida dos Estados: esse elemento a guerra. ela o que introduz no interior dos Estados a virtualidade intrnseca constituda pela ocorrncia sempre provvel de revolues. Porque, afinal, diz Bacon, os prncipes so como os corpos celestes que trazem tempos bons ou maus; [so] objetos de muita reverncia, mas sem descanso (Ibid.:68).
A primavera dos Povos
H na reflexo de Francis Bacon uma espcie de indissociao entre revoluo e guerra: guerra e revoluo foram, at o sculo XVII, indissociveis. Mas foi precisamente essa guerra que a Revoluo Francesa tratou de pacificar, eliminando as relaesdeforaeoperigoqueacarretavaparaoEstado.Issodeduasmaneiras.Deum lado, a revoluo Francesa apresentouse como acontecimento inaugural, fixando a idiadequesoinicialfunda.Ecomosabido,essecomeoinauguralqueaRevoluo Francesa instaurou foram os Direitos do Homem: se os direitos do homem foram constantemente ultrajados no curso da histria, preciso, portanto, romper com os
154
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
antecedentes histricos e, ao invs de reatar a cadeia dos tempos, [ preciso sair] da histria para embarcar coletiva e exaltadamente em direo a uma nova terra, a um novocomeoabsoluto(OZOUF,1989:843).Entretanto,essenovocomeoabsolutoa inversodavelhatemporalidadecclicarevolucionria. A velha revoluo foi inicialmente pensada atravs de um modelo astronmico e cclico que consistiu em tomar como referncia uma origem primeira e positiva para fazer jogar na sua reconstituio o restabelecimento de antigos direitos queforamperdidosembatalhasincessantes.omodeloencontradoemPlato(2006)e em Maquiavel (1994), e foi dito como Bacon retomouo para revestlo de uma espessura constituda pelas tempestades de Estado. Com a Revoluo Francesa, a temporalidade da revoluo deixa de ser cclica para tornarse retilnea: temporalidade retilinear que no parte mais da origem primeira de um passado positivo para justificar o reestabelecimento de antigos direitos e liberdades. Assim, no mais o passado que ser positivado pela revoluo, mas o presente: um presente monocentrado, pleno, totalizado, que estabelece com o passado no um movimento de retorno nostlgico, masumgestonegativoparadeclararofimdaeradasopresses.Seopresentenavelha revoluo era um tempo de calma apenas aparente e sempre ameaado pela virtualidade da guerra civil ou tempestades de Estado, arriscando incessantemente o eternoretornodeantigosdireitosperdidos,apartirdaRevoluoFrancesaopresente um tempo de ruptura radical: o grande dia ou a grande noite dos povos que inaugura finalmente sobre a Terra o imprio da Igualdade, da Liberdade e da Fraternidade entre oshomens. O Presente na nova temporalidade da revoluo apresentase como tempo positivo e nico, como acontecimento total, no sentido em que, doravante, a revoluo no designar mais o movimento parcial de grupos ou indivduos insurgidos; no ser mais a guerra civil, a guerra entre as classes, com suas subverses singulares e suas catstrofespolticasparticulares.Arevoluo,apsaRevoluoFrancesa,deveserobra de um povo inteiro e no a realizao de alguns. Ocorre, portanto, uma abertura para o universal atravs da qual a Revoluo Francesa eliminou todas as desordens de seu seio para fundar ao mesmo tempo uma nova ordem onde o movimento revolucionrio encontrarse finalmente ordenado e normalizado. A partir disso, a revoluo passa a ser um empreendimento constituinte dando origem a idia de nao (FOUCAULT, 1999a: 265). Um dos principais homens da Revoluo Francesa, Nicolas de Condorcet, pretendia eliminar aquilo que considerava o perigo mais premente do governo representativo: o direito que o povo de Paris reivindicava de exercer diretamente a soberania mediante a violncia da insurreio. Era preciso, portanto, legitimar os protestos de modo a impedir as revolues, e para isso foi necessrio dar ao povo a facilidade de fazer revolues dentro de uma via legal e pacfica. Com isso, diz Condorcet, j no haveria pretexto para movimentos, uma vez que tais movimentos s poderiamserfeitosporumapartecontraotodo.(apudBAKER,1989:235). Em suma, a Revoluo Francesa recobriu a revoluo com duas estratgias de pacificao: de um lado, normalizou a temporalidade cclica da revoluo e sua valorizao do passado como memria de antigas batalhas que mostravam a soberania e o direito fundados sobre sditos vencidos; de outro lado, organizou a sociedade, o social como unidade, como corpo, como organismo, como conjunto dotado de
155
www.unicamp.br/~aulas
universalidade, como Estado. Essa unidade mtica o povo, a nao baniu do seu seio a guerra e passou a mobilizar o todo contra as partes facciosas, excluindo ou imobilizando os elementos que impediam ou perturbavam a nova ordem social. Com a Revoluo Francesa a poltica no mais a realidade de mil batalhas particulares e cotidianas entre soberano e sditos, mas fruto do jogo democrtico. A revoluo aparecer finalmente como mera substituio dos homens no poder, consoante com o modelojurdicodocontratosocial. Esta estratgia de normalizao ser retomada por uma figura muito emblemtica: Cesare Lombroso. Ao escreverem, em 1891, um estudo intitulado O crime poltico e as revoluo frente ao direito, antropologia criminal e cincia do governo, Lombroso e Rodolfo Laschi apresentaram a revoluo em oposio s revoltas com o objetivo de definir os fundamentos do crime poltico. Segundo os autores, porque o progresso orgnico e moral s ocorre de modo lento, so crimes polticos todos os atos em favor do progresso que se manifestem por meios demasiados bruscos e violentos. Desse modo, toda vez que esses atos tornamse necessidade para uma minoria oprimida (...) so um fato antisocial e, consequentemente, um crime (LOMBROSO & LASCHI, 1892: 49). A partir desse fundamento estabeleceram algumas distines entre as revolues propriamente ditas que so um efeito lento, preparado, necessrio, s vezes at tornado um pouco rpido por qualquer gnio neurtico ou por qualquer acidente histrico e as revoltas ou sedies, que so uma incubao precipitada, voltada,porsimesma,aumamortecerta(Id.). A primeira distino bem simples: segundo os autores a revoluo a expresso histrica da evoluo. Deste modo, a revoluo sempre capaz de transformar uma ordem de coisas com um mnimo de atrito e com o mximo de sucesso (Ibid.: 50). o que explica que as eventuais sedies que uma revoluo provoca desapaream rapidamente, pois so, no fundo, a ruptura da casca do ovo pelo pintinho amadurecido (Id.). A segunda distino a revoluo como fenmeno extenso, geral e seguido por todo um povo. As sedies, ao contrrio, so sempre parciais, obras de um grupo limitado de castas ou indivduos; as classes elevadas no tomam quase nunca partido das sedies; ao contrrio, todas as classes tomam partido da revoluo, sobretudo as classes elevadas. E mesmo nos casos em que a revoluo foiaobradeumpequenonmero,tratasesempredeumpequenonmeroquefareja, quepressenteumsentimentouniversalmentelatente. Terceira distino. Segundo Lombroso e Laschi as sedies sempre respondemacausaspoucoimportantes,frequentementelocaisoupessoais;geralmente esto ligadas ao lcool e ao clima; e so privadas de ideais elevados, por isso elas ocorrem entre as populaes menos desenvolvidas, entre as classes menos cultivadas e entre o sexo mais frgil. A revoluo, ao contrrio, aparece sempre raramente; jamais entre os povos pouco avanados e sempre devido a causas muito graves, ou por ideais elevados; nelas, os homens passionais, quer dizer, os criminosos por paixo ou os gnios, tomam parte mais frequentemente do que os criminosos ordinrios (Ibid.: 52). Finalmente, ltima distino. Dizem os autores que as verdadeiras revolues so conduzidasesuscitadaspelasclassesintelectuais.Noobrao,aidiaqueocasiona transformaes profundas e durveis na organizao dos Estados. Quando somente o
156
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
braoseagita,provocatumultoenorevolues (Ibid.:53).Poressasrazes,concluem LombrosoeLaschi,precisoconsiderarasrevoluescomo
fenmenos fisiolgicos; e as revoltas como fenmenos patolgicos. Por isso as primeiras, as revolues, no so jamais um crime, porque a opinio pblica as consagra e lhes d razo; j as segundas, ao contrrio, se nem sempre so crimes, ao menos so equivalentes, pois so a exagerao de rebelies ordinrias (Ibid.: 55).
No discurso de Lombroso e Laschi a revoluo aparece redirecionada para funcionar como pacificao e hierarquizao das agitaes revolucionrias. Tratase de uma concepo diametralmente oposta de Bacon. Na ordem do poltico, a revoluo cessou de ser o declnio dos imprios, a queda da monarquia, o fim do poder real. Foi desta forma que a Grande Revoluo de 1789 venceu todas as lutas parciais encerrando-as em um esquema circular que renova a dominao a cada ciclo sob diferentes formas: o povo, o proletrio, o partido, o operrio etc.
Uma esttica da existncia
Na ltima dcada do sculo XIX, no momento em que Lombroso e Laschi esto tornando pblico suas teorias, Errico Malatesta dirige, sucessivamente, dois jornaisqueforamimportantesparaimprensaanarquistadapoca:oprimeirochamase Associazione e o segundo LAgitazione. Pelas pginas destes jornais, Malatesta fezse interlocutor no debate em torno da revoluo, mas de um modo singular. Descrevi como Francis Bacon chamou as sedies de tempestades de Estado cujas causas considerou inerentes mecnica da soberania. Em seguida, mostrei a maneira como Lombroso e Laschi, retomando o modelo explicativo da Revoluo Francesa no seu livro sobre o crime poltico, separaram a revoluo das sedies com o claro propsito de subordinar essas ltimas qualificandoas de crime poltico e normalizando seu movimento. Em Malatesta encontrase ainda a distino entre revoluo e sedies a palavra empregada por ele insurreies , entretanto, para um outro propsito: trata se de distinguir revoluo das insurreies para conferir todo valor a essas ltimas. neste sentido que, em 1897, Malatesta insistia na necessidade de compreender a revoluononosentidocientficodapalavra,peloqualfrequentementeintitulamse revolucionrios at mesmo os legalitrios, mas no sentido vulgar de conflito violento, no qual o povo se desembaraa, com a fora, da fora que o oprime, e realiza os seus desejos fora e contra toda legalidade (MALATESTA, 1982: 134). Por isso, continua, quando falamos de revoluo, quando de revoluo fala o povo, do mesmo modo quando se fala de revoluo na histria, entendese simplesmente insurreio vitoriosa.(Ibid.,1975a:202) Recusando a afirmao segundo a qual a revoluo deveria ser entendida como mudana integral e durvel, e no como sublevaes populares parciais, Malatesta afirma seu entendimento da palavra. Mudana integral e durvel, sim, porm, preciso acrescentar, realizada atravs da violao da legalidade, o que quer dizer, por meio da insurreio (Ibid., 1889a). Era preciso distinguir aquilo que se deve fazer revolucionariamente, ou seja, sbito e pela fora, daquilo que ser conseqncia de uma evoluo futura, e que ser deixado livre vontade de todos (Ibid., 1889b).
157
www.unicamp.br/~aulas
Neste sentido, possua clara percepo do uso estratgico do conceito de evoluo que, dizele,pelofatodedesignar
mudana lenta, gradual, regulada por leis fixas no tempo e no espao, que exclui todo salto, toda catstrofe, qualquer possibilidade de ser apressada ou retardada e, sobretudo, de ser violentada e dirigida pela vontade humana num sentido ou em outro, procurava-se contrapor evoluo palavra e idia de revoluo (Ibid., 1913).
Da a necessidade de se entender revoluo como conflito. A concepo vulgar da revoluo em Malatesta tem efeitos importantes. Um deles que nela o tempo revolucionrio no est localizado fora da existncia ordinria, mas apresentase como fato pertencente vida cotidiana. Nesse sentido, a revoluo tambm uma evoluo,mas,comoevidente,noaevoluonormalizadacomoqueriamLombrosoe Laschi, mas uma evoluo atravessada pelo jogo das tenses sociais. Outro efeito importante que essa concepo rompe com o crculo da Soberania inaugurado pela Revoluo Francesa para ordenar os afrontamentos, as rebelies e as resistncias que atravessavam a sociedade, sobrepondolhes o exerccio do jogo democrtico. Nele o triunfo da revoluo, a vitria revolucionria, completase com a substituio dos homensnopoderearevoluoterminaquandoumnovoregimedepoderinstaurado. Avitria,portanto,omomentopleno,solene,inauguraleconstituintedarevoluo. Em Malatesta, ao contrrio, a aposta recai sobre a concretude das pequenas lutas parciais e imediatas contra o poder; portanto, no a revoluo como grande batalha, como ltimo conflito; no a revoluo como o alvorecer de uma nova era de igualdades sobre a terra; mas so as mltiplas insurreies menores e ininterruptas que, atravessando os afazeres cotidiano das pessoas, portam o potencial revolucionrio. De que modo? A valorizao das pequenas lutas em Malatesta no a defesa do reformismo ou o apaziguamento da grande batalha revolucionria; no tampouco o consolo da promessa futura. O que colocado em jogo nas pequenas lutas o potencial pleno da revoluo. Se as melhorias so compatveis com a persistncia do regime, se os dominadores podem fazer concesses antes de recorrerem razo supremadasarmas,entoomelhormododeobtlasconstituirumaforaqueexijao tudo e ameace o pior. Obtidas desse modo, arrancadas pela fora ou pela ameaa da fora, as melhorias podem aumentar a potncia da liberdade e fazer os indivduos tomarem conhecimento de sua prpria fora. Do contrrio, serviriam para consolidar o regime tornandoo mais suportvel. Ao valorizar as pequenas lutas, tratase, segundo Malatesta, de no reconhecer jamais as instituies, de tomar ou conquistar as reformaspossveiscomoespritodequemvaiarrancandodoinimigooterrenoocupado para avanar sempre mais e de permanecer adversrio de qualquer governo (Ibid.: 1975b:44). Malatesta deu nfase ao aspecto ticopedaggico colocado em jogo pelas lutas parciais; na luta que se aprende a lutar de modo que desfrutando inicialmente de um pouco de liberdade terminase por quererla na sua totalidade. (Ibid.: 1975c: 234) A luta encerra saberes que podem ser utilizados como armas e instrumentos pelos indivduos envolvidos, oferecendo as condies nas quais possvel educar para a liberdade e de tornar conscientes da prpria fora e da prpria capacidade homens
158
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
habituados obedincia e passividade. Neste sentido, os saberes das lutas so tambmsaberesdesi.
necessrio agir, portanto, de modo que o povo faa por si mesmo ou que pelo menos acredite fazer pos si mesmo por instinto e inspirao prpria, mesmo quando na realidade ele sugestionado. Assim como faz um bom mestre quando d um problema ao aluno, quando no capaz de resolv-lo ajuda-o, sugere-lhe uma soluo, mas ensina de modo que o aluno acredite que chegou at ali por si mesmo, fazendo-o adquirir coragem e confiana nas prprias capacidades. (...) esforar-se para no dar ares de expor e impor magistralmente aos outros uma verdade conhecida e indiscutvel; procurar estimular o pensamento fazendo-os chegar com o prprio raciocnio a concluses que teria sido possvel de serem apresentadas, belas e acabadas, com maior facilidade para quem ensina, mas com menor esforo para quem aprende. E quando encontrar-se, na propaganda e na ao, em situao de agir como chefe e como mestre, num momento em que os outros esto inertes e incapazes, esforar-se- para estimular neles, sem que percebam, o pensamento, a iniciativa e a confiana em si. segundo esses critrios que necessrio, portanto, impelir o povo a resistir contra o governo e de faz-lo agir na medida do possvel como se governo no existisse. (Ibid., 1975d: 400-401)
Deste modo, o que est em questo no so os resultados globais e as formas terminais da luta; no constitui problema se a luta dar lugar reformas ou se ganhar a solenidade da vitria. Ao invs de dissolver os problemas especficos em questo nas lutas numa dialtica totalizante, Malatesta busca utilizlos na constituio deumsaberestratgico.
Para ns no tem muita importncia que os trabalhadores queiram mais ou menos: o importante que aquilo que querem procurem conquistar por si mesmo, pelas prprias foras, pela sua ao direta contra os capitalistas e o governo. Uma pequena melhoria arrancada com a prpria fora vale mais, pelos seus efeitos morais e, quando dura, tambm pelos seus efeitos materiais, que uma grande reforma concedida pelo governo e pelos capitalistas com finalidades duvidosas ou mesmo por pura e simples benevolncia. (Ibid., 1975e: 350)
Assim, ao contrrio de elevar a contradio em teoria, mais vale extrair das lutas um instrumento que da ordem dos saberes estratgicos e da lgica prpria das relaesdepodereseusconfrontos.Numaperspectivamalatestiana,
qualquer que sejam os resultados prticos da luta pelas melhorias imediatas, a utilidade principal est na prpria luta. Com ela os operrios aprendem que os patres tm interesses opostos aos seus e que eles no podem melhorar a sua condio, e nem mesmo emancipar-se, a no ser unindo-se e tornando-se mais fortes que os patres. (Ibid., 1975c: 230)
Malatesta atribuiu luta contra o poder uma importncia prtica superior. Percebeua produzindo o desbloqueio de um elemento tico de inquietao de si mesmo, na medida em que contm um princpio de agitao e de movimento que desassossega o indivduo. neste sentido que em Malatesta a revoluo no opera a
159
www.unicamp.br/~aulas
codificao das lutas, mas uma estilizao da existncia atravs da qual as pequenas lutas podem constituir o devir revolucionrio dos indivduos e provocar individuaes sem sujeito. Como escreveram Deleuze e Guattari (2005:19), devir no evoluo por dependncia e filiao; devir no conduz o indivduo imitar, nem identificarse; nem regredirprogredir; nem corresponder; no reduz os indivduos a parecer, nem a ser, nem a equivaler. Se o devir no produz filiaes identitrias porque ele da ordem da aliana: no estabelece relaes filiativas, no indica descendncia, linhagem ou vnculo partidrio; como aliana, o devir estabelece comunicaes transversais entre indivduos e grupos heterogneos e diferenciados. neste sentido que uma luta sem devirproduziriasomentesujeitosdeterminados.Aocontrrio,odevirdosindivduosem luta a abertura para o indeterminado, para sua capacidade de inveno poltica. Esse modo de individuao, diferente das subjetivaes que produzem sujeitos, Deleuze e Guattari chamaramno de hecceidades. Nelas os indivduos cessam de ser sujeitos para se tornarem acontecimentos em agenciamentos coletivos, num fluxo que dissolve a formaeapessoaeliberaomovimento. Existe sempre um devir revolucionrio at mesmo nas lutas mais minsculas operando como percepo do limite do intolervel. Malatesta fez deste devir a matria da tica anarquista: a subjetividade anrquica emerge na prpria luta revolucionria.Nogestodeagitao,rebelioerevoltaoanarquistainventase.Noh, portanto, nenhuma solenidade na vitria revolucionria. Mas h no embate revolucionrio e nos efeitos que ele provoca na subjetividade as condies que asseguram a emergncia da prpria anarquia. Se retomarmos a frmula de Camus quandoelepergunta:Queumhomemrevoltado?,dizCamus,umhomemquediz no. Mas, se ele recusa, no renuncia: tambm um homem que diz sim, desde o primeiro momento. (CAMUS, 1999: 25) Em outras palavras, existe uma ascese da revolta que introduz descontinuidades na experincia do indivduo para a configurao de novas formas de sensibilidade. Neste sentido, existe na revolta sempre uma dupla recusa:recusaseumestadodecoisas,umaexploraoetc.;masrecusaseigualmentee ao mesmo tempo papis, funes, percepes e afetos que organizam o estado de coisas. A ascese, portanto, provoca uma dobra, abre uma fenda na subjetividade dos indivduossuspendendonosiaquiloquehabitualejconstitudo.Nestafraturareside as possibilidades do devir revolucionrio: no momento em que o indivduo arrancado de si mesmo e em que cessa a tirania do eu; neste momento de vitria sobre a prpria subjetividade, ali que se abre um processo de singularizao no qual a ao poltica se d no como simples reconhecimento, imitao ou filiao, mas como processo de inveno que rompe com as normas, regras e hbitos que conformam os indivduos e a sociedade. As lutas, como enfatizou Lazzarato (2006: 233), introduzem uma descontinuidadenoapenasnoexercciodopodersobreasubjetividade,mastambm e sobretudo na reproduo dos hbitos mentais e corporais. Neste sentido, o militante (...) assume as atribuies de um inventor, de um experimentador. O militante se engaja e se esquiva da mesma maneira que o experimentador, porque tambm ele precisa escapar, para que sua ao seja eficaz, cadeia dos hbitos e imitaes do ambiente que codificam o espao da ao poltica. Assim, o processo de
160
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
descontinuidade do existente necessariamente e simultaneamente um processo de constituiodesimesmo,umcuidadodesi,namedidaemque
o militante prope iniciativas, ele est na origem dos novos comeos, no segundo a lgica da realizao de um plano ideal, de uma linha poltica que concebe o possvel como uma imagem j dada, mas segundo a inteligncia concreta da situao da multiplicidade, que o obriga a colocar em questo sua prpria identidade, sua viso de mundo e seus mtodos de ao. (Ibid.: p. 235).
Nodevirrevolucionrioo militanteo artistadarevoluo.Atagora,com exceo dos trabalhos de Margareth Rago (RAGO, 2008 e RAGO; BAJOLI, 2008), a revoluo foi analisada exclusivamente como projeto poltico ou econmico. Michel Foucault (2001: 1448), entretanto, sugeriu uma outra visibilidade para a revoluo: a revoluo como um estilo, um modo de existncia com sua esttica, seu ascetismo, suas formas particulares de relao consigo e com os outros. No momento em que o revolucionriolevantasenoseiodeumasociedadeejoganacaradopoderumno,a espessura desta dramaticidade poltica acompanhada tambm de um processo de conhecimento e de afirmao de si mesmo. Foi o que Proudhon (1974) chamou capacidade poltica e Foucault (1999b) descreveu como cuidado de si. Este aspecto possibilita pensar a revoluo como estilo de existncia, uma existncia que existe contraopoder. No seu ltimo curso no Collge de France, Foucault enfatizou a coragem da verdade nas formas do militantismo revolucionrio dos sculos XIX e XX. Entre elas, Foucault destacou o militantismo cuja demonstrao se d pela prpria vida e sob a formadeumestilodeexistncia.
Esse estilo de existncia prprio do militantismo revolucionrio, assegurando a demonstrao pela vida, est em ruptura, deve ser em rupruta com as convenes, os hbitos, os valores da sociedade. E deve manifestar diretamente, por sua forma visvel, por sua prtica constante e sua existncia imediata, a possibilidade concreta e o valor evidente de uma outra vida, uma outra vida que a verdadeira vida. (FOUCAULT, 2009: 169)
Segundo Foucault, para apreender esta demonstrao pela existncia do escndalo da vida revolucionria como verdadeira vida, preciso remeterse a Dostoievski, ao niilismo russo, ao anarquismo europeu e americano e a maneira pela qual o anarcoterrorismo como prtica de vida at a morte pela verdade (a bomba que mata aquele que a lana), aparecem como um tipo de passagem ao limite, passagem dramtica ou delirante, desta coragem pela verdade que tinha sido colocada pelos gregos e pela filosofia grega como um dos princpios fundamentais da vida verdadeira. (Ibid.:170) As prticas do cuidado de si podem ser vistas de maneira explcita e lado a lado aos processos econmicos de coletivizao da revoluo espanhola (RAGO, 2008; AVELINO, 2006). possvel apreendlas quando Geroge Orwell (1987: 5) nos fala da atmosfera da poca na qual os garons e lojistas encaravam as pessoas frente a frente e tratavam seus fregueses como seus iguais. As formas servis e cerimoniosas de tratamentodesapareceramtemporariamente,eningumdiziamaisSeor,ouDon,ou
161
www.unicamp.br/~aulas
mesmo Usted, e todos se chamavam camarada e tu, dizendo Salud! ao invs de Buenos dias. No mesmo sentido, Franz Borkeneau cita o caso de um jovem empreendedor americano como exemplo do forte poder de atrao da revoluo sobre oespritodaspessoas.
Seu negcio foi arruinado, disse-me. Ele, que conheceu uma grande prosperidade, perdeu todos seus bens no espao de alguns dias (...). Jamais teve envolvimento ativo com poltica. Esperava-se encontrar um homem furioso, cheio de raiva contra os revolucionrios. No foi o caso. (...) Pouco importa, diz ele, a perda de seus bens se a velha ordem de coisas desmorona para dar lugar a uma cidade de homens mais altivos, mais nobres e mais felizes. Ele pleno de admirao pelos anarquistas que alguns identificam com Deus outros com o Diabo. Manifestamente, aquilo que mais admira neles o desprezo pelo dinheiro. (BORKENAU, 2003 :85)
Outro cronista da revoluo, o escritor alemo Kaminsky, aps interrogar alguns jovens camponeses de uma vila autogerida sob comunismo libertrio, exclamou que esses camponeses j no viviam, efetivamente, em sistema capitalista, nem moralmentenemsentimentalmente.(KAMINSKY,2003:82)Aprticadocuidadodesi apreendida tambm na disposio antiburocrtica e antihierrquica da revoluo, cuja generalizao tornou possvel o fato indito na histria do anarcossindicalismo: o funcionamento da CNT, organizao com cerca de 1,5 milho de filiados, com um nico funcionrio. Mas o mesmo pode ser dito sobre a organizao das milcias revolucionrias: foi uma disposio tica que impediu, at o ltimo momento, o processo de militarizao. Era bem evidente a obstinao entre os milicianos de recusar protegeremse do fogo inimigo com capacete de ao; ao invs disso, usavam uma espcie de quepe preto e vermelho; no obstante, tratavase de uma prtica que provocou baixas. Os milicianos sustentavam ainda atitudes indisciplinadas, tais como a de desafiar o inimigo de modo aberto, por exemplo, do alto de uma parede ou muro, o que tambm causou baixas. E quando eram reprovados por suas imprudncias respondiamqueumespanhollivrenosecomportacomoummilitar;equeadisciplina e a cincia seriam substitudas pela coragem e pelo sacrifcio. (PACHTER, 1966: 110) O que esses milicianos estavam fazendo era conferir a sua prpria existncia um critrio de estilo e um outro modo de fazer a guerra, colocando em cena toda uma tica e esttica da existncia radicalmente opostas a do soldado profissional para quem no existemoralpossvelforadaobedinciacega,automticaepassiva. Simultaneamente ao progresso econmico e poltico, a revoluo provoca prticasderelaodesi consigoqueso,talvez,maisimperceptveispoispertencemao domnio da tica e das tcnicas de si. Mas so indispensveis para a inveno de outros modos de existncia. De alguma maneira, o que est em jogo na clebre afirmao de Durruti, de 1936, a um jornalista canadense: trazemos um mundo novo em nossos coraeseestemundocresceacadadia,ounasextraordinriasinvenesdasMujeres Libres mostrando de que maneira o mundo novo no corao de cada singularidade constituiumaaberturaparaodevir.
162
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Referncias Bibliogrficas
ARVON,H.Elanarquismo.1971.Trad.MariaT.Cevasco.BuenosAires,Paidos. AVELINO,N.2006.AconstituiodesinaexperinciadaRevoluoEspanhola.Verve,So Paulo,10:183203. BACON,F.EnsaiosdeFrancisBacon.2007.Trad.AlanN.Ditchfield.Petrpolis,Vozes. BAKER, K. M. Condorcet. In: FURET, F.; OZOUF, M. (org). Dicionrio crtico da Revoluo Francesa.1989.TraduodeHenriquedeA.Mesquita.RiodeJaneiro:NovaFronteira,pp. 230239. BERTI,G.1983.Larivoluzioneeilnostrotempo.Volont,Npoles,XXVII(4):2940. BORKENAU, F. Spanish Cockpit. Rapport sur les conflits sociaux et politiques en Espagne (19361937).2003.Trad.MichelPtris.Paris,ditionsIvrea. CAMUS, A. O homem revoltado. 1999. 4 ed., trad. Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro/So Paulo,Record. DELEUZE,G.Conversaes,19721990.2004.4reimpr.,trad.PeterPlPelbart.SoPaulo, Editora34. DELEUZE,G.;GUATTARI,F.Milplatscapitalismoeesquizofrenia,v.4.2005.Trad.Suely Rolnik.SoPaulo,Ed.34. FOUCAULT, M. Histria da Sexualidade, v. 1: A vontade de saber. 1993. 11 ed., trad. MariaT.daC.AlbuquerqueeJ.A.GuilhonAlbuquerque.RiodeJaneiro,Graal. _____. Em defesa da sociedade. Curso no Collge de France (19751976). 1999a. Trad. MariaErmantinaGalvo.SoPaulo,MartinsFontes. _____. Histria da Sexualidade, v. 3: o Cuidado de Si. 1999b. 6 ed., Trad. Maria T. da C. Albuquerque.RiodeJaneiro,Graal. _____.Ditsetcrits,v.II:19761988.2001.Paris,Gallimard. _____. Le courage de la vrit. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collge deFrance,1984.2009.Paris,Gallimard/Seuil. FREIRE, J. Un anarchisme nonrvolutionnaire. In: LANZA, L. et al. La Rvolution. 1986. Lyon,AtelierdeCrationLibertaire,pp.2540. IBEZ, T. Adieu la Rvolution. In: LANZA, L. et al. La Rvolution. 1986. Lyon, Atelier de CrationLibertaire,pp.7985. JOLL,J.Anarquistaseanarquismo.1970.Trad.ManuelV.D.Duarte.Lisboa,DomQuixote. KAMINSKY,H.E.CeuxdeBarcelona.2003.Paris,ditionsAllia.
163
www.unicamp.br/~aulas
LAZZARATO, M. As revolues do capitalismo. 2006. Trad. Leonora Corsini. Rio de Janeiro, CivilizaoBrasileira. LOMBROSO, C.; LASCHI, R. Le crime politique et les rvolutions par rapport au droit, l'anthropologiecriminelleetlasciencedugouvernement.1892.Trad.A.Bouchard.Paris, FlixAlcan. MALATESTA,E.1889a.LasommossanonRivoluzione.LAssociazione,NiceMartima,I(3). _____.1889b.Programma.LAssociazione,NiceMartima,I(1). _____.1913.InsurrezionismooEvoluzionismo?Volont,Ancona,I(21). _____. Discorrendo di rivoluzione. Roma, Umanit Nova, n. 195, 25/11/1922. In:_____. Scritti, 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923. 1975a. Carrara: Movimento AnarchicoItaliano,pp.200204. _____. Anarchismo e riforme". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 5, 01/03/1924. In:_____. Scritti, 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932. 1975b. Carrara, MovimentoAnarchicoItaliano,pp.4244. _____. Il programa anarchico dell'U. A. I. del 1920. In:_____. Scritti, 2 volume: Umanit Novaescrittivari1919/1923.1975c.Carrara,MovimentoAnarchicoItaliano.pp.220237. _____. Un "governo" che non governo. LAdunata dei Refratari, Nova York, [s. n. ], 26/12/1931. In:_____. Scritti, 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932. 1975d.Carrara,MovimentoAnarchicoItaliano,pp.386398. _____. Sindacalismo e anarchismo. Umanit Nova, Roma, n. 82, 06/04/1922. In:_____. Scritti, 1 volume: Umanit Nova 1920/1922. 1975e. Carrara, Movimento Anarchico Italiano,pp.344350. _____. Chiarimento. Ancona, L'Agitazione, n. 33, 28/10/1897. In: _____. Rivoluzione e lottaquotidiana.1982.Vicenza,EdizioniAntistato,pp.131136. MAQUIAVEL, N. Comentrios sobre a Primeira Dcada de Tito Lvio. 1994. 3 ed., trad. SrgioBath.Brasilia,UNB. ORWELL, G. Lutando na Espanha e Recordando a guerra civil. 1987. 2 ed., trad. Affonso Blacheyre.RiodeJaneiro,Globo. OZOUF, M. Revoluo. In: FURET, F.; OZOUF, M. (org.). Dicionrio crtico da Revoluo Francesa.1989.TraduodeHenriquedeA.Mesquita.RiodeJaneiro,NovaFronteira,pp. 840851. PACHTER,H.M.Espaa,crisolpoltico.1966.BuenosAires,EditorialProyeccin. PLATO. A Repblica [ou sobre a justia, dialogo poltico]. 2006. Trad. Anna L. A. de A. Prado.SoPaulo,MartinsFontes.
164
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
PROUDHON,P.J.Lacapacidadpolticadelaclaseobrera.1974.BuenosAires:Proyeccin. RAGO, M. 2008. Novos modos de subjetivar: a experincia da organizao Mujeres Libres naRevoluoEspanhola.EstudosFeministas,16(1):187206. RAGO, M.; BAJOLI, M. C. P. Mujeres Libres da Espanha: Documentos da Revoluo Espanhola.2008.RiodeJaneiro,Achiam. SENELLART,M.Asartesdegovernar.2006.Trad.PauloNeves.SoPaulo,Ed.34. WOODCOCK, G. Histria das idias e movimentos anarquistas, vol. 2: o movimento. 2002 [1973]. Trad. Alice Miyashiro, Heitor da Costa, Jos Arantes, Jlia Tettamanzy. Porto Alegre,L&PM.
165
www.unicamp.br/~aulas
166
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
ESTRELAS NA AREIA
Norma Telles
DoutoraemCinciasSociais
Resumo
O objetivo deste artigo fazer uma leitura da obra da Isabelle Eberhardt relacionada a escrita de si e ao cuidado de si como expressos por Michel Foucault. Em sua curta vida (18771904) ela amou profundamente duas coisas, a escrita e o deserto do Saara. O que seus textos mapeiam acima de tudo so suas jornadas internas e externas que forjaram dilogos entre seus muitos eus, ao mesmo tempo em que mapearam suas viagens solitriaspelafricadoNorte.
Palavras-chaves
escritadesi;Foucault;nomadismo;Eberhardt;viajante.
Este texto parte de um captulo, Palavras na areia, de um livro em fase de concluso.
167
www.unicamp.br/~aulas
168
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Stars in the Sand
Abstract
The aim of this article is an exposure of the works of Isabelle Eberhardt in relation to the notions of self writing and self care as formulated by Michel Foucault. Eberhardt in her short life (18771904) deeply loved two things: writing and the Sahara desert. What her texts charts above all are the outer and inner journeys which forged dialogues among her many selves at the same time that we can follow her solo travels across the north or Africa.
Key words:
selfwriting;Foucault;nomadism;Eberhardt;womantraveler.
169
www.unicamp.br/~aulas
170
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Literature is not only a mirror; it is also a map, geography of the mind. Margareth Atwood
A literatura minha estrela Polar, escreve Isabelle Eberhardt em carta a um amigo, em 1898. Em outro momento, em anotaes, ela explica que o trabalho literrioanicacoisaquepodeajudlaapassarseutemponaterra,poisavidacriada tem seu charme e a vantagem de poder seguir qualquer percurso que se quiser. Escritora, jornalista, romancista, Eberhardt deixou tambm dirios que intitula Mes Journaliers e cartas que apontam o roteiro de suas jornadas de viajante apaixonada pelo deserto e pela busca de si atravs da escrita. Seu projeto era criar seu prprio destino, escrevo porque amo o processo de criao literria; escrevo, como amo, porque este meu destino, provavelmente. E meu nico consolo verdadeiro (apud Kobak:1989:74). Isabelle Eberhardt nasceu de me russa, uma mulher que diziam bonita, pertencente pequena aristocracia prussiana da Rssia e casada com um general do exrcito, depois senador e conselheiro do tzar, bem mais velho do que ela. Em 1871, a famlia Moeder viajou para a Suia levando quatro de seus seis filhos e o preceptor das crianas. Opretextodaviagemfoifazeremumaestaodecura paraque MmeMoeder restabelecesse a sade um tanto abalada. Na poca, o ar puro e o leite da Sua eram panacia para toda mulher um pouco fatigada, um pouco inquieta, um pouco nervosa aquemserecomendavaaaltitude(CharlesRoux:1988:63). Quando chegaram a Genebra, depois de vrias etapas na longa e difcil jornada, Natalia Nicolaievna estava novamente grvida e quatro meses depois deu luz um menino, Augustin, que seria o irmo predileto de Isabelle. Naquele mesmo ano o generalMoederretornouaSoPitesburgoondemorreudoisanosmaistarde,em1873. Na Sua Mme Moeder e os seus foram viver numa propriedade nas proximidades da cidade a qual deram o nome de Ville Neuve, comprada em nome do tutor das crianas. E, para embarao de toda a famlia, alguns anos mais tarde Mme Moerder engravidou mais uma vez e deu luz, em 1877, uma menina que foi registrada como Isabelle Wilhelmine Marie Eberhardt, filha natural de Nathalie Charlotte Dorothe Eberhardt, a vivadeMoerder,dequemrecebeuosobrenomedesolteiraedepaidesconhecido. O matronmico que lhe foi atribudo era metade de uma identidade, uma estranheza em uma sociedade onde s o patronmico validava a pessoa. O corpo da mulher, fonte de preservao da linhagem patriarcal, tornase potencial de desintegrao da ordenao social quando engendra filhos ilegtimos. Quem seria o pai, me e filha nunca tornaram pblico, embora a filha tenha tecido algumas verses sobre seunascimento,comoaquelasegundoaqualelaeraotristeresultadodeumaviolao cometida pelo mdico de sua me, j falecido em 1898 quando em carta conta este episdio a um amigo tunisiano (Randau:1989:12). No entanto, para os bigrafos modernos as suspeitas de paternidade recaem sobre o tutor, depois de um perodo de indagaes e at de hipteses fantasiosas como a de Pierre Arnoult, em 1943, que lhe atribuiu o poeta Rimbaud (18541891) como pai, algo que foi comprovadamente
171
www.unicamp.br/~aulas
desmentido pelos estudiosos. No entanto, o prprio Arnoult pensava ser sua hiptese umtantoquantoromanescamassedutoraeinofensiva(Randau:1989:7). Rimbaud, o poeta que escreveu: Eu um outro, frase comentada e cantada por poetas, literatos, crticos em geral, como pai ficcional de Ebhardt faz mesmosentidopotico,poiscomoele,etalvezaindamaisdoqueele,ajovempassoua vidaindodeumapersonaaoutra,circulandopelamultiplicidadeescorregadiaevriade identidades criadas. Ebhardt tambm tomou o outro como expresso do desconhecido, como abertura do eu no mundo e do mundo no eu, da ruptura da homogeneidade, de rachaduras que no se emendam. Ela como ele abandonou a Europa e peregrinou pela frica. E ambos escreveram. Mas cessam aqui as semelhanas gerais, pois mesmo que sediga,comojfizeram,queosdoisserviramdealgummodoaocolonialismo,elanoo fez a no ser em um momento especfico e por razes bem explicadas, ao contrrio se alinhou sempre ao lado dos locais, e sua vida e sua prosa foram bastante diferentes da do poeta. Rimbaud no era pai de Isabelle, os dois nem mesmo se cruzaram ou conheceram. O que certo, que Ebehardt construiu verses de seu romance familiar, nunca admitiu ser filha do tutor, Vava, a quem queria muito bem e, alm do mais, no se parecia com nenhum dos seus. Nascer sem ar de famlia sempre levanta suspeitas, por isso ela estava, desde o nascimento, condenada a inquietar (Charles Roux:1988:14). Inquietou, assim como toda sua famlia e especialmente o tutor, os servios de vigilncia na Sua (que muito a aborreciam), inquietou a policia na Frana, no norte da frica; inquietou os europeus do Magreb que no gostavam dela; inquietou grupos rabes, as autoridades coloniais e permaneceu uma dessas pessoas, como tambm o foi Rimbaud, que a escritora George Sand denominou les sauvages, uma pessoa diferenciada porque determinada a viver sua prpria verdade, mesmo no conseguindopasslaadiante,mesmonosendocompreendidapelosdemais. O tutor das crianas, Alexandre Trophimowsky, tinha j cinqenta anos quando a menina nasceu. Anotaes sobre ele so numerosas nos cadastros da policia poltica de Genebra que seguia de perto os russos, imigrados ou exilados, que ento vivam naquela cidade. Dados copilados nas fichas: origem armnia; provavelmente ex padre; casado e pai de filhos, abandonara todos na Rssia para seguir com Mme de MoerderparaaSua.EraumeruditoeseguidordoanarquismodeBakuninecomquem conviveu na Sua. Segundo este ltimo autor as crianas de ambos os sexos deveriam ser preparadas para a vida do esprito e para o trabalho, a fim de terem chances de cresceremcomoindivduos. O tutor seguiu esses preceitos, se recusava a mandar as crianas escola, ou deixlas passear livremente, ficavam mais em casa devido a vrias paranias ou aos preceitos, porm receberam educao apurada, filosfica, cientfica e literria; ele ensinoulhes vrias lnguas. A menina se expressava correntemente em russo, alemo e francs;conheciaogrego,olatim,oinglseaprendeurabeclssico.Emgeralsevestia como os meninos Isabelle ainda aos dezenove anos cortava o cabelo curto e usava traje de marinheiro como aparece em fotografia famosa de Louis David para ir at a cidadesemchamarateno(CharlesRoux:1988:5559). Vivendo em uma casa freqentada por exilados, anarquistas, membros das mais variadas sociedades secretas, indivduos sem identidade a no ser um cognome,
172
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
vindos de vrios cantos do mundo, a jovem sonhava com o que estava alm do jardim, nmadeeuera,escreveemMesJornaliers, quando ainda pequena sonhava ao contemplar a estrada [...] nmade permanecereidurantetodaaminhavida,amantedehorizontescambiantes,delonjuras ainda inexploradas, pois toda viagem, mesmo aos locais que mais freqentamos e mais conhecemos,umaexplorao(apudKobak:1989:28). O nomadismo que elege como descrio de si mesma, como definidor de liberdade, aproximaa de ns, tornaa nossa contempornea, evoca propostas de Deleuze e Guattari sobre o pensamento e uma cincia nmades que promovem valorizao contnua das prprias variveis, preferindo o no linear, o descontnuo, o singular ao invs dos dualismos tradicionais. Essas noes embasam tambm formulaes recentes de teorias feministas, como as de Braidotti, que afirmam a necessidade dos sujeitos tomarem metforas diferentes das clssicas que, como o caso de nomadismo, resgatam um senso de responsabilidade pela prpria localizao. A epgrafedeAtwoodqueencabeaestetextoexpressa,emoutrocampo,amaterialidade de cartografias autoreflexivas, reais e metafricas ao mesmo tempo, at mesmo, como a citao de Eberthardt sugere, tornando estranhos os lugares conhecidos onde sempre possvelenxergaralgonovoporoutrasperspectivas,outraslinhasdefuga. Os sujeitos do conhecimento aqui, como os sujeitos feministas contemporneos, so intensos, mltiplos, mveis e funcionam como rede de interconexes no lineares, no unitrias, mas criadas e incorporadas. Vagando pelos caminhos, sem objetivos fixos, a vida artificial, criada pela literatura, como escreveu Eberhardt, narrativa episdica, no herica. A palavra nomadismo transmite uma sensaodeprocessoincessantenosentrediferentespaisagens,mas,principalmente entre diferentes expresses do eu, diferentes expresses de gnero, mapas de territrios outros e desconhecidos e principalmente dos territrios interiores, como sugerido por Deleuze ou por Atwood. Errncias que penetram convenes, hipocrisias, situaes histricas. O caminho erradio conduz ao que se conhece com menos certeza, conduz a menos conhecimento institudo, acumulado em segurana (Hillman:1975:164). Atwood, ao se afastar da imagem do espelho em beneficio da imagem da cartografia,dageografiadamente,alternadeumenfoquemaispassivoparaoutromais ativo, o ato de colocar novos marcos e entrelaar os vrios temas sobre os quais estivemos falando: o traado de paisagens outras,caminhos e espaos desconhecidos, ultrapassagem de fronteiras e padres de uma dada poca, linhas novas que nos compe, assim como compe nosso mapa. Elas se transformam e podem mesmo penetrar uma na outra (Deleuze e Guattari:1996:76). A cartografia serve de foco de aproximao ou afastamento das experincias que podem explodir linhas segmentrias emlinhasdefuganocontinuoespiralqueenvolveacriao. O nomadismo de Eberhardt levoua por paisagens da existncia, por um itinerrio interior, em um constante caminhar que foi tambm um percurso por mltiplas personae que criou para si e empregou em diferentes situaes. Por exemplo, a de Nicolas Podolinsky, que usou para se corresponder com um marinheiro, Edouard Vivicorsi, amigo de seu irmo Augustin em busca de informaes sobre ele que havia
173
www.unicamp.br/~aulas
desaparecido de casa sem deixar rastros ou endereo. Vivicorsi responde, para desesperodeIsabelle,queAugustinsealistaraporcincoanosnaLegioEstrangeira. Na correspondncia Eberhardt assume uma identidade com registro,isto , o Nicolas que criou se apresenta como se fosse um marinheiro de Vladivostok que deixara o porto de inscrio para se fixar na Sua para uma estadia de trs meses, relata ela em carta ao irmo Augustin quando afinal consegue seu endereo, e prossegue, eis a fico que empreguei para que ele me respondesse. E ele acreditou (apudCharlesRoux:1988:251).Estacartaaoirmotambmexemplodeumapolifonia de lnguas: russo, francs, italiano, grego, latim e formao de novas palavras que marcamtodosseustextos,associandolnguasvivasalnguasmortas [como] se desde os dezoito anos, Isabelle tivesse querido negar as fronteiras e proclamar seu direito a ultrapassagem. Ao se definir em relao a tantas lnguas estrangeiras, ela no afirmava sua vontade de se subtrair ao enraizamento? (CharlesRoux:1988:258). Ela precisou inventar uma escrita para si, uma lngua para si, to sem razes como ela, por isso relacional e mvel. Por outro lado, na correspondncia que mantm com o marinheiro Vivicorsi ela emprega uma linguagem totalmente diferente da sua usual,umalnguarude,violentaat,dehomensdomarqueseatribuammutuamentea denominao companheiro, usando com o outro uma linguagem popular, incorreta, cheia de erros, o que a encantava, mas que no empregou em outras ocasies. Para obteroendereodoirmoelasecolocounolugardomarinheiroeconversoucomoele; do mesmo modo, sempre acreditou que para estudar ou observar os costumes de outros grupos seria preciso se misturar, viver com eles, e essa ideia ela colocou em prticadurantesuasestadiasnafricadoNorte.
Escrever para o poliglota [aquele que no adere a nenhuma ordem simblica natural, mas traduz entre mltiplas linguagens e identidades] um processo de desfazer a estabilidade ilusria ou as identidades fixas, escancarando a bolha de segurana ontolgica que advm da familiaridade com um sitio lingstico (Braidotti:2006:15).
Empregar outra lngua que no a materna, no caso das escritoras equivale, sugere Yaeger, a descoberta de mtodo alternativo para colocar em prtica emoes e ideias previamente no simbolizadas (Yaeger:1988:36). Empregar outras lnguas poderia ter carter emancipatrio, assinalar o momento de transformaes em que a escritora fora seu discurso a destruir antigas colocaes sobre o feminino e colocaroutracoisanolugar,investimentoqueformaumnovocorpodesonscomvrios registros e diferentes dificuldades sintticas, como o emprego de uma linguagem rude, de homem do mar. Nesses jogos de linguagem um sujeito feminino mltiplo vai se construindoaomesmotempoemqueroubaerecontextualizapalavras. O pseudnimo, ou a persona, Nicolas Podolinsky ela usa outras vezes: para confundir trs irmos com quem se correspondia ao mesmo tempo; ao escrever cartas, em momentos diferentes, para editores de revistas; para autoria de uma primeira novela, em parceria com Augustin, que publica em 1895 em uma revista parisiense, Infernalia: volupt spucrale [ Infernalia: voluptuosidade sepulcral]. O tema, comum aos decadentes da poca, o poder sedutor da morte, uma das obsesses da
174
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
escritora. Ela descreve dois corpos estendidos sobre uma mesa de morgue, um homem e uma mulher que mesmo mortos conservam sua forma e que seriam usados em uma aula de anatomia. Ali tambm est um estudante, bem vivo, que diante da carne fria da moa, sente desejo e trava uma batalha interior contra as foras obscuras que ameaavam tomar conta dele [...] ele resistia contra os apelos sinistros da nevrose (Kobak:1988:58). Encorajada pela publicao, continua escrevendo e alguns meses depois outras histrias aparecem em revistas tendo como autor aquele mesmo nome inventado. Em 1896 estabelece duas outras relaes epistolares, com um autor egpcio exilado em Paris que tambm usava pseudnimo, para quem ela escreve em rabe clssico e se assina Mahmoud Saadi personagem que mais tarde ser sua vestimenta favorita dizendose um jovem autor eslavo que se tornara muulmano e gostaria de ir para a Arglia para aperfeioar seu conhecimento da lngua. Para outro correspondente, um militar de Lion sediado na frica, ela escreve pedindo conselhos prticos sobre o local, e nessas cartas ela se assina Nadia. Essa amizade vai durar at o final de sua vida e atravs dele ela conseguiu traar um quadro acurado da regio mesmoantesdetercolocadosospsemfrica. Em 1897, pressionadas por vrios problemas, e animadas com a presena do querido Augustin na Arglia, Mme de Moerder e a filha partem em busca de outro local para viverem. Escolhem Bne (Annaba atual), cidade preferida dos colonizadores franceseslocalizadanapontanordeste daArglia,quasefronteiracomaTunsia.Elasse estabeleceram primeiro no bairro dos europeus, mas logo em uma casa de um bairro rabe, onde ao contrrio do anterior, ningum procura se imiscuir na maneira delas viverem.
Nos arredores de um antigo quarteiro morto, adormecido h sculos sob a sombra protetora da santa Zaouiya des Aissauuas [confraria religiosa], em uma pequena rua estreita e muito escarpada, era uma casa baixa e tosca, um pequeno cubo de alvenaria centenria, pintada todos os anos de um azul quente e coroada em cima de seu teto plano por uma velha figueira plantada no meio de um pequeno ptio mourisco, outrora cimentado e que se tornara polido, desigual. Para a rua, nada, nenhuma janela, nenhuma abertura. A porta ogival muito baixa, de pranchas espessas, bordadas de ferro e ornadas com velhos pregos de cobre, ficava sempre fechada e s se entreabria bem misteriosamente para deixar entrar ou sair um de ns [...] Havia quatro cmodos cujas portas e janelas se abriam para o ptio (apud CharlesRoux:1988:465).
Esta a descrio que faz de uma casa vizinha, e semelhante, a sua. Ela estava ento com dezessete anos, e ali no me movo, no converso. Eu estudo e eu escrevo. Escrevia, por prazer, entre outras coisas, crnicas que intitula Siluetas de frica publicadas em revista em 1898, das quais citamos acima um fragmento. O trecho transcrito ilustra seu tema central: a vida cotidiana, mulheres, especialmente mulheres, ehomenscomuns. Nesta mesma crnica aparece pela primeira vez, nota CharlesRoux, a personagem de Mahmoud, jovem taleb [estudante em busca de conhecimento] com a qual Isabelle se identificava e que se tornar seu novo pseudnimo. Transvestida,
175
www.unicamp.br/~aulas
usando roupas masculinas de jovem estudante em peregrinao, ela freqentava a casbah [o mercado] e logo faz amigos entre os estudantes locais. Em seis meses, conta, j falava bem o rabe popular, para me exprimir em rabe, eu falava rabe (apud Randau:1988:33). Duas mudanas so assinaladas na jovem a partir dessa estadia: a paixo pelo modo de vida dos nmades da regio, ento dita oriental, e pela vida religiosa muulmana que ultrapassa o gosto inato pela cor, e o pitoresco, e se torna admirao e convico; por outro lado, ela torna sua a simplicidade africana de vestes, alimentos e costumes. Isabelle se sentia muulmana de nascena, e sua me sob sua influncia abdicou formalmente da f luterana e abraou a do Isl, adotando o nome Fatma Manoubia. O momento feliz, no entanto, foi breve porque Natalie, a me, cuja sade sempre fora frgil, morreu do corao aos cinqenta e nove anos, deixando a filha em um estado de sofrimento inexprimvel (CharlesRoux:1988:471). Isabelle nunca escreveu sobre este episdio, a no ser em carta a um amigo na qual descreve o agravamento da sade da me e seu passamento, completando No direi nada de minha desolao. No posso escrever sobre isso (apud CharlesRoux:1988:474). O desespero em que mergulhou durou meses durante os quais continuou vivendo no mesmo local, prxima ao cemitrio rabe onde enterrara a me em uma tumba muulmana de porcelana branca ou azul, com o nome Fatma Manoubia inscrito na lpide,oquemostraqueromanceoutambmamortematerna. Retorna Sua na primeira de algumas idas e vindas. Ali novas e grandes perdas a aguardam. Primeiro foi Vladimir, um irmo mais velho que se suicidou; meses depois mais alguns dias na frica, mas deve retornar a Genebra porque o tutor, Vava, desenvolvera um cncer de esfago que terminou por matlo em 1899. Ela e o irmo Augustin, herdeiros por testamento dele da Ville Neuve nomeiam um procurador para vendla, mas este homem os engana financeiramente. Isabelle que sempre lutara com dificuldades,apartirdestadatapassaavivernaindigncia. Afinal, volta frica, vai para Tunis onde pretendia estudar o Coro, gramtica e estilo da lngua para abrir uma escola noeuropeia para moas, com umas cinco por classe, para instrulas. Esse empreendimento no prosperou, mas a educao de moas foi uma de suas preocupaes at o final da vida. Passou meses vagando pelo deserto, as noites em cafs ou em discusses com eruditos. Frequentava bairros de m reputao e os franceses a vigiavam, pensando que poderia ser uma agente da prfida Albion [Inglaterra] para semear a revolta entre os pobres e miserveis. Bem ao contrrio,elagastavacomelesopoucoquelherestavadaherana(Kupchik:1999:139). Neste perodo escreveu bastante, leu bastante. Partiu em seguida para a Arglia, primeiro para Beja depois para Bishra. Acreditam os estudiosos de sua vida que datadessapocaseuhbitodefumarkif(misturadeervasehaxixe)efrequentarobas fond das cidades ou dos portos, hbitos que se tornaram muito arraigados e por ela apreciados. Que embriaguez de amor sob aquele sol ardente! Minha natureza tambm era ardente e o sangue flua numa rapidez febril por minhas veias inchadas de paixo (apudKupchik:1999:138). Em agosto de 1899 seguiu para o sul, em direo ao Saara, local que iria marcar sua vida para sempre e que ela ir escolher para uma estadia mais longa depois
176
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
de outra curta permanncia na Europa. A regio que visitou ento e para a qual retornou em 1900, conhecida como Souf em torno de El Oued, centro de grupo de osis e de vrias comunidades cuja capital, cidade das mil cpulas, recebe o mesmo nome. Ainda na Calbria, a espera da data de partir, escreve na primeira pgina de um dosdirios,Estousozinhonomasculino,umaeleiopremeditada,vriasvezesrefere a si mesma no masculino. O uso freqente dos pseudnimos e alteraes das referncias biogrficas, a alternncia entre feminino e masculino, termina por converterse em sua verdadeira personalidade (Kupchik:1999:140). E a tal ponto convivembemasvriaspersonagensqueSlimne,queconheceu naregioecomquem se casou a apresentava assim: esta Isabelle, minha esposa e Mahamoud, meu companheiro. Na primeira estadia em El Oued ela adota definitivamente sua amada persona Si Mahamoud Saadi (ou Essadi). Parte s para o deserto, como um jovem estudante em busca de aperfeioamento espiritual, a procura dos marabutos, mestres eremitasdodeserto,nestaregiodemuitastradies.Eberheardtesboaumretratode Mahamoud: um cavalheiro vestido de branco, turbante rabe e rosto coberto, usando no pescoo colar de contas negras e portando um grande leno vermelho na mo que segura as rdeas do cavalo, um filho adotivo do grande xeique branco, uma outra fico em torno de Mahamoud Saadi. Notese que o nome que escolheu para a personagem predileta evoca um poeta e viajante de Shiraz que no sculo XIII pregava o amor,arennciaeaarte desegovernarasimesmo.Entoela est,dealgummodo,se designando como poeta e criadora da prpria vida meio ao turbilho de variaes. No Soufelaretomaraseunomadismo,aestrada,amantetirnica,embriagadadesol. Diz Bachelard que os humanos tem necessidade de uma verdadeira moral csmica,damoralqueseexprimenosgrandesespetculosdanaturezaparapoderviver com coragem a vida de trabalho cotidiano (Bahelard:1976:200). Ele quer dizer, continua, que toda luta precisa de um objeto e um cenrio. O cenrio diante do qual se coloca Eberhardet formado por dunas de areia se estendendo por quilmetros sem fim.
A primeira imagem da imensido uma imagem terrestre. A terra imensa. Maior que o cu que apenas uma cpula, uma abbada, um teto. Ser preciso meditaes e pensamentos sbios para atribuir o infinito Noite estrelada, para pensar verdadeiramente, contra as imagens ingnuas, sobre o alinhamento prodigioso dos astros [...] Naturalmente o Mar ainda a Terra, uma Terra simplificada, e, para uma meditao quase elementar, uma Terra resumida em seu atributo de imensido (Bachelard:1976:380).
Mar de dunas, costumam dizer, meio ao qual o conjunto de osis com suas florestas de tamareiras e palmeiras e seus jardins, acolhe viajantes das caravanas e nmades do deserto h milnios, oferecendo abrigo temporrio para o calor e a aridez. Pequenas comunidades sedentrias, algumas poucas dezenas, se espalham pela regio. Ao contemplar tal imensido, ao penetrar no deserto, o nmade se desloca, mas ele est sempre, diz Bachelard, no centro do deserto. Isto porque, para donde quer que olhe os objetos dispersos que lhe chamam a ateno, mesmo separados, esto integradosnocirculodavisopanormicadaimensaextenso.
177
www.unicamp.br/~aulas
Assim, quem contempla essa imensido toma posse de toda a terra (Bachelard:1976:379). A imaginao tem uma dimenso de bravura csmica porque agecomoummeioquefazviverasimagensem umespaoque noneminteriornem exterior, onde se misturam figuras de dentro e figuras de fora. Ento o cosmos no mais um espetculo, ele se torna um mundo de formas e de foras cuja ressonncia em ns, atravs de imagens, nos insufla a vida e nos engaja em participao integrativa (Wunenburger:1991:1). As imagens csmicas so simplesmente a percepo que sujeitoeobjetotrocamdelocalizaoeformamumnfirmequenopodeserdesfeito.
No deserto, gros de areia, arestas de pedras, protuberncias de rochedos, mas tambm a estridncia do vento, ou musica dos passos, so levados incandescncia para se tornarem traados de arquiteturas e de acontecimentos que sustentam o solo de nosso ser [...] Seguindo, como R. Caillois, as figuras de pedra, ns acedemos a uma ordem que o contrario do exposto, visvel, da escritura que sutura nosso ser [...] o tecido do universo continuo, ele no tem ponta (Wunenburger:199:4).
O deserto pelo qual cavalga Eberhardt, ou melhor Muhamed Saadi, no o dos anacoretas cristos, embora ela v em busca de eremitas e msticos do isl, o deserto que explora a multiplicidade concreta do poder ser. Como se tivesse encontrado uma porta de entrada para a paisagem que lhe revela ento uma total polissemiademanifestaesenredadasapartirdeoutrapercepoequepodelevarao rompimentodasamarrascomoeuetransfiguraodesi. AnotaEberhardtemseus dirios que noite no deserto, quando sopra um vento quase frio, nas dunas podese ouvir um murmrio semelhante ao do mar e sentese uma enorme tristeza sem razo alguma. Ela escuta o mesmo murmrio mais uma vez: tudo est silencioso na noite azul, a folhagem rija das folhas de palmeira assobia misteriosamente no vento perene do Souf, que vagamente soa como o vento no mar (Eberhardt:2003:64). E, como so maravilhososonascereopordosol!
Oh Saara, Saara ameaador, que esconde sua alma escura e bela em um vazio rido a desolado! Oh sim, eu amo esse pais de areia e pedra, este pais de camelos, homens primitivos e planuras de sal vastas e traioeiras (Eberhardt:2003:59).
Nesta regio Eberhardt conhece Slimne Ehnni, um soldado rabe do regimento Spahi, antigo regimento turco que fora apropriado pelo exercito francs. O vnculo entre eles no pode ser conhecido a no ser por alguns poucos amigos chegados, devido ao delicado equilbrio das relaes entre europeus e comunidades locais que pouco tempo antes haviam se rebelado. Eles ento se encontram noite, dormem ao relento, cruzam as areias brancas como a neve que parecem quase translcidas ao luar, passam pelo muro do cemitrio cristo, que d uma impresso lgubre, sobem uma pequena colina e encontram o jardim em um vale escuro, um jardim de flores delicadas, frutos e ervas aromticas. Sob a luz azulesverdeada da lua parecem difanas, como plumas delicadas e frgeis [...] a gua clara e fresca (Eberhardt:2003:63). Eles se deitam sobre a areia e quando a aurora se anuncia retornamlentaecuidadosamenteparaacidadeadormecida.
178
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
IsabellesemudaparaumacasanoantigobairrojudeudeElOuedcomuma empregada,Khalifa,umodenana,umacabraeocavaloquecomproucomumdinheiro enviado pelo irmo e batizou de Souf, em homenagem a regio. Slimne vai ao seu encontro sempre que consegue. A tranquilidade interrompida por bebedeiras coletivas, incluindo os criados, que culminam em arruaas e a moa se prometendo levar uma vida mais sbria. Kobak em anotao aos dirios diz que a vida com Slimne satisfazia Isabelle sexual e intelectualmente. Slimne o esposo ideal para mim que estou fatigado, cansado e farto da solido que me rodeia escreveu ela em carta ao irmoAugustin.PormauniocomSlimne,secretanamedidadopossvel,somadaaos seus hbitos masculinos e ao seu anticonvencionalismo provocavam escndalo tanto em parte da comunidade islmica quanto na ocidental. No geral, porm, sua vida era calma e simples, desejava fundirse com a paisagem e as gentes do Souf, cavalgar seu cavalo pelas rotas dos osis, ensimesmarse na religio [islmica] e amar Slimne (Kupchik:1999:142).OespaoprivilegiadoporIsabelleeramesmoodeserto:
Montei Souf esta manh para ir at as dunas e jardins que esto entre a estrada para Touggourt e a de Debila. Trilhas ngremes conduzem ao topo das dunas que do alto contemplam jardins profundos l em baixo. Choveu na noite passada; a areia estava mida e amarela e desprendia um odor agradvel, fresco, levemente salgado. Nas encostas montonas cresce um singular tipo de sedum suculento, verde claro e espigado. Nos jardins, as cenouras e pimentas parecem tapetes verdes brilhantes em baixo de palmeiras que soltaram toda aquela poeira cinza (Eberhardt:2003:73).
Ela e Slimne muitas vezes cavalgavam at a colnia anarquista deTarzout que ficava a quarenta quilmetros de Tns, local onde moravam. A colnia fora fundada por volta de 1888 e ali Isabelle que frequentara meios anarquistas em Genebra reencontravalibertriosquelheagradavam(Randau:1989:136). Em Mes Journaliers Ebehardt ela menciona esses passeios e mais tarde escreveu uma novela L anarchiste e um romance, Trimardeur, publicado aps sua morte, nos quais tambm faz referncia a esses grupos. Neste ltimo caso o prprio ttulo inscreve a noo uma vez que trimardeur quer dizer vagabundo, no sentido de errante,semelhanteaopersonageminterpretadoporCharlesChaplin. E mais,nosculo XIX era palavra muito usada pelos anarquistas para simbolizar seu pensamento, apontando para a idia de sempre expandir os limites, de no se fixar, de ir de l para c. Elaseguiaalentidodaestradaequivalendoaolangoramoroso,nodeserto liaaspedraseosgrosdeareia.Aomesmotempoemqueamavaaerrncia,elaamava tambm a regularidade imutvel do muezim, assim como o aspecto fechado das casas rabes[...]protegendoaintimidadedoshabitantes(Kobak:1988:110).Elaescreviapara jornais locais e assim ganhava a vida. Logo foi acusada de motivos subversivos, de se travestir em homem indgena; falavase de influncia de marabutos. Ela refutava as acusaes atravs do jornal para o qual escrevia. Durante um perodo eleitoral ficou
179
www.unicamp.br/~aulas
mesmo proibida de retornar a Tns onde se fixara. Neste mesmo perodo foi iniciada naconfrariasufidosQadrigya,amaisantigadaArglia. Em janeiro de 1901, depois de vencer uma enfermidade e ainda fraca, conversavaentretidaemumareuniodenotveisreligiosos,quandofoiatacadaporum homem que lhe desferiu golpes de sabre. Ela sentiu um duro impacto na cabea e em um movimento reflexo se levantou para tentar alcanar sua adaga; recebeu ento mais dois golpes no brao. Ebhardt ficou muito ferida, no morreu porque uma corda, como varal, estendida a sua frente amainou o golpe desferido em sua cabea. As autoridades conseguiram prender o assassino logo reconhecido como, Abdallah Mohammed bem Lakhdar, mas os motivos do atentado permaneceram obscuros. Dizem alguns que o homem pertencia a uma confraria rival, a Tidjania, outros que ele pertencia a grupos ortodoxosquenosuportavamaintrusodamoaemassuntosdereligio;ela,porseu lado, sempre acreditou ou que ele pertencesse a confraria rival ou que por detrs do assaltoasuapessoaestivessemasautoridadesfrancesas. Isabelle foi levada para o Hospital Militar Francs em El Oued. Estava fraca fisicamente e seu humor oscilava entre a sensao de sua vida ter ganho um sentidoeadeabandonobeiradodesespero,notaKobak.Eberhardtescreve:
A longa e insone noite de inverno parece infindvel neste silncio mortal. Est escuro e sufocante aqui nesta minscula e estreita ala de hospital. A lmpada noturna na parede perto da janela lana uma luz fraca na decorao abatida: paredes midas com moldura amarela, duas camas brancas de exercito, uma pequena mesa preta e prateleiras para guardar livros e garrafas. Um cobertor do exercito esconde a janela [...] Tudo silncio. Enquanto isso, eu estou aqui sozinha e definho. Minha cabea ferida, despedaada queima. Todo o meu corpo atormentado pela dor. E no encontro um modo de acomodar meu brao ferido. Ele me d muita dor e desconforto e parece terrivelmente pesado [...] Sinto dor no importa o que faa; um tipo de dor nauseante. Pensamentos negros e terrveis despontam em minha mente doente e febril (Eberhardt:2003:87).
Ela recorda em detalhes os acontecimentos daquele dia fatal e entre tantasoutrasconsideraesafirmaapercepodesolidoabsoluta.Porm,comoraiar do dia, surge tambm uma ponta de otimismo e ela antev a possibilidade de sua alma de novo, conhecer a serenidade. Deixou o hospital antes de estar totalmente curada e aovagarpeloslugaresconhecidoselaosenxergaentosobumalenteescura:Asdunas agora tem uma aparncia de desolao, no daquele modo fascinante, misterioso que eucostumavaapreciar;no,elasestomortas(Eberhardt:2003:91). OjulgamentocausoucomoonopaseEberhardt,quetestemunhou,teve umaatitudeinesperada,defendeuoacusadoqueforacondenadoaprisoperptua.Ela lutou pela diminuio da pena, escreveu para autoridades e conseguiu que a condenao a priso fosse de dez anos. Acreditam alguns bigrafos que a atitude dela em defesa de seu quase assassino tenha a ver no s com o significado que sua vida adquiriu para ela prpria, mas principalmente com uma tentativa de no se deixar usar pelosfrancesesparaalgumsurtoderepressoscomunidadeslocais. De qualquer modo, aproveitandose do alarde em torno do caso, as autoridades francesas a deportaram, expulsaram aquela russa de sobrenome alemo
180
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
que frequentara anarquistas e na Arglia vivia envolvida com os indgenas, no s levantando tantas suspeitas, crticas ao seu comportamento escandaloso e, acima de tudo, tanto os incomodava. Em Batna, para onde seguiu em caravana para encontrarse com Slimne, ela leu muito e escreveu longas pginas sobre o amor ao pensamento e a belezadaarte.Partiuemjulhode1901.Maisumavezprecisousevestirdehomem,pois seu dinheiro s lhe permitia pagar uma passagem de quarta classe em navio para Marselha, e nessa classe mulheres no podiam viajar. Transvestida ela retorna Europa e do mesmo modo regressa uma semana depois para comparecer ao julgamento e testemunhar. De novo em Marselha. Afinal Slimne consegue ser transferido para um regimento ali sediado para servir os ltimos seis meses que lhe restam de exrcito. Eles se casam e tendo esposado um francs naturalizado, Isabelle readquiriu o direito de viver em territrio francs. Durante estes ltimos dias tenho ansiado de novo pelo deserto, com uma intensidade to aguda que quase machuca [...] Oh, ser livre agora, nsdois,estarmosemboasituao,epartirparanossopas!(Eberhardt:2003:150). Eles retornam Arglia em janeiro de 1902, desembarcando em Bne, ali aondeIsabellechegaraaoMagrebepelaprimeiravez.Elaregistra,
Por fim se realizou o sonho de regressar do exlio e estamos aqui mais uma vez, baixo o grande sol eternamente jovem e luminoso, na terra amada, no imenso Azul murmurante, cujas extenses desertas ao entardecer recordam as do Saara j mais prximo, a uma jornada daqui e que, se Deus e Djilani nos ajudarem, voltaremos a ver ainda este ano que comeou de modo to reconfortante. Oxal este ano seja o comeo da vida nova, do sossego to merecido e desejado! (apud Kupchik:1999:165).
A inteno levar uma vida simples; ela retoma suas vestes de homem rabe,dediavisitamestreseruditos,noitefumakif,semisturaaobasfond.Viaja,ap e a cavalo, sempre prxima da terra. Escreve crnicas para o jornal Akhbar, escreve muitasoutrascoisasesuasnovelaserelatoscomeamaserpublicados. Em 1904, se agrega a uma misso junto a tribos nmades na fronteira com o Marrocos, mas depois de seis meses, com malaria, paludismo e provvel infeco por sfilis, retorna para ser tratada em Ain Sefra. Logo e por conta prpria deixa o hospital e vaiparasuacasanapartebaixadacidade.Algunsdiasdepois,umaenormetempestade, um dilvio; guas torrenciais descem das montanhas transbordam o osis, engolem casas e matam os habitantes. Isabelle foi pega pela torrente, morreu afogada em sua prpriacasa. Ela estava vestida como Si Mahmoud, os braos apertados em cima da cabeaemumgestofinaldedefesa(Kobak:2003:200).OssoldadosdogeneralLyautey, seuamigo,resgatarammanuscritosdispersos,cobertosdelodo.Partedesuaobrasfoi recuperada anos depois quando um escritor, Ren Doyon, comprou os manuscritos de uma mulher em Bne que dez anos antes os havia adquirido de Slimne. Ele, embora estivesseemcasacomIsabelle,nomorreunaenchenteesimdetuberculoseem1907, enquantoAugustin,oirmoquerido,sesuicidouseisanosmaistarde. Lyautey comentou que no sabia o que amava mais em Isabelle, se a mulher de letras, o cavalheiro intrpido ou o nmade endurecido. (Kupchik:1999:145).
181
www.unicamp.br/~aulas
Essa nmade acampada, como escreveu, no deserto da vida, da qual no passava de umamarginal,tevesemduvidaumavidarica:
Enquanto sob a luz do sol submerge sua condio feminina no fervor religioso, durante as noites se transveste e se funde na barafunda dos cafs da casbah. Embriagada de kif, licor ou palavras, seduz aos homens mediante sua androginia (Kupchik:1999:138).
Ela prpria percebia e discorria sobre o carter dual de sua vida, vivo duas vidas: uma cheia de aventura pertence ao deserto, e outra, calma e tranqila, devotada aopensamentoedistante detudo[...](Eberhardt:2003:41).Acreditavaquequemavia de fora pensava que era cnico, dissipado e debochado, mas isto porque ningum enxergava seu eu verdadeiro que era puro e sensvel, que se erguia sobre as humilhaesnasquaissechafurda(Eberhardt:2003:23). Nos escritos de Eberhardt ao invs de um Oriente fantasioso, de jardins perfumados povoado porodaliscas lnguidas se espreguiando ao sol, ou harns, como aconteceem pinturasdeGrmeouDelacroix,ouemlivrosdeLotioumesmoFlaubert, que buscavam, nos retratos mais fantasiosos do oriente sugerir prazeres fortes, o mundo de Eberhardt, que viveu prazeres fortes, foi o de uma realidade dura, privaes, parcos estipndios como jornalista, mas de resistncia fsica, abandono sensual, paixo porregiesimensasefascinantes. Desde o inicio de suas anotaes a ideia de governar a si mesma, de se conhecer,eramcentrais.Registrou:
H em mim coisas que no compreendo ainda, que mal comeo a compreender [...] E esses mistrios so bastante numerosos. No entanto, eu me estudo com afinco, gasto minha energia para colocar em prtica o aforismo estico: Conhea-te a ti mesmo. Esta uma tarefa difcil, atraente e dolorosa. O que mais me incomoda, a prodigiosa mobilidade de minha natureza e a instabilidade verdadeiramente desoladora de meus estados de esprito, que se sucedem uns aps os outros com uma rapidez inaudita. Isto me faz sofrer e no conheo outro remdio a no ser a contemplao muda da natureza, longe dos homens, face a face com o grande Inconcebvel, s e nico refgio das almas que sofrem (apud Kobak:1988:74).
Esse trecho de Eberhardt foi retirado de uma carta que escreveu ao amigo tunisiano Abdul Wahab antes de partir pela primeira vez para a Arglia, ainda com a me, e precioso pelas informaes que d sobre si mesma, pela clareza com a qual se observa, pela escolha que faz do preceito estico que, intui, pode ajudla a sondar os mistriosdeseuser,instvelemvel. Michel Foucault discorre longamente em vrios de seus livros, principalmenteosdadcadade80,nossobreosesticoscomosobreoconheatea timesmo.Anoodocuidadodesi,acredita,fundouanecessidadedeconhecerseasi mesmo e constituiu principio base que caracterizou quase toda a cultura grega, a romana e a helenstica, embora, sem a menos sombra de dvida, a noo tenha se alteradonotranscursodotempo,atseresquecidodepoisdetersidocentralporquase um milnio. E foi esquecida devido ao que o autor denomina momento cartesiano, com muitas aspas,ressalva, no uso do termo. Este momento teria atuado de duas
182
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
maneirasparaoesquecimento;requalificoufilosoficamenteoconheateatimesmoe desqualificou sua contrapartida, o cuidado de si. No primeiro caso requalificou filosoficamente o preceito, instaurou o ponto de partida das reflexes na origem como evidncia que se d conscincia. Alm disso, coloca a evidncia da existncia prpria do sujeito no princpio de acesso ao ser, no mais sob forma de prova da evidncia, mas como certeza da existncia, o que fazia do conhecete a ti mesmo um acesso fundamental verdade (Foucault:2004:1229). A distncia entre o conhease a si mesmodasfilosofiasdaAntiguidadeedossculosposterioresimensa. Eberhardt, educada na cultura clssica grega, indica a seleo da noo antiga, estica, ento vale a pena seguir Foucault para esclarecermos melhor o que ela pretendia com sua vida e, principalmente, sua escrita. A noo de ocuparse consigo mesmo data de eras arcaicas e, com o passar do tempo, tornouse um imperativo difundido na Antiguidade, sendo empregada em vrias doutrinas filosficas. Entre os esticos o preceito era essencial e somado ao cuidado de si era central como se constatanaleituradeEpicteto.Porm,noerasomenteentrefilsofosqueanooera importante, o principio da necessidade de ocuparse consigo mesmo tornouse, de modo geral, o princpio de toda conduta racional, em toda forma de vida ativa que pretendesse, efetivamente, obedecer ao principio da racionalidade moral (Foucault:2004:12). Tornouse mesmo, por sua extenso e penetrao, um fenmeno cultural deconjuntoacreditaFoucault.Oprincpioserefereaumaatitudegeral,isto,
certo modo de encarar as coisas, de estar no mundo [...] uma certa forma de ateno, de olhar para dentro de si mesmo [...] designa aes que so exercidas de si para consigo, aes pelas quais nos assumimos, nos modificamos, nos purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos. Da uma srie de prticas que so, na sua maioria, exerccios, cujo destino (na histria a cultura, da filosofia, da moral, da espiritualidade ocidentais) ser bem longo. So, por exemplo, as tcnicas de meditao, as de memorizao do passado; as de exame de conscincia, as de verificao das representaes na medida em que elas se apresentam ao esprito,etc.(Foucault:2004:14-15).
O cuidado de si definiu assim todo um corpus de maneira de ser, de atitude, de formas de reflexo, de prticas que se tornou muito importante no s na histria da cultura, ou da filosofia, mas tambm na histria das prticas da subjetividade.Todooserdecadasujeito,durantetodasuaexistncia,deveriacuidarde si. Tratase de ocuparse consigo mesmo enquanto sujeito de aes, comportamentos, relaes, atitudes (Foucault:2004:72). A prtica de si devia no s formar, mas tambm, e principalmente, corrigir algo, um mal, que j estava l. O relato que Isabelle faz ao amigo a partir do princpio estico, contempla, alm de outros pontos que destacamos, a possibilidade de ajudla no trato com a prodigiosa mobilidade de sua natureza, comoescreveu,queaincomoda,ouaomenosaintriga.
[...] a ascese filosfica, a ascese da prtica de si na poca helenstica e romana tem essencialmente por sentido e funo assegurar o que chamarei de subjetivao do discurso verdadeiro. Ela faz com que eu mesmo possa sustentar esse discurso verdadeiro, ela faz que me torne o sujeito de
183
www.unicamp.br/~aulas
enunciao do discurso verdadeiro ao passo que a ascese crist, por sua vez, ter sem duvida, uma funo completamente diferente: funo, claro de renncia de si, ela dar lugar a um momento particularmente importante [...] que o momento da confisso, isto o momento em que o sujeito objetiva-se a si mesmo em um discurso verdadeiro. Parece-me que na ascese [...] da prtica de si da poca de que lhes falo, trata-se de encontrar a si mesmo como fim e objeto de uma tcnica de vida, de uma arte de viver. Trata-se de encontrar a si mesmo em um movimento cujo momento essencial no a objetivao de si em um discurso verdadeiro, mas a subjetivao de um discurso verdadeiro em uma prtica e em um exerccio de si sobre si (Foucault:2004:401).
Ocuidadodesiformadevidaparticular,distintadeoutrasvidas,nolei universalvlidaparatodos.Implicasempreemumaescolha[...],isto,umaseparao entre aqueles que escolheram esse modo de vida e os outros (Foucault:2004:139). Retomando o registro de Eberhardt citado acima, percebese exatamente que o conheate a ti mesmo como o entendeu tornoua sujeito de enunciao de um discurso verdadeiro, como diz Foucault, no confessional, tentando encontrarse como artedeviver. Faziam parte dos exerccios do cuidado de si: o deslocamento do olhar e da curiosidadeparaossegredosnaturais,paraahistriaescritaporhistoriadores;retirarse paraocampoecontemplarumespetculocalmo.Exercciostambmeramfeitosparaa memria, ao caminhar, para poder se concentrar e decifrarse (Foucault:2004:270). E a escrita, nos sculos I e II, j era parte integrante, e importante, dessas prticas, prolongando e reativando as leituras e se constituindo como elemento de meditao. Era preciso temperar a leitura com a escrita e vice versa; a leitura recolhe, ento seria preciso disto fazer um corpus, e era a escrita assegurava a constituio de cada um. De sorte que o exerccio de ler, escrever, reler o que se tinha escrito e as anotaes feitas, constitua um exerccio quase fsico de assimilao da verdade e do lgos a se reter (Foucault:2004:432). As anotaes que se faziam sobre leituras, sobre algo que se ouvira, ou se vira recebiam em grego a denominao hypomnmata, isto , suportes de lembranas, um tipo de livro de anotaes, um livro de cpias que estiveram em moda na poca de Plato para uso pessoal e administrativo e constituiuse, compara Foucault, como ruptura para a poca semelhante a repercusso da introduo do computador na vida individual. Esta comparao importante, pois Foucualt acredita que a questo da escrita e do si mesmo deve ser colocada em termos do enquadramento tcnico e materialnoqualsurgiu(Foucault:1984b:364). Logo que apareceu esse novo instrumento ele foi usado na constituio de umarelao consigomesmo,comolivrodevida,e eracomumentre pessoascultivadas. Neles eram anotadas citaes, pensamentos, fragmentos de obras, exemplos e aes que a pessoa presenciara ou lera ou se lembrava e ento as notas tambm constituam materialdememriadascoisaslidas,ouvidas,pensadas,vividasoferecendoumtesouro que em perene acmulo servia para leitura e para meditao. Eram matria prima para escritosmaissistemticosquecontinhamargumentosemeiosparalutarcontradefeitos ouvencercircunstnciasdifceis.
184
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Devese notar e anotar: os hypomnmata no eram dirios ntimos, confisses ou relatos de experincias espirituais (tentaes, lutas, quedas e vitrias) comoosentendemoshoje.Omovimentoquebuscavameraoinverso,noerarevelaro escondido ou dizer o no dito, mas coletar o j dito, rearranjar o que se ouvira ou dissera com a finalidade de constituir a si mesmo. O princpio que possvel, e desejvel, tomar conta de si mesmo, governar a si mesmo. As anotaes que se deve fazer no exerccio do cuidado de si, formavam a peculiaridade de uma vida distinta das demais, na difcil tarefa de tentar reconstituir uma tica e uma esttica da existncia. Nessasanotaes,noshypomnmata,
a autobiografia, a descrio de si no desdobramento da prpria vida, intervm praticamente muito pouco, em contrapartida, no momento do significativo reaparecimento deste gnero no sculo XVI, a autobiografia ser ento absolutamente central. Neste intervalo, porm, aconteceu o cristianismo. E nele, Santo Agostinho (Foucault:2004:435).
Passouse ento para um regime que pretende que se saiba como dizer a verdadesobresimesmo. As anotaes de Eberhardt que formam os Mes Journaliers no so uma autobiografia, no preenchem os critrios que a definem. Eles se aproximam mais dos hypomnmata como descritos acima. A comear pelo ttulo: journalier em francs se refereaopagamentoaquemtrabalha pordia(jour),porextenso,oquesefazacada dia. Ela no traa uma sequncia linear dos dias, mas entremeia citaes de outros autores, comentrios, crnicas, pensamentos e sensaes prprias, descries de paisagens. Ela cita seus autores favoritos: Baudelaire, Edmond Goncourt, Loti e Tolstoy, entre outros. Expressa lamentos, sofrimentos, jamais confisses, arrependimentos. Mltiplas figuraes se cruzam, dialogam, h tenso entre os pargrafos atravs dos quais possvel perceber a constituio do sujeito atravs de prticas de liberdade, como na Antiguidade, e tambm sua gradual transformao atravs de estilos e prefernciasparticulares. Eberhardt perambulou pela escrita, pelos jogos de palavras assim como pelo deserto durante suas errncias por regies por onde sempre amei vagar, vestida comaroupaigualitriadosbedunos....Nasmaisdeduasmilpginasqueescreveu,ela deu voz aos pobres, aos que em geral no aparecem na literatura, aos apanhados entre duas culturas. Ela deixou entrar embriaguez, drogas, orgias; o cotidiano e experincias msticas. Porm, ela era tambm uma europia, estava to cnscia do impacto da vida rabe sobre a sensibilidade europia como estava do impacto do colonizador sobre os algerianos nativos (Kobak:2003:13). Esta andrgina do deserto, amazonas do Saara, nmade corao de ouro, correspondia aos sonhos de Oriente que assombravam os europeusdocomeodosculoXX(Kobak:1988:287). Em seu itinerrio singular, no entanto, foi tambm pioneira em vrios campos como lembra Kobak. Por exemplo, foi a primeira mulher a escrever sobre o efeito sedutor, mas aniquilante, das regies sul do deserto. Ela escreveu: minha ideia de me dirigir para o deserto tanto para satisfazer minhas necessidades tanto de aventura como de paz exigiu coragem, mas foi inspirada (Eberhardt:2003:74). Ela foi tambm uma das primeiras mulheres que se conhece a exercer a profisso de
185
www.unicamp.br/~aulas
correspondente de guerra, quando acompanhou os franceses na campanha do Marrocos,comoregistraRandau. Durante sua vida Eberhardt atravessou inmeras turbulncias histricas, como o despertar da Rssia emergindo da autocracia czarista; a convivncia com libertrios; sentiu as tenses que opunham os europeus e os colonizados; a imposio da noo de progresso em uma nica direo; a luta das naes contra o domnio estrangeiro. Mas sua verdadeira viagem, ao contrrio de vrios contemporneos, foi uma aventura interior seguindo as errncias externas, vagando pelas veredas da geografia da mente entre um eu e outro, um gnero e outro, indo do mundo moderno ao antigo, da estreiteza mental e material aos grandes espaos, da culpabilidade redeno, da angustia paz. E tambm do mistrio ao mistrio (Kobak:1988:292).
Referncias bibliogrficas
BACHELARD,Gaston.Laterreetlesrveriesdelavolont.Paris:Corti,1976. BRAODOTTI,Rosi.Transpositions.Malden:Polity,2006. CHARLESROUX,UmdsirdOrient.Paris:Brasset,1988. DELEUZE,G.eGUATTARI,F.MilPlats,vol.3.SoPaulo:Editora34,1996. EBERHARDT,Isabelle.TheNomad.Northampton:InterlinkBooks,2003. FOUCAULT,Michel.Lesoucidesoi.Paris:Gallimard,1984. ________________.Ahermenuticadosujeito.SoPaulo:MartinsFontes,trad.Marcioda FonsecaeSalmaMuchail,2004. HILLMAN,James.ReVisioningPsychology.NewYork:Harper&Row,1975. KOBAK, Annette. Isabelle Eberhardt: vie et mort dune rebelle. France: CalmannLvy, 1989. _____________.IntroductioninEberhardt,I.,TheNomad.:InterlinkBooks,2003. KUPCHIK,Christian.Elcaminodelasdamas.BuenosAires:EditorialPlaneta,1999. RANDAU,Robert.IsabelleEberhardt:notesetsouvenirs.Paris:LaBoteDocuments,1989. SALMERN,J.EZAMORANO,A.Cartografiasdelyo.Espanha:EditorialComplutense,2006. WUNENBURGER, JeanJacques. Le desert et limagination cosmo potique. Coloque de Nmes, octobre 1991. www.geopoetiques/net/archipel_fr/institut/cahiers/col2_jjw.html
186
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Escrita de si e parrhesa: verdade e cuidado de si em Michel Foucault
Priscila Piazentini Vieira Resumo
Este texto pretende entender como as noes de escrita de si e parrhesa, estudadas por Michel Foucault em seus ltimos trabalhos, relacionamse intrinsecamente com o tema das artes da existncia e do cuidado de si. Nessa cultura de si, a escrita adquire um papel fundamental, pois escrever para si e para o outro desempenha uma ao determinante na elaborao de si. Dentro desse contexto, a parrhesa tambm ganha destaque. Ela um tipode atividade verbal na qual quemfala tem uma relao especfica com a verdade, consigo mesmo e com os outros, envolvendo a franqueza, o perigo, a crtica e a liberdade. Essas problemticas permitem que Foucault sugira outras possibilidadesparaconstruirumanovapolticadaverdade.
Palavras-chave
Foucaultescritadesiparrhesaverdadecuidadodesi.
Doutoranda em Histria Cultural IFCH/UNICAMP Bolsista da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo (FAPESP).
187
www.unicamp.br/~aulas
188
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Self writing and parrhesia: truth and care of the self in Michel Foucault
Abstract
This essay aims at understanding how the concepts of self writing and parrhesia studied by Michel Foucault in his later works, are intrinsically related to the theme of "arts of existence" and "care of the self". In this culture of self, writing takes a fundamental role, since writing to your own self and to another one has decisive effects on the elaboration of the self. In this context, parrhesia also gains prominence. It is a kind of verbal activity in which the speaker has a specific relation to truth, to themselves and to others, involving honesty, danger, criticism and freedom. These issues make it possible for Foucault to suggest other possibilities for the construction of a new politics of truth.
Keywords
Foucaultselfwritingparrhesiatruthcareoftheself.
189
www.unicamp.br/~aulas
190
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
I Os jogos da verdade, o sujeito e a relao de si para consigo
EmHistriadaSexualidadeII.Ousodosprazeres(FOUCAULT,1984),Michel Foucault mostra como as questes do desejo e do sujeito desejante constituam um conjunto terico geralmente aceito pelos estudos da sexualidade. , nesse sentido, que ele prope um trabalho histrico e crtico, uma genealogia do homem do desejo, paraestudarasmaneiraspelasquaisosindivduossolevadosasereconheceremcomo sujeitossexuais.Tratase,portanto,de:
(...) analisar as prticas pelas quais os indivduos foram levados a prestar ateno a eles prprios, a se decifrar, a se reconhecer e se confessar como sujeitos de desejo, estabelecendo de si para consigo uma certa relao que lhes permite descobrir, no desejo, a verdade de seu ser. (FOUCAULT, 1984: 11).
Dois problemas de extrema relevncia esto presentes nesse trecho: a relao do indivduo consigo mesmo, e a relao especfica que o sujeito estabelece, a partir de certo perodo de nossa histria ocidental, com a verdade. , desse modo, que Foucault prope estudar os jogos de verdade na relao de si para consigo a partir da histriadohomemdodesejo(Idem).Aopensarnessetema,elereorganizaasuasrie sobre a Histria da Sexualidade, entendendo que era fundamental recuar historicamente at a Antiguidade para problematizar a relao que possumos com a prpria verdade. O seguinte trecho explicita as caractersticas dessa histria da verdade:
Uma histria que no seria aquela do que poderia haver de verdadeiro nos conhecimentos; mas uma anlise dos jogos de verdade, dos jogos entre o verdadeiro e o falso, atravs dos quais o ser se constitui historicamente como experincia, isto , como podendo e devendo ser pensado (...) Atravs de quais jogos de verdade o ser humano se reconheceu como homem de desejo? (FOUCAULT, 1984: 12).
Foucault percebeu, nesse retorno, que nas culturas grega e grecolatina, esta problematizao ligavase a um conjunto de prticas, as artes da existncia (FOUCAULT, 1984: 15). Por meio destas, os gregos e romanos elaboravam regras de condutas e, tambm, buscavam transformarse ao fazer da vida uma obra de arte, possuindocertosvaloresestticoseticos. OobjetivodeFoucault,nessesestudos,pensaremumaexperinciamoral que no esteja mais centrada na figura do sujeito e na relao especfica que ele estabelece com a verdade. Na Antiguidade, a constituio de si no passava por um assujeitamento de todos os indivduos s disciplinas e norma, como ocorreu na sociedade moderna. No se trata, tambm, de ver na moral clssica um modelo a ser seguido, mas de perceber como foi possvel uma experincia moral que desconhecia completamenteanoodesujeito:
191
www.unicamp.br/~aulas
Ora, creio que uma experincia moral essencialmente centrada no sujeito no mais satisfatria atualmente. E, por isso mesmo, um certo nmero de questes se coloca hoje para ns nos mesmos termos em que elas se colocavam na Antiguidade. A busca de estilos de vida, to diferentes quanto possveis uns dos outros, me parece um dos pontos pelos quais a busca contempornea pde se inaugurar antigamente em grupos singulares. A busca de uma forma de moral que seria aceitvel por todo mundo no sentido de que todo mundo deveria submeter-se a ela me parece catastrfica (FOUCAULT, 2006: 262-263).
O conjunto de interrogaes pode ser sintetizado na questo: por que a verdade? Por que somente cuidamos de ns mesmos a partir da preocupao com a verdade? O que fez com que toda a cultura ocidental passasse a girar em torno dessa obrigao da verdade? (FOUCAULT, 2006: 280) Perceber que h jogos de verdade nos quaisaverdadeconstituda,quehumarelaointrnsecaentreverdadeepoder,no quer dizer que nada existiu. Tratase, para ele, de sugerir outras possibilidades para a construo de uma nova poltica da verdade (FOUCAULT, 1979: 14), que escape aos moldes modernos, mas que de forma alguma segue um idealismo histrico, como ele afirma:
Porque quando digo que estou estudando a problematizao da loucura, o crime ou a sexualidade, no estou negando a realidade de tais fenmenos. Pelo contrrio, tratava-se de mostrar que era precisamente algo existente no mundo que tinha como objetivo a regulao social em um momento dado. (Foucault, 2003: 389).
II O cuidado de si: a relao consigo e com o outro
a autonomia e a importncia que as prticas de si possuem na Antiguidade que chamam a ateno de Foucault, pois, nesse perodo, elas ainda no eram investidas pelas instituies religiosas, pedaggicas, mdicas ou psiquitricas, como ocorreu na sociedade moderna (FOUCAULT, 2006: 265). fundamental, portanto, perceber as particularidades que as tcnicas de si assumiram na cultura grecoromana. Estassodefinidascomoprticasquepermitemaosindivduosefetuarem,sozinhosou com a ajuda de outros, um certo nmero de operaes sobre seus corpos e sua alma, seus pensamentos, suas condutas, seu modo de ser; de se transformar para atingir um certo estado de felicidade, de pureza, de perfeio ou imortalidade (FOUCAULT, 1994: 785). Foucault destaca dois momentos histricos dessas tcnicas de si: a filosofia greco romana dos dois primeiros sculos do Imprio romano; e a espiritualidade crist e os princpiosmonsticos,taiscomoaquelesquesedesenvolveramnossculosIIIaoVd.C., soboBaixoImprio. Comosgregos,essasprticastomaramaformadeumpreceito,ocuidado de si. Este era uma das principais regras de conduta da vida social e pessoal das cidades, um dos grandes fundamentos da arte de viver. Uma questo marcante o fato do cuidado de si ter perdido importncia ao longo da histria e, progressivamente, dado espao para um outro preceito: o conhecete a ti mesmo. Nossa tradio filosfica insistiu muito sobre o conhecerse e esqueceu o cuidarse, como Frdric Gros mostrou em O cuidado de si em Michel Foucault (GROS, 2006:
192
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
127138). Nos textos gregos e romanos, porm, as duas prescries esto associadas e, alm disso, o princpio do cuidado de si que torna possvel a aplicao do conhecete a ti mesmo, estando esse ltimo subordinado ao primeiro. O grande exemplo dessa relao est na Apologia de Scrates, [sculo IV a.C.] (PLATO, 1965) na qual Plato apresenta Scrates como o grande mestre do cuidado de si. Para Scrates, devemos ensinar aos homens a se ocuparem de si mesmos, pois, assim, eles aprenderiam tambmacuidardacidade. Em Alcibades [sculo IV a.C.], de Plato (PLATO, 1969), o cuidado de si tambm um tema central, como bem mostrou Salma Muchail em Da promessa embriaguez: A propsito da leitura foucaultiana do Alcibades de Plato (MUCHAIL, 2006: 239252). Para Foucault, este dilogo constitui um ponto de partida que nos forneceoprogramadetodaafilosofiaplatnica,principalmenteatravsdetrsgrandes problemticas. A primeira delas diz respeito relao entre o discurso poltico e o discurso ertico, j que a ambio poltica e o amor filosfico encontram seu ponto de juno no cuidado de si. Isso porque o governante da cidade deve ser algum que exera o poder de forma ativa. Na relao amorosa, dessa maneira, ele deve exercer o papel do dominante, do amante, e no o de dominado, que possui um papel passivo. Esse trabalho de elaborarse a si mesmo como um governante da cidade, segundo um papel ativo, deve ser feito atravs do cuidado de si. Toda essa problemtica adquire grandeimportncianesse perodohistrico,comovemosnaquartaparteda Histriada SexualidadeII,Ertica(FOUCAULT,1984:165198). Entramos, assim, na segunda questo colocada pelo dilogo. Como Alcibadesdevecuidardesimesmoparaqueobtenhaumestadopolticoeerticoativo, ocuidadodesiestligadoaumapedagogiaquedizrespeitoaummomentoparticular da sua vida, ou seja, quando ele jovem e preparase para se transformar em um grande governante da cidade. O terceiro movimento mostra como, para Plato, o cuidado de si o conhecimento de si. este o ltimo preceito, portanto, que privilegiado por todos os platnicos. Essa importncia ser invertida no perodo helensticoenoImprioRomano,nosquaisocuidadodesiganhargrandedestaque.
O cuidado de si no perodo helenstico, e cinco sculos mais tarde, com Sneca, Plutarco e Epiteto, desse modo, adquire caractersticas diversas das tcnicas de si platnicas. No se trata mais de cuidar de si somente para uma preparao para a vida poltica, pois ele se torna um preceito universal. Ser preciso at mesmo se desviar da vida poltica para melhor ocupar-se de si mesmo. Alm disso, cuidar de si no ser mais uma obrigao destinada apenas educao dos jovens, ser uma maneira de viver que concerne a todos os indivduos ao longo de toda a vida.
III A escrita como cuidado de si
exatamente nessa cultura de si que a escrita adquire um papel fundamental, pois, escrever para si e para o outro desempenha uma ao determinante naelaboraosobresi.ParaSneca,porexemplo,eraprecisoler,mastambmescrever (FOUCAULT, 2006: 146). Epiteto tambm insiste vrias vezes na importncia da escrita como exerccio pessoal, estando ela associada em muitos momentos meditao, ao exerccio do pensamento sobre ele mesmo (FOUCAULT, 2006: 147). Foucault ressalta a relevnciadaescritaparaocuidadodesinoseguintetrecho:
193
www.unicamp.br/~aulas
(...) a escrita constitui uma etapa essencial no processo para o qual tende a asksis: ou seja, a elaborao dos discursos recebidos e reconhecidos como verdadeiros em princpios racionais de ao. Como elemento de treinamento de si, a escrita tem, para utilizar uma expresso que se encontra em Plutarco, uma funo etopoiitica: ela a operadora da transformao da verdade em thos (Idem).
Uma dessas prticas so os hupomnmata, ou seja, livros de contabilidade, registros pblicos ou cadernetas individuais que compilavam anotaes, exemplos, citaes, fragmentos, e at mesmo reflexes ou dizeres ouvidos. Foucault diz: Eles constituam uma memria material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas; assim, eram oferecidos como um tesouro acumulado para a releitura e meditao posteriores (FOUCAULT, 2006: 147). Mas ele tambm nos alerta: no devemos considerar os hupomnmata como um simples suporte de memria, destinados a substituir suas falhas. Eles so materiais que servem para exerccios que sero executados freqentemente, como ler, reler, meditar, conversar consigo mesmo e com os outros. Mais do que servirem para lembranas, portanto, esses discursos devem ser utilizados naaodecadaindivduo. Os hupomnmata tambm no devem ser entendidos como dirios, ou como narrativas de experincia espiritual sobre tentaes e lutas. Eles no funcionam, ento,comoumaconfisso,quetemporobjetivoapurificaodoindivduo,poistrata se no de buscar o indizvel, no de revelar o oculto, no de dizer o nodito, mas de captar, pelo contrrio, o j dito; reunir o que se pde ouvir ou ler, e isso com uma finalidade que nada mais que a constituio de si (FOUCAULT, 2006: 149). Para uma sociedade na qual a tradio era um valor muito destacado, a prtica da citao possua grande autoridade, porque recorria sempre a discursos reconhecidos socialmente,comoobjetivodeproporumaticaorientadapelocuidadodesi. Essas cadernetas de notas tambm serviam como material para textos enviados a outras pessoas. Foucault destaca, nesse sentido, a importncia da correspondncianaAntiguidade,elembraqueSnecadizia:aoseescrever,seloque se escreve, do mesmo modo que, ao dizer alguma coisa, se ouve o que se diz (FOUCAULT, 2006: 153). A escrita de uma carta, ento, age tanto sobre aquele que a envia, quanto sobre aquele que a recebe. As cartas de Sneca a Luclio (SNECA, 2004) soumexemplodessaprtica,apontandotambmparaessaduplaaodaescrita:
Nessas cartas, Sneca no se limita a se informar sobre Lucilius e seus progressos; no se contenta em lhe dar conselhos e comentar para ele alguns grandes princpios de conduta. Atravs dessas lies escritas, Sneca continua a se exercitar, devido a dois princpios por ele freqentemente invocados: o de que necessrio adestrar-se durante toda a vida, e o de que sempre se precisa da ajuda de outro na elaborao da alma sobre si mesma (FOUCAULT, 2006: 154).
na correspondncia que Foucault encontra os primeiros desenvolvimentos histricos do relato de si, e no nas cadernetas pessoais, j que estas possibilitam a constituio de si apenas a partir da seleo do discurso dos outros. Mas essa relao entre quem escreve e quem l no deve ser entendida atravs de uma introspeco,poisnosetratadeumdeciframentodesi,masdeumaaberturaquese
194
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
d ao outro sobre si mesmo (FOUCAULT, 2006: 157). Estamos, nesse momento, muito distante de uma prtica monstica das experincias espirituais. Segundo Foucault, para estas,oobjetivoera:
(...) desalojar do interior da alma os movimentos mais escondidos de forma a poder deles se libertar. No caso do relato epistolar de si mesmo, trata-se de fazer coincidir o olhar do outro e aquele que se lana sobre si mesmo ao comparar suas aes cotidianas com as regras de uma tcnica de vida (FOUCAULT, 2006: 162).
So dois modelos de escrita que produzem modos diversos de relao consigo. A partir do perodo helenstico e no incio do Imprio Romano, em Sneca e Marco Aurlio, por exemplo, a prtica de si integra o exame de conscincia, muito presente entre os esticos e os epicuristas. De qualquer forma, para Sneca, os ensinamentoseregrasconstituemum meiodeagir corretamente,enodejulgaroque aconteceu no passado. Mais tarde, a confisso crist procurar expulsar as ms intenes da conscincia. Para Foucault, Sneca no um juiz que se d por tarefa se punir, mas um administrador que elabora um inventrio. Ele o administrador permanente de si mesmo, e no do seu passado. Tratase, para ele, no de explorar a suaculpabilidade,masdevercomooqueelefezseajustaaoqueelegostariadefazere dereativarcertasregrasdeconduta.Naconfissocrist,openitentetambmmemoriza asleis,maselefazissosomenteparadescobrirseuspecados. Na prtica crist, assim, o ascetismo ligase sempre a um tipo de negao de si mesmo e da realidade, e o si sempre faz parte de uma realidade que preciso renunciar para acender a um outro nvel de realidade. justamente esse movimento que pretende renunciar a si que distingue o ascetismo cristo. Na cultura estica, ao contrrio,asprticasdeabstinnciatinhamumafunodiversadapurificao,jquese tratava de estabelecer e de testar a independncia do indivduo em relao ao mundo exterior. Adiferena,portanto,entreatradioesticaeacristaseguinte:paraa primeira, o exame, o julgamento e a disciplina do acesso ao conhecimento de si utilizando a memria, pois a memorizao das regras que faz aparecer a verdade do indivduo sobre ele mesmo. No cristianismo, por uma ruptura e uma dissociao violenta que o penitente faz aparecer a verdade sobre si mesmo., nesse contexto, que a obedincia tornase um dos grandes princpios dessa tcnica de si crist. Longe de representar um estado autnomo final, ela implica o controle integral da conduta do indivduo pelo superior. um sacrifcio de si e da prpria vontade do sujeito. Apartir do sculoXVIII,entretanto,ascinciashumanasinseriramastcnicasdeverbalizaoem um contexto diferente, fazendo delas no mais um instrumento de renncia do sujeito, mas de constituio, atravs de uma incitao positiva, de um novo sujeito. Foucault v nesse movimento uma ruptura decisiva para a cultura ocidental. Essa mudana caracterizadaminuciosamenteemAvontadedesaber(FOUCAULT,2005).
195
www.unicamp.br/~aulas
IV A parrhesa como a coragem da verdade
A parrhesa pode ser entendida, como pontua Foucault no curso Le gouvernemet de soi et des autres (FOUCAULT, 2008), seguindo dois princpios: de uma parte,olivreacessodetodospalavrae,deoutra,afranquezaparatudodizer.Masele tambm ressalta uma complexidade maior nessa definio, pois, primeiramente, a liberdade da fala no reservada a qualquer pessoa. Ela, dessa maneira, aparece associada a uma organizao instituda pelo direito e pelos privilgios da fala. Alm disso,aparrhesanosimplesmentealicenaparatudodizer,mas,emprimeirolugar, uma obrigao do dizer verdadeiro e, em segundo lugar, o perigo que este comporta. Para compreender essas dimenses especficas da parrhesa, ele recorre, principalmente, a dois textos antigos: a pea on [418 a.C.], de Eurpides (EURPIDES, 2003), e a Histria da Guerra de Peloponeso [por volta de 431 a.C.], de Tucdides (TUCDIDES,1982). Nesses dois textos antigos, a parrhesa est ligada, primeiramente, ao funcionamento da democracia. Ela, alm disso, supe uma estrutura institucional precisa, a da isgoria, isto , o direito que dado efetivamente pela lei e pela constituioatodososcidadosdetomarapalavra.Almdisso,mesmoqueaparrhesa esteja inscrita em um campo igualitrio, ela implica o exerccio de um certo domnio poltico de alguns indivduos sobre outros. Finalmente, ela faz parte de uma relao agonstica e, nesse sentido, o parresiasta corre sempre um perigo quando pronuncia a verdadeemumcampopoltico. Essas caractersticas presentes nos textos de Eurpides e de Tucdides, datamdosculoVa.C.,eFoucaultencontradeslocamentosimportantesaocomparlos com os textos que foram escritos na primeira metade do sculo IV a.C. Uma dessas mudanas a generalizao da noo de parrhesa, pois a obrigao e o risco do dizer verdadeiro no aparece mais simplesmente como ligada ao funcionamento exclusivo da democracia, j que encontrar lugar nos diferentes regimes polticos, sejam eles democrticos,autocrticos,oligrquicosoumonrquicos.Ela,ento,aparececomouma funonecessriaeuniversalnocampodapoltica. A segunda transformao mostra como a parrhesa perde o valor positivo que possua com Eurpides e Tucdides e passa a ser entendida de forma ambgua. Como ela dava a todos a possibilidade de falar, ento, qualquer pessoa podia tomarapalavra.Masseosoberanoeopovonoescutassemoqueoparresiastatinhaa dizer, tornavamse intolerantes, e o risco de dizer a verdade aumentava e, por conseqncia, todos tinham medo de falar, e a lei do silncio dominava. Alm disso, nesse contexto, aquele que pronunciar a palavra no dir mais a verdade, mas somente o que estiver conforme com o que o povo e o soberano pensam ou gostariam de escutar. Ora, repetir o que a opinio j constituda do povo e do soberano, e apresentlacomosendoaverdade,nocaracterizaaparrhesa,mas,contrariamente,a lisonja. A oposio diante da lisonja j tinha sido discutida nas aulas dos anos de 19811982, em A Hermenutica do Sujeito (FOUCAULT, 2004). O que faz com que a lisonja seja um risco moral to importante na tecnologia de si? Ela , para o inferior, uma maneira de ganhar este poder maior que se encontra no superior. Como ele pode
196
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
desviareutilizaremseuprprioproveitoopoderdosuperior?Atravsdafala.falando que o inferior pode obter do superior o que quer. O lisonjeador aquele que obtm o que quer do superior fazendolhe crer que ele mais belo, mais rico, mais poderoso do que realmente . O lisonjeador, portanto, aquele que impede que se conhea a si mesmocomose.Eleimpedeosuperiordeocuparseconsigomesmocomoconvm.A lisonja torna impotente e cego aquele a quem se dirige. Foucault caracteriza o discurso dolisonjeadordaseguintemaneira:
(...) discurso que, justamente, no ser o discurso de verdade pelo qual podemos estabelecer, cercar e encerrar nela prpria a soberania que se exerce sobre si. O lisonjeador introduzir um discurso que um discurso estranho, que depende justamente do outro, o lisonjeador. E este ser um discurso mentiroso. Assim, pela insuficincia em que se encontra na sua relao consigo mesmo, quem lisonjeado se acha sob a dependncia do lisonjeador (...) Assim, a subjetividade, como diramos, a relao de si para consigo caracterstica do lisonjeado, uma relao de insuficincia que passa pelo outro, e uma relao de falsidade que passa pela mentira do outro (FOUCAULT, 2008: 457-458).
A parrhesa uma antilisonja, pois ela fala ao outro de modo que poder constituir consigo mesmo uma relao que autnoma, plena, independente e satisfatria. A meta final da parrhesa no somente manter aquele a quem se enderea a fala na dependncia de quem fala como o caso da lisonja. O objetivo da parrhesa fazer com que, em um dado momento, aquele a quem se enderea a fala se encontre em uma situao tal que no necessite mais do discurso do outro. E de que maneira?Foucaultresponde:
De que modo e por que no necessitar mais do discurso do outro? Precisamente, porque o discurso do outro foi verdadeiro. na medida em que o outro confiou, transmitiu um discurso verdadeiro quele a quem se endereava que este ento, interiorizando esse discurso verdadeiro, subjetivando-o, pode se dispensar da relao com o outro. A verdade que na parrhesa passa de um ao outro sela, assegura, garante a autonomia do outro, daquele que recebeu a palavra relativamente a quem a pronunciou (FOUCAULT, 2008: 458).
Voltando ao curso Le Gouvernement de soi et des autres, e deixando o problema da lisonja e da retrica um pouco de lado, destaco a terceira transformao que ocorre nos textos do sculo IV sobre a noo de parrhesa. Segundo Foucault, com Eurpides e Tucdides, a parrhesa consistia em dar livremente sua opinio sobre as questes concernentes organizao e ao governo da cidade. Mas, atravs dos textos de Xenofonte, Iscrates e, sobretudo, de Plato, vemos que ela abarcar uma dupla tarefa, no mais somente de governar a cidade como se deve, mas de mostrar como, para governar a cidade, os prprios cidados ou o soberano devem se governar. E a parrhesa, no lugar de ser simplesmente uma opinio que dada cidade para que ela seja governada como se deve, aparece agora como uma atividade que consiste em se dirigir alma daqueles que devem governar, de maneira que eles saibam se governar e que,assim,acidadesejabemgovernada.
197
www.unicamp.br/~aulas
Este deslocamento no objetivo da parrhesa do governo que se dirigia diretamente cidade, a este governo de si para governar os outros constitui uma transformao fundamental. A partir desse momento, ela ser uma noo poltica que coloca o problema de organizar, no interior de um governo, quer ele seja democrtico ou monrquico, um lugar para o dizer verdadeiro; e um problema filosficomoral, ou seja: quais meios e quais tcnicas empregar para aqueles que governam possam, pela parrhesadaquelesqueosaconselham,governarasicomosedeve? A quarta modificao tambm est relacionada generalizao desta noo. Como a parrhesa pode ser exercida em qualquer regime e por qualquer pessoa, tratase, agora, de distinguir o que verdadeiro do que ilusrio. J que ela no mais utilizadasimplesmenteparadarconselhosaopovo,masparaguiaraalmadaquelesque governam, quem vai ser capaz da parrhesa? a que comea a aparecer, nessa virada do sculo V para o sculo IV, na cultura ateniense, esta grande separao entre a retricaeafilosofia. A retrica como arte da fala, que susceptvel de ser ensinada e utilizada para persuadir os outros, poderia ser apresentada como a arte do dizer verdadeiro, aquela que possibilita as condies tcnicas para que tal discurso seja persuasivo. Ou seja, se um homem de bem, que sabe a verdade, detm uma arte especfica que capaz de persuadir os outros, nesse caso, a retrica poderia aparecer como a tcnica prpria da parrhesa. Mas a filosofia que vai se pensar como sendo a nica prtica de linguagem capaz de responder a essas exigncias novas da parrhesa. Pois, diferentemente do retrico que se dirige a um grande nmero de pessoas como, por exemplo, s assemblias, e funciona no interior de um campo institucional, a parrhesa filosfica se dirige tambm aos indivduos. Ela, nesse sentido, pode dar conselhosparticularesaoPrncipeeconselhosindividuaisaoscidados. Alm disso, a filosofia apresentase, por posio retrica, como a nica tcnica que consegue distinguir o verdadeiro do falso. Isso porque a retrica tem por objetivo persuadir o auditrio tanto do verdadeiro quanto do falso, do justo e do injusto,domaledobem,enquantoafilosofiatemporfunodizeroqueverdadeiroe excluir o falso. Enfim, a filosofia ser a detentora do monoplio da parrhesa, pois ela possibilitaatransformaodasalmas. A partir do problema da parrhesa, portanto, Foucault aponta para as seguintes questes: qual o lugar que o dizer verdadeiro ocupa? Qual regime poltico o mais favorvel a ele? E aquele que diz a verdade deve estar no Senado, num crculo poltico ou em uma escola filosfica? Ou deve, como os cnicos, estar na rua? Todo esse problema do lugar poltico do dizer verdadeiro est ligado a uma srie de interrogaes que encontramos no pensamento antigo, quer seja nos filsofos, nos moralistas ou nos historiadores. Ele, alm disso, tambm ressalta um outro conjunto de questes fundamental na Antiguidade: aquele que trata da relao entre a verdade e a coragem, ou entre a verdade e a tica. Como podemos distinguir e reconhecer o discurso verdadeirododiscursolisonjeador?Equemdeverser,dopontodevistatico,doponto de vista de sua coragem, aquele que faz essa partilha entre o verdadeiro e o falso? Quemtemacoragemdaverdade?Equalaeducaonecessriaparaela? Foucault j tinha dado indicaes sobre a parrhesa como constituinte da relao entre o mestre e o discpulo na A Hermenutica do Sujeito, principalmente ao
198
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
diferenciar tal relao da estabelecida entre o mestre de penitncia e o confessor no cristianismo. Devese lembrar que ele utiliza sempre o cristianismo como o grande marco para o aparecimento de uma hermenutica do sujeito que modifica drasticamente as prticas ticas antigas. Para ele, h um trao geral de toda a tica do saber e da verdade que encontramos nas escolas filosficas gregas: um modo de conhecimento relacional que capaz de produzir uma mudana no modo de ser do sujeito. A distino, assim, est no modo do saber e na forma como aquilo que conhecemos sobre os deuses, os homens, o mundo, poder ter efeito na natureza do sujeito,nasuamaneiradeagir. A parrhesa, dessa forma, uma tcnica que permite ao mestre utilizar comoconvm,nascoisasverdadeirasqueeleconhece,oquetil,oqueeficazparao trabalho de transformao de seu discpulo. uma liberdade de jogo que faz com que, no campo dos conhecimentos verdadeiros, possamos utilizar aquilo que pertinente para a transformao, para a melhoria do sujeito. O parresiasta no segue a opinio corrente que, sem dvida, compreendida por todos, mas em nada muda o prprio ser dosujeito.Nosetratadeumsaber quecapturaa alma,quefazdoeuoprprioobjeto do conhecimento. preciso que esta verdade afete o sujeito, e no que o sujeito se torneobjetodeumdiscursoverdadeiro. Foucault, ento, encontra diferenas marcantes entre a espiritualidade crist e a filosofia grega. Na pastoral crist, a arte de falar desenvolvese sob dois registros. Primeiramente, sob a arte de falar do lado do mestre, na qual o diretor de conscincia, o mestre de penitncia ou o confessor tem a funo de ensinar a verdade. Porm, o que Foucault considera importante o fato de que o dirigido aquele que deve ser conduzido verdade e salvao, aquele que ainda est na ordem da ignornciae daperdiotambmtemalgoadizer, tem umaverdadeadizer. Masque verdadeesta?averdadedesimesmo.Foucaultentendeomomentoemqueatarefa do dizerverdadeiro sobre si mesmo foi inscrita no procedimento indispensvel salvao, quando esta obrigao foi inscrita nas tcnicas de elaborao, de transformao do sujeito por si mesmo, como fundamental na histria da subjetividade no Ocidente, ou na histria das relaes entre sujeito e verdade. Foi quando o dizer verdadeiro sobre si mesmo tornouse uma condio para a salvao, um princpio fundamental na relao do sujeito consigo mesmo e um elemento necessrio ao pertencimentodoindivduoaumacomunidade. Essa obrigao no existiu na Antiguidade grega, helenstica ou romana, pois, na cultura clssica, aquele que conduzido verdade pelo discurso do mestre no tem que dizer a verdade sobre si mesmo. Sequer tem que dizer a verdade. E uma vez que no tem que dizer a verdade, no tem que falar. preciso e basta que se cale. Na histria do Ocidente, quem dirigido e quem conduzido s passar a ter o direito de falar na obrigao da confisso. Foucault aponta um dos traos mais notveis da prtica de si na cultura antiga: o indivduo, a partir de uma subjetivao que se inicia com a escrita dos discursos verdadeiros que lhe so propostos, tem a obrigao de dizer a verdade.Masnonecessrioquedigaaverdadedesimesmo. No h, assim, problema do lado do discurso de quem dirigido, j que ele notemquefalar.Noexisteautonomiadoseuprpriodiscurso,nohfunoprpria ao discurso do dirigido. Fundamentalmente, seu papel de silncio. O problema que se
199
www.unicamp.br/~aulas
coloca sob o discurso do mestre. a que encontramos a noo de parrhesa. Ela corresponde, do lado do mestre, obrigao de silncio do lado do discpulo. Assim como o discpulo deve calarse para operar a subjetividade de seu discurso, o mestre deve manter um discurso que obedece ao princpio da parrhesa, desde que pretenda que o que ele diz de verdadeiro tornese, no fim de sua ao e direo, o discurso verdadeirosubjetivadododiscpulo. , nesse contexto, que ele prope uma anlise, ainda pouco presente nos trabalhos histricos, do que poderamos chamar as ontologias do discurso verdadeiro (FOUCAULT, 2008: 284). Para Foucault, um discurso que pretende dizer o verdadeiro no deve ser analisado por uma histria do conhecimento que permitiria determinar se ele diz o verdadeiro ou o falso. Esses discursos de verdade tambm devem ser analisados diferentemente de uma histria das ideologias, que perguntaria por que eles dizem o falso em detrimento de dizer o verdadeiro. No trecho seguinte, ele explicita essa concepo, reservando ainda um papel central para a produo da liberdade, tema queperpassatodoopensamentodeFoucault:
(...) preciso que a histria do pensamento seja sempre a histria das invenes singulares. Ou ainda: a histria do pensamento, se vamos distingui-la de uma histria dos conhecimentos que se faria em funo de um index de verdade, se vamos distingui-la tambm de uma histria das ideologias que se faria em relao a um critrio de realidade, e ento esta histria do pensamento em todo caso o que eu gostaria de fazer , deve ser concebida como uma histria das ontologias que estaro relacionadas a um princpio de liberdade, na qual a liberdade definida, no como um direito de ser, mas como uma capacidade de fazer (FOUCAULT, 2008: 285-286).
As aulas de Foucault tratam, ento, de um importante tema para a filosofia antiga: o da atitude filosfica, principalmente a partir do texto de Plato, A Apologia de Scrates (PLATO, 1965). Desse modo, ser agente da verdade, ser filsofo, e como filsofo reivindicar para si o monoplio da parrhesa, no quer dizer simplesmente que podemos enunciar a verdade no ensinamento, nos conselhos que damos, nos discursos que temos, masquesomosefetivamente,emnossaprpriavida,agentes daverdade.A parrhesacomoformadevida,mododecomportamentosooselementosconstitutivos deste monoplio filosfico sobre o dizer verdadeiro. Foucault lembra de uma comparao,presenteemAHermenuticadoSujeito,feitaporEpitetoentreumfilsofo e um retrico. Quanto ao ltimo, ele representava completamente o homem do ornamento: em sua maneira de falar, de se vestir, em sua maneira de ser, em seus gostos e em seus prazeres, o retrico algum que no diz a verdade, que outra pessoa. Ele o homem da lisonja, do perfume, um jovem efeminado. Ao contrrio, o filsofo vai ser precisamente aquele que no somente diz a verdade em seu discurso, mas tambm aquele que diz a verdade, que manifesta a verdade, que o indivduo da verdadeemsuamaneiradeser.
V Os cnicos e a vida militante
Esse princpio harmnico ser trabalhado de modo singular pelos cnicos, dispostos a deixar exemplos de vida atravs de demonstraes pblicas, mais do que
200
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
pelaproduodetextosoudeumadoutrina.Paraestes,acondioparaafelicidadea independncia, a liberdade e a autonomia em relao a qualquer instituio poltica ou lei. Apesar do pouco prestgio e at mesmo da hostilidade que os cnicos sofriam perante os filsofos nobres e da elite da Grcia, Foucault reserva um grande destaque aosseusmodosdevidaescandalosos.OsegundovolumedoseucursoLegouvernement de soi et des autres, Le Courage de la Vrit (FOUCAULT, 2009) dedicado inteiramente a estudar essa agressiva rejeio das normas sociais pelos cnicos, que transgrediam os valoresestabelecidosatravsdeumprincpiodedespojamento. Os cnicos, portanto, levaram ao limite o tema da vida verdadeira, transformandoa na proposta de uma vida outra. O tema da vida no dissimulada foi trabalhado, por Foucault, a partir de trs aspectos: sob a forma da vida imprudente; do tema da vida pura, sem dependncia e encarada pelos cnicos a partir da pobreza, tornandoseumaprticadedespojamentovoluntrio,dedesonra;eatravsdotemada vida direita, em relao natureza, razo e ao nomos, ele mostrou como os cnicos defendiamumavidanatural,foradasconvenese,apartirdisso,elessevoltavampara uma forma de vida que se manifestava pelo desafio e o exerccio na prtica da animalidade. Todos esses temas so a continuao, a extrapolao de princpios muito comuns filosofia antiga, mas que eram, ao mesmo tempo, os mais difceis de serem aceitos. Foucault, ainda, destaca um quarto aspecto: o tema da vida soberana, o elementomaisfundamental,etambmmaisparadoxaldavidacnica. O tema da vida soberana tambm tradicional na filosofia antiga. A vida soberana, para Sneca, permite ao indivduo a instaurao de uma relao consigo que destaca certos preceitos: ter controle de si, no depender de nenhum direito estrangeiro, ter cuidado consigo mesmo. Mas a vida soberana abre outra questo: a relao com o outro. Nesse sentido, para Epiteto, o mestre no deve simplesmente dar ao aluno lies de competncia, lgica, com o objetivo de poder refutar um sofista. Ao contrrio,entreeles,deveseestabeleceroutrarelao,quedecuidado,deajuda.Mas a vida soberana tambm til aos outros atravs do exemplo dado ao gnero humano pela prpria maneira de viver. Aquele filsofo que vai se exilar, portanto, no porque ele no mais solidrio aos outros, e pretende defender uma vida egosta. Ele vai, ao contrrio,dedicarseutempoaescrevertextosquepodemcircular,quepodemserteis para a humanidade, defendendo um estilo de vida e de existncia. Ser soberano de si e sertilaosoutrosso,ento,doisdiferentesaspectosdamesmasoberania. Mas o cnico disfara sua soberania atravs do despojamento. Ele um rei do escrnio, da misria, da resistncia voluntria, do trabalho perptuo de si sobre si. Nocentrodessamonarquiadocnicoencontramos aobstinaodesisobresi.Masessa monarquia tambm implica uma dedicao aos outros, que marcada pelos seguintes traos. A tarefa de sacrificar a prpria vida para cuidar dos outros uma misso que ele recebeu, pois a mesma natureza que o fez rei encarregouo de se ocupar dos outros. Misso dura, mas no sacrifcio de si mesmo que o filsofo encontra sua felicidade e a plenitude de sua existncia. Alm disso, esta no uma misso de legislador, muito menos de um governante, mas uma relao de cuidado, de mdico. Digenes descrito como algum que vai de casa em casa, batendo nas portas e levando a todos aqueles que precisam seus conselhos, para que eles possam se curar (FOUCAULT, 2009: 256). Epitetodiziaasseguintespalavrasacercadocnicoedesuavidasocial:
201
www.unicamp.br/~aulas
- E o casamento, e as crianas, perguntou o jovem, so obrigaes que o cnico deve assumir como um dever capital? Se voc fala de uma cidade de sbios, diz Epiteto, pode ser que ningum adotar facilmente a profisso de Cnico. Com que objetivo, com efeito, adotariam esse gnero de vida? Suponhamos, entretanto: nada, ento, impedir que o Cnico se case e que ele tenha filhos (...) Mas, no estado presente das coisas, quando ns nos encontramos, por assim dizer, em plena batalha, no preciso que o Cnico fique livre de tudo isso que poderia distra-lo? (...) Ele aquele que dever cuidar dos outros, daqueles que so casados, daqueles que tm filhos, observar quem trata bem sua mulher, quem a trata mal (...) qual casa goza da paz, e qual no; aquele que deve fazer sua ronda como um mdico e medir o pulso de todo o mundo. (PICTTE, 1963: 79-80).
Temse aqui, ento, um intervencionismo fsico e social dos cnicos, muito diferente de Sneca que era um exemplo para os outros atravs de conselhos, textos etc. A misso cnica, ainda, toma a forma de um combate contra os costumes, as convenes,asinstituies,asleis,tendocomohorizonteoucomoobjetivotransformar ahumanidadeemsuaatitudemoral(seuthos),emseushbitos,suasconvenes,suas maneiras de viver. O cnico, ento, um combatente cuja luta pelos outros e contra os inimigos toma a forma da resistncia, do despojamento, da prova perptua de si sobre si, mas tambm da luta em relao humanidade, pela humanidade inteira. O cnico um rei da misria que combate por ele mesmo e pelos outros. H uma inverso, ainda, na forma do que podemos chamar vida militante, a vida de combate e de luta contra sieparasi,contraosoutrosepelosoutros. Isso porque, para Foucault, temos um certo nmero de temas, de imagens, de noes que so empregadas pelos cnicos e que recobriro o que mais tarde se tornar, na tica ocidental, o tema da vida militante. A militncia cnica singular e se distingue de todas as outras seitas filosficas da Antiguidade. Estas se faziam em um circuito fechado, apesar de terem como objetivo final ganhar o maior nmero de indivduos possveis. Para os cnicos, a militncia deve ser dirigida a todo o mundo, pois ela no exige uma educao, e recorre a certos meios violentos e drsticos, mas no para formar as pessoas e convertlas. uma militncia que no pretende somente atacaresseouaquelevcio,defeitoouopinioquepoderiateresseouaqueleindivduo, masatacarigualmenteasconvenes,asleis,asinstituiesquerepousamsobrevcios, defeitos, ou seja, as opinies que o gnero humano partilha. uma militncia que pretende transformar o mundo. isso que constitui a particularidade desta soberania cnica. Foucault ento aponta como uma histria da filosofia, da moral e do pensamentoquetomariaporfiocondutorasformasdevida,asartesdaexistncia,as maneiras de se conduzir e de se comportar e as maneiras de ser, daria grande importncia ao movimento cnico. Segundo ele, podemos ver nessa idia de soberania cnica questes importantes para a nossa cultura, dentre elas para a militncia revolucionria do sculo XIX, por exemplo. Os cnicos no somente inverteram o tema da vida verdadeira para uma vida escandalosa, mas tambm trataram do tema de uma vida outra, no simplesmente como vida diferente e soberana, mas como a prtica de uma combatividade no horizonte da qual h um outro mundo. Para ele, se estamos muito longe da maioria dos temas da vida verdadeira na cultura antiga, ao mesmo
202
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
tempo, temos a base para uma forma tica caracterstica ao mundo cristo e ao mundo moderno. na medida em que o tema da vida verdadeira se tornou o princpio de uma outra vida e aspirao para um outro mundo que o cinismo constitui a matriz de uma experinciaticafundamentalnoOcidente.
Bibliografia
.PICTTE.EntretiensIII.1963.Paris,BellesLettres. .EURPIDES.on.2003.Bristol,BristolClassicPress. .FOUCAULT,M.VerdadeePoder.MicrofsicadoPoder.1979.RiodeJaneiro,Graal. ____ Histria da Sexualidade II. O uso dos prazeres. 1984. Trad. Maria Thereza da Costa Albuquerque.RiodeJaneiro,Graal. ____ Les techniques de soi. Dits et crits IV (19801988). 1994. Paris, Gallimard, pp.783 813. ____ Coraje y Verdade. In: ABRAHAM, T. (org.). El ltimo Foucault. 2003. Buenos Aires, Sudamericana,pp.265400. ____ A Hermenutica do Sujeito. 2004. Trad. Mrcio Alves da Fonseca e Salma Tannus Muchail.SoPaulo,MartinsFontes. ____ Histria da Sexualidade I. A vontade de saber. 2005. 16 ed., Trad. Maria Thereza da CostaAlbuquerqueeJ.A.GuilhonAlbuquerque.RiodeJaneiro,Graal. ____ A escrita de si, O uso dos prazeres e as tcnicas de si, O Retorno da Moral, A tica do cuidado de si como prtica da liberdade, Uma esttica da existncia, Sexualidade e Solido. Ditos e Escritos V. tica, Sexualidade, Poltica. 2006. 2 ed., Trad. ElisaMonteiroeInsAutranDouradoBarbosa.RiodeJaneiro,ForenseUniversitria. ____Legouvernemetdesoietdesautres.2008.Paris,Gallimard. ____ Le courage de la vrit. Le gouvernement de soi et des autres II. 2009. Paris, Gallimard. . GROS, Frdric. O cuidado de si em Michel Foucault. In: RAGO, Margareth e VEIGA NETO,Alfredo(org.).FigurasdeFoucault.2006.BeloHorizonte,Autntica,pp.127138. . MUCHAIL, Salma Tannus. Da promessa embriaguez: A propsito da leitura foucaultiana do Alcibades de Plato. In: RAGO, Margareth e VEIGANETO, Alfredo (org.). FigurasdeFoucault.2006.BeloHorizonte,Autntica,pp.239252. .PLATO.ApologiadeScrates.1965.RiodeJaneiro,EdiesdeOuro. ____AlcibadesIeII.1969.Trad.F.L.VieiradeAlmeida.Lisboa,Inqurito.
203
www.unicamp.br/~aulas
. SNECA. Cartas a Luclio. 2004. 2 ed., Trad. J.A. Segurado e Campos. Lisboa, C. Gulbenkian. . TUCDIDES. Histria da Guerra do Peloponeso. 1982. Braslia: Editora Universidade de Braslia.
204
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Danda Prado: por uma esttica feminista
Susel Oliveira da Rosa
Unicamp
Resumo:
Tendo em mente a abertura ao mundo e o questionamento das noes tradicionais de poltica propiciada pelos feminismos, abordo aqui uma pequena parte da trajetria de Danda Prado (com nfase em sua experincia no exlio) que, desde os anos 1970, tece parasiumaestticafeminista.
Palavras-chave
DandaPrado,feminismo,exlio,estticafeminista
Este artigo oriundo da conferncia realizada no evento Memrias Insubmissas: mulheres, ditadura militar, anistia (IFCH/Unicamp, outubro/2009) e compem a pesquisa de ps-doutoramento que conta com o financiamento da FAPESP.
205
www.unicamp.br/~aulas
206
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Danda Prado: for a feminist aesthetics
Abstract
Having in mind the opening to the world and the questioning of traditional notions of politics afforded by feminisms, I approach here a small part of Danda Prados trajectory (emphasizing her exile experience) who since the 70s build for herself a feminist aesthetics.
Keywords
DandaPrado,feminism,exile,feministaesthetics
207
www.unicamp.br/~aulas
Quanto esttica feminista, eu sou da mesma opinio que o poeta francs Pierre Reverdy (18891960) que definiu: "A tica a esttica de dentro". Foi com a orientao da Danda que eu compreendi que a tica feminista traria uma nova esttica em todos os domnios da vida. Tanto no exterior quanto aqui ela realizou experincias nesse sentido. Maria Jos de Lima assim que concebo a esttica da existncia: a produo crtica de mim, enquanto sujeito poltico e histrico, transitando em temporalidades e lugares inusitados, quebrando os grilhes do natural, da sexualidade compulsria, das novas servides que se anunciam ao criar nossos corpos. Tania Swain
Numa entrevista concedida no ano de 1984, Foucault dizia que a idia de uma moral como obedincia a um cdigo de regras estava desaparecendo. No lugar dessa ausncia deveria corresponder uma busca que aquela de uma esttica da existncia (Foucault, 2004:290). Esttica da existncia que visa construo de uma subjetividade tica, transformando a prpria vida em uma obra de arte pessoal (idem). De acordo com Deleuze, a idia de Foucault estabelecer uma relao de fora consigo, uma dobra que nos permita resistir, furtarnos, fazer a vida ou a morte voltaremse contra o poder (Deleuze, 2000:123). Nada de formas determinadas ou regras coercitivas, mas sim regras ticas e estticas, regras facultativas que permitam produzir a existncia como obra de arte, inventando novas possibilidades de vida que constituemosmodosdeexistncialivresoufortes. Modos de existncia como aqueles propiciados pelas estticas feministas da existncia, como enfatiza Margareth Rago. Para a historiadora, os feminismos intensificaramasprticasdecuidadodesi,perceptveisnaaberturaemrelaoaooutro atravs de um exerccio tico e libertrio (2004). Os modos de viver feministas, para Rago, propiciaram uma nova concepo da prtica poltica, pois para as feministas a poltica no recobre apenas os espaos institucionalizados, mas a prpria vida cotidiana (Rago, 2001). Dessa maneira, os feminismos questionaram e questionam as leituras excludentesdapoltica. Yolanda Cerquinho da Silva Prado, mais conhecida como Danda Prado, umadasfeministasbrasileirasquequestionaessesentidotradicionalatribudopoltica que no inclui a vida cotidiana. Autora de livros como Esposa, a mais antiga profisso, Ccera, um destino de mulher, O que aborto?, entre outros, ela diz que desde muito cedo reagi[u] s discriminaes contra as mulheres e ao papel exclusivo de esposa e dona de casa81, percebendo que, mesmo entre os grupos de esquerda dos quais fazia parte, as discusses mostravamse esvaziadas desse sentido mais abrangente da prtica poltica. Sentido que ela percebeu cedo, pois, se aos 17 anos j falava sobre sexualidadenaAssociaodeMulheresdoPartidoComunista,aos20,oencontrocoma primeira edio de O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir produziu uma mudana
Maria Jos de Lima conheceu e militou com Danda Prado nos grupos feministas da cidade do Rio de Janeiro na dcada de 1980. 81 Entrevista autora em 25/06/2008.
208
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
singular em sua vida: foi uma mudana muito grande pra mim, de vida, de objetivo, de tudo...82. Ningum nasce mulher: tornase mulher afirmava Simone de Beauvoir em 1949, enfatizando a construo social e cultural dos sexos e o papel secundrio da mulhernaordem dimrficadomundo: ahumanidademasculinaeohomemdefinea mulher no em si, mas relativamente a ele; ela no considerada um ser autnomo (Beauvoir, 2009). O texto de Beauvoir foi um encontro gerador das potncias aumentativas(Deleuze,2002),umencontroquecriounovaspossibilidadesdevidapara muitasmulheres. Deleuze e Parnet dizem que um encontro talvez a mesma coisa que um devir ou npcias, muitas vezes encontramos pessoas, mesmo sem as conhecer, e encontramos tambm movimentos, idias, acontecimentos, entidades (Deleuze e Parnet, 1998:6). Luiz Orlandi lembra que Deleuze gostava muito dos encontros com outros autores, dos encontros com Nietzsche, com Espinosa, com Foucault. Dos encontros cognitivos que aumentam nossa potncia de pensar. Pensar incitado pelos afetos ora, os afetos que nos obrigam a pensar, essa a grande contribuio de Deleuze para a filosofia (Orlandi, web:2008). O mundo uma indagao permanentementeinstigadaacadaencontro. Encontros como o que Danda teve com o texto de Beauvoir, encontros que suscitaram acontecimentos. Acontecimento pensado enquanto ruptura, movimento de foras que faz com que as coisas sejam percebidas de formas diferentes, alterando o curso da prpria histria, como define Foucault. Nesse caso, encontro que a aproximou ainda mais de uma esttica feminista que se materializou nos anos em que esteve exiladanaFrana.
No era possvel ficar vivendo assim...
Em1964,quandodogolpemilitar,DandafaziapartedoPartidoComunista. Contudo,haviaalgumtempoelasentia asreuniesdaintelectualidadedo partidocomo ocas: Eu no agentava mais reunies comunistas e toda aquela discusso terica. Descobri que o grupo masculino era meio oco [...] Eles se reuniam l em casa e eram horas de conversas que no levavam a lugar nenhum [...] falavase de tudo, muita teoria... mas no falavam das pessoas83, diz ela. As discusses no incluam as mulheres, pois para a maioria dos grupos de esquerda dos anos 1960 e 1970, a ordem patriarcal e a misoginia era um problema secundrio que seria resolvido atravs da revoluocomunista84. Com o golpe militar e a represso nas ruas, Danda sentiu vazio maior ainda nas discusses s quais se refere. Assim, em 1966, afastouse das reunies, mas
Palestra de Danda Prado no evento "O Segundo Sexo: celebrao dos 60 anos da obra de Simone de Beauvoir", realizado no dia 05/09/2009 na "Casa das Rosas", em So Paulo. 83 Entrevista autora em 20/04/2009. 84 Tema que analiso mais detalhadamente em Subterrneos da liberdade: mulheres, militncia e clandestinidade. Revista LABRYS (N. 15, 2009). Disponvel em: http://vsites.unb.br/ih/his/gefem/labrys15/ditadura/susel.htm
82
209
www.unicamp.br/~aulas
continuou ligada ao Partido buscando informaes que ajudavam a localizar os presos polticosecontatarsuasrespectivasfamlias.Agentetinhaquefazeralgumacoisa,diz ela: o tempo todo, a gente ouvia algum que vinha contar absurdos [prises, torturas, desaparecimentos], tinha a indignao, a gente tinha que fazer alguma coisa... no era possvelficarvivendoassim85. Naquelemomento,fazeralgumacoisasignificouobterinformaessobre os presos polticos, contatando suas famlias, denunciando no exterior as prises e pedindoapoioparaosmilitantessaremdopas,aproveitandoemmuitoasvisitasaopai no presdio Tiradentes nessa poca seu pai, Caio Prado Jnior, estava preso, acusado de subverso. Ao fazer isso, Danda acompanhou de perto o acirramento da violncia e da represso poltica: eu ajudei consciente de que era um pequeno risco, mas que aquilotinhaumlimite,eunopoderiaficarmuitotemponoBrasil. O limite veio com o AI5 (Ato Institucional nmero 5) e seus decretos complementares, como o AI14 (Ato Institucional nmero 14) que legitimou a pena de morte e a priso perptua no pas. A partir de ento, o acirramento das perseguies e assassinatos polticos levaramna a tomar a deciso de partir. No segundo semestre de 1969, chegou a ir para a Frana. No entanto, retornou para acompanhar o julgamento de seu pai. Como este foi adiado, ela permaneceu mais alguns meses no Brasil esperando a nova data, at 1971, quando a casa de Rubens Paiva foi invadida e ele foi seqestradopelospoliciaisdoDOI/CODI/RJ86. Danda era amiga de Rubens e Eunice Paiva, e no imaginava que ele seria assassinado pela represso. A justificativa para a priso foi o auxlio prestado por ele a grupos como o MR8, tirando militantes do pas. Logo, era uma priso muito prxima, dizia respeito a atividades que ela tambm realizava. A coisa tava piorando. Ento eu resolvi que eu ia embora. Nunca imaginei que isso ia levar 10 anos. O exlio durou praticamente 10 anos. E ela descreve os primeiros meses desses 10 anos, da seguinte maneira:
O inverno vem se anunciando, a chuva diria, e fico a sonhar com o arpoador, a praia, etc. Isso me faz falta, o aspecto fsico do Brasil. Imaginome velhinha a retornar, perdendo-me no labirinto de tneis e novas avenidas, vendo um Brasil diverso de dantes, sem saber se a mudana est em mim ou no objeto [...]87 Para as autoras do livro Memrias das mulheres do exlio, so exiladas as perseguidas, as punidas, as presas. So exiladas as que sofreram perseguies indiretas. Esposas, mes, filhas, amantes. So exiladas as que perderam suas condies de trabalho, tambm aquelas que no puderam suportar o sufoco numa sociedade onde a ditadura desenvolveu e potencializou tantas formas de opresso. E ainda aquelas que
Entrevista autora em 03/07/2009. Para mais detalhes, ver: Dossi Ditadura: Mortos e Desaparecidos Polticos no Brasil (SP: Imprensa Oficial, 2009), p.225. 87 Trecho de carta enviada ao Brasil em 14/09/1972. Arquivo Pessoal de Danda Prado.
85 86
210
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
teimaram em ser livres onde as liberdades estavam cerceadas (Costa et al., 1980:18)
Logo, no h um exlio, mas muitos exlios. E, se o exlio foi vivido por muitos como uma experincia negativa principalmente por aqueles que foram banidos, que passaram pelas experincia da tortura, que saram do pas contra a vontade , como um tempo de solido, derrota, dor, luto, separaes, etc., tambm significou um espao de liberdade que desestabilizou a fixidez das identidades, oferecendo possibilidades de alteraes de rotas. Nesse caso, significou estar em contato com o mundo, possibilitando dizer na lngua estrangeira o que teriam dificuldade na sua, levando a encontros, descobertas, a novas possibilidades de vida e mesmodelutapoltica. Foi assim com Danda que, ao chegar Frana, procurou integrarse aos movimentosfeministase,em1972,formouoGrupoLatinoAmericanodasMulheresem Paris, reunindo brasileiras e latinoamericanas exiladas ou no que moravam na cidade. Grupo que cresceu rapidamente enquanto espao de troca de experincias e discusso de temas como sexualidade, aborto, prazer, contracepo, liberao da mulher,entreoutros. Maricota da Silva em seu depoimento em Memria das mulheres do exlio descreveoquesignificouparaelaessecontato:
Para mim, uma experincia muito importante no exlio [...] foi o grupo de mulheres da Amrica Latina, organizado por Danda Prado. Ns nos reunamos uma vez por semana, e o grupo cada vez foi aumentando mais, eu francamente acho que no fim, sei l, devia haver 100 mulheres presentes. [...]88 Cada dia havia um tema, e sobre esse tema voc falava ou no falava. Eu pessoalmente levei meses pra falar alguma coisa, mas ficava profundamente comovida quando via certas mulheres falando; [...] porque elas ousavam, elas estavam se despedaando em pblico pra comear a viver de uma outra forma, pra comear a ousar de uma outra forma [...] O nvel intelectual de cada uma no importava a mnima [ali se reuniam de intelectuais a donas de casa, empregadas domsticas e estudantes]; o que contava realmente era [...] a dor, o medo, o amor, a dificuldade imensa que cada uma tinha em assumir [...] o seu prprio corpo [...]; e aos poucos voc via que aquele pessoal estava se enriquecendo enormemente. No havia mais espao de casa que comportasse [...] (Costa et al., 1980:39).
O apartamento de Danda onde inicialmente realizaramse as reunies ficou pequeno, na medida em que o nmero de mulheres ia aumentando. Isso as levou amudarparaosubsolodeumbar.Subsoloqueabrigavatambmobanheirodolocale, enquanto as mulheres discutiam, os homens (maridos, companheiros e namorados) intrigadosecuriosos,apretextodeusarobanheiro,ficavamcirculandoentreoandarde
88
Danda discorda desse nmero, dizendo que as reunies nunca chegaram a ter 100 mulheres presentes.
211
www.unicamp.br/~aulas
cima e o subsolo, particularmente interessados nas intervenes da atriz Norma Benguel,quefaziapartedogrupo. Paralelo a isso, Danda planejou abrir seu apartamento aos sbados tarde, para receber as mulheres que desejassem ir at l, conversar, pesquisar em livros, arquivos, recortes de notcias sobre o Brasil, com a inteno de propiciar um espao de troca entre latinoamericanas e mulheres de outras nacionalidades89. Esse trabalho com as mulheres , para mim, uma soluo pessoal riqussima. Realmente, no poderia prescindirdeleagora90,diziaDanda. Considerando que ns no somos definidos por nossos gneros ou espcies, por nossos rgos e suas funes, mas sim por aquilo que podemos, pelos afetos dos quais somos capazes como enfatiza Deleuze Danda j no podia prescindir desses afetos que so descritos em outra carta como o apoio mtuo gerado pelogrupodemulheres:parecemequeoapoiodogrupomuitoimportante[...]para cada uma o apoio de outras mulheres ajuda a enfrentar a solido que todas enfrentamos,querestejamosounoacompanhadasporhomens91.
Dos bons encontros
Ao perguntar de que afetos voc capaz? ou o que pode o corpo?, Deleuze,inspiradoemEspinosa,lembraquetodososindivduosestonanaturezacomo se estivessem sobre um plano de consistncia (imanncia) formando, a cada momento, umafigurainteiraevarivel,afetandoseunsaosoutros,poisarelaoestabelecidapor cada um forma determinado grau de potncia. Grau de potncia entendido enquanto poder de ser afetado. E os afetos so devires: ora eles nos enfraquecem, quando diminuem nossa potncia de agir e decompem nossas relaes (tristezas), ora nos tornam mais fortes, quando aumentam nossa potncia (alegria) (Deleuze e Parnet, 1998:74).Soosencontrosquenosentristecemeosencontrosquenosalegram. Nesse sentido, as reunies do grupo encontros que comearam com a seguinte pergunta: qual foi o momento da sua vida em que voc percebeu que havia homens e mulheres?, passando pela traduo e discusso de textos como Inimigo principal de Christine Dhelpy eram reunies que suscitavam modos livres de existncia. E um modo de existncia livre, ou bom, ou razovel, ou forte, perceptvel naquele que se esfora tanto quanto pode, por organizar os encontros, por se unir ao que convm, por compor a sua relao com relaes combinveis (Deleuze, 2002:29), j que os bons encontros se do quando um corpo compe diretamente a sua relao comonossoecomtodaoucomumapartedesuapotncia,aumentaanossa(idem). Nesse sentido, Maricota da Silva diz ainda que o que interessava para ela era perceber como mulheres de formaes variadas e idades diferentes se aproximavam:
Carta datada de 07/02/1973. Arquivo Pessoal de Danda Prado. Carta datada de 18/06/1972. Arquivo Pessoal de Danda Prado. 91 Carta datada de 02/08/1972. Arquivo Pessoal de Danda Prado.
89 90
212
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
idades inteiramente disparatadas, formaes inteiramente disparatadas e aquele negcio era sagrado, aquela hora...era uma vez por semana... [...] eu considero essa experincia uma das coisas mais bonitas que eu j vivi [...] de uma carga emocional enorme, de uma carga de generosidade enorme [...] havia pessoas que sabiam que estavam vivendo [...] e acordavam com isso a conscincia das outras, a conscincia meio adormecida de gente como eu... [...] (Costa et al., 1980:39)
J Vera T.S. outra militante que participou do grupo elogiava o bem estar com que todas saam das reunies, comparando com outras reunies das quais saa esgotada92. Os encontros do Grupo produziam alegria, potencializavam as foras das mulheres ali reunidas, possibilitando para muitas em meio solido do exlio multiplicarosafetos,comodiz Maricota:euacho queissoeunoteriavivido noBrasil, certamente no num grupo como aquele, com uma capacidade intensa de sentir as coisas, de [...] receber o outro [...] eu acho que esse grupo teria que ser forjado no exlio...[...](Costaetal.,1980:40). Eisoqueogrupoconseguiu,poisosencontrossuscitavamacontecimentos, rupturas, fazendo com que as coisas fossem percebidas de formas diferentes temos que rever nossas vivncias pessoais para compreender muita coisa, dizia Danda, ao narrar uma das reunies do grupo, falando dessa ao poltica que se manifesta no apenasnosespaosinstitucionalizados,masnavidacotidiana. Ao poltica cotidiana que propiciou a muitas mulheres a percepo de queouniversoeramasculino,poisoshomensexiladoseramrecebidosdeformadiversa das mulheres. Maricota, por exemplo, diz que durante o exlio nunca [...] nunca me perguntaram o que eu tinha feito no Brasil, porque o dado de referncia era o marido [...] no exlio eu cansei das estatsticas e dos heris. Me pe heri na frente, eu saio gritando(Costaetal.,1980:41). O mito fundador do exlio Ulisses, em Odissia o heri masculino. No exlio de brasileiros das dcadas de 1960 e 1970, Ulisses continuou em alta segundo depoimentosdemuitasmulheres,jqueessaimagemdoheriexiladofaziacomqueos homens tivessem mais prestgio social, enquanto militantes polticos e intelectuais. Muitas vezes, essas condies sociais lhes permitiram recriar no exlio suas atividades polticas, enquanto as mulheres encontravam apenas tarefas femininas para serem desempenhadas(BritoeVasquez,2008:22). MasserqueasPenlopesficaramesperandoporUlissesouteceramnovas redes? Mesmo as que viveram o exlio como esposa de como Marieta teceram, no mnimo, variadas redes. Danda, por exemplo, alm do grupo, teceu/escreveu sua tese de doutorado. Tese sobre o papel da esposa, na qual ela analisou os condicionamentos sociais que levam a mulher a assumir o papel de esposa, inserindose a a variedade infinita de tarefas e servios que ela presta ao marido e sociedade, discutindo tambm a paternidade como instituio social
92
Carta datada de 14/06/1972. Arquivo Pessoal de Danda Prado.
213
www.unicamp.br/~aulas
(Prado,1979:21)93. Foram meses e anos de pesquisas nas bibliotecas de Paris e muitas entrevistas a mulheres casadas, que permitiram a Danda afirmar uma continuidade histricaparaopapeldaesposa,asaber:odegarantiraohomemsuapaternidade. Teses como essa que eram discutidas nas reunies desestabilizavam a ordem patriarcal e os heris logo reagiram, fazendo com que o FRONT (Frente dos Brasileiros no Exlio, que prestava suporte aos exilados) ameaasse retirar o apoio s famlias cujas mulheres continuassem participando das reunies, pois argumentavam que o grupo estava pondo as mulheres contra os homens, j que muita gente estava querendo se separar. E isso significava, para as famlias de exilados, perda de ajuda financeira, de ajuda para conseguir emprego, de facilidade para conseguir documentos, escola para os filhos, entre outras coisas. Com isso, a maioria das brasileiras acabou deixandoogrupo. Segundo Danda, a proibio oficial ocorreu por volta de 1975. No entanto desdeaformaoedivulgaodasreunies,reaessemelhantesforammuitocomuns, comopodemosacompanharemalgunsresumosdasreuniesdogrupo94. No fcil ser livre, lembra Deleuze, fugir da peste, organizar encontros, aumentarapotnciadeagir,afetarsedealegria,multiplicarosafetosqueexprimemou envolvem um mximo de afirmao (Deleuze e Parnet, 1998:75). Pois os sistemas de julgamento da trindade moralista (o escravo, o tirano e o padre) nos comunicam incessantementeseusafetostristes. Contudo,seatrindademoralistainvestianosafetostristes,tentandominar a atuao do Grupo, a rede molecular que envolvia muitas mulheres (como Cllia Piza, Lucia Tosi, Marisa Figueiredo, entre muitas outras, inclusive correspondentes em vrios pases)decidiupropagarasidiasfeministasdiscutidasaliatravsdeumboletim.Assim, em janeiro de 1974, surgiu o Nosotras, em edio bilnge com artigos em portugus e espanhol,distribudonoBrasileemalgunspaseslatinoamericanos.Paraahistoriadora Raquel Soihet, o Nosotras proporcionou s feministas brasileiras acesso s idias de vanguarda do feminismo, evidenciando a importncia das exiladas nas alteraes do pensamentofeministabrasileiro(2009)95. Quando resolvemos fazer o Nosotras relata Danda peguei listas de nomes de mulheres em outros pases, escrevi para todas, cheguei a viajar para Londres. L, alis, um dos maridos das mulheres que convidei para uma reunio deitouse na portadacasaedissequeelasiriasepassasseporcimadocadverdele...96. A vergonha de ser um homem pensada por Deleuze no apenas no sentido grandioso de Primo Lvi, mas nessa vergonha que sentimos cotidianamente, a cada vez que assistimos, por exemplo, a um programa de variedades ou ao pronunciamento de um senador o que nos incita a resistir, a escrever, a formar redes, cumplicidades ou mquinas de guerra frente aos lugares comuns e aos
Esse trecho especialmente est datilografado e compe os arquivos pessoais de Danda Prado, da poca em que ela escrevia a tese. 94 Arquivo Pessoal de Danda Prado. 95 Conferncia realizada no Colquio Internacional Gnero, Feminismo e Ditaduras no Cone Sul, realizado em Florianpolis, entre os dias 04 e 07 de maio de 2009. Artigo no prelo. 96 Entrevista autora em 20/04/2009.
93
214
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
pensamentos dominantes. No caso do Nosotras, uma rede que denunciava a violncia e aexploraodemulheresemvriospasesPortugal,Venezuela,Cuba,Etipia,Arglia, etc., a partir de matrias recebidas pelas correspondentes desses locais. Uma rede que defendiaalegalizaodoaborto,divulgavaoPrimeiroEncontroNacionaldasProstitutas Francesas, denunciava a utilizao do estupro como arma de guerra. Discutia literatura, cinema,entreinmerosoutrostemas. Temas que continuaram movimentando Danda desde ento, pois, ao retornar ao Brasil aps a anistia, em 1979, foi uma das primeiras feministas desvinculada das organizaes partidrias que se reorganizavam no perodo ps ditadura a levantar publicamente a discusso sobre o aborto, a defender o direito das mulheresdegeriremseuprpriocorpo. Nomesmoanodeseuretorno,porexemplo,participoudomovimentopara que uma menina de 13 anos pudesse realizar um aborto. Jacilene, filha de uma operria que trabalhava nas fbricas do Rio de Janeiro, havia sofrido abusos consecutivos por parte de seu padrasto. Ccera, me da menina, ao descobrir o que havia acontecido filha, passou a lutar pelo direito de a jovem realizar o aborto, enquanto pedia a priso do responsvel. O caso tornouse pblico, pois apesar de a legislaogarantirarealizaodoabortonessetipodecaso,osmdicosserecusavama tal. Danda acompanhou Ccera em sua busca para conseguir a autorizao judicial. Depois, entrevistoua e narrou, a partir dos depoimentos da operria nordestina, sua trajetria no livro Ccera: autobiografia duma imigrante nordestina. O livrofoipublicadoem1981,comautoriadeambas. Esse um dos muitos episdios que mostram a inquietao constante de Danda com as capturas biopolticas, com o lugar destinado s mulheres na cultura patriarcal.Nossmulheres,poisatentamolaridadedopoder,sformasdesujeio recriadas incessantemente, em nossa primeira entrevista ela problematizava a atualidade, falando da normalizao dos corpos atravs do dispositivo da transexualidade, esmiuado no livro O que transexualidade de Berenice Bento na poca, a publicao mais recente da Coleo Primeiros Passos, da Editora Brasiliense, coordenadaporDanda. Falavame tambm da violncia institucionalizada nas cirurgias de transgenitalizao que visam a normalizar as pessoas classificadas como intersexos; assim como no aumento do nmero de homens homossexuais assassinados no Brasil, indicandome livros e filmes recentes como o filme XXY que eu desconhecia e que questionam os investimentos biopolticos. Investimentos que procuram reduzir a multiplicidadedaexistnciaaobinarismosexual97. Na construo constante de uma esttica feminista da existncia, Danda Prado produziu e produz para si novas cartografias existenciais (Rago, 2009), formando redes moleculares que questionam o lugar destinado as mulheres na cultura patriarcal.
97
Temas que abordo no artigo Se voc pudesse escolher sempre... (no prelo).
215
www.unicamp.br/~aulas
Referncias Bibliogrficas:
BRITO, A. e VASQUEZ, A. 2008. Mulheres latinoamericanas no Exlio: universalidade e especificidadedesuasexperincias.RevistaEsboos,Florianpolis,n.17:1534 COSTA,A.O.etal.Memriasdasmulheresdoexlio.1980.RiodeJaneiro,PazeTerra. DELEUZE,G.Conversaes.2000.SoPaulo,Editora34. ___.Espinosa,filosofiaprtica.2002.SoPaulo,Escuta. DELEUZE,G.ePARNET,C.Dilogos.1998.SoPaulo,Escuta. FOUCAULT, M. Ditos & Escritos, vol. 5: tica, sexualidade, poltica. 2004. Rio de Janeiro, ForenseUniversitria. OLIVEIRA,C.F.;PRADO,D.Ccera,umdestinodemulher.1981.SoPaulo,Brasiliense. ORLANDI, O. tica em Deleuze. Revista CPFL Cultura. [online]. Disponvel na World Wide: www.cpflcultura.com.br/revista_ler.aspx?Revista_Categoria_ID=2&arquivo_ID307 [acesso em19/09/2008] PRADO,D.Esposa,amaisantigaprofisso.1979.SoPaulo,Brasiliense. ___.Oqueaborto.1984.SoPaulo,Brasiliense. RAGO,M.Escritasdesi,parrsiaefeminismos.2009.Noprelo. ___. Feminismo e subjetividade em tempos psmodernos In.: LIMA, C. C. e SCHMIDT, S. P.(org).Poticasepolticasfeministas.2004.Florianpolis,EditoradasMulheres,p.3141. ___. Feminizar preciso, ou por uma cultura filgina. 2001. Revista So Paulo em Perspectiva.SoPaulo,v.15,n.03:5866. ROSA, S.O. Subterrneos da liberdade: mulheres, militncia e clandestinidade. 2009. Revista LABRYS, Estudos Feministas, N. 15. JanDez/2009 [online]. Disponvel na Wide World:http://vsites.unb.br/ih/his/gefem/labrys15/ditadura/susel.htm ___.Sevocpudesseescolhersempreaviolncianoprecisavaexistir.2009(noprelo) SOIHET,R.MulheresBrasileirasnoExlioeConscinciadeGnero.2009(noprelo)
216
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Liberdade da Ao: as Artes Zen e as Prticas de Si
Tony Hara Resumo
Este ensaio investiga as possveis relaes entre a filosofia zen e a noo de prticas de siformuladaporMichelFoucault.
Palavras-chave
prticasdesi,filosofiaZen,estilodevidasamurai.
217
www.unicamp.br/~aulas
218
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Freedom of Action: the Zens Arts and the Practices of the Self
Abstract
ThisessayinvestigatesthepossiblerelationsbetweentheZenphilosophyandtheconcept ofpracticesoftheselfcreatedbyMichelFoucault.
Keywords
practicesoftheself,Zenphilosophy,samuraislifestyle.
219
www.unicamp.br/~aulas
220
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Numa das ltimas entrevistas concedida por Michel Foucault, publicada em 1984, ele afirma, mais uma vez, o seu interesse pela maneira com a qual o sujeito se constitui ativamente, atravs das prticas de si. Essas prticas no so explica Foucaultalgumacoisaqueoprprioindivduoinvente.Soesquemasqueeleencontra em sua cultura e que lhe so propostos, sugeridos, impostos por sua cultura, sua sociedade e seu grupo social (FOUCAULT, 2006: 276). Ao ler essa passagem, imaginei: quais eram as prticas propostas pela filosofia zen aos artistas e guerreiros japoneses? Quais as relaes entre a prtica da espada e as artes da vida? Reli antigas anotaes e esbocei aqui algumas ideias ainda embrionrias, frgeis, midas, mas que seguem, com rigor, o conselho dado por Bash, o poetaandarilho: no siga as pegadas do mestre. Procure o que ele procurava. Procurei por certas prticas de si no Japo feudal, a fim de criarumaperspectivaoutradeobservaodenossotempo.
*
O Destino? Percorrer o mundo aberto pela lmina de minha espada. Essa sentena pode soar como valentia cabotina, como sede de sangue, algo entre o destemor e a petulncia. Mas dita atravs do corao dos homens que espiritualizaram aartedaespadanoJapofeudal,essamesmasentenaganhaoutrossignificados.Oao atinge primeiro o ventre daquele que o empunha. O caminho do guerreiro, pelo menos para os maisausteros, passa necessariamente por essa fenda; o incio de um trabalhoso processodedesprendimentodesi.Desprendersesuavemente,assimcomoumfolhase desprendedeumarvorenum diasemvento.Ainstruodosamurainovisaapenasa conquista da maestria, o domnio de uma tcnica, mas sobretudo, a liberdade da ao, domovimento,dogestopreciso.Oquerealmenteestemjogo,aconquistadapercia entendida, de acordo com os estudos da antroploga Ruth Benedict sobre a cultura japonesa , como movimento harmonioso, sem interferncia de qualquer ordem, entre avontadedeumsujeitoeoseuato(BENEDICT,2002:201). Esse ideal de homem est ligado a difuso da filosofia Zen no Japo. No sculo 12, como nos informa Ruth Benedict, foi divulgado um escrito (A proteo do Estado atravs da propagao do Zen) que alterou profundamente os mtodos e as prticas nos templos e nas academias responsveis pela formao dos guerreiros, dos artistas e dos estadistas japoneses. Foi a casta aristocrtica que acolheu em seu meio a filosofia Zen. Alan Watts, um dos principais divulgadores do Zen no Ocidente, explica que as religies no extremo Oriente esto mais preocupadas com a iluminao de algunsindivduosdoquecomasociedadecomoumtodo,porqueasociedadefeitapor indivduos, e s se tornar iluminada quando, aps milhares de anos, mais e mais indivduos provarem sua capacidade para receber o conhecimento mais elevado (WATTS, 2008: 106). Em outras palavras, a filosofia Zen era para poucos, acessvel apenas para os que, de alguma forma, j haviam provado serem aptos a praticla. As energias estavam todas voltadas para a formao e o treino de alguns indivduos. No havia, portanto, gastos desnecessrios no sentido de democratizar o credo, de catequizar, converter, conquistar fiis e seguidores. Da a concentrao, o foco para a
221
www.unicamp.br/~aulas
iluminaododiscpuloatravsdetreinosinterminveiseincompreensveisat,paraos nossospadresesensibilidadeatuais. No perodo chamado Kamakura (11851249) o ideal de sujeito equilibrado elaborado pelos filsofos chineses foi traduzido, junto com a filosofia Zen, para o cotidiano da aristocracia japonesa. No lxico chins o ideograma equilibrado formadopordoiscaracteres:umquesignificaliteratura,cultura;outroquepodeser traduzido como marcial ou guerreiro. Esse sentido de equilbrio que organizou todo um conjunto de prticas e de treinos destinado queles devotados em se aproximar do tipo ideal. O chefe do cl Hojo, o primeiro a construir cidades fortificadas em terras japonesas no sculo 15, escreveu um texto em que rememora os antigos preceitos:
Uma pessoa a quem falta o Caminho da Poesia verdadeiramente empobrecida. O cultural e o marcial compem o constante Caminho do Guerreiro. No necessrio observar que a lei antiga determinava que as artes cultas deviam ser mantidas esquerda, e as artes militares direita (apud. WILSON, 2006: 107).
Esses homens consideravam as atividades artsticas, como a pintura, a caligrafia, a jardinagem, a escultura, a cerimnia do ch, no como meros passatempos para enfrentar o tdio em dias de paz. Todas essas atividades, para a parcela culta dos senhores da guerra, eram imprescindveis para o prprio governo de suas terras e de seu povo. O chefe e fundador do cl Imagawa, considerado no sculo 14 um tipo exemplar, registra logo na primeira frase de seu escrito intitulado Regulamentos: Se voc no conhece o Caminho da Cultura, ao final ser incapaz de compreender a vitria no Caminho das Artes Marciais. Est escrito nos Cinco Clssicos [do aprendizado de Confcio], bem como nos textos militares, que uma pessoa ser incapaz de governar se lhefaltaroestudodaliteratura(apud.WILSON,2006:108). O sentido de conhecer o caminho bem preciso, da ordem da experincia vivida, da prtica, da manufatura de algo ou incorporao de algum conceito. H informaes, por exemplo, sobre a educao dos filhos dos poderosos senhoresdoclHosokawa,queeraumaexceomesmoentreacastaaristocrtica.Eles eram conduzidos para os arredores de Kyoto e ficavam sob os cuidados dos serviais. JuntopopulaopobredocentropolticoeculturaldoJapo,elesaprenderiamaviver com pouco ou quase nada, comendo o que encontravam, construindo os prprios utenslios ao trabalhar a madeira, o bambu e pedra; remendando roupas e sandlias, improvisandoabrigos...AssimcomoospreceptorescnicosnaGrciaantigaqueusavam essemesmomtododesequestrodascrianasdoambientedeconforto,eradesejodos pais que os meninos conquistassem a autosuficincia e a capacidade de viver frugalmente,semluxos,adornosoucoisasdesnecessrias. Ao estudar a cultura de si na Grcia antiga, o filsofo Michel Foucault destaca a importncia dos exerccios, dos treinos entre aqueles que buscavam, atravs da filosofia, um aprimoramento na arte de viver. Em um texto dedicado tcnica da escritadesi,Foucaultafirma:
222
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Nenhuma tcnica, nenhuma habilidade profissional pode ser adquirida sem exerccio; no se pode mais aprender a arte de viver, a techn tou biou, sem uma asksis que deve ser compreendida como um treino de si por si mesmo: este era um dos princpios tradicionais aos quais, muito tempo depois, os pitagricos, os socrticos, os cnicos deram tanta importncia. Parece que, entre todas as formas tomadas por esse treino (e que comportava abstinncias, memorizaes, exames de conscincia, meditaes, silncio e escuta do outro), a escrita o fato de escrever para si e para outro tenha desempenhado um papel considervel por muito tempo (FOUCAULT, 2006: 146).
possvel reconhecer um paralelo entre as prticas de si valorizadas pelos filsofos gregos e os treinos praticados pelos japoneses que almejavam a percia na arte de conduzir suas vidas. Nestas prticas de leitura e escrita exercitadas pelos gregos, o objetivo no era apenas aprender a verdade, nem sobre o mundo nem sobre simesmo,masdeassimilar,nosentidoquasefisiolgicodotermo,discursosverdadeiros que sejam auxiliares para afrontar os acontecimentos externos e as paixes interiores. (FOUCAULT: 2004: 639) Essa assimilao fisiolgica de um discurso ou tcnica fundamental para o entendimento das artes japonesas, seja no campo da guerra ou criao esttica. Encarnar uma tcnica, uma postura, uma verdade (entre os japoneses isso realizado, basicamente, atravs de uma exaustiva repetio de um mesmo movimento)compeprocessodedesprendimentodesi.Aotomarcomoexemploaarte da pintura com tinta nanquim, um monge arqueiro sintetiza, de forma luminosa, esse movimentoquevaidaassimilaoaodesprendimento:
A habilidade de um pintor se revela no momento em que a mo, dominadora incondicional da tcnica, executa e torna visvel a idia que naquele exato momento est sendo criada pelo esprito, sem que haja qualquer distanciamento entre a concepo e a realizao. A pintura se transforma numa escrita automtica. E tambm nesse caso as instrues para o pintor podem ser simplesmente as seguintes: contemple o bambu durante dez anos, converta-se nele, esquea-se de tudo e pinte (apud. HERRIGEL, 1983: 86).
No caso da meditao, em particular, o prprio Foucault que ensaia uma comparao entre as prticas exercidas no Ocidente e no Oriente numa conversa que teve com um monge do templo Seionji. Segundo o bigrafo Didier Eribon, o filsofo francs passou, no ano de 1978, alguns dias no templo budista a fim de ser iniciado na prtica da meditao Zen. Eu me interesso muito pela filosofia do budismo, mas essa no a razo de minha vinda diz Foucault ao monge que o recebe. O que mais me interessa a vida no templo zen, a saber, a prtica do Zen, seus exerccios e suas normas (apud. ERIBON, 1990: 289). admirvel a preciso do olhar de M. Foucault. Certeiro,diretoaoponto:oquelheinteressasoosexercciosatravsdosquaisosaber incorporado, transformado em algo que pulsa e vibra no prprio corpo do sujeito que pratica. Nessa passagem pelo templo Foucault foi questionado sobre as possveis relaesentreoZeneaespiritualidadecrist.
223
www.unicamp.br/~aulas
O que muito impressionante na espiritualidade crist que sempre se procura mais individualizao. Tenta-se captar o que existe no fundo da alma do indivduo. Diga-me quem s, essa a espiritualidade do cristianismo. No Zen, ao contrrio, parece-me que todas as tcnicas ligadas espiritualidade tendem a fazer o indivduo se anular (apud. ERIBON, 1990: 289).
Michel Foucault, de certo, deveria conhecer o conceito que geralmente traduzido por vazio, nomente, o nada, vcuo, alvo da meditao zen. H inmeras seitas que se intrigam a fim de ensinar a postura e o modo correto de meditar. Mas como estamos no territrio dos espadachinsartistas tomemos como exemplo a ser explorado os ensinamentos do monge Takuan, sujeito excepcional que aos 35 anos foi conduzido ao posto de abade do mais importante templo Zen de Kyoto. Tambm foi retirado de l, por insubmisso ao Imperador, passando 5 anos no exlio, o que mostra a sua independncia e autonomia. Takuan Soho (15731645) foi amigo dos principais espadachins do Japo, inclusive de Miyamoto Musashi, o mais famoso deles. Samurai andarilho, Musashi tornouse uma lenda no Japo antes mesmo de morrer. A imagemquetemoshojedafigurasamuraiemgrandeparteseinspiranessehomemque no teve mestre e nem senhor, mas que se tornou um filsofo da espada, um escultor, um pintor, um calgrafo, um projetista de jardins e de cidades. Ou seja, o homem que encarnouotipoidealdesujeitoequilibradoeperitonaartedeviver. Assim como Musashi, Takuan Soho tambm cultivava diversas atividades artsticas, alm das religiosas. Tratase de um homem sbio, chamado a dar conselhos sobre diferentes reas do conhecimento humano. Em um texto escrito para o espadachim Yagyu Munenori (15711646) responsvel pela instruo de trs geraes de lderes militares do Japo , o monge procura esclarecer o que e para que serve a anulaodaindividualidadeaqual Foucaultserefere.O conselho deTakuanaosamurai consiste em manter a mente em estado de fluncia, pois quando ela se detm em algumpontofixoissosignificaqueofluxoestinterrompido.Eessainterruponociva ao bemestar da mente, o que provoca um embarao da ao. No caso do espadachim isso pode significar a morte. Quando o esgrimista est a frente de seu oponente, no devepensarnele,nememsiprprio, nem nosmovimentosdaespadadeseuinimigo. A fluncia da mente, ou se quiser, as determinaes do inconsciente de um corpo exaustivamente treinado, capaz de responder de forma apropriada s demandas de um combate. O sujeito se anula como aquele que segura a espada. como se algo agissenocombatente.NaspalavrasdoprprioTakuan:
Se dez homens, cada um com sua espada, o atacarem brandindo suas armas, se voc golpear cada espada sem parar a mente em cada ao e passar de um para outro, voc no deixar de agir de forma adequada para cada um dos dez. (...) O esforo de no parar a mente em determinado lugar: isso disciplina. No parar a mente objeto e essncia. Colocada em lugar algum, ela estar em todos os lugares. (...) Se ela for enviada numa direo s, ficaro faltando nove outras. Se a mente no ficar restrita a apenas uma direo, ela estar em todas as dez (apud. WILSON, 2006: 85).
224
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
Musashi tambm deixaria por escrito em um de seus livros, o mesmo princpiodemanteramentesolta,emestadodelivretrnsito.Seuestilo,porm,seco, conciso: Deixe a mente flutuar em paz, no permitindo que ela pare de fazlo sequer poruminstante(apud.WILSON,2006:175).estranhoparaanossacompreensoesse estado de vazio; parece um tanto esotrica essa meditao que visa impedir interferncia da mente na fluncia da prpria mente. Mas entre os atletas h inmeros relatos desse estado alterado de conscincia. Jogadores de futebol que fazem grandes jogadasnumapartida,quandoquestionadossobreolance,costumamdizer quefoito rpido que nem deu tempo pra pensar, ou simplesmente aconteceu. O piloto de Frmula 1, Ayrton Senna, perguntado numa entrevista sobre o maior medo que sentiu emcorridas,relataalgoparecidocomaanulaodaindividualidadeoudesprendimento de si, como estamos chamando aqui. De repente, diz Senna, pista, carro, rodas, motor, corpodopilototudoeramesmacoisa.Asensaoeraadequeeledeslizava,flutuavana pista; troca de marchas, frenagens, aceleraes todos esses movimentos eram realizadossemqueelefizesse. O mestre de arco e flecha Kenzo Awa que iniciou o filsofoalemo Eugen HerrigelnocaminhoZen,utilizaumaoutrafiguraparaexplicaressealgoqueageem ns. O problema era desprenderse do alvo, da inteno de acertlo. Como acertar o alvosemmirlo?Comoesticaracordacomasmoseosbraosrelaxados?
preciso manter a corda esticada explica o mestre , como a criana que segura o dedo de algum. Ela o retm com tanta firmeza que de admirar a fora contida naquele pequeno punho. Ao soltar o dedo, ela o faz sem a menor sacudidela. Sabe por qu? Porque a criana no pensa: 'agora vou soltar o dedo para pegar outra coisa'. Sem refletir, sem inteno nenhuma, volta-se de um objeto para outro, e dir-se-ia que joga com eles, se no fosse igualmente correto que so os objetos que jogam com a criana (apud. HERRIGEL, 1983: 41).
D.TSuzukiexplicaqueparaumtiroperfeito,oarqueirodevedesprender de si mesmo, atingir um estado de noconscincia, mas sem desprezar as tcnicas e a habilidade adquiridas nos treinos. A percia para a filosofia Zen consiste em agir sem ser afetado por nenhum pensamento a respeito do "eu", do adversrio e mesmo da luta que est sendo travada. Tratase de um tipo de desateno extremamente concentrada no vazio. "Desse vazio absoluto desabrocha, maravilhosamente ensina o monge Takuan,oatopuro"(apud.HERRIGEL,1983:87). interessante notar a partir do exemplo da meditao como os traos culturais ou mesmo religiosos acabam por definir as finalidades desses exerccios ou asksis, tal como define Foucault, treino de si por si mesmo. O ascetismo cristo tem como fim, segundo Foucault, a purificao. Esse ideal, essa meta exige que os exerccios sejam orientados no sentido de um minucioso exame de conscincia a fim de revelar as cobias e os desejos da carne que devem ser confessados. A confisso teria para o sujeito que a pratica um valor de purificao e, ao mesmo tempo, estaria ligada necessidade de renunciar a si e decifrar a sua verdade (DREYFUS, RABINOW, 1995: 273). No caso dos gregos antigos pesquisados por Foucault, as prticas estavam relacionadas, em linhas gerais, ao processo de constituio de si, a uma esttica da existncia que procurava criar uma relao de si para consigo e para com o outro to
225
www.unicamp.br/~aulas
adequada e perfeita quanto possvel. No caso da meditao Zen, a iluminao, o chamado satori seria o objetivo final, se olharmos o exerccio a partir do prisma religioso. No entanto, se observarmos essa mesma prtica pelo vis do tipo ideal (o sujeito equilibrado, guerreiroartista), o que parece estar em jogo a conquista da percia, entendida, como j foi dito, como a exata correspondncia entre a vontade e a ao. Em outras palavras, toda essa prtica de si tem como objetivo a realizao do ato puro, sem a interferncia da mente, daquilo que sabemos, dos hbitos e costumes que herdamos; sem interferncia daquilo que sentimos ou tememos. O fim a ao justa, precisa, adequada e eficaz para o instante em que o sujeito solicitado a agir, seja empunhandoumespada,umpena,umpincelouumaxcaradech. primeira vista, talvez devido aos termos usados, a chamada anulao da individualidade parece estar mais prxima da renncia de si do que da constituio de si. No entanto, a prtica dos samurais mais austeros nos revela que eles esto muito mais prximos dos filsofos gregos que ensinavam o cultivo de si mesmo, do que das formas de cultivo pregadas pelos cristos. E, dentre as escolas filosficas gregas, o cinismo com seu apelo ao imediata e pregao pela vida simples e despojada a que mais se aproxima da filosofia de vida adotada pelos samurais. Pelo menos destes citados que tm em comum o gosto pela vida peripattica. Miyamoto Musashi e o monge Takuan foram instrudos tanto nos gabinetes de leitura quanto nas estradas japonesas, por onde perambulavam como mendigos e observadores dos costumes do povo e da casta aristocrtica. No de se surpreender que os dois retrataram o monge Hotei, adorado pelos artistas Zen desde o sculo 12. Esses quadros eram realizados a partirdadescrioquechegouaoJapoprovenientedaChina.
Excntrico, ele s vezes pronunciava palavras estranhas e enigmticas. Hotei perambulava pelas praas dos mercados chineses carregando um enorme saco de pano e uma bengala, pedindo dinheiro e comida. Ele comia qualquer coisa, incluindo carne e peixe alimentos proibidos ao clero budista. (...) Era sempre descrito como um monge corpulento e feliz, que andava quase nu e freqentemente com estranhas companhias para um budista. (...) Os artistas zen ficavam sempre contentes em usar o humor do inusitado para nos livrar de nossos preconceitos. As pinturas de Hotei feitas por Musashi tm o mesmo efeito (WILSON, 2006: 136).
Esse monge gordo, barbudo, sujo, adorado pelos artistas andarilhos japoneses, encarnava a provocao moral, o desafio conveno, o rompimento ou o questionamento radical dos hbitos de pensamento e conceitos aos quais a maioria se submete sem saber o porqu. Pelo menos na aparncia maltrapilha e no gosto pelo escndalo,noestamostolongedeDigenes,ofilsofocnicoaquemPlatochamava deScrateslouco.Ummantosujoesurradoeraoseunicofigurino.Asbarbaslongas igualmente sujas e a vida nmade so traos visveis do desapego e do despojamento desejadopeloscnicos.Todososbensquepossuacabiamemseu alforje.umavidade pobrezareivindicada,ativa,e,naspalavrasdofilsofoFrdricGros,
no se trata apenas de desapegar-se dos bens materiais, mas de recus-los de modo agressivo. Essa busca ativa do despojamento vai at a aceitao da humilhao, da mendicncia, e mesmo uma exaltao da preguia e da
226
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
sujeira, contra todos os cnones gregos, de modo que a existncia pura do filsofo se transforma em uma vida infame (GROS, 2004: 164).
A situao de no dever nada a ningum, de no estar apegado a nada era uma condio para que o filsofo pudesse falar, imprecar, rogar o que bem entendesse, sem amarras, restries ou censuras. Esses oradores nmades sentiam um certo prazer, ou melhor, cultivavam a arte de ser desagradvel. Eles sabiam que muitas das convenes e normas sociais que se obedece automaticamente, so inteis e desnecessrias vida verdadeira e, por esta razo, transgrediam as regras sem culpa ou lamentao. Eles reconheciam e atacavam tambm um certo tipo de erudio que s tornava a vida mais pesada, o que no quer dizer mais profunda. Para essa tarefa os cnicos lanavam mo, segundo Foucault, de uma linguagem rude, provocadora e corajosa cuja a funo era desequilibrar, perturbar o indivduo quanto ao seu modo de existncia e, puxandoo, impelindoo, forlo a adotar um outro modo de existncia (FOUCAULT,2004:190). A estratgia do monge zen no manejo da palavra era bem diferente. Aqui o cnico e o monge zen se distanciam. As palavras estranhas e enigmticas pronunciadas por Hotei nos remete ao universo dos koans, que alguns traduzem por documento pblico, mas que podemos entender como uma tcnica que visa o desconserto da lgica e de um tipo de racionalidade que s admite um sim ou um no. O problema colocadoaodiscpuloparaqueelevalmdessasalternativasquepodemsatisfazerum sistema de interpretao, mas no capaz de apreender a vida em sua dinmica e constantereconfiguraes. Os estudiosos afirmam que h cerca de 1700 koans recolhidos e sistematizados a partir do sculo 13 no Japo. Alguns deles, vindos da China, tornaram se famosos pelo carter ldico existente numa pergunta que no admite uma soluo puramente lgica. Por exemplo: uma vaca passa por uma janela. A cabea, os chifres e as quatro patas passam com facilidade, somente a cauda no consegue passar. Por que no? Um outro problema igualmente divertido: um homem mantinha preso um ganso na garrafa. O animal cresceu at que no podia mais sair da garrafa; mas o homem no queria quebrar a garrafa nem ferir o ganso; como o ganso poderia ser retirado? H tambm koans escritos em forma de dilogos: Como escaparei da Roda do NascimentoedaMorte?omestreresponde:Quemtecolocounocativeiro?
Toda tcnica do Zen consistia em sacudir as pessoas de seus hbitos arraigados e da sua moralidade convencional. Os mestres argumentavam de forma estranha e faziam perguntas irrespondveis. Eles se divertiam com a lgica e com a metafsica. Viravam a filosofia ortodoxa de cabea para baixo a fim de que parecesse absurda. Assim, temos o mestre Hsuan-chien afirmando: O Nirvana e a Iluminao so tocos mortos para amarrares o teu jumento. As doze divises das escrituras no passam de listas de fantasmas e de folhas de papel boas para limpares a sujeira da tua pele. E todos os teus quatro mritos e dez estgios so meros fantasmas pairando em suas arruinadas sepulturas. Tudo isso ter relao com a tua salvao? (WATTS, 2008: 29).
Esses tocos mortos onde se amarram jumentos nos faz lembrar de uma exortao de Nietzsche em defesa de sua gaia cincia: A graciosa besta humana perde
227
www.unicamp.br/~aulas
o bom humor toda vez que pensa bem; ela fica sria. E onde h riso e alegria, o pensamento nada vale: assim diz o preconceito dessa besta sria contra toda gaia cincia. Muito bem! Mostremos que isso um preconceito! (NIETZSCHE, 2001: 217). pelo desnudamento do ridculo da lgica que o monge pretende desmontar as convenes,normaseracionalidadesqueincidemsobreocorpodosujeito,moldandoo seu comportando e sua maneira de ser e de pensar. O koan, esse mtodo brusco e gracioso de questionar a si mesmo, perfeitamente adequado para o processo de desprendimento de si. Os problemas, as perguntas primeira vista absurdas, so como convites para que se experimente outros caminhos, para que se pense diferentemente e, de forma radical, at se chegar ao vazio de onde desabrochar o ato puro. Em outros termos, o koan age no esgaramento das linhas que prendem o sujeito a si mesmo. Linhas de fora que delimitam uma identidade e constituem formas de pensamento e modosdeestarnomundo. Trajetrias como a de Miyamoto Musashi nos ensinam sobre o chamado caminho da espada e do desprendimento de si. Durante a sua vida inteira ele declinou, polidamente, todos os convites que recebeu para servir a uma casa. E vale lembrar que otermosamuraisignificajustamenteaquelequeserve.Viveusoltonumasociedade fortemente hierarquizada e apaixonada pela ordem. Fez assim, pagou o preo, para defender a sua autonomia e independncia de esprito. Atravs dos embates, do crculo deamigosedasleituras,oseupensamentofoisetornandocadavezmaisafiado,agudo e preciso. Pensamentolmina responsvel pelo desbaste de si mesmo, pelo corte dos sentidosherdadosqueoprendiamasi. O mais curioso e engraado, que esses ensinamentos, segundo o prprio Musashi, nada valem. Tudo o que se conhece no tem valor se no for verificado pela prtica e experimentao constantes. Uma de suas sentenas mais famosas diz: Tempere a si mesmo com mil dias de prtica e refinese com dez mil dias de treinamento (apud. WILSON, 2006: 171) O enunciado de Musashi continua a fazer sentido em nossa poca. As prticas de si num mundo inflacionado de informaes e de conhecimentos so fundamentais se quisermos promover novas formas de subjetividade atravs da recusa de um tipo de individualidade que nos foi imposto h vrios sculos (DREYFUS, RABINOW, 1995: 239). Essa tarefa tica e poltica, esboada por Foucault a partir da luta contra a submisso da subjetividade, passa necessariamente pelo refinamento de si, atravs da prtica e do treino, tal como foi aconselhadopelomestreespadachim.
Bibliografia
BENEDICT, Ruth. O Crisntemo e a Espada: padres da cultura japonesa. 2002. So Paulo: Perspectiva. DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. Michel Foucault: uma trajetria filosfica. Para alm doestruturalismoedahermenutica.1995.RiodeJaneiro:ForenseUniversitria. ERIBON,Didier.MichelFoucault,19261984.1990.SoPaulo:CompanhiadasLetras.
228
Revista Aulas ISSN 1981-1225 Dossi Estticas da Existncia Org. Margareth Rago
FOUCAULT, Michel. tica, sexualidade, poltica. 2006. Coleo Ditos e Escritos, vol. 5. Rio deJaneiro:ForenseUniversitria. .AHermenuticadoSujeito.2004.SoPaulo:MartinsFontes. GROS,Frdric.Foucault:acoragemdaverdade.2004.SoPaulo:ParbolaEditorial. HERRIGEL,Eugen.Aartecavalheirescadoarqueirozen.1983.SoPaulo:Pensamento. NIETZSCHE,Friedrich.AGaiaCincia.2001.SoPaulo:CompanhiadasLetras. WATTS, Alan. O Esprito do Zen: um caminho para a vida, o trabalho e a arte no Extremo Oriente.2008.PortoAlegre:L&PM. WILSON,WilliamScott.OSamurai:avidadeMiyamotoMusashi.2006.SoPaulo:Estao Liberdade.
229
www.unicamp.br/~aulas
230
Você também pode gostar
- Ordem de Servico-Técnico Seg. No TrabalhoDocumento3 páginasOrdem de Servico-Técnico Seg. No TrabalhoDionisio Prazeres69% (16)
- Fichamento de Leitura - Wolkmer - Introdução Ao Pensamento Jurídico CríticoDocumento6 páginasFichamento de Leitura - Wolkmer - Introdução Ao Pensamento Jurídico CríticoeduardosensAinda não há avaliações
- A Bela Ou A FeraDocumento14 páginasA Bela Ou A FeraLeandro Pereira Gonçalves100% (1)
- FOUCAULT, M. Subjetividade e VerdadeDocumento167 páginasFOUCAULT, M. Subjetividade e VerdadeMargareth Laska de OliveiraAinda não há avaliações
- Micropolítica da Abolição: diálogos entre a crítica feminista e o abolicionismo penalNo EverandMicropolítica da Abolição: diálogos entre a crítica feminista e o abolicionismo penalAinda não há avaliações
- 800 Questões de Conhecimentos PedagógicosDocumento196 páginas800 Questões de Conhecimentos PedagógicosKAMISAS DE FUTEBOL78% (9)
- Duas Éticas em Questão: Cuidado de si e práticas de liberdade em Ferenczi e FoucaultNo EverandDuas Éticas em Questão: Cuidado de si e práticas de liberdade em Ferenczi e FoucaultAinda não há avaliações
- DesinstitucionalizaçãoDocumento24 páginasDesinstitucionalizaçãoGracyany SantosAinda não há avaliações
- Gilles Deleuze - O Ato de CriaçãoDocumento15 páginasGilles Deleuze - O Ato de Criaçãomostratudo100% (2)
- Pedagogia e governamentalidade: ou Da Modernidade como uma sociedade educativaNo EverandPedagogia e governamentalidade: ou Da Modernidade como uma sociedade educativaAinda não há avaliações
- O circuito dos afetos: Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduoNo EverandO circuito dos afetos: Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (4)
- AEROHELPS - Capítulo - Regulamentos - Capítulo 01 DefiniçõesDocumento2 páginasAEROHELPS - Capítulo - Regulamentos - Capítulo 01 DefiniçõesagnesAinda não há avaliações
- Provas OAB 2 Fase Direito Tributário - JurisWayDocumento5 páginasProvas OAB 2 Fase Direito Tributário - JurisWayPaolla GuimarãesAinda não há avaliações
- O Estatuto Da Psicologia - Vladimir SafatleDocumento74 páginasO Estatuto Da Psicologia - Vladimir Safatlemodolole100% (2)
- Michel Foucault Por Uma Vida Nao Facista PDFDocumento170 páginasMichel Foucault Por Uma Vida Nao Facista PDFRebeca Matta100% (3)
- Lévi-Strauss. História e Etnologia PDFDocumento39 páginasLévi-Strauss. História e Etnologia PDFRafael Poveron75% (4)
- FOUCAULT, Michel. O Governo de Si e Dos OutrosDocumento380 páginasFOUCAULT, Michel. O Governo de Si e Dos OutrosCarlos Roberto Bueno Ferreira100% (1)
- Foucault, Michel - Eu, Pierre Rivière, Que Degolei Minha Mãe, Minha Irmã e Meu IrmãoDocumento156 páginasFoucault, Michel - Eu, Pierre Rivière, Que Degolei Minha Mãe, Minha Irmã e Meu IrmãocolegioatriumAinda não há avaliações
- Diálogos Entre Nietzsche e Artaud em O Nascimento Da Tragédia e O Teatro e Seu DuploDocumento82 páginasDiálogos Entre Nietzsche e Artaud em O Nascimento Da Tragédia e O Teatro e Seu DuploIsadora PetryAinda não há avaliações
- A Modernidade Pelo Olhar de Walter Benjamin PDFDocumento15 páginasA Modernidade Pelo Olhar de Walter Benjamin PDFMarco Aurélio CarneiroAinda não há avaliações
- Corposdiversos PDFDocumento328 páginasCorposdiversos PDFBruna Oliveira100% (1)
- Historia Da Sexualidade I - A VONTADE DE SABERDocumento167 páginasHistoria Da Sexualidade I - A VONTADE DE SABERapi-1975927550% (2)
- Educação em Arte Na ContemporaneidadeDocumento348 páginasEducação em Arte Na ContemporaneidadeCarolina Venturini100% (1)
- Desconstrução Na Anpof 2016Documento368 páginasDesconstrução Na Anpof 2016Carla Rodrigues100% (1)
- Arte Com Deleuze PDFDocumento12 páginasArte Com Deleuze PDFMalu Magalhães SanchesAinda não há avaliações
- Leach As Ideias de LeviStrauss0001Documento17 páginasLeach As Ideias de LeviStrauss0001Bruna Guandalim100% (1)
- BERGSON, Henri. O Pensamento e o Movente - Cap 3Documento14 páginasBERGSON, Henri. O Pensamento e o Movente - Cap 3jazzglawAinda não há avaliações
- Personagens Psicopáticos No PalcoDocumento8 páginasPersonagens Psicopáticos No PalcoCaroline MarzaniAinda não há avaliações
- SAFATLE. O Que É Uma Normatividade Vital - Saúde e Doença A Partir de CanguilhemDocumento17 páginasSAFATLE. O Que É Uma Normatividade Vital - Saúde e Doença A Partir de CanguilhemLucasTrindade88Ainda não há avaliações
- (Christian Hoffmann Joel Birman Vladimir SafatleDocumento61 páginas(Christian Hoffmann Joel Birman Vladimir SafatleDanielly Mezzari100% (2)
- Pelbart. Poderiamos Partir de EspinosaDocumento3 páginasPelbart. Poderiamos Partir de EspinosaalejmedinaAinda não há avaliações
- Agamben Ideia ProsaDocumento17 páginasAgamben Ideia ProsaGiselle Vitor da Rocha100% (2)
- Artaud - Van Gogh Suicidado Pela SociedadeDocumento31 páginasArtaud - Van Gogh Suicidado Pela SociedadeSidmar Gianette100% (2)
- História, Tempo e Memória em Walter BenjaminDocumento6 páginasHistória, Tempo e Memória em Walter BenjaminmaytevieiraAinda não há avaliações
- RUDIGER, Francisco. Critica Da Razao Antimoderna PDFDocumento161 páginasRUDIGER, Francisco. Critica Da Razao Antimoderna PDFEverton Otazú100% (1)
- Decolonial Des-Outrização Seligmann Catálogo 21videobrasil 2020Documento14 páginasDecolonial Des-Outrização Seligmann Catálogo 21videobrasil 2020SeligmannAinda não há avaliações
- 49 CORPO ARTE E CLÍNICA: Variações Na Pesquisa Como Resistência e DiferenciaçãoDocumento14 páginas49 CORPO ARTE E CLÍNICA: Variações Na Pesquisa Como Resistência e DiferenciaçãoKiran Gorki100% (1)
- Rizoma II: Saúde Coletiva & InstituiçõesNo EverandRizoma II: Saúde Coletiva & InstituiçõesAinda não há avaliações
- Contra o Juízo: Deleuze e os Herdeiros de SpinozaNo EverandContra o Juízo: Deleuze e os Herdeiros de SpinozaAinda não há avaliações
- A Sociedade de Consumidores e a Perversão do Animal Laborans: uma análise de Hannah Arendt sobre nossos tempos sombriosNo EverandA Sociedade de Consumidores e a Perversão do Animal Laborans: uma análise de Hannah Arendt sobre nossos tempos sombriosAinda não há avaliações
- Jacques Derrida amava as mulheres: sobre o esquecimento de Simone de BeauvoirNo EverandJacques Derrida amava as mulheres: sobre o esquecimento de Simone de BeauvoirAinda não há avaliações
- Mulheres Filosófas: Participação, História e VisibilidadeNo EverandMulheres Filosófas: Participação, História e VisibilidadeAinda não há avaliações
- Corporeidades Deslizantes: A Cena Explorada Para Além do SujeitoNo EverandCorporeidades Deslizantes: A Cena Explorada Para Além do SujeitoAinda não há avaliações
- Asfixia [trecho]: Capítulos 1 a 3 de RESPIRAÇÃO – Caos e poesiaNo EverandAsfixia [trecho]: Capítulos 1 a 3 de RESPIRAÇÃO – Caos e poesiaAinda não há avaliações
- Náusea de Jean-Paul Sartre (Análise do livro): Análise completa e resumo pormenorizado do trabalhoNo EverandNáusea de Jean-Paul Sartre (Análise do livro): Análise completa e resumo pormenorizado do trabalhoAinda não há avaliações
- Giorgio Agamben: a Condição da Vida Humana no Estado de ExceçãoNo EverandGiorgio Agamben: a Condição da Vida Humana no Estado de ExceçãoAinda não há avaliações
- Rizoma: Saúde Coletiva & InstituiçõesNo EverandRizoma: Saúde Coletiva & InstituiçõesAinda não há avaliações
- A torção dos sentidos: pandemia e remediação digitalNo EverandA torção dos sentidos: pandemia e remediação digitalAinda não há avaliações
- Imagens de pensamento: Sobre o haxixe e outras drogasNo EverandImagens de pensamento: Sobre o haxixe e outras drogasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (4)
- O dragão pousou no espaço: Arte contemporânea, sofrimento psíquico e o Objeto Relacional de Lygia ClarkNo EverandO dragão pousou no espaço: Arte contemporânea, sofrimento psíquico e o Objeto Relacional de Lygia ClarkAinda não há avaliações
- 30 117 1 PBDocumento8 páginas30 117 1 PBroxanedddAinda não há avaliações
- Metodologia para Quem Quer AprenderDocumento5 páginasMetodologia para Quem Quer AprenderWanderson Antonio Sousa SilvaAinda não há avaliações
- ABNT ErgonomiaDocumento21 páginasABNT Ergonomiaanon-755871100% (6)
- Folder Seja Um EscoteiroDocumento1 páginaFolder Seja Um Escoteiroapi-3818176Ainda não há avaliações
- Estatuto Aluno DLR n12 2013 ADocumento14 páginasEstatuto Aluno DLR n12 2013 ACarla GançoAinda não há avaliações
- Relatório - Seminário de Gestão de Perdas de Água e Eficiência Energética PDFDocumento2 páginasRelatório - Seminário de Gestão de Perdas de Água e Eficiência Energética PDFLara Pimentel LacerdaAinda não há avaliações
- Inmetro Longi LR4 72HPH 450Documento2 páginasInmetro Longi LR4 72HPH 450Jean KelvinAinda não há avaliações
- Gerenciamento Riscos Construcao CivilDocumento37 páginasGerenciamento Riscos Construcao CivilclaudineicscAinda não há avaliações
- Direitos Reais1Documento41 páginasDireitos Reais1Carlos WiliamAinda não há avaliações
- Tae CursoDocumento3 páginasTae CursoAna VitalAinda não há avaliações
- Protocolo PRISEDocumento9 páginasProtocolo PRISECarla GalanAinda não há avaliações
- Sei 00060 00547286 2021 10Documento3 páginasSei 00060 00547286 2021 10sam dfAinda não há avaliações
- Case Dudalina - Grupo 2Documento22 páginasCase Dudalina - Grupo 2Rener MeloAinda não há avaliações
- A Gestão Eficaz de Vicente FalconiDocumento2 páginasA Gestão Eficaz de Vicente FalconiMateus Guimaraes100% (1)
- Violência Doméstica e Sexual Contra A Mulher, Revisão IntegrativaDocumento10 páginasViolência Doméstica e Sexual Contra A Mulher, Revisão IntegrativaArtur CordeiroAinda não há avaliações
- Princípios Da Atividade AdministrativaDocumento22 páginasPrincípios Da Atividade AdministrativaTânia GalveiaAinda não há avaliações
- Cultura Açoriana No Contexto Da Cidade-Mercadoria: Da Invisibilidade À Mercantilização em Florianópolis - SCDocumento17 páginasCultura Açoriana No Contexto Da Cidade-Mercadoria: Da Invisibilidade À Mercantilização em Florianópolis - SCIsadora VieiraAinda não há avaliações
- Autonomia Das Escolas - João BarrosoDocumento3 páginasAutonomia Das Escolas - João BarrosoLucas Marini FalboAinda não há avaliações
- Requerimento Padrao RevisadoDocumento2 páginasRequerimento Padrao RevisadoPala_Man100% (1)
- INTRODUCAO para Uma Economia Feminista CarrascoDocumento12 páginasINTRODUCAO para Uma Economia Feminista CarrascoMariana MartinsAinda não há avaliações
- Artigo Gestão Contratos TerceirizadosDocumento16 páginasArtigo Gestão Contratos TerceirizadosGeovany AssunçãoAinda não há avaliações
- Histórias AmbulantesDocumento148 páginasHistórias AmbulantesErlane Santos100% (1)
- 2 - Gestão e Prevenção de ConflitosDocumento88 páginas2 - Gestão e Prevenção de ConflitosSónia RomeroAinda não há avaliações
- Lydia de Queiroz SambaquyDocumento2 páginasLydia de Queiroz SambaquyGabrielaAinda não há avaliações
- Decreto 6029 Perguntas e RespostasDocumento6 páginasDecreto 6029 Perguntas e RespostasAline ConsoliAinda não há avaliações

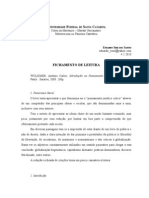






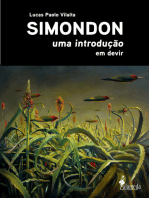
































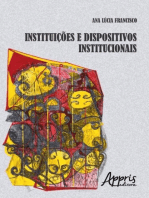








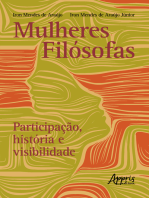



![Asfixia [trecho]: Capítulos 1 a 3 de RESPIRAÇÃO – Caos e poesia](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/490556966/149x198/931ee78f8b/1668676844?v=1)