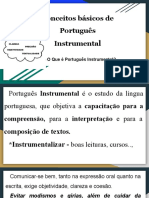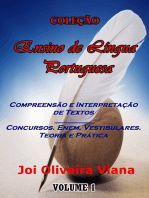Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
LPTapostila PTG
LPTapostila PTG
Enviado por
Maria Anunciada Nery RodriguesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LPTapostila PTG
LPTapostila PTG
Enviado por
Maria Anunciada Nery RodriguesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CENTRO UNIVERSITRIO DE MARING
CURSO DE NIVELAMENTO 2007
LNGUA PORTUGUESA
MARO/2007
SUMRIO
1.
ELEMENTOS BSICOS DA COMUNICAO ORAL E ESCRITA: .......................... 3
2. DIRETRIZES PARA A LEITURA, ANLISE E INTERPRETAO DE TEXTOS VERBAIS E NO VERBAIS: ................................................................................................... 5 2.1 Exerccios de Leitura ........................................................................................................ 6 2.2 Leitura: conotao, denotao, pressuposto, subentendido; ............................................. 9 3. ESTRUTURA DO PARGRAFO: TPICO FRASAL, DESENVOLVIMENTO E CONCLUSO. ......................................................................................................................... 13 3.1 Estrutura do Pargrafo .................................................................................................... 13 3.2 o pargrafo dissertativo e o tpico frasal ........................................................................ 13 4. TIPOLOGIA TEXTUAL ..................................................................................................... 19 5. O TEXTO ESCRITO META-REGRAS ........................................................................... 23 6. TPICOS DE GRAMTICA..............................................................................................28 7. REFERENCIAS......................................................................................................46
1. Elementos bsicos da comunicao oral e escrita:
Emissor/ remetente - Indivduo ou grupo de indivduos que envia a mensagem; Receptor/ destinatrio - Indivduo ou grupo de indivduos a quem a mensagem enviada; Mensagem: Contedo das informaes transmitidas; Canal - Meio fsico atravs do qual as mensagens so transmitidas; Cdigo - Mensagens verbais de no verbais de uma lngua; Referente - a situao, o assunto a que a mensagem se refere. Rudo Tudo o que atrapalha o processo de comunicao. Para se estabelecer comunicao, tem de ocorrer um conjunto de elementos constitudos por: um emissor (ou destinador), que produz e emite uma determinada mensagem, dirigida a um receptor (ou destinatrio). Mas para que a comunicao se processe efetivamente entre estes dois elementos, deve a mensagem ser realmente recebida e decodificada pelo receptor, por isso necessrio que ambos estejam dentro do mesmo contexto (devem ambos conhecer os referentes situacionais), devem utilizar um mesmo cdigo (conjunto estruturado de signos) e estabelecerem um efetivo contato atravs de um canal de comunicao. Se qualquer um destes elementos ou fatores falhar, ocorre uma situao de rudo na comunicao, entendido como todo o fenmeno que perturba de alguma forma a transmisso da mensagem e a sua perfeita recepo ou decodificao por parte do receptor. Leia o texto abaixo e, em seguida, responda o que se pede: WC Em uma ocasio, uma famlia inglesa foi passear na Alemanha. No decorrer de um de seus passeios, os membros da referida famlia repararam uma casa de campo que lhes pareceu boa para passarem as frias de vero. Falaram com o proprietrio, um pastor protestante e pediram que mostrassem a pequena manso. A casa agradou os visitantes ingleses e combinaram ficar com a mesma para o vero vindouro. Regressando a Inglaterra, discutiram sobre os planos da casa, e de repente a senhora lembrou-se de no ter visto o WC (banheiro). Confirmando o sentido prtico dos ingleses, escreveram ao pastor para obterem tal pormenor. A carta foi escrita: Gentil pastor, sou membro que a pouco o visitou a fim de alugar a casa de campo no prximo vero, mas como esquecemos de um detalhe importante, agradecemos de nos informasse onde fica o WC.
O pastor no entendendo o sentido exato da abreviatura WC e julgando tratar-se da capela da seita inglesa WHITE CHAPEL, assim respondeu:
Gentis senhores, recebi sua carta e tenho o prazer de comunicar-lhe que o local a que se referiam fica a 12 Km de casa. Isto muito cmodo inclusive para quem tem o trabalho de ir l freqentemente, neste caso prefervel levar comida para l e ficar o dia inteiro. Alguns vo a p outros de bicicleta. H lugar para 400 pessoas sentadas e 100 em p. O ar condicionado, para evitar os inconvenientes da aglomerao. Os assentos so de veludo. Recomenda-se chegar cedo para conseguir um lugar sentado. As crianas sentam-se ao lado dos adultos e todos cantam em coro. entrada fornecida uma folha de papel para cada pessoa, mas se algum chegar aps a distribuio, pode usar a folha do visinho do lado. Tal folha dever ser restituda na sada para ser usada o ms todo. Existem amplificadores de som e tudo o que se recolhe dado para as crianas pobres da regio. Fotgrafos especiais tiram fotos para jornais da cidade, de modo que todos possam ver seus semelhantes no cumprimento de um dever to humano.
1. Identifique, no texto WC, os elementos da comunicao. 2. O que aconteceu na comunicao entre o visitante ingls e o pastor? 3. Que tipo de rudo ocorreu? 4. Para uma comunicao eficaz basta que tenhamos boas idias? Justifique:
2. Diretrizes para a leitura, anlise e interpretao de textos verbais e no verbais:
VOC SABE LER?
Se voc chegou at aqui, eu espero sinceramente que a resposta seja "Sim". at provvel que voc no s tenha dado essa resposta mentalmente, como a tenha feito acompanhar de um sorriso desdenhoso e uma exclamao como " claro!". No entanto, saiba que boa parte das pessoas que responde a tal pergunta com um sonoro "Sim", na verdade deveriam simplesmente dizer, "No como gostaria". E isso no tem nada a ver com o alfabeto. Agora ateno, voc:
Chega ao fim de um livro sem conseguir lembrar do incio? Freqentemente cochila durante uma leitura mais longa, mesmo quando o assunto interessa? Vrias vezes compra um livro aparentemente bom para descobrir, depois de quinze pginas, que ele no nada do que imaginava? Tem dificuldade para resumir as idias principais do autor, e quando tenta acaba sempre produzindo resumos muito maiores que o desejvel? Est sempre tendo de queimar os neurnios com livros difceis de entender, mas obrigatrios para um curso, trabalho ou aula? Toda vez que v um colega falar sobre uma leitura que voc tambm fez, acaba se perguntando, "como que eu no vi isso?"...
Se as respostas forem sim, cuidado, pois praticamente todos os que buscam a leitura so alfabetizados, porm isto no significa que sejam bons leitores. Estes so capazes de reconhecer palavras e frases, apreender-Ihes o significado e pronunci-Ias em voz alta. Uma parte expressiva deles pode at se dar ao luxo de identificar e corrigir erros gramaticais ou ortogrficos daquilo que lem. Uma parte menor ainda habilitada para sintetizar o contedo do que l, mesmo quando se trata de assuntos fora de alguma especializao que por acaso possuam. Finalmente, uma pequena minoria no s capaz de discutir, mas tambm de faz-Io com competncia, identificando idias principais e secundrias, a linha de argumentao usada para exp-Ias, os pontos fracos e fortes de cada argumento, e, se for o caso, compar-Ios com os de outras fontes e assim chegar a uma concluso. Este ltimo grupo no apenas assimila informao, mas a processa, avalia e a transforma em conhecimento. A que grupo voc pertence?
2.1 Exerccios de Leitura
1) Leia atentamente os excertos abaixo e responda o que se pede
Texto 1
5 Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional ano 2005
Um diagnstico para a incluso social pela educao [Avaliao de Leitura e Escrita]
S 26% da populao tm domnio pleno das habilidades, mas melhora o ndice dos que tm um nvel bsico de leitura. Com base nos resultados do teste de leitura, o INAF classifica a populao estudada em quatro nveis:
Analfabeto No consegue realizar tarefas simples que envolvem decodificao de palavras e frases. Alfabetizado Nvel Rudimentar Consegue ler ttulos ou frases, localizando uma informao bem explcita. Alfabetizado Nvel Bsico Consegue ler um texto curto, localizando uma informao explcita ou que exija uma pequena inferncia. Alfabetizado Nvel Pleno Consegue ler textos mais longos, localizar e relacionar mais de uma informao, comparar vrios textos, identificar fontes.
Em 2001, 2003 e 2005 aplicou-se o mesmo teste a amostras semelhantes da populao. Assim, possvel verificar a evoluo dos resultados no perodo. O percentual dos que atingem o Nvel Pleno de habilidade no teve evoluo significativa, mantendo-se prximo a da populao estudada. J os percentuais de pessoas na condio de Analfabetismo indicam uma leve tendncia de diminuio: eram 9% em 2001 e 7% em 2005. Tambm se verifica um aumento, ainda que discreto, no percentual dos que atingem o Nvel Bsico: 34% em 2001 para 38% em 2005. Fonte: http://www.ipm.org.br Texto 2)
O que um mau leitor?
Lizia Helena Nagel - Professora (CESUMAR (...) O mau leitor, na verdade, no se prope a nenhum dilogo intermediado por outra coisa que no seja seus prprios desejos interiores. A letargia, ou a preguia, acompanha e consagra o indivduo que se mantm dominado por impulsos ou como joguete de estmulos os quais no
controla. Ele no se pergunta, por exemplo, - o que sei sobre isso? O compromisso do aprendiz consigo mesmo, enquanto potencialmente um aprendiz, no se realiza. Como o aprendiz no se pergunta sobre o que sabe ou no sabe, no direciona sua ateno, muito menos se concentra em qualquer leitura. Com esse tipo de comportamento, no pode identificar quais sejam a idias principais de um texto, assinalar as partes mais importantes de um artigo ou confrontar os pontos de vista do autor com os seus. Impossvel, conseqentemente, analisar, avaliar, julgar por parmetros definidos, externos, universais ou objetivos. No entanto, mesmo admitindo que esteja fazendo um curso porque sua formao no est finalizada, no aceita ter deficincias ou limites na esfera do conhecimento, nas habilidades cognitivas. A imagem que tem de si mesmo no confere com seu desempenho afetivo e intelectual. Seu sentir e seu pensar apresentam-se desconectados. No reconhece o tipo de energia que lhe move e, por isso mesmo, ter imensa dificuldade em tornar-se um bom leitor. (...) Fonte: Revista Espao Acadmico. N 32 Janeiro/2004
Texto 3)
A tragdia do estudante srio no Brasil
Olavo de Carvalho A inteligncia, ao contrrio do dinheiro ou da sade, tem esta peculiaridade: quanto mais voc a perde, menos d pela falta dela. O homem inteligente, afeito a estudos pesados, logo acha que emburreceu quando, cansado, nervoso ou mal dormido, sente dificuldade em compreender algo. Aquele que nunca entendeu grande coisa se acha perfeitamente normal quando entende menos ainda, pois esqueceu o pouco que entendia e j no tem como comparar. Fonte: www.midiasemmascara.org
1. A primeira linha do texto 1 apresenta a informao que S 26% da populao tem domnio pleno das habilidades. Porm, no segundo pargrafo, a informao passada que O percentual dos que atingem o Nvel Pleno de habilidade no teve evoluo significativa, mantendo-se prximo a da populao estudada De acordo com o texto, qual a diferena existente entre estes ndices? Justifique: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. De acordo com o texto 2, quais so as competncias que o aprendiz no possui, tornando-o, portanto, incapaz de constituir-se um bom leitor? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
3. O texto 3 relata a diferenciao entre dois tipos de homem. Desenvolva um pequeno pargrafo que os apresente e diferencie a postura de cada um deles. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
4. Os trs fragmentos de texto referem-se a uma temtica comum. Identifique qual essa temtica e, em seguida, desenvolva um pargrafo que demonstre como ela apresentada em cada um dos textos de apoio. Para tanto, no se esquea de fazer uma pequena introduo, um desenvolvimento bem organizado e, finalmente, uma concluso com o seu posicionamento crtico sobre a temtica.
2) Leia a tira abaixo e responda: A conversa entre Mafalda e seus amigos
(A) revela a real dificuldade de entendimento entre posies que pareciam convergir. (B) desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito entre as pessoas. (C) expressa o predomnio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre posies divergentes. (D) ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do debate poltico de idias.
(E) mostra a preponderncia do ponto de vista masculino nas discusses polticas para superar divergncias.
3) Leia o grfico abaixo e escolha a alternativa correta:
Ao longo do sculo XX, as caractersticas da populao brasileira mudaram muito. Os grficos mostram as alteraes na distribuio da populao da cidade e do campo e na taxa de fecundidade (nmero de filhos por mulher) no perodo entre 1940 e 2000.
Comparando-se os dados dos grficos, pode-se concluir que (A) o aumento relativo da populao rural acompanhado pela reduo da taxa de fecundidade. (B) quando predominava a populao rural, as mulheres tinham em mdia trs vezes menos filhos do que hoje. (C) a diminuio relativa da populao rural coincide com o aumento do nmero de filhos por mulher. (D) quanto mais aumenta o nmero de pessoas morando em cidades, maior passa a ser a taxa de fecundidade. (E) com a intensificao do processo de urbanizao, o nmero de filhos por mulher tende a ser menor.
2.2 Leitura: conotao, denotao, pressuposto, subentendido;
Observe a seguinte frase: Fiz faculdade, mas aprendi algumas coisas. Nela, o falante transmite duas informaes de maneira explcita: a) que ele freqentou um curso superior; b) que ele aprendeu algumas coisas. Ao ligar essas duas informaes com um mas, o falante comunica tambm, de modo implcito, sua crtica ao sistema de ensino superior, pois a frase passa a transmitir a idia de que nas faculdades no se aprende nada. Um dos aspectos mais intrigantes da leitura de um texto a verificao de que ele pode dizer coisas que parece no estar dizendo: alm das
10
informaes explicitamente enunciadas, existem outras que ficam subentendidas ou pressupostas. Para realizar uma leitura eficazmente, o leitor deve captar tanto os dados explcitos quanto os implcitos. Leitor perspicaz aquele que consegue ler nas entrelinhas. Caso contrrio, ele pode passar por cima de significados importantes e decisivos ou o que pior pode concordar com coisas que rejeitaria se as percebesse. No preciso dizer que alguns tipos de texto exploram, com malcia e com intenes falaciosas, esses aspectos subentendidos e pressupostos.
PRESSUPOSTOS So aquelas idias no expressas de maneira explcita, mas que o leitor pode perceber a partir de certas palavras ou expresses contidas na frase. Assim, quando se diz O tempo continua chuvoso, comunica-se de maneira explcita que no momento da fala o tempo de chuva, mas, ao mesmo tempo, o verbo continuar deixa perceber a informao implcita de que antes o tempo j estava chuvoso. Na frase: Pedro deixou de fumar diz-se explicitamente que, no momento da fala, Pedro no fuma. O verbo deixar, todavia, transmite a informao implcita de que Pedro fumava antes. A informao explcita pode ser questionada pelo ouvinte, que pode ou no concordar com ela. Os pressupostos, no entanto, tm que ser verdadeiros ou pelo menos admitidos como verdadeiros, porque a partir deles que constroem as informaes explcitas. Se o pressuposto falso, a informao explcita no tem cabimento. No exemplo acima, se Pedro no fumava antes, no tem cabimento afirmar que ele deixou de fumar. Na leitura e interpretao de um texto, muito importante detectar os pressupostos, pois o seu uso um dos recursos argumentativos utilizados com vistas a levar o ouvinte ou o leitor a aceitar o que est sendo comunicado. Ao introduzir uma idia sob a forma de pressuposto, o falante transforma o ouvinte em cmplice, uma vez que essa idia no posta em discusso e todos os argumentos subseqentes s contribuem para confirm-la. Por isso, pode-se dizer que o pressuposto aprisiona o ouvinte ao sistema de pensamento montado pelo falante. A demonstrao disso pode ser encontrada em muitas dessas verdades incontestveis postas como base de muitas alegaes do discurso poltico. Tomemos como exemplo a seguinte frase:
SUBENTENDIDOS Os subentendidos so as insinuaes escondidas por trs de uma afirmao. Quando um transeunte com o cigarro na mo pergunta: Voc tem fogo? acharia muito estranho se voc dissesse: Tenho e no lhe acendesse o cigarro. Na verdade, por trs da pergunta subentendese: Acenda-me o cigarro, por favor.
11
O subentendido difere do pressuposto num aspecto importante: o pressuposto um dado posto como indiscutvel para o falante e para o ouvinte, no para ser contestado; o subentendido de responsabilidade do ouvinte, pois o falante, ao subentender, esconde-se por trs do sentido literal das palavras e pode dizer que no estava querendo dizer o que o ouvinte depreendeu. O subentendido, muitas vezes serve para o falante proteger-se diante de uma informao que quer transmitir para o ouvinte sem se comprometer com ela. Para entender esse processo de descomprometimento que ocorre com a manipulao dos subentendidos, imaginemos a seguinte situao:
Um funcionrio pblico do partido de oposio lamenta, diante dos colegas reunidos em assemblia, que um colega de seo, do partido do governo, alm de ser sido agraciado com uma promoo, conseguiu um emprstimo muito favorvel do banco estadual, ao passo que ele, com mais tempo de servio, continuava no mesmo posto e no conseguia o emprstimo solicitado muito antes que o referido colega. Mais tarde, tendo sido acusado de estar denunciando favoritismo do governo para com os seus adeptos, o funcionrio reclamante defende-se prontamente, alegando no ter falado em favoritismo e que isso era deduo de quem ouvira o seu discurso. Na verdade, ele no falou em favoritismo, mas deu a entender, deixou subentendido para no se comprometer com o que disse. Fez a denncia sem denunciar explicitamente. A frase sugere, mas no diz. A distino entre pressupostos e
subentendidos em certos casos bastante sutil. No vamos aqui ocupar-nos dessas sutilezas, mas explorar esses conceitos como instrumentos teis para uma compreenso mais eficiente do texto. Fonte: Para Entender o Texto: Leitura e Redao, Plato e Fiorin, 1990. QUESTES 01. Identifique os pressupostos nos excertos abaixo:
- (...) no podemos aceitar que continue em vigor uma poltica fiscal ultrapassada e inqua (Veja, 10/7/1985).
- O brasileiro, de ndole individualista, bastante avesso participao em associaes que exeram alguma presso em seu benefcio (Veja, 11/9/1985).
- (...) O PMDB ser a poderosa fora de centro no contexto do Brasil (Veja, 31/7/1985).
12
- O acordo da Argentina com o FMI acontecimento importante tambm para o Brasil (George W. Bush, poca 9/9/2003).
- Quando soube que estava com o vrus da Aids, tive vergonha de contar. Escondi at de meu marido (Wilma Moreira, poca 29/9/2003).
- O corpo feminino mais sexy que o masculino e eu sou uma profunda apreciadora dele. (Christina Aguilera, poca 12/7/2004).
- Marcos Palmeira foi meu primeiro homem. (Preta Gil, poca, 12/7/2004).
- Com um modelito escandaloso, [Mary Carey] causou furor entre os fs que se espremiam em torno do tapete vermelho (Isto , 01/10/2003).
13
3. Estrutura do pargrafo: tpico frasal, desenvolvimento e concluso.
O pargrafo, segundo Zilberknop (1995) uma unidade redacional que serve para dividir o texto (que um todo) em partes menores, tendo em vista os diversos enfoques. Quando se muda de pargrafo no se muda de assunto. O assunto, a rigor, deve ser o mesmo, do princpio ao fim da redao. A abordagem, porm, pode mudar. (.) A cada novo enfoque, a cada nova abordagem, haver novo pargrafo. Ainda, segundo Pacheco (1988) "A noo de pargrafo est ligada noo de idia central. Cada pargrafo deve desenvolver-se em torno de uma idia, deve ter uma certa unidade.
3.1 Estrutura do Pargrafo
Podemos perceber no texto dissertativo certa estrutura organizada:
A introduo expressa em um ou dois perodos curtos, a idia central (chamada tambm de tpico frasal); Em seguida vem o desenvolvimento que corresponde ao desdobramento da mesma idia central, exposio dos argumentos que vo provar a idia contida na introduo;
Por fim a concluso que "amarra o texto, retoma a idia central; pode funcionar como uma confirmao da tese inicial, resumindo os principais aspectos discutidos no texto.
3.2 o pargrafo dissertativo e o tpico frasal
Numa produo textual cada pargrafo deve ser uma unidade central desenvolvida, acompanhada por outras, secundrias, s quais se relaciona pelo sentido. Todo pargrafo deve ser coeso, isto , deve-se perceber nele uma idia central seu tpico frasal. Observe no trecho do texto abaixo A arte dos elogios (mensagem enviada por e-mail):
A baixa auto-estima vista hoje, como uma espcie de carncia de vitaminas emocionais para crianas e adultos. Preocupados com o desenvolvimento dos seus filhos e com suas conquistas, alguns pais exageram na hora dos elogios. Criana viciada em elogios
14
se toma problema na escola. Ela sempre ficar na dependncia da aprovao verbal dos professores. Adulada em excesso e sem motivo, a criana cresce esperando o mesmo de todas as pessoas.
Qual seria o tpico frasal? Qual a idia que sintetiza / resume o pargrafo? "A baixa auto-estima vista hoje, como uma espcie de carncia de vitaminas emocionais para as crianas e adultos." (Campedelli e Souza 1998) Portanto, o pargrafo dissertativo se abre com um tpico frasal e dele decorrem todos os demais pensamentos (que o comprovam, confirmam, defendem a idia).
TPICO FRASAL
Constitudo habitualmente por um ou dois perodos curtos iniciais, o tpico frasal encerra (resume) modo geral e conciso a idia ncleo do pargrafo.
Diferentes feies do tpico frasal
a) Declarao inicial: parece ser a mais comum; o autor afirma ou nega alguma coisa logo de sada, para em seguida, justificar ou fundamentar a assero, apresentando argumentos sob a mais variada forma. (Campedelli e Souza, 1998) ex: "Recentemente, a notcia de que um centro de pesquisas sul-coreano est tentando clonar embries humanos provocou uma grande celeuma internacional. "A clonagem j acontece naturalmente tambm quando nascem tatus. "(..) Qualquer rgo poder ser formado novamente (.).}1 b) Definio: Por vezes o tpico frasal pode assumir a forma de uma definio. mtodo preferencialmente didtico. ex: "Quando nascem dois ou trs gmeos univitelinos ou monozigticos, oriundos de um mesmo zigoto humano, a natureza j est praticando sua clonagem" c) Diviso: Processo quase que exclusivamente didtico, dadas as suas caractersticas de objetividade e clareza; apresenta o tpico frasal sob forma de diviso ou discriminao das idias a serem desenvolvidas. ex: A tcnica de transferncia nuclear- utilizada na clonagem animal- tem diversas aplicaes potenciais em diversos setores estratgicos sejam cientficos ou produtivos. Faulstich, Enilde L. de J. (1997, p.9)
Exerccios
15
1. Desenvolva tambm estes tpicos frasais dissertativos: a) A prtica do esporte deve ser incentivada e amparada pelos rgos pblicos. b) O trabalho dignifica o homem, mas o homem no deve viver s para o trabalho. c) A propaganda de cigarros e de bebidas deve ser proibida. d) O direito cultura fundamental a qualquer ser humano. 2. Desenvolva os tpicos frasais seguintes, considerando os conectivos: a) O jornal pode ser um excelente meio de conscientizao das pessoas, a no ser que b) As mulheres, atualmente, ocupam cada vez mais funes de destaque na vida social e poltica de muitos pases; no entanto c) Um curso universitrio pode ser um bom caminho para a realizao profissional de uma pessoa, mas... d) Se no souber preservar a natureza, o ser humano estar pondo em risco sua prpria existncia, porque... e) Muitas pessoas propem a pena de morte como medida para conter a violncia que existe hoje em vrias cidades; outras, porm f) Muitos alunos acham difcil fazer uma redao, porque. g) Muitos alunos acham difcil fazer uma redao, no entanto h) Um meio de comunicao to importante como a televiso no deve sofrer censura, pois i) Um meio de comunicao to importante como a televiso no deve sofrer censura, entretanto j) O uso de drogas pelos jovens , antes de tudo, um problema familiar, porque l) O uso de drogas pelos jovens , antes de tudo, um problema familiar, embora
Tpico frasal desenvolvido por enumerao. Exemplo: A televiso, apesar das crticas que recebe, tem trazido muitos benefcios s pessoas, tais como: informao, por meio de noticirios que mostram o que acontece de importante em qualquer parte do mundo; diverso, atravs de programas de entretenimento (shows, competies esportivas); cultura, por meio de filmes, debates, cursos. Faa o mesmo: 1. Na escolha de uma carreira profissional, precisamos considerar muitos aspectos, dentre os quais podemos citar: 2. O desrespeito aos direitos humanos manifesta-se de vrias formas:
16
3. O bom relacionamento entre os membros de uma famlia depende de vrios fatores, como: 4. A vida nas grandes cidades oferece vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, podemos lembrar e, dentre as desvantagens, Tpico frasal desenvolvido por descrio de detalhes o processo tpico do desenvolvimento de um pargrafo descritivo: Era o casaro clssico das antigas fazendas negreiras. Assobradado, erguia-se em alicerces o muramento, de pedra at meia altura e, dali em diante, de pau-a-pique (...) porta da entrada ia ter uma escadaria dupla, com alpendre e parapeito desgastado.(Monteiro Lobato) Tpico frasal desenvolvido por confronto. Trata-se de estabelecer um confronto entre duas idias, dois fatos, dois seres, seja por meio de contrastes das diferenas, seja do paralelo das semelhanas. Veja o exemplo: Embora a vida real no seja um jogo, mas algo muito srio, o xadrez pode ilustrar o fato de que, numa relao entre pais e filhos, no se pode planejar mais que uns poucos lances adiante. No xadrez, cada jogada depende da resposta anterior, pois o jogador no pode seguir seu planos sem considerar os contra-ataques do adversrio, seno ser prontamente abatido. O mesmo acontecer com um pai que tentar seguir um plano preconcebido, sem adaptar sua forma de agir s respostas do filho, sem reavaliar as constantes mudanas da situao geral, na medida em que se apresentam. (Bruno Betelheim, adaptado) Tpico frasal desenvolvido por razes No desenvolvimento apresentamos as razes, os motivos que comprovam o que afirmamos no tpico frasal. As adivinhaes agradam particularmente s crianas. Por que isso acontece de maneira to generalizada? Porque, mais ou menos, representam a forma concentrada, quase simblica, da experincia infantil de conquista da realidade. Para uma criana, o mundo est cheio de objetos misteriosos, de acontecimentos incompreensveis, de figuras indecifrveis. A prpria presena da criana no mundo , para ela, uma adivinhao a ser resolvida. Da o prazer de experimentar de modo desinteressado, por brincadeira, a emoo da procura da surpresa. (Gianni Rodari, adaptado)
17
Tpico frasal desenvolvido por anlise a diviso do todo em partes. Quatro funes bsicas tm sido atribudas aos meios de comunicao: informar, divertir, persuadir e ensinar. A primeira diz respeito difuso de notcias, relatos e comentrios sobre a realidade. A segunda atende procura de distrao, de evaso, de divertimento por parte do pblico. A terceira procura persuadir o indivduo, convenc-lo a adquirir certo produto. A quarta realizada de modo intencional ou no, por meio de material que contribui para a formao do indivduo ou para ampliar seu acervo de conhecimentos. (Samuel P. Netto, adaptado) Tpico frasal desenvolvido pela exemplificao Consiste em esclarecer o que foi afirmado no tpico frasal por meio de exemplos: A imaginao utpica e inerente ao homem, sempre existiu e continuar existindo. Sua presena uma constante em diferentes momentos histricos: nas sociedades primitivas, sob a forma de lendas e crenas que apontam para um lugar melhor; nas formas do pensamento religioso que falam de um paraso a alcanar; nas teorias de filsofos e cientistas sociais que, apregoando o sonho de uma vida mais justa, pedem-nos que sejamos realistas, exijamos o impossvel. (Teixeira Coelho, adaptado) Exerccios 1.Grife o tpico frasal de cada pargrafo apresentado. No deixe de observar como o autor desenvolve. a) O isolamento de uma populao determina as caractersticas culturais prprias. Essas sociedades no tm conhecimento das idias existentes fora de seu horizonte geogrfico. o que acontece na terra dos cegos do conto de H.G. Welles. Os cegos desconhecem a viso e vivem tranqilamente com sua realidade, naturalmente adaptados, pois todos so iguais. Esse conceito pode ser exemplificado tambm pelo caso das comunidades indgenas ou mesmo qualquer outra comunidade isolada.(Redao de vestibular) b) O desprestgio da classe poltica e o desinteresse do eleitorado pelas eleies proporcionais so muitos fortes. As eleies para os postos executivos que constituem o grande momento de mobilizao do eleitorado. o momento em que o povo se vinga, aprovando alguns candidatos e rejeitando outros. Os deputados, na sua grande maioria, pertencem classe A. com os membros dessa classe que os parlamentares mantm relaes sociais, comerciais, familiares. dessa classe com a qual mantm maiores vnculos, que sofrem as maiores presses. Desse modo, nas condies concretas das disputas eleitorais
18
em nosso pas, se o parlamentarismo no elimina inteiramente a influncia das classes D e E no jogo poltico, certamente atua no sentido de reduzi-la. (Lencio M. Rodrigues) 2. Apresentamos a seguir alguns tpicos frasais para serem desenvolvidos na maneira sugerida. a) Anacleto um detetive trapalho. (por enumerao de detalhes: fornea a descrio fsica e psicolgica do personagem). b) As novelas transmitidas pela televiso brasileira so muito mais atraentes que nossos filmes. (por confronto) c) As cidades brasileiras esto se tornando ingovernveis. (por razes) d) H trs tipos bsicos de composio: a narrao, a descrio e a dissertao. (por anlise) e) Nunca diga que algum ser humano uma ilha: tudo que acontece a um semelhante nos atinge. (por exemplificao)
19
4. TIPOLOGIA TEXTUAL Faz-se necessrio o estabelecimento de uma tipologia textual para o estudo do texto, considerando as diversas formas de discurso utilizadas usualmente. Geralmente, um texto apresenta caractersticas mistas o que toma mais complexa a delimitao de seus traos especficos. Dessa forma, o importante na produo de um texto, que haja uma idia em tomo da qual se possa considerar um ncleo, os dados que apia essa afirmao e a relao entre ambos. A partir da tripartio tradicional poder-se-ia estabelecer trs modelos de tipologia para textos: dissertativo descritivo e narrativo.
TIPOLOGIAS TEXTUAIS
DISSERTAO: o tipo de texto em que so expostos, explanadas, interpretadas idias, ou apresentados argumentos sobre um determinado tema ou assunto. DESCRIO: a modalidade de texto na qual so apontadas caractersticas e/ou elementos constitutivos dos seres: pessoas, animais, plantas, objetos, ambientes, paisagens, processos, etc. NARRAO: o tipo de texto no qual so contados fatos ou fenmenos ocorridos em determinado tempo e lugar, com a participao de personagens. Assim, podemos demonstrIos resumidamente da seguinte forma:
DISSERTAO idias DESCRIO seres/ entes NARRAO fatos
OBSERVAO: Cabe salientar que os textos literrios sero mencionados somente para fins de exemplificao e/ou comparao com textos no-literrios, sendo que as modalidades dissertativas, descritivas e narrativas literrias no sero trabalhadas neste curso.
TEXTO DISSERTATIVO
A dissertao o tipo de texto mais freqentemente encontrado em obras didticas de uso geral, nas de uso especifico ou, ainda, em obras que tratam de temas polmicos da atualidade, de resultados de pesquisas e de experimentos (Flres, 1994). No entanto, cabe lembrar que o texto pode ser puramente dissertativo ou pode vir
20
intercalado de descrio e de narrao. E,ainda, o texto dissertativo pode ser literrio ou noliterrio (tcnico-cientfico). A dissertao literria ocorre diluda na narrao, em obras como crnicas e romances, por exemplo, no momento em que o narrador tece crticas realidade na qual se baseia a obra, ou s aes das personagens; ou no momento em que as personagens manifestam seu ponto de vista. Da mesma forma, a dissertao tcnica tambm pode aparecer pura ou diluda em outra categoria textual.
Argumentao
Segundo Ferreira (1999) argumentao o ato ou efeito de argumentar, conjunto de argumentos, discusso, controvrsia. E, o ato de argumentar, por sua vez, compreende a apresentao de uma ou mais idias, um ou mais pontos de vista pessoais ou de outrem, sobre um tema, acompanhados de provas, de exemplos, de fatos, de raciocnios que demonstrem que as idias e os pontos de vista apresentados esto corretos, que o autor do texto est com a razo. Assim, o autor estar tentando convencer o leitor de que as suas idias ou as idias que est defendendo so verdadeiras, atravs da evidncia das provas e luz do raciocnio coerente e consistente. Na dissertao escrita o autor precisa argumentar quando manifesta seu ponto de vista ou o ponto de vista de outrem, o que pensa acerca de um fato, acontecimento ou teoria, para convencer o leitor de que ele, o autor, est com a razo. (Flres, 1994)
Como argumentar
Segundo Garcia (1999) a argumentao segue quatro estgios:
a) Proposio (declarao, tese, opinio) A proposio (..) deve ser clara, definida, inconfundvel quanto ao que se afirma ou nega. Deve prever divergncia de opinio. Sendo clara e definida, a proposio ser especfica que facilitar uma tomada de posio favorvel ou contrria. b) Anlise da proposio Neste estgio, deve-se tornar claros os termos da proposio, definir-se o sentido das palavras e a posio do autor, o que pretende provar. c) Formulao dos argumentos o estgio em que o autor apresenta as provas, as razes que sustentam a idia:
21
fatos, exemplos, ilustraes, comparaes...nas quais est alicerada a sua tese. Othon Garcia recomenda que se adote a ordem gradativa crescente das provas, partindo das provas mais frgeis para as mais fortes. d) Concluso Decorre dos argumentos apresentados. o fecho da argumentao que expressa, de forma clara e convincente, a essncia da proposio.
Proposta de exerccio
Identifique os quatro estgios no pargrafo de dissertao argumentativa que segue: "Para que os indivduos marginalizados conquistem a possibilidade de participar ativamente das decises indispensvel que ocorra primeiro sua transformao interior. preciso que dentro de cada um nasa a convico de que justo e possvel participar. Depois vir automaticamente o desejo de participao, sobretudo para os mais injustiados. a experincia tem mostrado que entre as classes, mais humildes, amadurecidas pelo sofrimento, existe mais solidariedade e esprito. comunitrio do que entre as classes mais ricas e socialmente privilegiadas. "(in Dallart, 1984:37, Flres, 1994).
A coeso do texto
Elementos de coeso textual
Segundo Flres (1994), o correto encadeamento das oraes, dos perodos e dos pargrafos do texto responsvel pela sua coeso, sendo esta a unio ntima das partes, a conexo interna do texto. Esta qualidade do texto conseguida atravs do emprego adequado das categorias gramaticais cuja funo estabelecer conexo - as conjunes coordenativas e subordinativas, e as proposies, por perodos e at por pargrafos inteiros; por palavras que fazem referncia a idias ou elementos j constantes do texto, dentre elas, os pronomes pessoais retos e oblquos, os pronomes possessivos, demonstrativos e relativos e por predicados prontos como por exemplo "fazendo isto". Sero apresentados abaixo, alguns elementos de coeso textual agrupados, segundo o tipo de relao que estabelecem, ao conectarem as idias:
a) Estabelecer oposio, contraste, com idias expressas ou que viro a seguir: mas, porm, contudo, todavia, no entanto, entretanto; embora, ainda que, mesmo que, posto que, se bem que, por mais que, apesar de que; apesar de, a despeito de, no
22
obstante, em contraste com, salvo, exceto, menos; b) Estabelecer relao de causa e conseqncia: porque, pois, como (=porque), que (=porque), porquanto; logo, portanto, pois (posposto ao verbo), assim; da, por conseqncia, por conseguinte, como resultado; por, por causa de, em vista de , em virtude de, devido a, em conseqncia de, por motivo de, por razes de... c) Indica finalidade, o propsito, a inteno: porque (=para que), que (=para que); para, a fim de, com o propsito de, com o intuito de, com o objetivo de, propositadamente, intencionalmente; d) Resumir, recapitular, concluir: pois, logo, de modo que, portanto, ento
TEXTO DESCRITIVO
Descrio o retrato que fazemos, por meio de palavras de um ser (homem, animal irracional, objeto, cena, paisagem, processo, experincia (...).(Andr, 1978:39). Assim, atravs da descrio, o escritor - emissor empenha-se era produzir na imaginao do leitor uma impresso equivalente imagem sensvel do ser retratado, fazendo-o "ver", atravs de um processo de reconstruo mental, "o que " exteriorizado, "como e "como est", manifestados por estruturas (da linguagem oral e/ou escrita) , tecidas pela coerncia do escritor-emissor. Podemos, ainda, ampliar a definio de descrio com o que nos diz Othon Garcia (1986b:216): descrio a representao verbal de um objeto sensvel (ser, coisa, paisagem) atravs da indicao de seus aspectos mais caractersticos, de pormenores que o individualizam, que o distinguem. Em sntese, descrio a modalidade de redao na qual so apontadas caractersticas e/ou elementos constitutivos, singularizantes, do ser-referente (pessoas, animais, plantas, objetos, ambientes, paisagens, processos etc.), captados pelo emissor atravs dos sentidos e veiculados atravs do cdigo oral e escrito, objetivando fazer o receptor saber "o que " o serreferente, "como " e "como est", num certo momento esttico do tempo.
23
5. O texto escrito META-REGRAS
Temos como motivao pra esta aula a pergunta, o que caracteriza um texto escrito? A partir deste questionamento, so vlidas as consideraes de Maria da Graa Val (1991, p.3):
Para se compreender melhor o fenmeno da produo de textos escritos, importa previamente o que caracteriza o texto, escrito ou oral, unidade lingstica comunicativa bsica, j que o que as pessoas tm para dizer umas s outras no so palavras nem frases isolada, so textos.
Devemos acrescentar que o texto uma unidade comunicativa que proporciona interao social entendimento e relao entre indivduos e do indivduo com o mundo, com a sociedade e que pressupe a existncia dos seis elementos do ato da comunicao: emissor, receptor, mensagem, canal, cdigo e referente. Ressaltamos alguns dos elementos que proporcionam a textualidade, ou seja, caractersticas que fazem com que um texto seja um texto, e no apenas uma seqncia de frases (idem, p.5). Dentre esses aspectos convm ressaltar, sobretudo, duas das propriedades bsicas do texto, a coerncia e coeso.
Coerncia: O texto, de acordo com sua funo comunicativa, deve possuir um sentido. A coerncia entendida como o fator responsvel pelo estabelecimento deste sentido, estando na profundidade textual. A coerncia envolve aspectos lgicos, prope significados, agindo no sentido de partilhar conhecimentos entre os interlocutores.
Coeso: a manifestao lingstica da coerncia, presente na superfcie textual. Diz respeito maneira atravs da qual os elementos que compe o texto esto ligados entre si. um fio que costura os perodos, os pargrafos e as partes do texto, responsvel pelo estabelecimento da unidade do texto atravs das relaes entre suas diferentes partes. Devemos entender o texto, portanto, como um todo significativo. Nesse sentido recorremos, opinio de Infante (1998, p.90), obtida a partir da etimologia da palavra texto:
A palavra texto provm do latim textum, que significa tecido, entrelaamento. H, portanto, uma razo etimolgica para nunca esquecermos que o texto resulta da ao de
24
tecer, de entrelaar unidades e partes a fim de formar um todo inter-relacionado. Da podermos falar em textura ou tessitura de um texto: a rede de relaes que garantem a sua coeso, sua unidade. (g.m.)
As meta-regras de coerncia e coeso: De acordo com o lingista francs Charolles (apud VAL, p.21-22) um texto coerente e coeso satisfaz a quatro requisitos: continuidade, progresso, no-contradio e articulao. Convencionou-se de cham-los de meta-regras, pois so entendidos como sistema implcito de regras referente composio e interpretao de textos, partindo do princpio de que todo falante possui competncia, tanto para produzir como para interpretar textos. Devemos ter em mente que as partes que formam um texto surgem uma aps outra, relacionando-se com o que j foi dito ou com o que se vai dizer (INFANTE, 1998, p.90).
1) Continuidade: o princpio que exige que o autor do texto mantenha a unidade temtica, ou seja, que no mude a idia do texto, para isso deve sempre retomar o assunto chave no decorrer do discurso. No entendemos ou aceitamos como um texto uma seqncia que trate a cada passo de um assunto diferente. (VAL, 1991, p.21)
2) Progresso: o princpio que impe ao escritor a necessidade de renovar progressivamente os contedos, sem apresentar meras repeties, ou seja, devemos sempre acrescentar novas informaes ao que j foi dito. (INFANTE, 1998, p.91)
3) No-contradio: a regra que determina que o escritor no desminta nenhuma idia posta ou pressuposta anteriormente no texto, respeitando princpios lgico elementares (VAL, 1991, p.25).
4) Articulao ou Relao: a relao que se estabelece entre os fatos e conceitos dentro de um texto. Pode ser entendida, ainda, como a relao lgica entre introduo, desenvolvimento e concluso do texto dissertativo.
25
Atividade:
Procure observar eventuais problemas nos textos a seguir, a partir das meta-regras propostas com Charolles. Para isso utilize de suas prprias palavras e selecione trechos que confirmem sua resposta:
a) Uma das decises mais srias que algum deve tomar na vida a opo profissional. As universidades pblicas so muito concorridas e tm poucas vagas, as particulares so muito caras. Muitos estudantes utilizam de subterfgios para obterem notas nas provas e acabam no aprendendo o contedo, embora tirem nota para a aprovao. Mas o ndice de reprovao desde as sries iniciais no Brasil, muito grande. Isso ocorre porque boa parte no tem uma alimentao adequada. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
b) A histria nos d vrios exemplos de pessoas que foram contra o estado considerado normal e certo pela mentalidade de uma maioria. Estes indivduos tidos como subversivos foram recriminados por todos e at mortos, embora hoje, sejam reconhecidos como grandes vultos da humanidade. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
c) No preciso ser psiclogo para perceber que a violncia transmitida e at exaltada pela mdia tem influenciado o comportamento agressivo das pessoas. Os meios de comunicao de massa realmente tm motivado atos de grande violncia na sociedade. Muitos agem agressivamente por causa da influncia da programao. Nesse sentido, as atitudes violentas das pessoas podem ser justificadas pela ao que a mdia exerce sobre o ser humano. Enquanto os meios de comunicao fizerem apologia a violncia as pessoas continuaro sendo levadas agressividade. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
26
d) Todo ser humano precisa ter um ideal na vida que lhe d sentido existncia. A pessoa precisa de algo que seja objeto da sua mais alta aspirao intelectual, esttica, espiritual, afetiva, ou de ordem prtica. Alguns homens e mulheres, mesmo no tendo nenhum ideal de vida, conseguem ganhar alguma notoriedade e auto-afirmao pessoal. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
e) A pena de morte deve ser evitada. O ser humano no deve tirar a vida de outro ser, por isso devemos ser contra a pena de morte. Somente Deus pode tirar-nos a vida, ento no podemos aceitar a pena de morte. Sejamos contra a pena de morte. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
f) A violncia no pas alarmante devido a vrios fatores. O menor abandonado no tem vez, a falta de terra para nossos ndios preocupante e as crianas esto abandonadas. O homem se esqueceu do prximo, por causa da mquina. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
g) O preconceito racial acarreta vrias conseqncias desagradveis para um pas. Um exemplo de preconceito hoje, pode ser observado com o movimento separatista no sul, que atacam, especialmente, os nordestinos. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
27
Curso de nivelamento de Lngua Portuguesa
Tpicos de Gramtica
28
Ortografia: Quem que nunca cometeu erros ortogrficos? Quem que nunca escreveu errado uma palavra ou pelo menos teve dvida quanto grafia de algum vocbulo? Apesar de nossa lngua portuguesa contar apenas com 23 letras, todo dia nos deparamos com novidades, no mesmo? E quando topamos com uma palavra muito conhecida, que sempre ouvimos e dizemos, mas nunca havamos escrito? Como a palavra holerite, comum na oralidade de todo trabalhador. O que fazer? Antes de tudo preciso saber que ortografia o nome dado parte da Gramtica que se ocupa da escrita correta das palavras. Os padres ortogrficos nada mais so do que as convenes sociais que estabelecem as regras e os critrios de grafia. A ortografia portuguesa combina critrios ligados origem das palavras (etimologia) e representao dos sons caractersticos de uma lngua. Por isso o nosso sistema ortogrfico misto: etimolgico e fontico.1
Veremos a seguir as principais normas que regem a correta representao escrita das palavras. Palavras Homnimas: Palavras que tem a mesma pronuncia e a mesma grafia, porm com significados diferentes. Ex: O canto onde moro acolhedor. Eu s canto msica brasileira. Palavras Homgrafas: Palavras que possuem a mesma grafia, porm com pronncia diferente. Ex: Maria tem bom gosto. Eu gosto de tomar caf. Palavras Homfonas: Palavras que possuem grafia diferente, porm com pronncia idntica. Ex: Sexta (dia da semana) e cesta (lugar de guardar coisas). Insipiente (ignorante) e incipiente (principiante). Palavras Parnimas: Palavras parecidas na grafia e na pronncia, mas diferentes no significado. Cuidado com elas! Ex: Flagrante (algo evidente) e fragrante (algo perfumado). Descriminar (absolver de crime) e discriminar (diferenciar, separar).
Usos de algumas letras do alfabeto: Escrevemos BERINJELA com J e TIGELA com G. Nessas palavras, o som do J igual ao do G. A diferena grfica se explica pela origem: BERINJELA vem do rabe e TIGELA do latim.
Texto retirado do livro Portugus com o professor Pasquale Ortografia - So Paulo : Publifolha, 2000.
29
GJ
G e J A letra J s pode produzir um som em portugus. Em jaca, jeito, jil e jogo, o j produz o mesmo som. J a letra G pode produzir dois sons diferentes. Como em gato e gente. Devemos usar a letra G: 1) Nos substantivos terminados em agem, -igem- ugem: viagem, origem, lanugem. 2) Nas palavras terminadas em gio, -gio, gio, -gio, gio: estgio, colgio, litgio, relgio, refgio. Devemos usar a letra J: 1) Em todas as formas dos verbos terminados em jar: enferrujar (enferrujo, enferruje, enferrujem...) 2) Nas palavras de origem tupi, africana, rabe ou extica: jingo, paj jirau, jil, manjerico, jibia, berinjela. 3) Nas palavras derivadas de outras que j apresentam J: loja lojinha lojista; gorja gorjeio gorjear gorjeta.
SZ
S e Z As letras S e Z podem produzir o mesmo som. O S produz som de Z quando vem entre vogais: casa, riso, vaso, asa. Cuidado, em algumas palavras, a letra X tambm produz o mesmo som: exagero, exrcito, extico... Usa-se a letra S: 1) Nas palavras formadas a partir de outras em que j existe S: Vaso (vasilhame, vasilha, envasar) Anlise (analisador, analisar) 2) Nos sufixos s, -esa (para indicar nacionalidade e ttulos de nobreza): noruegus, norueguesa, francs, francesa, duquesa, baronesa. 3) Nos sufixos ense, -oso, -osa (formadores de adjetivos) paranaense, amoroso, bondosa. 4) Nos sufixos isa (indica ocupao feminina): profetisa, sacerdotisa, poetisa. 5) Aps ditongos: lousa, pausa, ausncia. 6) Nas formas do verbo pr e seus derivados e do verbo querer: pus, pusera, repus, repusemos, compusemos, quis, quisemos, quisesse, quiser... Usa-se a letra Z: 1) Nas palavras derivadas de outras que j existe o Z: Deslize (deslizar, deslizante). Razo (razovel, arrazoar).
30
2) Nos sufixos ez, -eza (formadores de substantivos abstratos a partir de adjetivos): rijeza (rijo) rigidez (rgido) nobreza (nobre), surdez (surdo), escassez (escasso) singeleza (singelo) 3) Nos sufixos terminados em izar (formador de verbos): civilizar, realizar, hospitalizar, atualizar, economizar.
S, C, , X SC, S, SS, XC, XS.
Este o caso mais complicado, pois todas essas letras podem produzir o mesmo som. S de sapo, de moa, C de cebola, X de mximo, e os dgrafos SS de passo, SC de nascer, S de cresa, XC de excelente produzem o mesmo som. Observem estes pares de verbo e substantivo: ASCENDER, ASCENSO COMPREENDER, COMPREENSO SUSPENDER, SUSPENSO ESTENDER, EXTENSO APREENDER, APREENSO Voc deve ter percebido uma correlao entre o grupo ND dos verbos e o grupo NS dos substantivos. Portanto, em caso de dvida, procure se lembrar do verbo a que est relacionado o substantivo. Do mesmo modo, note a relao entre TER e TENO em nomes formados a partir de verbos: RETER, RETENO DETER, DETENO OBTER, OBTENO H igualmente correspondncia entre o grupo CED, em verbos, e o grupo CESS, em substantivos: CEDER, SESSO CONCEDER, CONCESSO EXCEDER, EXCESSO ACEDER, ACESSO A letra X. Vimos casos em que duas letras correspondem a um nico som. No entanto, h casos em que a letra x pode simbolizar dois sons ao mesmo tempo, soando como KS. o que ocorre nos exemplos: clmax, fixo, sexo, paradoxo, txi, anexo.
31
A separao de slabas: 1) a separao de slabas de um vocbulo se faz por soletrao: ex-tra-or-di-n-rio . 2) separam-se as letras dos dgrafos: RR , SS , SC , XC , XS: ca-chor-ro , cres-cer . 3) separam-se alguns encontros consonantais: ad-vo-ga-do , cas-trar , pers-pec-ti-va . 4) no podem ser separados os ditongos: mai-o , cau-o . 5) no podem ser separados dos tritongos: Pa-ra-guai, i-guais. 6) no podem ser separados os dgrafos: CH , LH, NH ,QU ,GU: ca-cha-a, que-ri-do . 7) no podem ser separados o M e o N que so nasalizados: pen-te, pom-ba . 8) no podem ser separados os grupos consonantais que iniciam vocbulos: psi-c-lo-go, broto. 9) no podem ser separados os grupos consonantais em que a segunda consoante L ou R: im-pli-car, qua-dro. O uso do Hfen. 1) nas palavras compostas que obedecem regra de composio: pra-choque, p-de-meia, boto-cor-de-rosa , matria-prima, guarda-chuva . 2) para ligar os pronomes oblquos que so pospostos ou no meio das formas verbais com as quais eles se relacionam: vem-no, ouvi-lo, disseram-me, ach-lo-ei, amar-te-ei.
ACENTUAO GRFICA
Para melhor entendermos as regras de acentuao, faz-se necessria uma reflexo sobre a estrutura interna do vocbulo, considerando sua quantidade de slabas e a posio da slaba tnica.
QUANTIDADE DE SLABAS Quanto ao nmero de slabas, os vocbulos so classificados em:
a) b) c) d)
monosslabos (1 slaba): mar, m, p, cu, .........................,........................., ......................... disslabos (2 slabas): marca, voc, corte, ...........................,........................., ......................... trisslabos (3 slabas): arqueiro, prefeito, rvore, .......................,......................, ...................... polisslabos (mais de 3 slabas): ventilador, camaradagem, ...........................,......................., .........................
32
Aplicando a teoria Preencha o quadro com um exemplo de cada solicitao. Um substantivo comum que seja monosslabo Um substantivo prprio disslabo Um substantivo prprio trisslabo Um substantivo prprio polisslabo
_____________________________________ POSIO DA SLABA TNICA _____________________________________
Em uma palavra, nem todas as slabas so proferidas com a mesma intensidade e clareza. Em slido, barra e poder, h uma slaba que se sobressai s demais por ser proferida com maior esforo muscular e nitidez e, por isso, ela chamada de slaba tnica: slido, barra e poder. As outras slabas so tonas. Vale lembrar que nem toda slaba tnica recebe acento grfico: agudo (), circunflexo (). Observe a diviso de slabas da palavra aprendizado: APRENDIZADO : a-pren-di-za-do ltima slaba: do Penltima slaba: za Antepenltima slaba: di A slaba tnica .................... e as demais so tonas.
Em portugus, quanto posio da slaba tnica, os vocbulos so classificados em: a) oxtonos: a slaba tnica a ltima. Ex.: comer, at, ali, caju, ....................., ......................... b) paroxtonos: a slaba tnica a penltima. Ex.: parte, dente, trax, ....................., ................ c) proparoxtonos: a slaba tnica a antepenltima. Ex.: tomo, felicssimo, ............................
Aplicando a teoria Encontre, no poema Colar de Carolina, os vocbulos solicitados no retngulo:
COLAR DE CAROLINA
Ceclia Meireles
a) 2 palavras oxtonas: .............................. .............................. b) 2 palavras paroxtonas: .............................. .............................. c) 1 palavra paroxtona que seja polisslaba: ............................... d) 1 palavra paroxtona que seja trisslaba: ..................................
Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal,
33
torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, pe coroas de coral nas colunas da colina.
_____________________________________ REGRAS DE ACENTUAO _____________________________________
Quando houver dvidas se a palavra deve ou no receber acento grfico, identifique: a quantidade de slabas da palavra (Uma slaba? Duas? Trs?); a slaba tnica (ltima, penltima, antepenltima). Em seguida, observe as regras abaixo:
1. MONOSSLABAS So acentuadas as terminadas em: -a (s): j, l, vs -e (s): f, l, ps -o (s): d, n, ss, ps 2. OXTONAS So acentuadas as palavras oxtonas terminadas em: -a (s): caj, anans, Maring -e (s): beb, caf, pontaps -o (s): cip, av, carijs -em (ens): tambm, vintns, armazm, armazns 3. PAROXTONAS LEMBRE-SE So acentuadas as palavras paroxtonas terminadas em: -i (s): jri, lpis, tnis -us: vnus, vrus, bnus No so acentuadas as paroxtonas -r: carter, revlver, ter terminadas em: -l: til, nvel, txtil -x: trax, fnix, nix - em ens: hfen hifens; -n: den, hfen -um (uns): lbum, lbuns, mdium - os prefixos paroxtonos terminados em -o (s): rfo, rfos, rgos i : anti-histrico; - (s): rfs, m -ps: bceps, frceps - os prefixos paroxtonos terminados em ditongo: rdio, memrias, histria r : inter-helnico, super-homem.
34
4. PROPAROXTONAS Todas as palavras proparoxtonas so acentuadas. Ex.: clido, lmpido, cmodo.
5. OUTRAS OCORRNCIAS: Tambm se acentuam: os ditongos abertos: i, u, i. Ex.: cu, chapu. o i e u tnicos hiatos, quando aparecem sozinhos na slaba ou seguidos de s. Ex.: sa//de, pa/s. a 1a vogal do hiato o(s) final. Ex. vo, enjo, coro. a 1a vogal do hiato em dos verbos dar, crer, ler, ver e seus derivados na 3a pessoa do plural. Ex. Eles lem, vem e crem no que est acontecendo./ Que eles dem sua opinio.
NO se acentua vogal formadora de hiato seguida de nh (ra/i/nha) ou acompanhada de consoante que no seja o s: ju/iz, ca/ir. O QUE ? Ditongo: vogal e semivogal pronunciadas em uma s slaba: pai, srio, leite. Semivogal a vogal que pronunciada com menor fora.
Hiato: a seqncia de duas vogais pronunciadas em slabas diferentes: sa--va; ru-im.
EXERCCIOS
1) Leia este texto para responder s questes que o sucedem:
PLIM-PLIM
Ulisses Tavares
cheguei em casa com a cabea cheia de grilos. mas no deu no jornal nacional e a famlia no ficou sabendo.
a) Classifique as palavras sublinhadas quanto ao nmero de slabas. b) Circule a slaba tnica das palavras seguintes. Em seguida, classifique, de acordo com a posio da slaba tnica, quais so oxtonas, paroxtonas e proparoxtonas. CASA: ............................................... CABEA: .......................................... JORNAL: ........................................... NACIONAL: .......................................
35
2) Seu nome recebe ou no acento? Baseando-se nas regras de acentuao, explique o motivo da ausncia ou da presena do acento em seu nome. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
IMPORTANTE
O verbo TER na 3a pessoa do presente do indicativo monosslabo tnico terminado em em. Pela regra dos monosslabos, no deveria ser acentuado. Entretanto, acentua-se a forma da 3a pessoa do plural para diferenci-la da forma do singular. Observe: Ele tem segredos. = Eles tm segredos.
3) Partindo da explicao no quadro anterior, utilize, de forma adequada: tem ou tm. a) __ Voc no ......................... uma camisa social branca!? Mas os seus irmos .......................... Pegue uma emprestada. b) __ Jlia, voc e suas irms ......................... roupas e sapatos de festa para a formatura? __ A Cludia ........................., mas a Lcia e eu, no.
4) Os acentos das palavras dos versos abaixo, do poeta Srgio Caparelli, foram retirados. Identifique tais palavras e acentue-as.
praa da Se eu vou a pe comendo banana mascando chicle.
[...] E para casa Vou de metro Dizendo segredos Pro meu avo.
Um navio que afundou bem no meio do Atlantico la no fundo encontrou um velho transatlntico: __ A bno, meu vovo!
5) Das frases abaixo foram retirados os acentos das palavras proparoxtonas. Identifique-as e acentue-as corretamente. a) b) c) d) e) Parati uma cidade maritima que pertence ao Rio de Janeiro. O diagnostico do clinico geral foi decisivo na internao do paciente. Computadores so mais praticos que as maquinas de escrever? O hipopotamo um animal que precisa viver proximo da gua. Chega de duvidas! Tome o primeiro onibus e v at biblioteca!
6) H, a seguir, pares de palavras. Acentue as paroxtonas que devem ser acentuadas. a) saci taxi b) urubus Venus c) medium algum d) nuvem hifen e) orfs irms f) carater temer g) tonel incrivel h) futil sutil i) orgo soluo
36
7) D o plural das palavras a seguir, atentando para a acentuao: a) b) c) d) carretel: .......................................... anel: ............................................... papel: ............................................. coronel: .......................................... e) lenol: ............................................ f) terol:.............................................. g) pastel: ............................................
8) Complete as frases como verbo indicado entre parnteses no presente do indicativo. a) b) c) d) e) A ferrugem ................................. a lataria do carro. (corroer) O aougueiro .................................a carne duas vezes para fazer as almndegas. (moer) Quando lavo as mos com sabonete, meu ferimento ................................. (doer) O rato ................................. livros, revistas e jornais. (roer) O marceneiro ................................. os mveis e os cupins os ................................. (construir / destruir)
9) Use o acento diferencial (explicao abaixo deste exerccio) para acentuar, quando necessrio, as palavras em negrito. Observe o significado dos vocbulos no contexto em que aparecem. a) Eu exercito meu ingls todos os dias, conversando com meus pais. b) Quando eu estava no exercito, sofria muito. c) Espero que voc analise meu trabalho com ateno, pois acho que fiz uma analise incompleta da situao. d) Eu no publico h mais de dois anos, embora tenha publico para meus poemas. e) Voc sempre cai. Eu tambm escorreguei no tapete, cai de mau jeito e torci o p. f) Voc sabe qual a distancia entre Maring e Campo Mouro? g) Com essas atitudes, o Carlos cada vez mais se distancia da esposa.
IMPORTANTE ACENTO DIFERENCIAL : Acento que diferencia palavras que tm a mesma grafia. A palavra SECRETARIA deve ser acentuada ou no? Primeiro preciso saber, pelo contexto, se se trata da palavra secretria (mulher que faz o secretariado) ou secretaria (departamento onde se faz o expediente de uma empresa ou verbo secretariar). Em seguida, acentuaramos a palavra dependendo da tonicidade de suas slabas e de sua terminao. Exemplos: Datilgrafo: pessoa que datilografa. Datilografo: verbo datilografar. O datilgrafo da empresa bom, ele datilografa rpido. Eu datilografo melhor que a secretria.
Sabia: verbo saber. Eu sabia fazer clculos complexos. Sabi: passarinho. O sabi canta alto. Sbia: pessoa que sabe muito. A minha av sbia, j viveu muito e correu o mundo.
37
10) Acentue os nomes dos pases abaixo, quando necessrio, e justifique o acento, seguindo a legenda. ( 1 ) Palavras monosslabas tnicas terminadas em a(s), e(s), o(s), so acentuadas. ( 2 ) Oxtonas terminadas em a(s), e(s), o(s), em(ens) so acentuadas. ( 3 ) Paroxtonas terminadas em ditongo so acentuadas. ( 4 ) Paroxtonas terminadas em o(s), ei(s), us, um (uns), i(s) so acentuadas. ( 5 ) Paroxtonas terminadas em r, x, n, l, ps, so acentuadas. ( 6 ) Todas as proparoxtonas so acentuadas. ( 7) O i e u tnicos hiatos, quando aparecem sozinhos na slaba ou seguidos de s, so acentuados. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Canada Italia Peru Grecia Colombia Equador Suia Suecia Mexico Austria Finlandia Boliva
CRASE
Crase um fenmeno fontico que se estende a toda fuso de vogais iguais, e no s ao a acentuado. Exemplos:
Teu pensamento, como o sol que morre, h de cismando mergulhar-se em mgoas
(Casimiro de Abreu) Quando um a se une a outro a, temos um fenmeno de crase marcado por um sinal, que o acento grave. Ex.: Fui loja de Maria. Assim, acento grave o nome do acento (`) que o a recebe quando est em fuso com outro a. Mas de onde vem tanto a? Um a uma preposio exigida por um verbo: ir a; referir-se a; falar a; dirigir-se a; custar a (ser difcil); obedecer a; responder a; ou por um nome: desfavorvel a; hostil a; horror a; prejudicial a; necessrio a; prximo a. O outro a o artigo feminino que acompanha uma palavra do gnero feminino. O verbo ou o nome que precisam da preposio a sero chamados de termo regente. A palavra que vai completar o termo regente ser chamada de termo regido. Observe:
38
Termo regente Termo regido verbo que exige a preposio a + palavra feminina acompanhada pelo artigo a
Vou a + a cidade de Santos. Vou cidade de Santos.
_____________________________________ REGRAS PARA USO DO ACENTO GRAVE _____________________________________
Usa-se acento grave:
quando o termo regente se utilizar de preposio a e o termo regido for feminino. Ex.: Obedeceu vontade dela. Obedeceu a + a vontade dela. Termo regente termo regido feminino nas indicaes de horas. Ex.: O expediente comea s 8h. / Chego, toda madrugada, uma da manh. em locues formadas de substantivos femininos. Ex.: medida de; s vezes; s pressas; s claras; s escondidas; s ocultas. na expresso moda(de), ainda que a palavra moda esteja subentendida. Ex.: Ele escreve Machado de Assis. nas formas quele(s), quela(s), quilo (resultantes da contrao da preposio a com o a inicial dessas palavras). Ex.: Referiu-se quela que estava do seu lado. (Referiu-se a + aquela...) Vamos quele museu da Avenida Paulista?
NO se usa acento grave:
antes de palavra masculina. Ex.: Prefiro cerveja a vinho. / Vou a p ao colgio. / Viajou a cavalo. antes de verbo. Ex.: Estava disposta a colaborar. antes de pronomes que no admitem artigo a. Ex.:: Referiram-se a ns ontem? Ou foi a ela? antes de nomes de lugares que no admitem artigo a. Ex.:: Fui a Roma.
39
antes de palavras no plural que no so definidas pelo artigo no plural as. Ex.:: Ele no foi a vrias reunies. em expresses formadas por palavras repetidas: frente a frente, cara a cara, ponta a ponta. Ex.: Tome o remdio gota a gota. antes de nmero considerado em sentido genrico. Ex.: O nmero de prmios chegou a dez.
OPCIONAL
O uso do acento grave facultativo: antes de pronomes possessivos femininos. Ex.: Desejo felicidades sua irm./ Desejo felicidades a sua irm. antes de nomes prprios femininos. Ex.: Desejo felicidades Luciana./ Desejo felicidades a Luciana. quando antecedido por at. Ex.: A festa ir at as 23 horas. / A festa ir at s 23 horas. At a volta. / At volta.
DIVERGNCIAS ENTRE ESTUDIOSOS
Para diversos estudiosos da lngua, o a deve ser usado com acento grave nas locues que designam meio, instrumento e em situaes que a tradio lingstica exige. Ex.: S vendia vista. Escrevia melhor mo que mquina. Feriu o inimigo bala. Fechou a porta chave. Fez o trabalho fora. Ps a casa venda. Os que so contrrios a esses usos acima citados apontam como justificativa o fato de que, se a palavra para substituir a feminina for masculina, no possvel usar-se ao, no lugar do , mas apenas a preposio a. Por exemplo, diz-se: Pagamento a prazo. (e no ao prazo) Feriu o inimigo a tiro. (e no ao tiro) Os defensores da crase nos casos mencionados argumentam que o acento, naqueles casos, d clareza frase e corresponde a um acento diferencial, para evitar duplo sentido. Assim, segundo essa tica, Pr a venda, sem crase, poderia dar a entender que a pessoa vai cobrir os olhos com uma faixa. Vender a vista poderia significar a negociao de um olho com algum. Diante desses argumentos, h os gramticos que consideram tais usos facultativos. Um conselho?
40
ADOTE a crase pelo menos nas locues em que essa prtica se consagrou, como: venda; vista; mo; mquina; chave; fora. J com bala, faca, espada, etc., veja se h possibilidade de confuso. Se houver, recorra crase. Se no, pode deixar o a sem o acento.
EXERCCIOS
1) Marque o acento grave quando for necessrio. Em seguida, indique se o uso do acento obrigatrio (o), facultativo (f) ou proibido (p):
a) ( b) ( c) ( d) ( e) ( f) ( g) ( h) ( i) ( j) (
) Juliana no foi as vrias reunies. ) Juliana no foi a vrias reunies. ) A bruxa foi condenada a fogueira. ) A bruxa foi condenada a dormir em uma jaula. ) Estou disposta a colaborar. ) Respondeu as pressas. )( )( )( )( ) Chegamos a noite. Chegamos as 7h30. ) Refiro-me a voc, Fran, e a sua me tambm. ) Sentou-se a direita, sentou-se a meu lado. )( )( ) Fui a Bahia, a Campinas, a So Jorge do Iva e a Ilha do Mel, em apenas
trs meses!
2) No anncio abaixo, a regncia do verbo RESISTIR exige a preposio a. Por que no ocorre a crase nesse caso?
VOC NO VAI RESISTIR A ESTA DELCIA
41
3) Justifique a ocorrncia de crase antes de BAHIA e a no ocorrncia de crase antes de Minas Gerais, So Paulo e Gois.
BEM-VINDO A MINAS GERAIS BEM-VINDO BAHIA BEM-VINDO A GOIS
BEM-VINDO AO CEAR
At parece que o Brasil sabia que ia chegar a Nova Parati
BEM-VINDO A SO PAULO
BEM-VINDO AO RIO DE JANEIRO
BEM-VINDO AO RIO GRANDE DO SUL
REGNCIA VERBAL
SCIENCE FICTION
Carlos Drummond de Andrade O marciano encontrou-me na rua e teve medo de minha impossibilidade humana. Como pode existir, pensou consigo, um ser que no existir pe tamanha anulao de existncia? Afastou-se o marciano, e persegui-o. Precisava dele como de um testemunho. Mas, recusando o colquio, desintegrou-se no ar constelado de problemas. E fiquei s em mim, de mim ausente.
**************************************************************
H verbos e nomes, na lngua portuguesa, que exigem a presena de outros termos na orao a que pertencem. Observe os termos sublinhados no texto e responda: a) o verbo encontrar precisou do complemento: ......................... b) o verbo precisar necessitou do complemento: ........................ c) o substantivo medo exigiu o complemento: ............................................................................ Quando um termo verbo ou nome exige a presena de outro para formar um sentido, ele se chama termo regente; os que completam a sua significao chamam-se termos regidos. Damos o nome de regncia relao de subordinao que se estabelece entre o termo regente e o termo regido. Quando o termo regente um verbo, temos a regncia verbal.
42
preposio Gosto termo regente de sorvete. termo regido Bebi termo regente gua. termo regido
importante observar que a mudana da regncia verbal pode alterar o sentido do verbo. Exemplos: Ele aspirou o perfume das flores. (aspira alguma coisa = inspirar, cheirar) Ele aspirou ao cargo de chefe. (aspirar a = desejar, pretender) Eu quero uma assinatura de TV a cabo. (querer alguma coisa = desejar) Eu quero a meus pais e irmos. (querer a = estimar, querer bem) IMPORTANTE Note essas denominaes: verbo intransitivo: verbo que no exige complemento na orao. Ex. Lara saiu. verbo transitivo direto: verbo que exige complemento, mas esse complemento no vem acompanhado por preposio. Ex.: Lara vendeu o carro. verbo transitivo indireto: verbo que exige complemento com preposio para formar uma orao com sentido. Ex.: Lara gosta de verduras.
Ex.: O enfermeiro passou. Verbo intransitivo O enfermeiro passou um cheque. Verbo transitivo direto A secretria escreveu um bilhete. Verbo transitivo direto A secretria escreveu para si mesma. Verbo transitivo indireto A secretria escreveu um bilhete para si mesma. Verbo transitivo direto e indireto
PREPOSIES: tm papel decisivo na conexo entre palavras e oraes. A ante aps at com contra de Em entre para perante por(per) sem sob Combinaes: a+o(s): ao(s) Contraes: de+o(s): do(s) de+a(s): da(s) a+a(s): (s)
desde sobre
a+onde: aonde em+o(s): no(s) per+o(s):pelo(s) de+esse(s): desse(s) em+a(s): na(s) per+a(s):pela(s) de+essa(s): dessa(s) em+aquela(s): aquela(s) em+aquele(s): aquele(s)
_____________________________________ REGNCIA DE ALGUNS VERBOS _____________________________________
Abusar: transitivo indireto, exige preposio de, no sentido de usar mal, usar em excesso.
Abusava de perfumes, sua roupa branca recendia a sndalo. Na Sua, abusou do chocolate e nunca mais o comeu.
43
Agradecer: quando tem por complemento uma palavra que denote coisa, no exige preposio. Quando o complemento denotar pessoa, exige a preposio a.
Agradea o convite ao palestrante. Agradea a sua me e ao seu pai.
Assistir: transitivo direto, com o sentido de dar assistncia, dar ajuda.
Uma junta mdica assistiu o paciente. no sentido de ver, presenciar como espectador, exige complemento com a preposio a. Assistimos a um filme interessante. Assisti ao jogo de futebol domingo.
Chegar / ir: so intransitivos.
Carla chegou. Joo j foi. quando indicam lugar, exigem a preposio a. Cheguei tarde ao cinema. / Cheguei tarde galeria. Vou ao parque. / Vou mercearia.
Esquecer / lembrar: so transitivos diretos quando estiverem desacompanhados do
pronome se. Caso o se esteja presente, precisam da preposio de. O rapaz esqueceu a chave do carro no banco. O rapaz esqueceu-se das chaves. Ns lembramos tudo o que houve. Lembrei-me do livro.
Implicar: no sentido de acarretar, exige complemento sem preposio.
Tal atitude implicar sua demisso. A divulgao prvia dos gabaritos implicar a anulao da prova.
Morar (para residir): exige a preposio em.
Ele mora em Campina Grande. Ela mora em Curitiba.
Obedecer / desobedecer : exige complemento com a preposio a.
O garoto desobedeceu a seus pais e ficou de castigo. necessrio que motoristas e pedestres obedeam s leis de trnsito.
44
Pagar / Perdoar: quando tm por complemento uma palavra que denote coisa, no exigem preposio. Quando tm por complemento uma palavra que denote pessoa, exigem a preposio a.
Paguei o livro. (coisa) Paguei ao livreiro. (pessoa) Paguei o livro ao livreiro. (coisa e pessoa) Perdoei a ofensa. (coisa) Perdoei ao ofensor. (pessoa)
Preferir: transitivo direto e indireto. Assim, o 1o complemente vem sem preposio, mas o 2o vem com a preposio a.
Prefiro estudar a trabalhar. Prefiro cinema a teatro.
Proceder: verbo intransitivo, no sentido de ter fundamento.
Aqueles boatos no procediam. no sentido de originar-se, vir de algum lugar, exige a preposio de. O avio procede de Roma. Todos os males procedem da hipocrisia. no sentido de executar, realizar, exige a preposio a. Procederemos a um inqurito. To logo a votao se encerre, procederemos s apuraes. Querer: no sentido de desejar, exige complemento sem preposio. Eu quero uma casa no campo. no sentido de estimar, ter afeto, exige a preposio a. Quero a meus pais e irmos. Quero a meus colegas.
Respeitar: transitivo direto, o complemento no vem com preposio.
Na selva, todos os animais respeitam o leo.
Visar: transitivo direto no sentido de mirar ou pr visto.
O atirador visou o alvo e... errou! No posso viajar agora, pois ainda no visei o passaporte. transitivo indireto quando significa ter em vista, pretender, exige a preposio a. Ele est se especializando em computao, porque visa a uma promoo.
EXERCCIOS
1) Reescreva as frases seguintes, completando-as com a preposio adequada, quando necessrio.
45
a) b) c) d)
O garoto no respeitava ......os professores nem obedecia ......o regulamento escolar. Estudo com afinco e dedicao porque viso ......uma vida melhor. Hoje estou muito cansada. Quero colocar um pijama e assistir ...... televiso. Filho, no abuse ...... minha pacincia que ela tem limites. No desobedea mais ...... seus pais. e) O jogador visou ...... o espao entre a trave e o goleiro e... tum! Gooooool!
2) Utilizando a regncia adequada, substitua o verbo em negrito pelo que est entre parnteses. a) Ela no acatou as minhas ordens. (obedecer) Ela no .................................... minhas ordens. (obedecer) b) Troco a fama pelo sossego. (preferir) .................................... a fama .............. sossego. (preferir) c) Eu e meus amigos vimos essa pea de teatro. (assistir) Eu e meus amigos .................................... essa pea de teatro. (assistir) d) O caador mirou o pssaro que voava. (visar) O caador .................................... o pssaro que voava. (visar) e) Vov ama muito essa criana. (querer). Vov .................................... muito essa criana. (querer).
46
REFERNCIAS BECHARA, Evanildo. Moderna gramtica portuguesa. 37.e. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999. CEREJA, William Roberto; MAGALHES, Thereza Cochar. Gramtica: texto, reflexo e uso. So Paulo: Atual, 1998. CIPRO NETO, Pasquale. Portugus com o professor Pasquale Ortografia - So Paulo : Publifolha, 2000. INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prtico de leitura e redao. 5.ed.So Paulo:Scipione, 1998. MARTINS, Eduardo. Com todas as letras: o portugus simplificado. So Paulo: Moderna, 1999. TUFANO, Douglas. Estudos de lngua portuguesa: minigramtica com numerosos exerccios. So Paulo: Moderna, VAL, Maria da Graa Costa. Redao e textualidade. So Paulo: Martins Fontes, 1991
Você também pode gostar
- Apostila - Barra Dos Coqueiros - Professor PDFDocumento420 páginasApostila - Barra Dos Coqueiros - Professor PDFSuzana MazettiAinda não há avaliações
- Slides - Comunicação Oral e EscritaDocumento42 páginasSlides - Comunicação Oral e EscritaMayra Sielemann100% (2)
- Produção de Texto 02Documento36 páginasProdução de Texto 02Rangel BatistaAinda não há avaliações
- 02 Lingua InglesaDocumento96 páginas02 Lingua InglesaStéfany LopesAinda não há avaliações
- Apostila Leitura e Interpretação 2022Documento38 páginasApostila Leitura e Interpretação 2022Thiago SouzaAinda não há avaliações
- 02 Lingua InglesaDocumento96 páginas02 Lingua InglesaKaroliny GomesAinda não há avaliações
- 02 Lingua InglesaDocumento96 páginas02 Lingua InglesaMessias LeandroAinda não há avaliações
- Apostila Inglês Instrumental IiiDocumento44 páginasApostila Inglês Instrumental IiiWlhyane FernandesAinda não há avaliações
- 02 Lingua InglesaDocumento96 páginas02 Lingua InglesaGabriel SouzaAinda não há avaliações
- 02 Lingua InglesaDocumento96 páginas02 Lingua InglesaThaynara Sant'anaAinda não há avaliações
- Expressão Escrita CPCAEMDocumento14 páginasExpressão Escrita CPCAEMnegociador45100% (2)
- 02 Ingles PDFDocumento89 páginas02 Ingles PDFSLS FelixAinda não há avaliações
- Concurso Língua Portuguesa - CEMIGDocumento125 páginasConcurso Língua Portuguesa - CEMIGsilvaAinda não há avaliações
- Warm Up Ingles InstrumentalDocumento39 páginasWarm Up Ingles InstrumentalFernanda MaisaAinda não há avaliações
- Diretrizes para LeituraDocumento7 páginasDiretrizes para LeituraindicablogAinda não há avaliações
- INGLES 8A 1B EFRegularRev - AutorDocumento20 páginasINGLES 8A 1B EFRegularRev - AutorMichel TellesAinda não há avaliações
- 05 Conhecimento InglesDocumento124 páginas05 Conhecimento InglesAlberti PaixãoAinda não há avaliações
- 02 Lingua InglesaDocumento96 páginas02 Lingua InglesaDanniel AraujoAinda não há avaliações
- 02 Apostila Versao Digital Lingua Inglesa 052.326.726!65!1643029015Documento107 páginas02 Apostila Versao Digital Lingua Inglesa 052.326.726!65!1643029015Silmara CunhaAinda não há avaliações
- 04 Apostila Versao Digital Lingua Inglesa 419.598.438!69!1541784613Documento77 páginas04 Apostila Versao Digital Lingua Inglesa 419.598.438!69!1541784613Antonia Darc de SousaAinda não há avaliações
- Modulo - Fundamentos Da Língua PortuguesaDocumento108 páginasModulo - Fundamentos Da Língua PortuguesaRaquel LimaAinda não há avaliações
- Livro Como o Cérebro Processa Os Sons Das Palavras Que Ouvimos ADocumento61 páginasLivro Como o Cérebro Processa Os Sons Das Palavras Que Ouvimos AJosi Mota100% (1)
- 01 Lingua PortuguesaDocumento76 páginas01 Lingua PortuguesaIcaro NobreAinda não há avaliações
- Livro PRATICAS DE LINGUAGEMDocumento232 páginasLivro PRATICAS DE LINGUAGEMElaine Batista Corrêa LeiteAinda não há avaliações
- E Book Tire Mil Na Redação Do ENEM 2021 NovoDocumento30 páginasE Book Tire Mil Na Redação Do ENEM 2021 NovocristianecarvalhoAinda não há avaliações
- Modulo I - InglesDocumento51 páginasModulo I - InglesRenata Pereira Dos SantosAinda não há avaliações
- Guia Definitivo de Interpretação de TextosDocumento12 páginasGuia Definitivo de Interpretação de TextosEntrelinhas Curso100% (2)
- 4º TRIMESTRE Inglês 10Documento20 páginas4º TRIMESTRE Inglês 10ScribdTranslationsAinda não há avaliações
- 4º Período PET Volume 2Documento62 páginas4º Período PET Volume 2Tanys AlbanoAinda não há avaliações
- 02 Lingua InglesaDocumento97 páginas02 Lingua Inglesaandre nascimentoAinda não há avaliações
- Slides Ingles Instrumental PARTE 1Documento59 páginasSlides Ingles Instrumental PARTE 1Ana Karyelle CoutinhoAinda não há avaliações
- Ebook PregTransf Modulo15Documento48 páginasEbook PregTransf Modulo15Chico Bruno Santos100% (2)
- Ingles InstrumentalDocumento72 páginasIngles InstrumentalIFÁC EDUCACIONALAinda não há avaliações
- Apostila 3 AnoDocumento49 páginasApostila 3 AnoAline Takahara100% (1)
- 01 Lingua Portuguesa PDFDocumento102 páginas01 Lingua Portuguesa PDFFlavia PegoraroAinda não há avaliações
- Dicas de Produtividade No EstudoDocumento13 páginasDicas de Produtividade No EstudoLuanaEckertAinda não há avaliações
- 01 Lingua Portuguesa 2Documento83 páginas01 Lingua Portuguesa 2henrique limaAinda não há avaliações
- 5ano V2 P7-Corrigido 21 07 2020Documento135 páginas5ano V2 P7-Corrigido 21 07 2020ProfDr Wamberto Nunes Soares MouzinhoAinda não há avaliações
- Class 2 - Material ExtraDocumento8 páginasClass 2 - Material Extrapablolucassm20Ainda não há avaliações
- 1 Lingua PortuguesaDocumento96 páginas1 Lingua PortuguesaCaroline santosAinda não há avaliações
- Caixa Tecnico Bancario Novo Apostila C 4294833 1Documento1.346 páginasCaixa Tecnico Bancario Novo Apostila C 4294833 1Delly SantosAinda não há avaliações
- COSCARELLI (2002) - Entendendo A Leitura (ARTIGO)Documento21 páginasCOSCARELLI (2002) - Entendendo A Leitura (ARTIGO)LuisaAinda não há avaliações
- ApostilaDocumento27 páginasApostilaianyriosAinda não há avaliações
- Ing m2d3 tm02 (Leitura)Documento18 páginasIng m2d3 tm02 (Leitura)Stepheson AraújoAinda não há avaliações
- REDAÇÃO DESCOMPLICA-wordDocumento63 páginasREDAÇÃO DESCOMPLICA-wordDiego Ciência50% (2)
- Oficina de Leitura Entendendo A LeituraDocumento59 páginasOficina de Leitura Entendendo A LeituraMarcos OliveiraAinda não há avaliações
- Leitura E Comunicação: Série Aprendizagem IndustrialDocumento65 páginasLeitura E Comunicação: Série Aprendizagem IndustrialKauã EsdrasAinda não há avaliações
- 02 Apostila Versao Digital Lingua Inglesa 007.259.760 71 1640008927Documento107 páginas02 Apostila Versao Digital Lingua Inglesa 007.259.760 71 1640008927FRANCE VIEIRAAinda não há avaliações
- Como Fazer ResumoDocumento6 páginasComo Fazer ResumoRicardoAinda não há avaliações
- Banco Do Brasil 2021 Apostila de Língua Inglesa - INVICTUSDocumento97 páginasBanco Do Brasil 2021 Apostila de Língua Inglesa - INVICTUSPRONEDUQ Bolsa de Estudos100% (1)
- EDVSQyy 9 N8 e UZsn Bu 7 DX FRM 3 Me F1 M 5 CC 9 DLaofdfDocumento43 páginasEDVSQyy 9 N8 e UZsn Bu 7 DX FRM 3 Me F1 M 5 CC 9 DLaofdfJucelia Rodrigues De MelloAinda não há avaliações
- 1 - Lingua Portuguesa RevisãoDocumento2 páginas1 - Lingua Portuguesa RevisãoRaul SilvaAinda não há avaliações
- 16285916022012inglês Instrumental Aula 3Documento10 páginas16285916022012inglês Instrumental Aula 3glendataynara32Ainda não há avaliações
- EF1 1ano V2 PFDocumento130 páginasEF1 1ano V2 PFGustavo Da rochaAinda não há avaliações
- Como Ler, Entender e Redigir Um TextoDocumento103 páginasComo Ler, Entender e Redigir Um TextoparhaguaikAinda não há avaliações
- Leitura, Produção De Texto E InterpretaçãoNo EverandLeitura, Produção De Texto E InterpretaçãoAinda não há avaliações