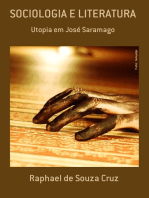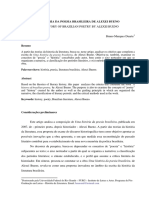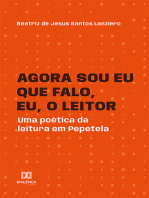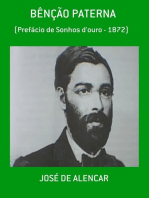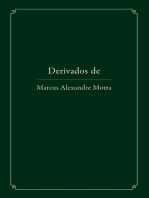Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Formalismo Russo
O Formalismo Russo
Enviado por
Ana Luíza DrummondDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Formalismo Russo
O Formalismo Russo
Enviado por
Ana Luíza DrummondDireitos autorais:
Formatos disponíveis
+76 - ngoslo/98 3 6
Lm dos marcos da moderna teoria
literria encontra-se no ensaio A arte
como procedimento", escrito em 11
por \tor Chklovski. Fssa noo tornou-
se consensual aps os estudos de \ictor
Frlich nos Fstados Lnidos (1) e,
sobretudo, depois que um terico de
orientao marxista, Terry Fagleton, se
apropriou dos princpios do formalista
russo em sua 1.. /.. (1!),
atualmente o manual mais popular dessa
disciplina na nglaterra. Como se sabe,
Roman ]akobson, outro integrante funda-
mental do Formalismo, responsvel por
uma das teorias mais difundidas no
Ocidente: a idia de que a funo potica
da linguagem consiste na ambigidade
da mensagem mediante o adensamento
do significante, princpio desenvolvido a
partir de pressupostos de Chklovski.
De fato, Chklovski o desencadeador
da abordagem lingstica da literatura,
pois seu ensaio foi o primeiro a siste-
matizar a idia de lngua potica como
um desvio da lngua cotidiana. Da mesma
^ovimento que desencadeou uma abordagem
lingstica da literatura teve ]akobson e
Chklovski entre seus representantes e procurou
mostrar como o texto potico instaura a
conscincia formal do discurso literrio em seus
nveis semntico, sinttico e fonolgico
Serio doslncn ns principnis
londencins dn crlicn ilorrin
Forlunn Crlicn e umn serio do sois
nrligos do lvnn 1oixoirn sobro ns prin-
cipnis corronlos dn crlicn ilorrin o dns
loorins poelicns. C primoiro onsnio,
pubicndo no numoro 12 dn CLL1
(|uho), nbordou n roloricn do Arisloloos
o Quinliinno. C prosonlo loxlo doinoin
o lormnismo russo o, nos proximos
onsnios, soro nponlndns ns dirolrizos do
ncv cr|cm, do oslrulurnismo, do ncv
h|orcm o do dosconslrulivismo. lvnn
1oixoirn e prolossor do Dopnrlnmonlo do
ornnismo o Ldilorno dn LCA-LSP, co-
nulor do mnlorin didlico do Ango Vos-
libunros do So Pnuo (ondo ocionou
ilornlurn brnsioirn durnnlo mnis do 20
nnos) o nulor do Aprccn|ao dc
Machado dc A (Mnrlins Fonlos) o
Mcccna|o pombaIno c poca nco-
cIca (n snir pon Ldusp). 1om so do-
dicndo n odioos comonlndns do cs-
sicos - onlro oos ns Cbra poc|ca do
nsio dn Cnmn (Ldusp) o Poca do
Cnvo inc (Mnrlins Fonlos) - o dirigo
n cooo Cssicos pnrn o voslibunr,
dn Aloie Ldilorin.
forma, entende a lngua potica como
uma oposio ao cnone literrio domi-
nante. ntroduz, com isso, a noo de que
o valor artstico de uma obra decorre no
apenas de sua estrutura verbal, mas
tambm da maneira como lida. Con-
forme essa perspectiva, no existe valor
artstico em termos absolutos, pois
afirma que h obetos concebidos como
prosaicos e percebidos como poticos,
assim como h obetos concebidos como
poticos e percebidos como prosaicos.
Nesse sentido, o morfologista russo
instaura uma espcie de teoria da rela-
tividade na avaliao da arte, cua apre-
ciao necessariamente implica uma
teoria do conhecimento.
Chklovski define a arte como a singu-
larizao de momentos importantes. Fm
rigor, os momentos tornam-se impor-
tantes somente depois de submetidos ao
processo de singularizao artstica,
porque, na vida prtica, as coisas se tornam
imperceptveis em sua totalidade. ^o-
vido pela pressa e pelo empenho em
F C k 1 L N A C k 1 l C A 2
C FCkMALlSMC kLSSC
lvnn 1oixoirn
C inguisln russo komnn nkobson
4
A
F
H
@
K
ngoslo/98 - +76 3 7
imediatizar o cotidiano, o homem acaba
por perder a conscincia individual das
aes, dos obetos e das situaes. Por isso,
abreviam-se palavras, criam-se siglas,
desenvolvem-se esquemas para tornar
mais rpida a superao dos compro-
missos e dos contatos com as pessoas. A
lei da economia das energias reduz tudo
a nmeros ou a volumes sem identidade,
processo que obetiva o mximo de
rendimento com um mnimo de ateno.
Fsse processo - pensa Chklovski -
resulta na automatizao da vida psquica,
pois, em nome da rapidez, anula-se a
intensidade do ato de conhecer. Nele, as
coisas possuem importncia
apenas quando reconhecidas,
esvaindo-se o entusiasmo da
descoberta. O prprio conceito
de aprendizado pressupe o uso
automtico das noes e dos
movimentos. O simples fato de
uma ao se tornar habitual basta
para desencadear a inconscincia
em quem a executa.
Assim, a principal funo da
arte seria restaurar a intensidade
do conhecimento, promovendo
a virgindade dos contatos e o
encanto da descoberta. Nesse
sentido, o artista deve criar
situaes inditas e imprevistas,
em busca da restaurao do ato
de conhecer. Numa palavra, a finalidade
da arte gerar a desautomatizao,
mediante o estranhamento ou a singu-
larizao da estrutura que o artista
oferece a contemplao. $e algo aspira a
condio de enunciado artstico, precisa
ser dito de forma impressionante. Ao
contrrio do convvio cotidiano com as
coisas, o convvio com a arte deve ser
particularizado, dificultoso e lento.
Tomando o texto potico como meto-
nmia de arte, o morfologista russo
entende que a particularizao do texto
decorre de tcnicas especficas aplicadas
as palavras, em seus nveis semntico,
sinttico e fonolgico: instaura-se a
conscincia lingstica da literatura.
Desfaz-se, enfim, a concepo do
senso comum segundo o qual literatura
expresso imediata da vida, como se o
texto no fosse um simulacro conven-
cional de signos. Pela perspectiva desses
tericos, o desconforto dos enunciados
inovadores integra o complexo de pro-
priedades que atribuem valor esttico ao
texto. Nesse sentido, os seguintes versos
de $ousndrade servem de exemplo de
enunciado potico, cua decodificao
facilitar o conhecimento. Por isso, a
imagem devia ser mais simples do que
aquilo que explica. Por essa perspectiva,
a histria dos estilos e das escolas basear-
se-ia no estudo das imagens carac-
tersticas de cada autor nos diversos
perodos. Contrariando essas noes,
Chklovski negou a idia da imagem
como instrumento conhecido para se
atingir o desconhecido, assim como
demonstrou que os autores e as escolas
no criam as prprias imagens. Ao
contrrio, as imagens so essencialmente
as mesmas ao longo da histria, cabendo
aos perodos e aos respectivos autores
apenas a seleo de velhas ima-
gens em novas combinaes,
como ocorre nesses versos de
$ousndrade.
$egundo a teoria de
Chklovski, as imagens so um
dos dispositivos pelos quais o
poeta singulariza o texto, me-
diante a produo do estra-
nhamento, responsvel pela
dificuldade que atribui den-
sidade a percepo esttica.
Flas so uma das possveis
manifestaes da idia de
procedimento artstico, que o
conunto de atitudes rumo ao
desvio da linguagem comum
em favor do inslito e do im-
previsto. Fmbrionria em Aristteles,
essa idia dominou as preceptivas seis-
centistas, chegando at o sculo X\,
quando encontrou clara expresso em
^uratori, vertido para o portugus por
Francisco ]os Freire, em sua 4 /..
(1), onde se l que o poeta reveste suas
matrias de tal maneira e lhes d um tal
colorido que aparecem cheias de novi-
dade e de beleza, por virtude do mara-
vilhoso e esquisito artifcio, da vivacidade
da pintura e do novo ornato potico que
lhes deu".
pressupe um mnimo de vivncia com o
conceito de literatura enquanto orga-
nizao de signos:
L. ./ . /.. /. ./. /.
c/./. . /.. .o. ///.
D`.//.
Antes do ensaio de Chklovski, domi-
nava na Rssia a idia de que fazer arte
pensar por imagens, princpio defendido
pelo terico Potebnia e incorporado pelos
poetas simbolistas. Conforme esse prin-
cpio, a funo da imagem procurar
semelhana entre coisas diferentes para
C oscrilor onquim
do Sousn Andrndo
(1833-1902),
conhocido como
Sousndrndo, cu|n
poosin, pnrn sor
mohor onlondidn,
prossupoo umn
idein lormnisln
dn ilornlurn como
orgnnizno do
signos
+76 - ngoslo/98 3 8
Transcendendo os limites das figuras
e dos tropos, a concepo de proce-
dimento artstico de Chklovski pode
consistir em qualquer agudeza favorvel
ao estranhamento da disposio e da
elocuo da matria: qualquer escolha e
combinao que transmita a sensao de
surpresa e espanto. Dentre os inmeros
exemplos de procedimento literrio,
o morfologista menciona o caso da
novela K/./.o, de Tolstoi, em que
o ponto de vista no o de um ser
humano, mas o de um cavalo, cuas
observaes sobre os homens pro-
duzem um relato carregado de
imprevisibilidades. Na literatura
brasileira talvez o exemplo mais
evidente de procedimento artstico
bem-sucedido se encontra nas M-
o. //o. / 8. c//., em que
a perspectiva de um defunto res-
ponsvel pelo estranhamento do texto.
A abertura do captulo X de c
./. tambm se constri conforme
o princpio da singularizao, capaz
de conduzir o leitor ao centro da
narrativa:
E ... //.- . /. /.. .
oo. ..o/. o ,/ /./ . ./. ..
./ /o /. ,/ . /./. /. c.. !/
.o ./. /.. . /.
- 1./.:
- 1./.
- o/././, .// o o. ./.
- 1./. 4o . / / . .//. ,/
o././ /./ / o./ ` o..
O estranhamento provocado pelo
texto decorre sobretudo da incluso do
leitor no universo dos habitantes de
tagua, cuo espanto com o recolhimento
dos loucos fora to grande quanto com a
sbita libertao deles: conhecedor do
assombro em que vivia a cidade, o leitor
convidado a sentir o mesmo espanto dos
moradores, deixando a posio de espec-
tador para assumir o estatuto de per-
sonagem (leitor incluso). A desautoma-
tizao decorre tambm da reiterao
intensiva do vocbulo ./., pronunciado
quatro vezes em diferentes tons de
surpresa.
A abordagem tradicional afirma que
c ./. uma novela sobre a falcia da
cincia, a precariedade do conceito de
garrafa. Conforme essa viso, a literatura
nunca ./ coisas ou situaes. $er
sempre o resultado da adequao entre
procedimento e matria, fenmeno que
automaticamente a insere num cdigo de
referncia literria.
$urge da um conceito funcional de
literatura, entendida no mais como um
discurso ornado e ficcional que visa a
imortalidade, mas como um modo
especial de articulao da linguagem,
cua idia de valor rigorosamente
relativa, pois leva em conta tanto a
estrutura verbal do texto quanto a
percepo do leitor e o eventual
desgaste das formas, que, de estranhas
e desautomatizadoras, podem, com o
passar do tempo, se tornar corri-
queiras e previsveis. At ento,
amais se chegara a um conceito to
relativo do valor da obra de arte, que
passou a ser definida como uma
estrutura sgnica contrria ou
divergente do padro dominante.
O relativismo da percepo do
obeto artstico encontra apoio no
apenas em Chklovski e Boris Toma-
chevski, mas tambm em ]akobson,
responsvel por uma instigante teoria
relativista da noo de Realismo,
apresentada no artigo Do realismo
artstico", escrito na fase inicial do
terico, quando ainda integrava o grupo
dos formalistas russos, na dcada de 1u.
Ao questionar a arbitrariedade da termi-
nologia da crtica precedente, ]akobson
exemplifica essa crise mediante o exame
do vocbulo ./o., ento empregado
com muita impreciso.
Com extremo rigor lgico, o mor-
fologista enumera diversas acepes do
termo e acaba por demonstrar que ele
praticamente nulo enquanto categoria
descritiva. De modo geral, o termo se refere
a obras que aspiram a reproduzir fielmente
a realidade, buscando o mximo de veros-
C romnncisln russo Loon 1osloi
(1828-1910), nulor dn novon
KhoI|omcr, ob|olo do nniso
morloogicn do inguisln Chkovski
loucura e o autoritarismo dos governos.
Os formalistas colocariam o problema
de outra forma: as incertezas da cincia e
a arbitrariedade dos governos so um
dispositivo para o exerccio da alegoria.
A motivao inicial de ^achado teria
sido a formulao da stira ou do escrnio
alegrico, categorias preexistentes ao
tema da loucura mal interpretada. Assim,
os procedimentos buscam suas matrias,
cuo resultado a /.o. /... Com
isso, elimina-se a idia de que as matrias
podem ser includas ou excludas de um
texto, como se fossem o contedo de uma
ngoslo/98 - +76 3 9
M./ /., /., . ./,
editado por Philip Rice e Patricia
Waugh. Londres, Arnold, 1o.
Narrative composition: a link
between german and russian
poetics", de Lubomr Dolezel. n:
R/. /.o./o - 4 .//. ./
./ ./ ./..,
editado por $tephen Bann e ]ohn
F. Bowlt. Fdimburgo, $cottish
Academic Press, 1!.
R/. /.o./o /.,
/., de \ictor Frlich. The
Hague/Paris, ^outon, 1o.
1.. /. /./. /.o./.
/., organizao de Dionsio de
Oliveira Toledo e prefcio de
Boris $chnaiderman. Porto
Alegre, Fditora Globo, 11.
1/. / /. /./ /
/.o./ /, reunidos, apre-
sentados e traduzidos para o
francs por Tzvetan Todorov,
prefcio de Roman ]akobson.
Paris, Fditions du $euil, 1o.
l L l C C k A F l A
similhana, entendida no no sentido
clssico de adequao entre matria e
gnero literrio, mas na acepo con-
tempornea de semelhana com a verdade
referencial. A cristalizao tpica dessa
tendncia observa-se na escola artstica
representada por Flaubert, Zola, Dostoi-
vski e Alusio Azevedo.
Alm desse sentido, h um outro,
segundo o qual os autores propem suas
obras como verossmeis, por se filiarem
a um padro tradicionalmente aceito co-
mo tal. ^as exatamente por se vincula-
rem a um cnone estabelecido, essas
obras podem facultar ao crtico a
interpretao delas como distantes da
realidade e prximas dos clichs.
Nessa mesma dinmica, em nome do
realismo, um escritor revolucionrio
pode se afastar do cnone vigente como
meio de se aproximar da realidade,
propondo deformaes grosseiras como
ndices de incorporao do real. Para os
crticos de vanguarda, uma obra dessa
espcie ser de fato realista, para os
conservadores, no s no incorpora o
real como tambm se afasta do padro de
bom gosto.
O ensaio de ]akobson estuda in-
meras outras acepes do termo realismo,
afirmando (e nisso consiste o aspecto
mais interessante do ensaio) que todas as
escolas literrias fundamentam suas
C oscrilor nomo
Novnis ( diroiln) oxprossou
n idein do quo, qunnlo mnis
poelico e um onuncindo,
mnis oo roprosonln o ron -
lormuno quo lovo lorlo
impnclo sobro n noo do
ronismo do komnn nkobson
posturas com a idia da incorporao do
real: assim procederam os romnticos, os
realistas, os simbolistas, os futuristas, os
impressionistas e os expressionistas.
Fntre ns, convm lembrar que at a
poesia concreta, ao romper com a
linguagem discursiva, o fez sob o pretexto
da incorporao de certos traos din-
micos da realidade industrializada.
Os romnticos alemes afirmavam
que o reino da fantasia a prpria rea-
lidade. Novalis, em particular, procla-
mou que, quanto mais potico o enun-
ciado, tanto mais real. Como concluso,
]akobson prope que se tome o termo
realismo como um cdigo convencional
segundo o qual as diversas geraes
procuram validar seus experimentos
poticos. ^as no deixa de explicitar
que a realidade no se confunde com a
arte, cua estrutura sgnica deve ser
apreendida com toda a conscincia das
convenes intrnsecas a seu modo de
ser.
Pelo que fica exposto, evidenciam-se
diversas conexes do mtodo formal com
a retrica antiga, o que foi enfim sufi-
cientemente demonstrado pelo estudioso
tcheco Lubomr Dolezel, mediante a
investigao do contato da potica russa
com a tradio dos retoricistas ger-
mnicos, representada sobretudo por
$chissel, $euffert e Dibelius.
Você também pode gostar
- LUKACS, Gyorgy. O Romance Como Epopeia Burguesa. in Arte e Sociedade. Escritos Estéticos, 1932-1967Documento51 páginasLUKACS, Gyorgy. O Romance Como Epopeia Burguesa. in Arte e Sociedade. Escritos Estéticos, 1932-1967JacquelineAinda não há avaliações
- Estudos Literários - Estética Da Recepção e História Da Literatura (Fichamento)Documento5 páginasEstudos Literários - Estética Da Recepção e História Da Literatura (Fichamento)geisyydias0% (1)
- ZILBERMAN Que Literatura para A Escola Que Escola para A LiteraturaDocumento12 páginasZILBERMAN Que Literatura para A Escola Que Escola para A Literaturamaria eduarda nuñezAinda não há avaliações
- Fita Verde No Cabelo - G. Rosa PDFDocumento2 páginasFita Verde No Cabelo - G. Rosa PDFkleber120189Ainda não há avaliações
- Paul Ricoeur - Memória, História, EsquecimentoDocumento7 páginasPaul Ricoeur - Memória, História, EsquecimentoThiago AlvarengaAinda não há avaliações
- Fichamento Mário de Andrade PDFDocumento5 páginasFichamento Mário de Andrade PDFFelipe FernandesAinda não há avaliações
- Fichamento - Dupla Chama - Octavio PazDocumento18 páginasFichamento - Dupla Chama - Octavio PazMarcos Philipe67% (6)
- Literatura e Filosofia CompletoDocumento184 páginasLiteratura e Filosofia CompletoErick Camilo100% (1)
- Sobre Teoria Expandida - Flora SussekindDocumento13 páginasSobre Teoria Expandida - Flora SussekindSa Rock'n'RollAinda não há avaliações
- A História Da Poesia Brasileira de Alexei BuenoDocumento12 páginasA História Da Poesia Brasileira de Alexei Buenoalailson2Ainda não há avaliações
- Octavio Paz - O Arco e A Lira - (Introduca0)Documento9 páginasOctavio Paz - O Arco e A Lira - (Introduca0)Patrick DansaAinda não há avaliações
- Agora sou eu que falo, eu, o leitor: uma poética da leitura em PepetelaNo EverandAgora sou eu que falo, eu, o leitor: uma poética da leitura em PepetelaAinda não há avaliações
- Poética Do MitoDocumento7 páginasPoética Do MitoRoberta Enir Faria Neves de LimaAinda não há avaliações
- Grafias da cidade na poesia contemporânea (Brasil-Portugal)No EverandGrafias da cidade na poesia contemporânea (Brasil-Portugal)Ainda não há avaliações
- Recepção e Leitura No Horizonte Da LiteraturaDocumento14 páginasRecepção e Leitura No Horizonte Da LiteraturaMaria Clara OliveiraAinda não há avaliações
- Formalismo Russo e New CriticismDocumento17 páginasFormalismo Russo e New CriticismThays Pretti100% (1)
- Impasses do narrador e da narrativa na contemporaneidadeNo EverandImpasses do narrador e da narrativa na contemporaneidadeAinda não há avaliações
- Condenados À Tradição - Piauí - 61 (Revista Piauí) Iumna Maria SimonDocumento11 páginasCondenados À Tradição - Piauí - 61 (Revista Piauí) Iumna Maria SimonDébora Cota100% (1)
- O esquecido de si, Dante Milano: Rastros de uma poética do esquecimentoNo EverandO esquecido de si, Dante Milano: Rastros de uma poética do esquecimentoAinda não há avaliações
- O Universo Do Romance - CompletoDocumento167 páginasO Universo Do Romance - CompletoInês AndradeAinda não há avaliações
- Dissertação - João CarrascozaDocumento136 páginasDissertação - João CarrascozaJuliana Pádua Silva MedeirosAinda não há avaliações
- COUTINHO, Afrânio - A Literatura Das Americas Na Epoca ColonialDocumento11 páginasCOUTINHO, Afrânio - A Literatura Das Americas Na Epoca ColonialThiago BertoAinda não há avaliações
- Ivan Teixeira. HermenêuticaDocumento22 páginasIvan Teixeira. HermenêuticaDanilodeJesusAinda não há avaliações
- A crônica no século XIX: Historiografia, apagamento, facetas e traços discursivosNo EverandA crônica no século XIX: Historiografia, apagamento, facetas e traços discursivosAinda não há avaliações
- FOUCAULT, Michel. A Ordem Do Discurso.Documento5 páginasFOUCAULT, Michel. A Ordem Do Discurso.Andressa AlvesAinda não há avaliações
- Dona Benta: Uma Mediadora no Mundo da LeituraNo EverandDona Benta: Uma Mediadora no Mundo da LeituraAinda não há avaliações
- A análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinNo EverandA análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinAinda não há avaliações
- Fichamento Formação Da Literatura BrasDocumento4 páginasFichamento Formação Da Literatura BrasJarbas NovaesAinda não há avaliações
- BOSI, E. Memória e Sociedade (Introdução e Capítulo I)Documento18 páginasBOSI, E. Memória e Sociedade (Introdução e Capítulo I)Maria Isabel Rios de Carvalho VianaAinda não há avaliações
- Canta Lá Que Eu Canto CáDocumento2 páginasCanta Lá Que Eu Canto CáJesus RochaAinda não há avaliações
- 2020 - Literatura Infantil e Juvenil - Ebook XX CelDocumento147 páginas2020 - Literatura Infantil e Juvenil - Ebook XX CelCau BrandaoAinda não há avaliações
- Teoria Do Verso PDFDocumento3 páginasTeoria Do Verso PDFGilbson Gomes BentoAinda não há avaliações
- Bibliografia Iel2Documento4 páginasBibliografia Iel2Pepe da Rua XAinda não há avaliações
- Poesia e Ideologia - Otto Maria CarpeauxDocumento8 páginasPoesia e Ideologia - Otto Maria CarpeauxrsebrianAinda não há avaliações
- Aula 01.tempDocumento21 páginasAula 01.tempMaiara RangelAinda não há avaliações
- Bakhtin - O Personagem e Seu Enfoque Pelo Autor Na Obra de DostoievskiDocumento18 páginasBakhtin - O Personagem e Seu Enfoque Pelo Autor Na Obra de DostoievskigiovannaanaAinda não há avaliações
- Eneida de MoraesDocumento5 páginasEneida de MoraesLucianne VasconcelosAinda não há avaliações
- Bortolin. Clube de Leitura.Documento26 páginasBortolin. Clube de Leitura.Amanda SalomãoAinda não há avaliações
- Revista Violencia PDFDocumento263 páginasRevista Violencia PDFAdenis ChavesAinda não há avaliações
- 1 Fichamento - Brena Távora UchôaDocumento4 páginas1 Fichamento - Brena Távora UchôaAylana DuarteAinda não há avaliações
- Resenha de Adriano Pequeno Sobre Les Chats - Roman Jakobson e Claude Levi-StraussDocumento2 páginasResenha de Adriano Pequeno Sobre Les Chats - Roman Jakobson e Claude Levi-StraussAdriano PequenoAinda não há avaliações
- Situações e Formas Do Conto Brasileiro ContemporâneoDocumento5 páginasSituações e Formas Do Conto Brasileiro Contemporâneogisellecarinolage0% (1)
- A Opera Dom CasmurroDocumento9 páginasA Opera Dom CasmurroMichele100% (1)
- O Griot e A NarrativaDocumento12 páginasO Griot e A NarrativaJosé Ricardo CarvalhoAinda não há avaliações
- Iser Wolfgang o Ficticc81cio e o Imaginacc81rioDocumento10 páginasIser Wolfgang o Ficticc81cio e o Imaginacc81rioHailton GuiomarinoAinda não há avaliações
- Caderno de Atividades Perfeito - Ivonete Nink PDFDocumento48 páginasCaderno de Atividades Perfeito - Ivonete Nink PDFIvonete NinkAinda não há avaliações
- O Lugar Da Literatura Na EducaçãoDocumento14 páginasO Lugar Da Literatura Na EducaçãoFa VianaAinda não há avaliações
- ALMEIDA, Sandra Regina Goulart. A África Na Diáspora - Figurações Do Trânsito e Cartografias de Gênero em Narrativas ContemporâneasDocumento20 páginasALMEIDA, Sandra Regina Goulart. A África Na Diáspora - Figurações Do Trânsito e Cartografias de Gênero em Narrativas ContemporâneasFelipe AredaAinda não há avaliações
- Generos Da Poesia em HegelDocumento4 páginasGeneros Da Poesia em HegelMichael MarinhoAinda não há avaliações
- PERRONE MOISES Leyla Que Fim Levou A Critica Literaria in Inutil Poesia e Outros Ensaios Breves Companhia Das Letras 2000Documento6 páginasPERRONE MOISES Leyla Que Fim Levou A Critica Literaria in Inutil Poesia e Outros Ensaios Breves Companhia Das Letras 2000TatianeCostaSousaAinda não há avaliações
- Carnaval CariocaDocumento11 páginasCarnaval CariocaGustavo MirandaAinda não há avaliações
- Analise Do Poema RIO de Arnaldo AntunesDocumento16 páginasAnalise Do Poema RIO de Arnaldo AntunesAlê FreitasAinda não há avaliações
- Bibliografia TEORIA Usp & UfmgDocumento23 páginasBibliografia TEORIA Usp & UfmgAndré CapiléAinda não há avaliações
- Reflexoes Sobre o Romance Moderno RosenfeldDocumento25 páginasReflexoes Sobre o Romance Moderno RosenfeldBruna Abelin100% (1)